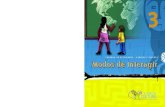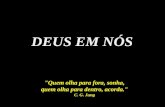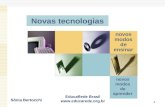Modos de Dizer, Ver e Fazer -...
Transcript of Modos de Dizer, Ver e Fazer -...
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
Curso Doutoral em Educação Artística (DEA)
Especialidade em Educação Artística
A Educação Artística no Sistema de Ensino Português
- Modos de Dizer, Ver e Fazer -
Elisa Marques
2014/2015
Projeto de Investigação
BOLSA ECOLUB
2
Resumo
Este estudo tem como temática central “Educação Artística no Sistema de Ensino Português.
Nele se circunscrevem três dimensões: a Histórica - visa retratar as continuidades e
descontinuidades dos Modos de Dizer, através de várias fontes documentais; a Antropológica
– centra-se nos Modos de Ver a realidade da arte na escola; a Estética – procura articular os
Modos de Ver e de Fazer das diferentes formas de arte, nos contextos da Educação Pré-
Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Procura-se neste itinerário analisar os discursos ditos e escritos, à luz de perspetivas múltiplas
que encarem a complexidade das realidades, assumindo a arte e a sua relação com os
contextos escolares, a essencialidade do percurso entre o que é feito e o que é dito, não
deixando. “escapar” o mito. Procura-se ainda questionar as circunstâncias pelas quais a
Educação Artística não é uma ainda uma “ Promessa de Significado”.
Palavra – chave: educação artística; arte; discursos; mitos, aprendizagem; conhecimento.
3
Índice
Antes de começar:......................................................................................................................... 4
Motivações e convicções: ............................................................................................................. 4
1. Introdução ............................................................................................................................. 6
2. Os caminhos de um Problema: do Mito ao Feito .................................................................. 7
2.1. Dimensão Histórica – Modos de Dizer: Alguns contributos ................ 7 2.2. Dimensão antropológica- Modos de Ver ................................................10 2.3. Dimensão Estética: Modos de fazer.........................................................11
3. Problema ............................................................................................................................. 13
Discursos em curso ....................................................................................................14 Ponto prévio aos discursos: Uma Partida com Retorno .....................................14 A Educação: Um projeto de Transformação ....................................................................... 14
A Estética e a criação de Mundos ....................................................................................... 15
A Arte: A relação com Outros Universos ............................................................................. 18
O valor dos discursos: Cientifico, Politico e Pragmático: consonâncias e dissonâncias ..... 20
Tempo de consonâncias versus dissonâncias, ou dos discursos de quem fala e de quem faz
............................................................................................................................................. 24
Um ponto à frente no discurso cientifico: A integração de modelos de práticas 26 Pausa nos discursos científicos: Vamos dar lugar ao discurso político ............27 Possibilidades de uma Rutura? .................................................................................28 Nova pausa: Vamos à escola à procura dos discursos pragmáticos .................29 A Escola como ponto de chegada de Feitos Mitos Ditos ..................................30 Por dentro da Escola: Retorno aos discursos científicos - A Arte como fim em si mesma ........................................................................................................................................31
4. Metodologia ........................................................................................................................ 33
4.1 Selecção de procedimentos, técnicas de recolha e de análise dos dados33 5. Cronograma ......................................................................................................................... 37
Bibliografia .................................................................................................................................. 38
Webgrafia .................................................................................................................................... 40
4
Antes de começar:
Se o livro que lemos não nos acorda como um murro na cabeça, para que o lemos?
Kafka, Carta a Pollack, 1904.
Motivações e convicções:
Entrei neste curso doutoral “pela mão” do Professor Luis Alberto.
No dia em que conversei com ele estava num dia triste, disposta a abandonar a minha causa
de 35 anos de trabalho. Há dias assim. Os motivos não interessam. Mas era a minha
circunstância.
Entusiasmei-me com as palavras dele e comecei a escrever o que me propunha estudar.
Confesso que foi muito difícil escrever porque a minha causa não me deixa espaço para
desassossegar as ideias, já que tenho de as arrumar para um trabalho intenso a que também
me propus, e que por razões éticas não o posso descurar, apenas se desistir.
Mas não desisti. Aquele momento deu-me ânimo, força e coragem para ficar e para me
desassossegar. Nunca mais desde esse dia deixei de pensar no meu estudo, sempre
comparando e integrando as minhas leituras para o trabalho que realizo no Ministério da
Educação e Ciência, com o projeto que desenvolvo nos vários contextos educativos e artísticos,
e com o meu objeto de estudo.
Quando vim pela primeira vez à Faculdade senti muitas saudades do meu tempo de escola.
Sempre gostei de estudar e das minhas escolas, embora não tendo tido sempre as melhores
experiências, mas tornei-me resiliente na escola, nas causas e na vida, e luto por aquilo em
que acredito.
Acreditei que este doutoramento era uma maneira de ser “ obrigada” a sistematizar aquilo
que sei, aquilo que irei aprender e partilhar com os outros sobre aquilo que quero dizer nesta
tese.
Confesso que estou farta dos doutoramentos em que apenas se citam os autores, em defesa
do rigor científico, ficando “de lado” o pensamento próprio de quem os faz. Percebi que esse
não era o espírito e que havia alguma margem para poder ser também autora e produzir algo
de novo acerca da minha vivência profissional e do que aprendi com ela. Porque essa vivência
está já impregnada pelos autores que me marcaram, pelas pessoas que com quem convivi e
convivo. Quero mostrar o que esses autores transformaram em mim e na minha prática
profissional muito mais do que ter de os reler agora por imposição de um “trabalho de
citação”. Não quero com o que disse ser arrogante, quero antes de mais, mostrar o que esses
autores fizeram de mim. Porque como diz Kafka (1904), “Se o livro que lemos não nos acorda
como um murro na cabeça, para que o lemos?”
Quero escrever, de um modo mais fundamentado, as minhas convicções, as quais passam pela
reclamação de um estatuto de igualdade da arte como as demais áreas do currículo,
5
recusando a ideia das artes como “são a salvação do mundo” e que por isso são mais
importantes que outras áreas.
Nesse estatuto de igualdade, reafirmam-se as suas exigências e as suas dificuldades que só um
trabalho sistemático e intencional poderá permitir às crianças adquirirem um conhecimento
neste domínio.
Mas tenho a certeza que quando concluir este trabalho serei Outra.
Deixo-me agora “guiar” pelas palavras de Rainer Maria Rilke (2004) nas Cartas a um Jovem
Poeta:
(…) [S]eja paciente perante tudo que não tem solução no seu coração e tente amar as
próprias perguntas como quartos fechados e como livros que são escritos numa
língua estrangeira. Não procure agora as respostas, que não lhe podem ser dadas
porque não poderia agora vivê-las. E a questão é, Viva Tudo! Viva agora as perguntas.
Talvez então gradualmente e sem se dar conta chegará a um dia distante, em que
obterá a resposta. Talvez transporte dentro de si a possibilidade de formar, como
uma forma de viver particularmente feliz e pura; treine-se para isso, mas receba tudo
o que vier com grande confiança e se sair apenas da sua vontade, tome a decisão de
nada odiar (…). (p.31)
6
1. Introdução
A investigação a desenvolver neste curso doutoral centra-se na temática da Educação Artística,
doravante designada por EA, no contexto do Sistema de Ensino Português. Procura-se
problematizar o papel que é atribuído pelos decisores políticos, pelos docentes, pelos alunos e
pelas famílias, a esta área na Educação em geral, e nas artes em particular.
Para a operacionalização deste estudo, opta-se por colocar em análise três eixos de
intervenção, com os seguintes objetivos, a saber:
Dimensão concetual/ Modos de dizer – Elaborar um quadro de análise sobre um
conjunto de fontes documentais produzidas, a partir de 1971, altura em que, na
Fundação Calouste Gulbenkian e por iniciativa de Madalena Perdigão se realizou o
“Colóquio sobre o projeto de reforma do ensino artístico”, até à 2014. Em inter-relação
com este quadro de análise, pretende-se também discutir e definir determinados
conceitos que ao longo da análise das fontes documentais forem emergindo,
procurando perceber como são entendidos no contexto destes documentos.
Representações / Modos de ver – Questiona um conjunto de “mitos” que existe na
comunidade educativa sobre as conceções teóricas e práticas do desenvolvimento das
diferentes formas de arte nos contextos educativos. Problematiza o desenvolvimento
das diferentes formas de arte na escola, nos contextos da Educação Pré-escolar e 1º
Ciclo do Ensino Básico, questionando quem lê e formaliza as diretrizes legislativas e os
discursos pedagógicos sobre a arte na escola. A partir da problematização e análise das
práticas nestes contextos educativos identifica-se um conjunto de “mitos” que
preexiste à construção do conhecimento nas diferentes formas de arte na escola.
Dimensão Prática / Modos de fazer – Identifica as práticas desenvolvidas em
contextos escolares integrados no Programa de Educação Estética e Artística (PEEA) do
Ministério da Educação e Ciência (MEC), analisando como a dimensão dos “modos de
dizer e ver” podem ou não influenciar o desenvolvimento das práticas na EA.
A partir da análise e do estudo destes três eixos de intervenção, procurar-se-á fazer uma
abordagem que articule as seguintes dimensões:
Dimensão Histórica – Refere-se, por um lado, a uma contextualização histórica, a
partir de diversas fontes documentais (produção legislativa, análise de relatórios
elaborados por “encomendas” governamentais, debates parlamentares, em sede da
Comissão de Educação e Cultura da Assembleia da República, entre outros
documentos que se focam no debate pedagógico sobre as questões da EA nas escolas,
procurando traçar linha temporal sobre as continuidades e /ou a descontinuidade dos
discursos políticos e pedagógicos- artísticos. Por outro lado, procura-se problematizar
os conceitos de Arte, Educação Artística, Estética, Criatividade, ao longo do tempo, no
sentido de contribuir para uma maior inteligibilidade na comunidade educativa sobre
estes Modos de Dizer.
7
Dimensão Antropológica – Centra-se na análise dos Modos de Ver e na enunciação
dos “mitos” da comunidade educativa sobre o desenvolvimento e aprendizagem em
arte, tentando compreender a sua origem, a sua evolução e a sua disseminação,
retratando como o Mito se pode tornar um Feito na EA em Portugal.
Dimensão Estética – Baseia-se na articulação dos modos de ver e de fazer de um
universo de 10 Agrupamentos de Escolas (AE) integrados no Programa de Educação
Estética e Artística (PEEA), caraterizando as práticas das várias formas de arte –
Educação Plástica/ Visual, Dança, Educação Musical, Expressão Dramática/ Teatro nos
diferentes contextos escolares, de acordo com os pressupostos teóricos de natureza
artística e pedagógica, relevantes para a problemática deste estudo, assim como de
outras perspetivas que possam emergir do contexto da investigação.
Para tornar mais claro o sentido das dimensões enunciadas apresenta-se abaixo uma síntese
de cada dimensão, mobilizando alguns contributos que circunscrevem a análise de cada
dimensão.
2. Os caminhos de um Problema: do Mito ao Feito
No trajeto que se desenha para chegar a um “verdadeiro” Problema de investigação há que
ter em conta os saberes que encerram as múltiplas realidades que o contornam, a observação
focalizada das suas diferentes dimensões, a pesquisa renovada do que se sabe e a progressiva
explicação/elucidação/compreensão do tema em estudo.
Assim, neste trabalho de investigação, opta-se por colocar alguns contributos de três
dimensões do Problema que se pretende concetualizar, a saber:
2.1. Dimensão Histórica – Modos de Dizer: Alguns contributos
Desde a reforma de Veiga Simão (1971) os vários governos têm acentuado a importância da EA
no desenvolvimento integral das crianças e jovens, mas é com a Lei de Bases do Sistema
Educativo (1986) que esta área se constituiu como um quadro de referência que marcou de
forma significativa a importância atribuída à educação “estética e artística”, acentuando a
ideia de que esta desempenha um papel importante no desenvolvimento e formação integral,
designadamente nas dimensões pessoal e social do indivíduo, estabelecendo no n.º 1 do art.º
2.º, que “todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da Constituição
da República”.
Ao longo de vários anos, foram constituídos pelo poder político grupos de trabalho com o
objetivo de estudar o ponto de situação da EA em Portugal e, a partir desse conhecimento,
propusessem recomendações sobre o modo como deveria ser desenvolvida a prática
educativa da EA nas suas diferentes dimensões. A título de exemplo, enumeram-se os
relatórios dos grupos de contacto entre os Ministérios da Educação e da Cultura,
nomeadamente “A EA e a promoção das artes, na perspetiva das políticas públicas", de 2000, e
"Educação e Cultura, de 2004” destacando-se as seguintes prioridades:
Criação de condições indispensáveis para que todas as crianças disponham da
oportunidade de uma iniciação artística, desde a educação pré-escolar;
8
Formação inicial e contínua de docentes na área da EA;
Ensaio de soluções que, partindo do estabelecimento de parcerias e da
construção de redes entre os diversos parceiros sociais, culturais, artísticos e
económicos, permitam a igualdade de oportunidades – logo, a generalização –
no acesso aos bens culturais, ao conhecimento do património, enquanto
referência histórica e cultural que caracteriza a herança coletiva e a
identidade.
Também em termos de resoluções internacionais, algumas das conclusões vão no mesmo
sentido. No Roteiro para a EA, da Comissão Nacional da UNESCO, publicado em 2006,
pretende-se estabelecer (…) um entendimento comum entre [os governos dos países
participantes desta Comissão] sobre a importância da EA e o seu papel essencial na melhoria
da qualidade da educação, (…) da sua importância na construção de uma sociedade criativa e
culturalmente consciente.
Neste documento são também apresentadas algumas recomendações ao nível do
desenvolvimento de políticas educativas para a EA:
Formação de artistas e professores na área da EA;
Conceção de políticas de investigação nacional e regional no domínio da EA;
Integração da EA nos sistemas educativos e nas escolas de um modo mais
coerente.
Também a Resolução de 24 de março de 2009, do Parlamento Europeu (2008/2226 (INI)),
reconhece, no âmbito da Estratégia de Lisboa que:
(…) a escola deve voltar a ser o principal local da democratização do acesso à
cultura e a educação artística e cultural é uma componente essencial da formação
de crianças e dos jovens, dado que contribui para o desenvolvimento (…) da
sensibilidade e da abertura aos outros; considerando-a como elemento-chave da
igualdade de oportunidades e uma condição essencial de uma verdadeira
democratização do acesso à cultura, sendo necessário promover a todos os níveis e
em todas as idades a consciência artística, reconhecer a importância das atividades
artísticas coletivas e amadoras e promover o acesso ao ensino das artes.
Para tal, é expressa a necessidade de todos os Estados-Membros, entre outros aspetos,
reconhecerem a importância dos seguintes elementos:
Definição do papel da EA como instrumento pedagógico essencial para a
valorização da cultura num mundo globalizado e multicultural;
Estabelecimento de estratégias comuns para a promoção de políticas de EA e
de formação de docentes especializados nesta área;
Reconhecimento do papel dos artistas na sociedade e na escola;
Necessidade de estabelecer metas específicas para a EA;
Identificação da importância da EA, da cultura e da criatividade no contexto de
uma economia baseada no conhecimento;
Introdução de um regime especial para promover a EA no contexto do
programa plurianual de cultura.
9
Seguindo a mesma linha de orientação, a 2.ª Conferência Mundial de EA promovida pelo
Governo da República da Coreia e pela Unesco, realizada em maio de 2010, em Seul, chama
atenção para que os vários países assumam as responsabilidades de promover uma política
educativa e cultural, destacando cinco dimensões que esta deveria assumir, designadamente:
A clarificação dos conceitos: Educação Artística, Educação e Arte, a Arte na
Educação; quer quanto ao seu objeto, quer quanto ao seu nível de
abrangência;
A avaliação das atividades relacionadas com a EA, no que diz respeito ao
conhecimento que os alunos devem adquirir, propondo-se a definição de
metas claras sobre a aprendizagem nesta área;
A rentabilização de recursos através da formalização de parcerias entre os
estabelecimentos de ensino e as instituições culturais, desenvolvendo redes
intra e intergovernamentais;
A formação de docentes e profissionais das instituições cultura.
Tendo em consideração o conjunto destas reflexões e recomendações, o Ministério da
Educação e Ciência iniciou, em 2010, criou a Equipa de Educação Artística, que desenvolve o
Programa de Educação Estética e Artística (PEEA), que entre outras, define as seguintes
finalidades:
Articular os estabelecimentos de ensino com os diferentes instituições
culturais, no sentido destes poderem contribuir para a construção de um
programa comum na área da EA
Incentivar a diversidade de contextos culturais de modo a trabalhar conteúdos
específicos relativos a cada área, tentando exercitar a transversalidade
curricular;
Desenvolver um modelo de formação de docentes em contexto de trabalho,
nas áreas da dança, música, teatro e educação plástica/ visual, que
progressivamente se alargue ao território nacional;
Desenvolver projetos de investigação em parceria com Instituições do Ensino
Superior;
Promover redes de parcerias entre Escolas Superiores de Educação,
Universidades e Ministérios, entre outras.
A partir destes contributos, por ora, descritos de um modo muito sumário e cumulativo,
pretende-se fazer uma análise dos discursos inscritos nos diversos documentos escritos de
natureza legislativa e educativa. Também se pretende auscultar várias personalidades que
tiveram responsabilidade ao nível da política educativa e artística, durante este contexto
temporal. Na realidade, a questão relevante é a análise dos discursos - escritos e falados,
numa perspetiva de “indagação e inquietude críticas”, para inventariar categorias de análise, a
partir de uma análise explícita e / ou implícita, do que é escrito e/ou dito.
Partindo da análise discursiva pretende-se dar visibilidade a uma dimensão da realidade do
Problema, que se pode concetualizar do seguinte modo:
10
1ª aceção
Se a EA está presente nos discursos políticos e sociais como garante de um desenvolvimento
integral do ser humano, quais as razões que existem para que ela não tenha a aplicabilidade
nos contextos educativos? Será que a importância atribuída nos discursos à EA é uma
“promessa não cumprida”?
2.2. Dimensão antropológica- Modos de Ver
Como é possível observar nos documentos atrás referidos, ressalta a importância da EA, aliada
ao direito que todas as crianças devem ter à fruição dos bens culturais. Porém também se
constata a falta de operacionalização dos conceitos que orientam o desenvolvimento da
Educação, a Arte, a Educação Artística, o Ensino Artístico, a Estética, a criatividade, a
sensibilidade, a qualidade em educação, entre outros, sendo inexistente uma visão sobre a
evolução de alguns destes conceitos, o que poderá contribuir para leituras “apressadas” e não
fundamentadas sobre o que se pode entender quando se fala sobre cada um deles, ficando
este conhecimento, por vezes, ao nível do “senso comum”. Este facto poderá ter repercussões
no modo como os diferentes atores – políticos, docentes, alunos, famílias – encaram a EA,
principalmente a três níveis:
Legislação produzida pelas tutelas;
Desenvolvimento das práticas e dos conhecimentos que os alunos devem obter;
A validade social deste conhecimento que é atribuída pelas famílias.
Decorre desta indefinição de conceitos, a ausência de análise de cada um deles numa
perspetiva multidimensional, levando muitas vezes a uma certa imposição da pedagogia do
“certo” e do “errado”, fundada num desconhecimento do que se ouve, entende e faz, nos
diferentes contextos educativos.
Aliado a este aspeto, e pelo conhecimento que se detém de muitos dos territórios educativos,
surgem também as representações/ Modos de Ver, que se consubstanciam num conjunto de
“mitos” que vão tendo “ força de lei", contribuindo para assegurar o desenvolvimento não
fundamentado das práticas da EA nas escolas. Enumeram-se, a título exemplificativo, alguns
dos principais “mitos” que afetaram e afetam o conhecimento em arte:
São matérias muito difíceis para as “crianças pequenas”;
Ausência de tempo e inexistência de espaço físico apropriado;
As crianças são criativas, artistas por natureza;
As crianças imitam os artistas;
A arte é a expressão das emoções e de sentimentos;
Os artistas preferidos são: Miró e Picasso porque pintam como as crianças;
A noção de criatividade é apenas centrada na fantasia, ou apenas para génios;
O “estereótipo” de “bonito” e de “bem feito”;
A arte é um instrumento para ilustração literal do mundo;
A EA serve para formar artistas;
A EA é para quem tem jeito;
11
O professor não tem jeito para a EA;
A dança, a música, o teatro e as artes visuais não tem conteúdos para serem
ensinados;
A dança, a música, o teatro e as artes visuais são apenas baseadas no “fazer”;
A EA serve para preparar a comemoração de festividades (Natal, Carnaval, Páscoa,
entre outras);
A transversalidade entre o conhecimento em arte e nas outras áreas é vista como
uma integração de temáticas;
A arte é um método de ensino;
A arte melhora as aprendizagens das outras áreas;
A arte é a salvação do Homem.
Como é possível verificar neste conjunto de “mitos”, existem noções contraditórias em relação
ao que é expresso em alguns documentos legislativos, às recomendações dos especialistas, a
nível nacional e internacional, e ao conhecimento específico em arte.
Salienta-se, ainda, que estes “mitos” reforçam várias linhas de análise, que se julgam de
especial relevância para melhoraria da EA no Sistema de Ensino Português, a saber:
O conhecimento artístico e o seu desenvolvimento, desde a Educação Pré-escolar;
As dimensões do conhecimento em arte: o papel dos processos de fruição-
contemplação; de reflexão – interpretação; de experimentação- criação, ou seja, a
construção dos discursos sobre arte, o papel da representação, das técnicas e da
expressividade, e o desenvolvimento da intencionalidade expressiva e criativa;
Contextualização das práticas nos diferentes universos culturais: visuais, musicais,
coreográficos, teatrais, entre outros;
As teorias miméticas, hedonísticas, catárticas da arte;
A prática da transversalidade, tendo por base um conjunto organizado de saberes
específicos de cada uma das áreas artísticas.
A formação dos docentes em arte: generalistas e especialistas.
Após a constatação da inexistente operacionalização dos conceitos de arte, Educação Artística,
criatividade e do conjunto de “mitos” que perpassam a comunidade educativa, o Problema
ganha novas aceções, que se podem sintetizar do seguinte forma:
2ª aceção:
Serão os discursos propícios ao desenvolvimento de “mitos” na EA?
Será que a valorização excessiva que é atribuída às artes nos diferentes discursos se torna um
modo de as afastar da escola?
Como é que se passa do discurso ao “ Mito e ao Feito”?
Será possível conceber uma EA sem “Mitos”?
2.3. Dimensão Estética: Modos de fazer
12
Num esforço de clarificação neste contexto, e tomando como diagnóstico as duas dimensões
acima referidas, adianta-se uma abordagem do ensino das diversas formas de arte na escola,
mobilizando conhecimento de alguns autores que poderão tornar mais claros alguns
argumentos para uma nova visão do desenvolvimento as artes. Neste sentido, opta-se por
definir o conceito de Estética como ele foi protagonizado pelo poeta e filósofo Schiller, que
afirmava que a Educação Estética é a aprendizagem com todos os sentidos, e, por conseguinte,
é necessário, segundo o autor, aprender a ouvir, a ver, a tatear, a dizer, a saborear. Nesta
aceção, é necessário mobilizar diferentes linguagens e formas de comunicação para que, na
sua interpretação, a educação seja eminentemente Estética. Ainda segundo a conceção deste
autor, na Educação não existe separação entre a teoria e a prática, afirmando-o na sua teoria
dos “impulsos”, que mais tarde dá origem ao conceito de “mediação” (Vigostky,1926).
Segundo Schiller na obra “Cartas Sobre a Educação Estética do Homem”(1795), para
conhecer ”uma coisa” é necessário mobilizar um “impulso sensível”, através do qual se faz
uma “leitura flutuante”, sendo também necessário, posteriormente, reunir as características
das “coisas”, utilizando a designação de “impulso formal, ou seja um conhecimento mais
aprofundado das “coisas”. Para que o conhecimento se torne acessível sem se banalizar, será
necessário o que Schiller designava por “impulso lúdico”.
Pode-se, ainda, recorrer a vários autores desta área, a título de exemplo, David Best (2004);),
Maria do Carmo d´Orey (1999); Leontiev (1999), entre outros, que suportam uma conceção de
conhecimento artístico fundado em práticas que não dissociam a dimensão do “Fazer” dos
processos de fruição e de contemplação, de reflexão e de interpretação, e de experimentação
e criação.
Assim, neste trabalho a dimensão das práticas educativas é considerada eminentemente
estética, isto é, mobiliza a aprendizagem das diversas formas de arte, como um conhecimento
que se vai construindo intencionalmente, através de vários processos que permitam fruir e
analisar as circunstâncias culturais, enquanto contextos de aprendizagem, e possibilitem o ato
de criação através do que se sabe e do que se vai aprendendo.
Atente-se, no exemplo de uma a proposta curricular para a área da Educação Plástica/Visual:
13
Educação Musical
Estratégias de mediação
Método comparativo
Representação, Técnicas, Expressividade
Discursos sobre os Universos Visuais
Intencionalidade Expressiva / Criativa
CorFormaRitmo
MovimentoTextura
MetáforaMetamorfose
Fruição – Contemplação | Interpretação – Reflexão | Experimentação – Criação
(Esquema síntese da proposta curricular para a área da Educação Plástica/Visual do Programa de Educação Estética
e Artística (PEEA) da Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência.)
Esta proposta e as demais propostas nas áreas da música, do teatro e da dança serão
explicitadas pormenorizadamente noutro contexto, no entanto, serve para explicitar como se
pode trabalhar esta área de um modo abrangente, mobilizando as diferentes dimensões do
saber em arte, no âmbito específico da Educação Plástica/Visual.
Com a proposta de desenvolvimento curricular enunciada constata-se que existe uma de,
talvez, muitas alternativas para o ensino/aprendizagem das diversas formas de arte, e por
conseguinte o Problema ganha uma nova complexificação, que procura dar inteligibilidade às
diferentes dimensões e às aceções inscritas nesta sinopse do Projeto de Investigação, surgindo
uma terceira aceção:
3ª aceção:
Que ruturas tornam possível uma EA sem Mitos?
3. Problema
Em síntese, procurar-se-á construir um problema de investigação que mobilize e inter-
relacione as três dimensões de análise propostas: Histórica, Antropológica e Estética,
debatendo a(s) múltipla(s) influência(s) que os Modos de Dizer, os Modos de Ver e os Modos
Fazer exercem ou têm exercido nos Modos de Pensar a Politica Educativa Portuguesa, ao nível
da EA.
A construção deste problema de investigação remete para uma questão central que se situa na
análise de três contextos interdependentes – o dito, o mito e o feito -, de modo, por um lado, a
14
diagnosticar as razões pelas quais a EA não é trabalhada na generalidade dos contextos da
Educação Pré-escolar e no 1º ciclo do Ensino Básico, e quando o é, na maior parte das vezes,
não se carateriza por ser uma área dotada de corpus de conhecimento próprio, encarada com
a mesma “naturalidade” das demais áreas do saber. Por outro lado, procura-se que, a partir
destes três contextos, se possa fundamentar uma rutura nas conceções e práticas da EA em
Portugal, através da exemplificação do Programa de Educação Estética e Artística (PEEA).
Neste contexto, tornam-se pertinentes as seguintes questões de investigação:
1. Como é que os contextos histórico, antropológico e educativo possibilitam ou inibem
o desenvolvimento da EA? Será o dito, o feito? Será o Mito, o dito? Será o feito, o dito
e o mito?
2. De que modo o PEEA pode ser exemplificativo para a caraterização dos mitos
existentes na área da EA?
3. Quais as dimensões presentes na conceção do PEEA que poderão permitir a rutura
com as práticas desenvolvidas na EA?
4. Podem os contextos ser determinantes para uma “verdadeira” EA?
Discursos em curso
Decorrente do problema identificado e das questões a indagar neste trabalho, importa, de um
modo abrangente, traçar um quadro concetual que interligue as “ redes” que se entrecruzam
na análise histórica e seus modos de dizer, na análise antropológica e nos seus modos de ver e
na análise estética nos seus modos de fazer. Esta rede de interações vai permitir circunscrever
uma problemática - problema devidamente contextualizado e enquadrado do ponto de vista
teórico e concetual.
No estudo das interações identificadas em torno da problemática, interessa abordar o valor da
EA, como a temática mais pertinente para estabelecer um quadro de referência que concorra
para o objeto de estudo em análise.
Assim, e a partir do trabalho de pesquisa documental efetuada, das leituras de diversos
autores e do trabalho de campo já realizado para este estudo, antecipa-se uma tipificação da
“ordem do(s) discurso(s)” sobre o valor da EA, a saber:
Científico: ideias ou ideais sobre o valor da EA;
Político: Inscrição ou prescrição nos documentos legislativos do valor atribuído
pelo discurso científico;
Pragmático: Aplicabilidade nas práticas educativas dos discursos: científico e
político.
Ponto prévio aos discursos: Uma Partida com Retorno
A Educação: Um projeto de Transformação
Como ponto prévio aos discursos científicos, políticos e pragmáticos sobre o valor da EA,
assinalam-se as perspetivas sobre o que se entende por Educação, Estética e Arte, no sentido
15
de esclarecer as premissas das quais se parte para contextualizar os discursos que são
proferidos.
Ao longo dos tempos, o termo “Educação” tem sido debatida na sua dupla origem: “educare”,
que significa "alimentar", e “educere”, que significa "tirar para fora de", "conduzir para",
perspetivas estas que têm estado muitas vezes em conflito. Por um lado, acentua-se uma visão
de educação preocupada em “alimentar” o sujeito com conhecimentos, por outro, acentua-se
o desenvolvimento, a partir das experiências do indivíduo, procurando aumentar todas as suas
potencialidades. Analisadas de per se, podem ser consideradas redutoras. Na aceção que se
procura desenvolver neste estudo, o conceito de educação procura fazer uma síntese entre os
interesses coletivos e o desenvolvimento individual, a partir de um “(…) ponto de vista
sistémico e de auto-organização do sujeito, em dialética permanente entre o Eu e o Mundo, na
qual se assegura simultaneamente a história individual e a história coletiva (…)” (Hameline,
2003).
Procura-se, assim, colocar o sujeito na interface de dois sistemas vivos: pessoal e social.
Partindo deste ponto de vista, a Educação pode definir-se como uma atividade humana
caracterizada pela intemporalidade, ao ser realizada ao longo da existência do ser humano,
pela diversidade de espaços − formais, não formais e informais − para a sua objetivação,
assegurando o desenvolvimento do sujeito, através da inter-relação dos aspetos individuais e
sociais.
Se à primeira vista a relação entre as dimensões individuais e sociais da Educação parecem
abranger a complexidade que o termo encerra, numa análise mais aprofundada, a Educação
no contexto deste estudo, deve incluir uma dimensão teleológica, sintetizada numa
possibilidade, que é enunciada da seguinte forma por Herbert Read (1966:).
[O] homem deve ser educado para chegar a ser o que é; [e] deveria ser
educado para chegar a ser o que não é. (p. 14).
Estamos perante uma terceira dimensão que enfatiza o “devir” do ser humano, enquanto
projeto que deve procurar uma variação infinita de possibilidades e de oportunidade para se
expandir, através de várias opções de saber, de conhecer, de viver, de estar e de sentir, sendo,
portanto o conceito de Educação, a partir deste ponto de vista, não só um processo de
“individuação” e de “integração”, reconciliando a singularidade individual com a unidade
social, mas sim, e também um processo de transformação, encorajando “mudanças de
representações (visão do mundo) e de comportamentos; (modos de agir no mundo)”.
(Canário, 1996, p.14).
A Estética e a criação de Mundos
Também ao longo dos séculos a importância desta dimensão Estética para os modos de
conhecer tem sido abordada por vários pensadores (Platão, Aristóteles, Baumgarten, Schiller,
Reid, Read, Nelson Goodman, Leontiev, Parsons, Best, Camo D`Orey, entre outros), no entanto
ela enferma de vários equívocos na sua definição, mal entendidos na sua e interpretação e
constrangimentos vários na sua realização pedagógica.
16
Já em Schiller (1795) o conceito de estética cobre um vasto leque de significados: tanto reenvia
para a ideia de beleza, para a realidade da arte e das manifestações artísticas, como indica as
formas qualificadas da apreciação sensível ou do sentimento. Nele o “ estético” reenvia para o
sentido mais originário de termo, designando aquilo a que se refere à sensibilidade, sentido
que Baumgartem (1750/1993) consagrou na sua “Aesthetica”, no entanto a ideia do “estético”
em Schiller não é afirmar a sensibilidade contra o entendimento ou a razão, mas para mostrar
que já no domínio “sensível” se revela uma dimensão que se abre à forma e à lei, possível de
comunicação universal. A noção “schilleriana” não contém apenas esta justificação, ela
incorpora matrizes provenientes de domínios muito diferentes. Retoma uma ideia de Kant
(1724-1804) para afirmar que o “estético não se refere apenas à sensibilidade ou ao
conhecimento sensível, mas para dizer que o que há de irredutivelmente subjetivo em
qualquer representação, seja ela uma realidade sensível ou empírica, seja ela um
conhecimento teórico ou até uma ideia moral da razão” (Ribeiro dos Santos,1996,p.57)
O “ estético “ para Schiller é, por conseguinte” o próprio sentido da harmonia do
espírito consigo mesmo, quando as suas faculdades se relacionam entre si num livre
jogo, jogo este que, não estando sujeito a leis determinadas de carácter lógico ou
moral, não é todavia, totalmente anárquico e sem lei” (Ribeiro dos Santos,1996).
Para esclarecer as ambiguidades desta definição de estética, o autor acrescenta que tudo o
que possa de algum modo passível de manifestar-se como fenómeno pode ser pensado sobre
quatro aspetos: uma coisa pode relacionar-se com diretamente com o nosso estado sensível
( a nossa existência e bem estar); isto é o seu carácter físico, ou pode relacionar-se com o
entendimento; isto é o seu carácter lógico; ou pode estar relacionada com a nossa vontade e
ser considerada como objeto de escolha para ser racional; isto é o seu carácter moral, ou,
finalmente, pode relacionar-se com o todo das nossas faculdades sem ser um objeto
determinado para uma delas.
De acordo com este último sentido, a educação estética será portanto aquela que tem por
intenção “formar o todo das nossas faculdades na maior harmonia possível” (carta XI, cit.
Ribeiro Santos, p. 214). Neste sentido a educação estética não é sinónimo apenas de EA, ou
pela arte ou para a arte, nem visa exclusivamente o desenvolvimento e aperfeiçoamento das
faculdades sensíveis, ou o cultivo do gosto, mas propõe-se como o desenvolvimento
harmonioso de todas as faculdades humanas.
A partir do pensamento schilleriano enunciado nas suas Cartas pode inferir-se o alcance
pedagógico da dimensão estética, no entanto esta dimensão tem sido sucessivamente
esquecida pelos sistemas educativos nos diferentes níveis de ensino. Sob o ponto de vista
pedagógico, a dimensão estética pode ser considerada como o conteúdo da própria educação,
não incluindo esta, apenas, o cultivo das artes, a formação do gosto, ou do sentimento
estético, mas pelo facto de se reconhecer esta dimensão como potenciadora de todas as
restantes dimensões.
Sintetizando o pensamento deste autor, a “realização do ser Humano passa assim,
necessariamente pela educação estética, condição para uma existência moral livre e autêntica,
estando o seu projecto educativo centrado “ (---) na união da educação intelectual à educação
afetiva, o qual passa pela capacidade de sentir:
17
Não basta, portanto, dizer que todo o esclarecimento do intelecto só merece
respeito na medida em que se reflete no carácter; também ele emana de
certo modo o carácter, uma vez que o caminho para a cabeça tem de ser
aberto através do coração.
João Maria André (1999, p.83) considera que há todo um projeto pedagógico nas propostas de
Schiller, e no quadro desse projeto, poderia considerar-se a dimensão estética «como próprio
conteúdo da educação, como o ambiente envolvente do processo educativo, como como a
própria finalidade e horizonte da educação, como potenciador de toda a educação cultural e
política, como a própria forma e o espírito de toda a educação» (p.21)
Na linha de continuidade para a clarificação do conceito, de estético e de educação estética,
no contexto deste estudo, Herbert Read (1958) retoma o modo abrangente de Schiller,
relativamente à definição do estético e consequentemente a da educação estética, não a
identificando apenas com a EA. Para ele a educação estética retrata uma abordagem integral
da realidade, através da ”educação dos sentidos em que se baseiam a consciência, e
finalmente a inteligência e raciocínio do individuo humano” (p.20).
Também os outros autores mencionados (Reid, Parsons, Leontiev, Best) encaram o fenómeno
estético e a educação estética de um modo globalizante, cujo desenvolvimento se processa
através de várias áreas do conhecimento e tal como os autores acima referidos, não acentuam
apenas, as questões ligadas às áreas artísticas. Propõem modos pedagógicos para o seu
desenvolvimento no plano da educacional, mas é em Carmo D´Orey (1999) que encontramos
um suporte teórico mais pertinente para encaminharmos a nossa reflexão. A autora defende a
indispensabilidade da educação estética sob o ponto de vista da sua abrangência nos planos
sociais, morais e políticos, contudo a sua análise é inspirada num filósofo, das áreas da lógica e
da epistemologia, que segundo a mesma veio dar à estética novas bases de análise, ao encará-
la como um sistema de símbolos/simbolização que cada discurso/forma de comunicação
contém. Acentua, como maior relevância os discursos centrados na arte, e parte de uma
análise das obras de arte como símbolos, residindo o seu valor na “potencialidade cognitiva”
que advém do seu contacto. Assim, passa-se de um abordagem do fenómeno estético fundado
em valores, para uma abordagem centrada no domínio da epistemologia, ou seja as diferentes
implicações no ato de conhecer.
Este novo modo de abordar os “fenómeno estético” aclara alguns problemas na concretização
da educação estética, realçando quer a sua indispensabilidade, quer a sua operacionalização
em termos pedagógicos. A partir desta conceção é possível, assinala a autora, que “ a tarefa da
estética decorra naturalmente”. Primeiro, há que analisar e descrever os diversos sistemas
simbólicos das artes ─ linguísticos, picturais, musicais, gestuais ou outros ─ e comparar as
respetivas características sintáticas e semânticas. Depois interessa compará-los com os das
outras ciências e os das nossas práticas do dia-a-dia para verem em que se assemelham e em
que se distinguem” (Idem, p. 240).
Ao propor esta abordagem, da obra de arte como “simbolização” desfaz uma série de “mitos”
e de equívocos sobre a educação estética, criticando a visão romântica e idealista, que se
consubstancia na ideia que as capacidades do domínio da estética são um produto de dons,
revelações, inspirações aos génios, privilégio de poucos, irremediavelmente inacessível e
18
perdida para a maioria. Para ela o fenómeno estético e a educação estética realiza-se através
da “eficácia cognitiva” que a obra de arte pode proporcionar, daí que preconize que estas
podem ser ensinadas e aprendidas e estar ao alcance de todos os cidadãos.
Apesar de algumas divergências no modo de encarar a educação estética, há contudo nas
conceções destes pensadores três características comuns no modo de a conceber, enquanto
projeto de formação do ser humano. Identificam-na como a educação da faculdade de sentir,
sob um ponto de vista global e formação ligada aos diferentes domínios do saber,
potenciadora de toda a ação cultural, através da apreensão das diferentes realidades. Elegem,
contudo, e como mais preponderante a arte em geral como uma das formas de realizar a
educação estética de um modo mais elevado, uma vez que pode, para além de retratar a
realidade, antecipar a criação de novos mundos.
A Arte: A relação com Outros Universos
A definição de arte tem ocupado muitos autores ao longo dos séculos, mas não tem sido uma
tarefa fácil nem consensual.
Todas as definições de Arte formuladas ao longo dos séculos foram parcelares, prismáticas,
relativas, epocais, provisórias. Temos, porém, a convicção de que acerca da arte, como acerca
de tantas outras noções básicas e muito gerais, nos defrontamos sempre com esta situação
paradoxal: julgamos saber o que ela é, mas experimentamos uma grande dificuldade quando
tentamos dizer o que ela é. A fórmula Agostiniana, celebrizada para introduzir o problema do
tempo, bem poderia aqui servir para introduzir igualmente o problema da arte: "se ninguém
me pergunta, sei; se quero explicar a quem me pergunta" não sei. (Barbosa, 1995).
Se analisarmos o pensamento de alguns autores sobre o significado do conceito de arte
veremos que eles, apesar de acentuarem a dificuldade desta definição, encontram nas suas
reflexões argumentos para, por um lado, a desvincularem do seu carácter sagrado, por outro
para lhe imprimir o seu valor não utilizando a dicotomia entre os aspetos “ como manuais e
intelectuais”, procurando, na arte um valor epistemológico.
Neste sentido, Luigi Pareyson (1954) referiu que se “perguntarmos a um homem de «cultura
mediana» o que entende por arte este tende a defini-la como a imagem dos grandes clássicos
da Renascença, um Leonardo, um Rafael, um Michelangelo, ou seja a arte como objetos
sagrados e consagrados pelo tempo, e que se destinam a provocar sentimentos vários e, entre
estes, um, difícil de precisar: o sentimento do belo" (p.44).
Para Pareyson (1954), toda a vida humana é invenção e produção de formas orgânicas e
perfeitas, dotadas de compreensibilidade e de autonomia próprias: são formas produzidas
pela ação humana. Podem ser edifícios teoréticos, instituições civis, realizações quotidianas,
empreendimentos técnicos, um quadro e uma poesia e nessa medida a arte é um conjunto de
atos pelos quais se mudam as formas, se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela
cultura. Nesse sentido, qualquer atividade humana desde que conduzida a um fim se pode
apelidar de arte.
19
Para Herbert Read (1982), a arte não está apenas nos museus ou nas galerias, está presente
em todo o lado e em tudo quanto fazemos, para “agradar aos nossos sentidos”, mas acerca
dela raramente nos detemos a pensar.
Para obviar este questionamento e tentar clarificar o conceito de arte poderíamos introduzir o
conceito de produção de sentido, no qual confluem dois valores essenciais: por um lado o
valor histórico e documental; por outro, o valor artístico. Como valor histórico, revela-se único
e insubstituível já que nos pode revelar informação sobre uma época específica da história da
humanidade, como memória e testemunha de determinados acontecimentos e a
intencionalidade artística, conjugando esta, valores sensoriais, formais e expressivos, que não
deverão ser vistos separadamente.
A partir destes elementos que podem contribuir para uma clarificação do conceito de arte,
remetemos a nossa reflexão para a objetualidade/materialidade da obra de arte: uma pintura,
uma escultura, um poema, uma música são seres materiais que podem ser apreciados,
analisados pelos recetores, quer estejam num museu ou noutros contextos, e, neste sentido
ela poderá ser considerada no contexto do nosso objeto de estudo como um ato cultural que
possui forma e sentido, que possibilita ao ser humano o contacto e a experiência através do
sentidos de acordo com vários modos de conhecer, colocando-o em interação com essa
realidade, para poder despertar o interesse pela indagação das obras, de si e do mundo,
incentivando-o à re-construção de significados, tornando-se a obra de arte numa forma
formante de Si.
Segundo estes pontos de vista é possível colocar a arte ao alcance dos cidadãos, no entanto há
que refletir sobre a natureza da sua dimensão formativa, ou seja como é que ela se torna uma
atividade fundamental da experiência humana e quais os processos precisam de ser
desenvolvidos para que esta se torne numa experiência educativa significativa, e como é que a
arte nos dá conhecimento sobre o mundo como é que a arte nos pode fazer criar mundos e
como é que conhecemos a partir da arte.
Carmo d`Orey (2000) assinala que este processo de conhecer pode assumir diversas formas e
incitar diversas estratégias, destacando-se as que passa por tornar “percetíveis muitas
propriedades dos objetos que não tomávamos consciência na vida de todos os dias, a
incitando à projeção dessas propriedades de uma forma mais rica e complexa para organizar
uma nova visão das coisas (...)" (p.129 ). Ou seja, para a autora é necessário equiparmo-nos
com um “aparato percetual” e conceptual que nos permita generalizar para além do caso
particular apresentado, adiantando que por este motivo que as obras de arte, pictóricas,
literárias ou outras, tanto quanto as teorias científicas, podem ter um alcance universal.
Deste ponto de vista, a construção de conhecimentos a partir das obras de arte,- antiga,
modernas, contemporâneas, efémeras, faz-se através de sistemas de categorias ou de
conceitos, tal como acontece noutras áreas do conhecimento, na medida em que a arte, ao ser
considerada como uma linguagem fundamental da experiência humana, como um modo
pessoal de expressão, como método de comunicação e como um meio de identificar e
transmitir valores culturais, incentiva formas de reflexão e de questionamento do mundo a
partir de sistemas de símbolos que possuem uma linguagem e os códigos, podendo assim,
possibilitar modos de percecionar, fruir, conceber, ou seja, proporcionar o contacto e
20
desenvolver processos diferenciados de conhecer os objetos de modo a retirar deles todo o
seu “potencial formativo”, enquanto modo específico de entrar em relação com todos os
universos e “consigo mesmo”.
Nesta aceção, a arte não é um «Absoluto», mas sim uma forma de atividade que entra em
relação dialética com outras atividades, outros interesses e outros valores. Refere que cada
um, ao fruir uma obra de arte, deve e pode reencontrar uma relação emotiva e intelectual,
descobrir uma visão do mundo e do homem.
O valor dos discursos: Cientifico, Politico e Pragmático: consonâncias e dissonâncias
Os três pontos prévios aos discursos clarificam o ponto de partida sobre o entendimento que
neste trabalho será dado às dimensões da Educação, da Arte e da Estética, por se
considerarem fundantes para o objeto de estudo, apresentando, deste modo, os pontos de
partida da autora deste trabalho.
Assim, os documentos em análise e a analisar no decurso do trabalho de doutoramento (ver
metodologia) para caracterizar e tipificar os discursos - Cientifico, Politico e Pragmático - sobre
o valor da EA serão tratados de per se, por uma questão metodológica. No entanto estes estão
intimamente correlacionados. Partem das aceções já mencionadas e aqui retomadas:
Se a EA está presente nos discursos políticos e sociais como garante de um desenvolvimento
integral do ser humano, quais as razões que existem para que ela não tenha a aplicabilidade
nos contextos educativos? Será que a importância atribuída nos discursos à EA é uma
“promessa não cumprida”?
Serão os discursos propícios ao desenvolvimento de “ mitos” na EA?
Será que a valorização excessiva que é atribuída às artes nos diferentes discursos se torna um
modo de as afastar da escola?
Como é que se passa do discurso ao “ Mito e ao Feito”?
Será possível conceber uma EA sem “Mitos”?
Que ruturas tornam possível uma EA sem Mitos?
Se observarmos as várias aceções, poder-se-ão assinalar três dimensões que lhe são
subjacentes, e que se procuram colocar em debate:
Teleológica - A EA que concorre para desenvolvimento integral do ser humano,
antevendo espaços de liberdade para a construção do projeto pessoal de cada um -
Consonância de discursos.
Prática – O desenvolvimento da EA nos contextos educativos - Consonância versus
dissonância dos discursos de quem fala e de quem faz.
Rutura de paradigma - a partir das consonâncias e das dissonâncias dos discursos e
dos atores envolvidos, quer no plano da teoria, quer no plano das práticas a
desenvolver.
21
Tendo por base já algumas fontes consultadas e as práticas observadas em contexto
educativo, estas dimensões remetem-nos para as consonâncias e as dissonâncias, as
continuidades e descontinuidades dos discursos no (s) tempo (s), e no (s) espaço (s), sobre
o valor que é atribuído à EA.
Numa primeira instância, os discursos científicos produzidos por alguns autores (e.g.)
sobre o valor da EA utilizam várias designações para a definição e âmbito da EA: Educação
pela Arte (Arquimedes Santos Silva, João dos Santos, Herbert Read) Educação para a Arte,
Arte na Educação Arte-Educação (Ana Mae Barbosa); Educação em Arte. Estas
terminologias poderão parecer, numa visão mais simplista, de pouca importância, no
entanto, julga-se que num debate mais aprofundado deixam antever “zonas de
conflitualidade” que transformam as consonâncias em dissonâncias, por remeterem para
três visões: a arte a valer por si mesma; a arte como metodologia de ensino e a arte
como processo de aprendizagem, a arte como catarse, o que pode resultar, quer pelo
lado dos discursos políticos, quer pelos discursos pragmáticos, numa forma de legitimação
do que é feito em EA, pois, com a falta de clarificação, estas áreas podem “servir para
tudo” e não “valerem para nada”. Ou seja, estamos perante um discurso científico que
enfatiza a elevada importância, mas continua a não definir qual o objeto e as efetivas
finalidades, presumindo-se apenas as circunstâncias do valor que tem, mas não se adianta
aquilo que é.
A este propósito, detivemo-nos nas ideias de Herbert Read (1958) e João dos Santos
(1989) que podem fundamentar as premissas acima adiantadas. Veja-se o que Read
propõe como definição para a Educação pela Arte, “ (…) aquela em que através de
atividades de expressão artística propõe o desenvolvimento harmonioso da personalidade
e é com a educação pela Arte que é introduzido no sistema educativo a imaginação, a
espontaneidade e uma dimensão da sensibilidade” (p.45). Se observarmos as ideias de
João dos Santos (1986) sobre a definição a educação pela arte como a ”que melhor
permite a exteriorização das emoções e sentimentos e a sublimação dos instintos” (p. 66),
podendo constituir-se como uma espécie de psicoterapia das crianças perturbadas pela
imposição de conceitos educativos. Mais adiante, no seu texto, afirma acerca do mesmo
assunto que a educação estética é a educação das emoções através de uma forma
particular de relação humana – a atividade simbólica. A base da educação estética é a livre
experiência (p. 70).
Como fica relativamente claro, estes dois autores que foram percursores em Portugal de
um movimento que marcou fortemente os alguns discursos políticos e pragmáticos,
sobressaem duas questões essenciais:
O que se entende por expressão artística?
Como se operacionalizam nas práticas as dimensões da imaginação, da
espontaneidade e da sensibilidade para levar ao desenvolvimento harmonioso?
Sabendo que eles são percursores do Movimento da Educação pela Arte e que
esta perfilha as necessidades das crianças e a sua livre expressão, como aspetos
fundamentais, como é que estas dimensões foram e são concretizadas em
22
termos educativos? Será que apenas se traduzem na “exteriorização das emoções
e sentimentos e na sublimação dos instintos, como propõe João dos Santos?
Debrucemo-nos agora na definição de Educação para a Arte, que em Revistas da Educação
(nota de rodapé), como por exemplo a Revista Noesis, no texto “Roteiro sobre Educação
Artística” (Filomena de Matos et al.), a arte processa-se através do ensino artístico, visando a
formação de artistas profissionais, consistindo na transmissão formal de conhecimentos,
métodos e técnicas relativas ao domínio da arte. No entanto, em sede dos discursos políticos e
pedagógicos, ela é entendida como Educação pela Arte, seguindo os mesmos objetivos e
finalidades. Se continuarmos nesta procura de terminologias ainda encontramos “ Arte na
Educação” definida como a prática de atividades de educação artística e de animação cultural,
utilizando a arte como instrumento pedagógico.
Finalmente, a Arte - Educação, terminologia muito utilizada no Brasil, cuja autora que mais se
destaca é, Ana Mae Barbosa, que visa colocar a arte no contexto educativo, através da
“Proposta Triangular” 1”
Neste quadro de indefinição terminológica, e a este propósito vejamos o seguinte excerto:
(…) Pensamos agora ter chegado o momento de esboçar a conceção por nós
perfilhada de Educação pela Arte, e como distinguimos esta de uma educação
para a arte, ou ensino artístico. Contudo, mais do que preocuparmo-nos com
uma definição estrita de Educação pela Arte, antes a aceitamos como uma
conceção geral, que, interrelacionando conceitos vastos e “vagos” de
“educação” e “arte” considera que para além das palavras, o que importa é
considerar a importância de uma atividade pedagógica pelas expressões
artísticas, no desenvolvimento bio-sociopsicológico das crianças. (…), podendo
ler-se mais adiante “ (…) daí entendermos que quanto mais cedo surja na vida da
criança como alternativa educativa, um prática pedagógica consentânea com os
princípios da Educação pela Arte . ( Maria de Fátima Cardoso, et al).
Como se pode verificar a ambiguidade terminológica pode deixar espaço para, quer ao nível
dos discursos políticos e pragmáticos, a EA seja entendida de diversas formas e gere equívocos
e representações sociais às quais se pode assistir todos os dias, ainda hoje.
Enquanto investigadora intimamente ligada aos diversos contextos educativos e artísticos,
condição que não posso ignorar neste estudo, deparo-me todos os dias com a repercussão que
esta confusão terminológica tem ao nível dos discursos políticos e pragmáticos, a título de
Na década de 1980 podemos constatar no ensino em geral uma busca por ações que valorizem as vivências dos alunos, que se
relacionem com as questões sociais e principalmente que favoreçam o desenvolvimento de uma consciência crítica. Nessa
perspetiva o Ensino de Arte busca resgatar os conteúdos da área com o intuito de marcar a disciplina como área de conhecimento
no currículo escolar. A Arte-Educadora Ana Mae Barbosa foi de vital importância para a forma de ensinar arte no Brasil nesta
época. Comprometida com a democratização do saber em arte, com a possibilidade de tornar acessível a todos os alunos – da
rede pública e particular – os conteúdos artísticos, passou a estudar formas de conduzir um trabalho conectado com as realidades
pessoais e sociais dos alunos. Inseriu, também, no universo do ensino da arte a “Metodologia Triangular”, proposta metodológica
que enfoca de forma integrada: o fazer artístico, a análise de obras e objetos de arte e a história da arte.
23
exemplo, passo a transcrever um excerto de uma nota de campo de uma “Sessão de
formação” com os docentes que integram o PEEA do Ministério da Educação e Ciência:
“ (…) Já pratico todos a arte na minha turma, sou mesmo muito defensora da Educação
pela Arte, porque quero desenvolver nas minhas crianças a espontaneidade e a
imaginação, pinto com elas, faço teatro, dança, faço tudo”.
“ (…) Nós já fazemos isso, não é nada de novo, conheço bem os livros de Read, e de
Arquimedes Santos Silva… estou mesmo muito à vontade.
- Pode explicar como faz?
- Faço pinturas “em cima do texto”( queria dizer ilustrava o texto)
- E a dança?
- Isso… as crianças dançam livremente…
- Como é que dançam livremente?
- Então, no Natal fazem uma dança para os pais. (…).
No final da reunião desloquei-me à sala, a convite do docente, para ver alguns trabalhos
desenvolvidos pelas crianças. Em baixo, apresento duas fotos de um trabalho plástico de modo
a suportar este breve discurso na área das Artes Plásticas:
Pinturas das crianças J e H do Agrupamento de Escolas X, Dezembro de 2014.
Colocada a discussão desta forma, julga-se que o que realmente está em questão, numa
primeira abordagem, é a construção da Identidade(s) da EA, que desenvolverei mais
aprofundadamente no decurso do trabalho de investigação. No entanto, e a propósito da
construção das Identidades, Manuel Castells (2003) distingue três formas e origens, que se
podem adaptar ao contexto dos discursos em EA, em debate, neste estudo, a saber:
24
Legitimadora: introduzida pelos discursos “dominantes”, sejam eles políticos e /ou
científicos para expandir e racionalizar a sua dominação em relação aos atores sociais
(docentes e restante comunidade educativa);
De resistência: criada por atores contrários aos discursos dominantes de determinado
contexto histórico, criando resistências com princípios diferentes ou opostos ao é
expresso, ou dito;
De projeto: quando os atores, usando os vários discursos, constroem uma nova
identidade para redefinir algo.
Julgo que no desenvolvimento do trabalho, a adaptação do contributo de Castells será de
grande relevo para ajudar a caraterizar os discursos que são feitos acerca do valor da EA.
Por estar inserida num sistema social vivo, que “sofre” o impacto das forças “a favor de algo” e
a “contrário de algo”, conforme o contexto social em determinado momento exige e/ou dirige,
parece, portanto, que o objeto da EA deve ser alvo de uma reflexão aprofundada no contexto
deste estudo em sede das várias fontes enumeradas no capitulo da Metodologia, sem o qual, a
urgência do futuro que, desde abril de 1974 se tem proclamado, não passa de um retorno ao
ponto de partida e de uma “promessa não cumprida”.
Tempo de consonâncias versus dissonâncias, ou dos discursos de quem fala e de quem faz
Continuando neste itinerário das ideias percebidas através dos discursos, podemos encontrar,
por um lado, os discursos científicos que continuam a acentuar o valor da EA, por outro , os
sistemas educativos, por via dos discursos políticos, remetem-na para realidades
diferenciadas.
Ao longo de vários séculos, a reflexão sobre a importância da Arte no desenvolvimento
humano tem desempenhado um papel de relevo, procurando, debater-se o como contribui
para a formação global dos indivíduos e como pode ser considerada um “recurso” social e
educativo, parafraseando João de Barros (1911) “Não há sociedade democrática que possa
viver, progredindo, sem o “cultivo” da arte”.
Segundo (Habermas,1990) os diferentes contributos que diferentes autores trouxeram ao
binómio Arte e Ser Humano são essenciais para o enriquecimento de vários planos:
pedagógico, social, ético, estético, político, cuja inter-relação concorre para o desenvolvimento
da faculdade de sentir, ponto de partida para todas as atividades do indivíduo.
Apesar dos discursos científicos atribuírem um grande relevo à inter-relação entre estes planos
identificados por Habermas, ao nível pedagógico, assiste-se nos diferentes períodos históricos,
a visões diferenciadas de como a Arte é considerada como recurso educativo e o papel que
esta desempenha na formação de crianças e jovens.
No itinerário histórico que a seguir se apresentam, assistem-se a mudanças de paradigmas nas
várias correntes pedagógicas, a nível internacional e nacional, os quais enfatizavam diferentes
visões para o papel da Arte na formação.
25
Encontram-se três grandes momentos até aos dias de hoje, nos quais se encontram
consonâncias nos discursos, sejam científicos ou políticos, e dissonâncias nas práticas, ou seja
no discurso identificado neste contexto como pragmático.
Assim, sem pretender a exaustividade deste tema, enumeram-se, de um modo sintético,
aqueles que mais marcaram a História das Ideias na relação da Educação e Arte:
Pedagogia Tradicional (o final do século XIX) - acentuando-se uma visão utilitária e
profissionalizante, que enfatiza a arte como um meio para obter uma profissão. O
ensino da arte nas escolas centrava-se essencialmente no ensino do desenho, dando-
se grande relevo ao traço, à repetição de modelos, o desenho de ornamentação e
geométrico, o que segundo Ferraz & Fusari (1993), visavam “à preparação do
estudante para a vida profissional e para as atividades que se desenvolviam tanto em
fábricas, quanto em serviços artesanais” (p. 30), assumindo-se assim uma dimensão
“Tecnicista” – “saber construir”, reduzindo-se aos seus aspetos técnicos, ao uso de
materiais diversificados e um "saber exprimir-se “espontâneo, na maioria dos casos
caracterizando pouco compromisso com o conhecimento de linguagens artísticas.
O que leva a concluir que estamos perante métodos de ensino que privilegiam o produto em
detrimento dos processos, a repetição de modelos e de transmissão de conteúdos,
desenvolvendo-se, sobretudo, as habilidades manuais.
Movimento da Educação Nova (1ª metade do Sec. XX) John Dewey (a partir de 1900)
Vitor Lowelfeld (a partir de 1939) Herbert Read (a partir de 1943), cuja corrente ficou
marcada pelo Expressionismo, dando-se grande importância à expressão em todas as
atividades, expressão essa que era considerada como um dado subjetivo e individual,
cuja preocupação eram os interesses e a espontaneidade dos alunos, acentuando-se a
livre expressão. Apesar do incentivo a novos métodos de ensino, continua-se ainda a
enfatizar o ensino do desenho.
A corrente expressionística (1903-1960) se, por um lado, vem enfatizar a liberdade da criança e
sua subjetividade e individualidade, ao pretender que os trabalhos “brotem” apenas do seu
mundo interior, deixa uma enorme lacuna para a antecipação de vários mundos que cada uma
pode construir, pela limitação do acesso a outras possibilidades, tais como a fruição e reflexão
de várias circunstâncias artísticas.
As práticas, apesar das “ boas intenções” dos discursos preconizados ainda, hoje, estão
fortemente marcadas por esta visão de “liberdade sem se ser livre”, porque só é livre quem
conhece múltiplas possibilidades de pintar, desenhar, dramatizar, dançar, cantar, tocar.
Assistiu-se, assim, quer num período quer no outro, salvo raras exceções de casos avulsos, a
inexistência da integração, em simultâneo, do desenvolvimento da expressividade de cada um,
aliando os aspetos contemplativos, e os aspetos mais técnicos da experimentação nas diversas
formas de expressão, dando-se um relevo predominantemente centrado no “ fazer”.
26
Um ponto à frente no discurso cientifico: A integração de modelos de práticas
Continuando a percorrer o caminho dos discursos científicos sobre a relação Educação e Arte,
passa-se para a década 60, do séc. XX cujo período foi marcado muito significativamente por
Elliot Eisner, Edmund Feldman, entre outros, por trazerem nova abordagem, apesar desta ser
mais específica das artes plásticas, no entanto julga-se pertinente nesta relação entre os tipos
de discursos sobre o valor da EA.
É pelas ideias de Eisner (1960) que surgem quatro premissas relativamente ao ensino das
artes, designadamente: Produzir, Criar, Entender e Julgar. Segundo o autor a criação de
imagens permite adquirir poder expressivo e coerência, a Crítica de Arte desenvolve a
capacidade de ver; a História de Arte permite à criança situar a obra no tempo e no espaço, e a
Estética esclarece as bases teóricas para julgar a qualidade daquilo que é visto.
Já Feldman (1970) propõe que as conversas informais acerca da arte sejam sistematizadas pelo
professor. Enquanto crítico de arte, estimula as crianças a falar sobre a arte, incluindo quatro
fases na discussão: descrição- listar todas as qualidades visíveis na peça, dando o professor
informação sobre o nome do artista, título, material e tipo de representação; análise- processo
de determinação da relação entre as qualidades encontradas: linha, forma, espaço, cor,
textura, entre outras; interpretação – dar significado à obra, que consiste em determinar a
significação da imagem, conhecer a história de arte, momento histórico em que for produzida;
Julgamento- chegar a uma conclusão acerca da obra baseada na informação das etapas
anteriores.
Nesta linha, na década dos anos 80, surgem também outras propostas, destacando-se a
metodologia DBAE (1982) Displined Based Art Education2 da Universidade do Texas);
Metodologia Triangular da Universidade de S. Paulo (1987), proposta por Ana Mae Barbosa;
Modelo Arts Prope3l da Universidade de Harvard ( entre 1986 e 1991) tendo este sido alvo de
várias adaptações (Nelson Goodman; David Perkins; Howard Gardner); Primeiro – Olhar-
Programa de Artes Visuais4 da Fundação Calouste Gulbenkian e da Universidade Nova de
Lisboa).
2 The purpose of Discipline-based Arts Education (DBAE) was to reform education so a more comprehensive arts-integrated
curriculum is taught to all students. DBAE includes four disciplines: arts production, arts history and culture, criticism, and
aesthetics. While this model no longer has one centralized entity directly facilitating a professional development approach, its
research base and influence on policy and the education system can be seen in the education standards for music, art, dance, and
theatre (National Standards for Arts Education), which philosophically serve as the basis for numerous state standards, and as a
result, arts education professional development around the country. The Comprehensive Arts Education approach evolved from
this model.
3 Arts PROPEL researchers developed two major instruments that use an ongoing process of assessment and self-assessment to
reinforce instruction. One, the domain project, encourages students to tackle open-ended problems similar to those undertaken
by practicing artists). The other instrument, the portfolio or process folio, traces the development of examples of student work
through each stage of the creative process.
4 Iniciado em 1999 na Fundação Calouste Gulbenkian e transferido posteriormente para a UIED da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, este Programa 1 pretende concretizar ações no domínio da literacia visual com públicos de todas as idades. Apesar do seu enfoque remeter para a aprendizagem de conceitos relativos às artes visuais, mobilizando os seus códigos específicos, não menospreza, contudo, uma abordagem transversal às diferentes áreas do conhecimento. Partindo da integração de obras de arte dos museus da Fundação Calouste Gulbenkian (Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão e do Museu Calouste Gulbenkian), o Primeiro Olhar tem subjacentes as seguintes linhas de orientação, designadamente: A Educação Artística como um
27
Apesar destes modelos terem como princípios bases várias disciplinas como núcleo
estruturante (História da Arte; Critica de Arte, Estética e Produção Plástica) o contacto com a
cultura artística, especialmente o contacto com os museus e o desenvolvimento de atividades
nesses contextos; o olhar como processo de aprender a ver, o diálogo como modo de
organização do pensamento, existem duas diferenças significativas, a saber:
• nos processos de experimentação plástica e no desenvolvimento do diálogo
com as crianças. Enquanto uns levam as crianças a ilustrar os temas trabalhos na
aula, investindo os saberes adquiridos no domínio dos conteúdos das artes visuais;
e o diálogo é centrado na Pergunta- Resposta;
• outros enfatizam a criação plástica como a experiênciação de conceitos das
artes visuais, deixando as temáticas à escolha das crianças, e o diálogo pode
caraterizar-se por ser baseado na Ironia e na Maiêutica, levando as crianças a
ampliar as suas vivências, a aprender a formular situações dilemáticas, a integrarem
o que sabem , intuições, projeções, estabelecerem relações com as temáticas que
vão surgindo, a antecipar questões; e a partilhar dos saberes relativos das artes
visuais , destacando-se, neste contexto, o caso do último exemplo assinalado.
Pausa nos discursos científicos: Vamos dar lugar ao discurso político
Chegámos à década de 90, mas na já Introdução deste Projeto de tese foi mencionada a
importância a reforma de Veiga Simão (1971) e a importância que os discursos políticos,
através de vários governos acentuam à EA como meio de fomentar o desenvolvimento integral
das crianças e jovens.
Também foi referida a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) que vem constituir um
quadro de referência que marcou de forma significativa a importância atribuída pela reforma
educativa à educação “estética e artística”, sublinhando a ideia de que esta desempenha um
papel importante nas dimensões pessoal e social do indivíduo, estabelecendo no n.º 1 do art.º
2.º, que “todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da Constituição
da República.
Mas como foram integradas estas ideias veiculadas pelos discursos científicos nos discursos
políticos em termos legislativos (normativos) e em termos de instrumentos pedagógicos
(materiais de apoio aos docentes) para o valor que é dado à EA?
Ao longo destes meses, fui reunindo as fontes documentais para construir as grelhas de
análise, que me permitam, verificar as continuidades e as descontinuidades do valor atribuído
à EA, na produção legislativa e nos instrumentos de apoio aos docentes e da Educação Pré-
escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.
processo abrangente em permanente desenvolvimento ao longo da vida; A Educação Artística como passível de ser aprendida por todos e não apenas, um campo de formação de artistas; A Educação Artística como meio de questionar, comunicar, conhecer e
compreender o mundo; A educação artística vista como um meio holístico de abordar as diferentes formas de expressão, mobilizando vários critérios da para a sua abordagem (intuitivos, projetivos, vivenciais e formais); a Educação artística como meio de fruição, contemplação e experimentação de novos e inesperados meios de inventar o Mundo; a Educação Artística e os modelos de formação para (crianças, jovens e adultos/ professores, entre outros agentes da comunidade educativa).
28
Pude então verificar que ao ser promulgado o Decreto- Lei nº.519- R2/79, o “ Estatuto das
Escolas Normais de Educadores de Infância “delimita uma área de Expressões e
Concretização”, onde pela primeira vez num currículo se inclui a “Expressão Musical”,
“Expressão Plástica“ e "Expressão Dramática e Movimento”, a qual influência anos mais tarde
a própria “Lei de Bases do Sistema Educativo”, na qual se definem como objetivos ao nível da
“educação pré- escolar”, o desenvolvimento das “capacidades de expressão e comunicação da
criança, assim como a imaginação criativa”.
Ainda, numa leitura mais atenta sobre a “Lei de Bases do Sistema Educativo”, observa-se que
no 1º ciclo, o ensino é globalizante, da responsabilidade de um professor único, podendo ser
coadjuvado em áreas especializadas: expressões plástica, dramática e musical. No nº. 2 do
artigo 10 da mesma Lei pode ler-se: “No 1º Ciclo do Ensino Básico, a educação artística
genérica é assegurada pelos docentes do ensino regular, procurando a colaboração dos pais e
encarregados de educação”
Também numa leitura feita ao Decreto- Lei 344/90 sobre a Educação Artística se “ponderam
conceitos da conceitos decorrentes do Educação pela Arte e a coincidir com a escolaridade
básica obrigatória”(…). Neste articulado propõe-se, designadamente: “ao nível da educação
pré-escolar, a única forma generalizada de educação artística; ao “nível do ensino elementar”,
(agora 1º Ciclo do Ensino Básico), como uma forma de educação artística que, “para além dos
seus objetivos próprios, favoreça a revelação de vocações para a arte; na educação especial,
uma atividade central, tendente a contribuir para a integração progressiva das crianças
deficientes no sistema educativo normal”.
Se se cruzar o discurso patente nestes documentos legislativos com os discursos científicos
poder-se-á adiantar que os discursos políticos estão em consonância com as ideias de autores,
sendo visível através destes exemplos que, de uma certa forma, eles deixam “escapar” as
mesmas indefinições terminológicas sobre a área, quer ao nível da sua identidade, e da falta
de operacionalização dos conceitos, como por exemplo, “a “ imaginação criadora”, a
“expressividade”, entre outros.
Possibilidades de uma Rutura?
Em 2004, o Currículo Nacional do Ensino Básico- Competências Essenciais (Abrantes et al.,
2001) a EA da seguinte forma: “As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da
expressão pessoal, social e cultural do aluno. São formas de saber que articulam imaginação,
razão e emoção. Elas perpassam as vidas das pessoas, trazendo novas perspetivas, formas e
densidades ao ambiente e à sociedade em que se vive. A vivência artística influencia o modo
como se aprende, como se comunica e como se interpretam os significados do quotidiano.
Desta forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes competências e reflete-se no
modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o pensamento. As artes
permitem participar em desafios coletivos e pessoais que contribuem para a construção da
identidade pessoal e social, exprimem e enformam a identidade nacional, permitem o
entendimento das tradições de outras culturas e são uma área de eleição no âmbito da
aprendizagem ao longo da vida. A educação artística no ensino básico desenvolve-se,
maioritariamente, através de quatro grandes áreas artísticas, presentes ao longo dos três
ciclos: Expressão Plástica e Educação Visual; Expressão e Educação Musical; Expressão
29
Dramática/Teatro; Expressão Físico-Motora/Dança. No 1.º ciclo as quatro áreas são
trabalhadas, de forma integrada, pelo professor da classe, podendo este ser coadjuvado por
professores especialistas (…)” (p.149).
Apesar de algumas indefinições terminológicas no que diz respeito à imaginação, razão e
emoção, à forma integrada de desenvolvimento, este documento oficial valoriza o contacto
com a cultura artística, apesar de a limitar a uma “ Identidade nacional”. Apesar destes
questionamentos, parece poder que houve uma mudança na maneira de encarar as artes na
escola. Resta perguntar, como começaram a desenvolver-se as práticas, a partir desta
proposta oficial?
Em matéria de exemplos relativos a legislação não pretendo neste projeto fazer uma exaustiva
explanação, visto que no estudo eles irão ser alvo de uma análise mais profunda para a sua
“categorização” deixando a “quase transcrição”, como aqui foi feito. Também tentar-se-á
cruzar esta legislação e outra com as Orientações Curriculares para a Educação de Infância, o
programa do 1º Ciclo do Ensino Básico e as metas de aprendizagem, na área da EA.
Nova pausa: Vamos à escola à procura dos discursos pragmáticos
Nesta ida à escola, desde há pelo menos 30 anos, os discursos são apologistas do enorme valor
da EA para o desenvolvimento global da criança, repetindo-se vezes sem conta, estando até
“decorado“ por quem o profere. Existem discursos de vária ordem, que a realidade da escola
deixa antever.
Estes discursos situam-se a vários níveis, que de um certo modo são contraditórias entre si:
1. As representações da Arte enquanto agente formativo:
Arte é apenas o “Fazer” (pintar um quadro, cantar uma canção, ouvir música
“de fundo”, encenar uma peça de teatro), e deste ponto de vista, essa
“construção” é só para aqueles que têm jeito e dotes especiais; ideia
consubstanciada na teoria dos dotes;
Arte encarada, apenas, como recreação e como passatempo não
necessitando de qualquer esforço para ser usufruída;
Só há uma verdadeira educação se for através da arte, encarando a arte como
como a “salvação”; A arte é a salvação do Homem
A arte é a expressão das emoções e de sentimentos;
A noção de criatividade é apenas centrada na fantasia; ou apenas para génios;
A arte é um instrumento para ilustração literal do mundo;
A transversalidade entre o conhecimento em arte e nas outras áreas é vista
como uma integração de temáticas.
A arte é um método de ensino.
A arte melhora as aprendizagens das outras áreas.
30
As artes são apenas baseadas no “fazer”;
A arte serve para preparar a comemoração de festividades (Natal, Carnaval,
Páscoa, dias dos namorados, dia do pai, dia da mãe, entre outras);
A arte serve para formar artistas, e é para quem tem jeito;
A dança, a música, o teatro e as artes visuais não tem conteúdos para serem
ensinados;
A arte é a expressão plástica
2. As representações sobre o que as crianças são capazes e gostam de fazer:
As crianças pequenas não conseguem aceder ao universo da Arte porque tem
um grau de dificuldade elevado – a conceção da idade como valor absoluto,
discurso fortemente influenciado pelas teorias Piagetianas.
A utilização das obras de arte de pintores: Miró, Kandinsky, Picasso- porque
pintam como as crianças - e a sua replicação, estudo da vida do autor.
Audição de “música de fundo”
As crianças representam a história da Capuchinho Vermelho.
As crianças são criativas por natureza não sendo preciso uma aprendizagem
intencional nestas áreas. Um discurso de “contrapoder”- pela ênfase dada
pelo Ministério à leitura, à escrita e à matemática.
As crianças são livres e exprimem-se de acordo com a sua “imaginação
criadora” e “espontaneidade”.
3. As representações sobre o que são as suas dificuldades
Ausência de formação
Arte retira tempo aos programas estabelecidos, sabendo-se na Educação Pré-
escolar cada Educador pode gerir o tempo.
As escolas não têm espaços físicos apropriados para o desenvolvimento das
artes;
O professor não tem “jeito” para a Arte.
A Escola como ponto de chegada de Feitos Mitos Ditos
Perante estas consonâncias discursos contraditórios sobre o valor atribuído À EA e o modo
como é desenvolvida, parece poder dizer-se que se está perante um quadro de referência que
permite, essencialmente, destacar as seguintes questões:
O que se Sabe do Dito – Como é que os docentes integram nas suas práticas os
discursos científicos e políticos?
O que se Sabe do Feito - Como é que os discursos científicos e políticos integram o as
práticas produzidas?
O que se Sabe do Mito – Como é que os discursos dão origem ao Mito?
O que se Faz do Mito – Como é que o Mito adquire a forma do Dito e Feito?
31
São estas formas de questionamento que vão orientar uma pesquisa focalizada nos três tipos
de discursos, por ora identificados, fundamentando as diferentes “possibilidades de verdade”
que ao longo de trinta anos têm feito o seu caminho e encontrando a escola como ponto de
chegada.
Por dentro da Escola: Retorno aos discursos científicos - A Arte como fim em si mesma
No contexto deste trabalho, defende-se que a escola seja o ponto de partida, na qual a Arte,
parafraseando Marcuse (1981), não encobre o que existe – mas antes o revele», e neste
sentido importa criar circunstâncias precisas para envolver e implicar, desde cedo, as crianças
neste “achamento”; partindo do pressuposto que, a descoberta não é uma mera descrição de
dados numa lógica cumulativa do saber. Trata-se, sobretudo, de perceber que a Arte «não é
uma mera técnica da reprodução das aparências (…) como uma espécie de percursora da
fotografia de documentação». (Ostrower, 1998).
Apesar da consensualidade dos vários discursos sobre o valor da Arte na formação das
crianças, predominam práticas educativas nas quais se enfatiza, ora as atividades de
exploração e manipulação de materiais de per se, ou de ilustração de temas ora as atividades
baseadas na “livre expressão”, continuando ausentes ações educativas intencionais,
estruturadas de acordo com um corpus de conhecimento que desenvolva a expressividade de
cada criança e não como modos de desenvolver a “expressividade dos outros” nas crianças
A Arte orientada para o desenvolvimento da expressividade, segundo Leontiev (2000)
pressupõe e exige frequentemente um elevado nível de competência estética, assim como
motivação para fazer um determinado trabalho mental no decorrer da interação com a Arte
procurando, atingir «a promessa do significado», entendido como um diálogo e uma
indagação que procuram qualquer coisa para além do enredo e das emoções e a possibilidade
de colher algo mais profundo denominado – significado ou prazer do estilo.» (Leontiev, 2000).
Neste sentido os modos de aprendizagem dos conhecimentos artísticos devem proporcionar
instrumentos intelectuais, a partir dos quais os sujeitos se esforçam por adquirir algo de novo,
não ficando, apenas, nas projeções das suas atitudes, valores, vontades, nem presos à
recordação das suas vivências passadas e presentes, adiantando que se incentive o
conhecimento do que “(…) ainda não é conhecido, a não rejeitar o que é novo ou diferente, a
não ficar preso a uma absolutização das suas próprias ideias, juízos e opiniões que uma cultura
de massas partilha.» (Leontiev, 2000).
Este trabalho “mental complexo” na relação do sujeito com a Arte (Vigotsky, 1896 / 1934)
exige tempo, trabalho sistemático e envolve um movimento dinâmico entre «o pensar e o
fazer e o pensar sobre o fazer», para que a aprendizagem seja um ato de rigorosidade
metódica que caracteriza a curiosidade. (Freire, 1997).
A partir dos contributos destes autores podem acrescentar-se algumas premissas no sentido
desta área do saber se torne um campo de desenvolvimento e de aprendizagem. Em primeiro
lugar, é necessário criar nos sujeitos a vontade e a necessidade de contactar com a Arte,
aspetos estes que devem iniciar-se desde muito cedo, para que progressivamente, se
tornarem num “hábito” e produzam o prazer da fruição.
32
Em segundo lugar, a relação estabelecida entre o sujeito e o objeto de conhecimento – Arte –
deverá ter valor em si mesma e não como auxiliar de outras áreas do currículo, envolvendo
estratégias de aprendizagem que mobilizem uma atitude participativa por parte dos sujeitos,
partindo de situações objetivas e acessíveis a todos - o que se vê, o que se ouve, o que se
sente e o que se sabe – para a construção de ideias mais elaboradas, as quais possam envolver
dados novos, que acrescentem ao primeiro nível de observação ou concretização, um
entendimento sobre diferentes realidades (s) e possibilidade (s), e outros modos de fazer, de
ouvir, “saborear” e de ver.
Em terceiro lugar, a relação Sujeito-Arte pressupõe um acesso à linguagem intrínseca e
específica; ou seja, ao sistema de símbolos, que deverá ser aprendido, para um entendimento
progressivo de conceitos, bem como o desenvolvimento de vocabulário próprio, para que se
possa falar, observar e experimentar de modo mais esclarecido.
A este propósito, Carmo d´Orey (2000) refere que:
(…) As obras poéticas, musicais e pictóricas obedecem a leis lógicas (…). As
obras de arte são objetos (na minha perspetiva, símbolos) que requerem
interpretação. Compreender uma obra não consiste em sentir uma emoção
peculiar nem em descobrir a intenção do autor. Consiste em interpretá-la.
Interpretar é o objetivo prioritário. No âmbito de uma teoria semiótica,
interpretar uma obra de arte consiste em descodificar um símbolo cujas
propriedades sintáticas e semânticas não são imediatamente evidentes. Dito
mais simplesmente, consiste em ativar esse símbolo ou, o que é o mesmo, pôr
essa obra a funcionar. A ativação da obra é tão importante como a criação. É a
parte do trabalho que cabe ao percipiente. A distinção entre ser obra de arte e
funcionar como obra de arte é aqui decisiva. Só na interpretação a obra
funciona como tal (…).
No entender da autora, cada sujeito que aprende os sistemas de símbolos de cada forma de
arte fica, necessariamente, com um repertório simbólico que o leva a ampliar o seu
conhecimento, estabelecendo relações entre o que sabe e o que a obra lhe ensina. É neste
processo que o sujeito vai interiorizando o poder de argumentação que a re (invenção) da obra
lhe proporciona e pode potenciar mudanças interiores, na medida em que o faz re (ver) as
suas opções, opiniões, agora fundadas em argumentos mais consistentes e mais
fundamentados pelo saber que adquiriu e pode partilhar.
A este respeito Fayga Ostrower (1991) considera que é indispensável ser claro e simples sem
simplificar demais: (…) “na pseudo – simplicidade, nessa redução dos problemas (da arte) a um
denominador comum mais baixo, falsifica-se tudo o que pode ser natural curiosidade. O saber
se reduz a fórmulas ocas, inúteis. E não só se faz de conta que já se chegou a todo o
conhecimento de todas as respostas, como também se desestimula o processo de
aprendizagem através de indagações e hipóteses. Elimina-se o ser inteligente e sensível das
pessoas”
33
4. Metodologia
A investigação a realizar enquadra-se num paradigma qualitativo - interpretativo, por se (…)
“privilegiar a compreensão das complexas inter-relações entre tudo o que existe (…).”
Neste estudo pretende-se focalizar a análise na compreensão dos fenómenos, atendendo a
vários contextos em simultâneo - histórico, antropológico, cultural, social, pessoal e educativo,
por este estar investido de formas complexas e de muitas ações coincidentes (…).”
(Stake,1995).
Assim, coloca-se a ênfase no significado que os vários sujeitos atribuem a uma situação
particular em que se envolvem, o Caso do PEEA- e na forma como interagem nesse contexto
específico, desde as suas representações às suas práticas de EA. Também, neste contexto, a
abordagem a esta problemática terá uma forte implicação pessoal da investigadora nos
processos de investigação, através da metodologia da observação participante, ou seja,
através da aplicação de instrumentos de recolha de dados desenhados e construídos com o
propósito de captar o (s) modo (s) de a ver a arte e a educação e o modo como colocam em
ação esses Modos de Ver.
4.1 Selecção de procedimentos, técnicas de recolha e de análise dos dados
Após a realização do enquadramento e contextualização da temática em estudo, aborda-se a
fase metodológica. Desta forma, a análise da metodologia adotada no presente trabalho
compreenderá a conceptualização do estudo, os instrumentos de recolha de dados a utilizar, a
caracterização da amostra e os procedimentos a realizar.
Neste sentido, este trabalho de investigação compreende três dimensões, como atrás foi
referido, a saber:
Histórica: Modos de dizer.
Antropológica: modos de ver.
Estética: modos de fazer.
Para cada uma destas dimensões procurar – se- á reunir, de um modo focalizado, um quadro
conceptual, que “mapeie” a problemática em análise, fazendo a revisão do “estado da arte”
nos domínios - histórico, antropológico e estético- de modo a perceber como estas dimensões
se interliguem e / ou se excluem, assim como as repercussões que este “mapeamento” poderá
ter nos “Modos de Pensar” a Politica Educativa, ao nível da EA, em Portugal.
Na análise da dimensão histórica - Modos de Dizer: procurar-se- á contextualizar e perceber,
através de uma linha temporal, as continuidades e descontinuidades dos discursos políticos e
pedagógicos. Esta análise procura estudar um horizonte temporal que se situa entre 1971 até
2014, analisando-se os principais documentos legislativos e os mais “relevantes” discursos
pedagógicos. Pretende-se ainda fazer um mapa de conceitos que emergem dos documentos
em análise, procurando problematizá-los no enquadramento geral deste estudo, e relacioná-
los com as outras duas dimensões em análise: antropológica e estética.
34
Numa análise exploratória de alguns documentos consultados para estudo verificou-se que a
operacionalização dos conceitos: arte, estética, criatividade, imaginação, qualidade em EA,
entre outros, era inexistente, ficando estes fixados num discurso “circular” onde tudo pode ser
o quem ouve quer que seja, tornando-se, portanto, de especial importância mobilizar uma
dimensão antropológica, designada: modos de ver, para, sobretudo, verificar quais as
interpretações que os professores, pais, alunos, fazem destes e de outros conceitos que ao
longo de cerca de 40 anos vão passando de “normativo em normativo”, de “discurso em
discurso” e como afetam as práticas desenvolvidas nas várias áreas da EA, ou seja, como se
desenvolve a dimensão Estética: Modos de Fazer.
Em termos metodológicos estas três dimensões serão trabalhadas autonomamente, com
instrumentos de recolha e tratamentos de dados específicos para cada uma delas, no entanto
elas constituem o campo concetual deste estudo de um modo interligado e interdependente.
Se as duas primeiras - histórica e antropológica - constituem mais acentuadamente um campo
de diagnóstico do problema, a última, - dimensão estética, funciona como uma análise da
caraterização das conceções e das práticas que devem estar presentes numa “ verdadeira” EA,
encaminhando-nos para uma abordagem centrado na opção metodológica designada Estudo
de Caso, por nos parecer o mais adequado numa observação detalhada de um determinado
contexto (Merriam,1988, citado por Bogdan e Biklen, 1991), o qual neste estudo diz respeito
aos participantes (docentes, pais e famílias) de dez Agrupamentos de Escolas do PEEA, sendo
que dois são da zona norte, dois da zona centro, dois da região da Grande Lisboa, dois da
região de Setúbal e dois da Região do Algarve.
Assim, enumeram-se de seguida, para cada dimensão, os instrumentos de recolha e análise de
dados, bem como a respetiva fundamentação:
Dimensão Histórica - Modos de Dizer: incluem-se nesta dimensão, a análise
documental, com a elaboração de grelhas de análise dos discursos, que permitam
analisar e traçar as continuidade (s) e descontinuidade (s) dos discursos legislativos e
pedagógicos. Também, e a partir desta análise, será elaborado um mapa dos principais
conceitos utilizados como modo de traçar uma cartografia, que forneça informações
para possibilitar o conhecimento das mudanças na compreensão de determinada
realidade (Trowbrigde & wandersee,1998).
Dimensão Antropológica - Modos de Ver: Opta-se, nesta dimensão, pela elaboração de
entrevistas, já que a entrevista é um importante instrumento de recolha de dados
numa investigação de tipo qualitativo interpretativo e com ela pretendemos aceder “a
aspectos em que o investigador não pensava” (Quivy e Campenhougt, 1992). Recorre-
se à técnica da entrevista semiestruturada, a quatro docentes, por Agrupamento de
Escola, e aos respetivos diretores de agrupamento, de modo a retratar as múltiplas
perspetivas (Stake,1995), sobre a arte na escola e sobre o seu desenvolvimento
prático. Preferencialmente aplicam-se entrevistas do tipo semi-estruturadas que são
geralmente conduzidas com base em tópicos específicos a partir dos quais se criam as
questões. Inclui-se a construção de um guião que assegurará a obtenção das
informações pretendidas, Carmo, H. & Ferreira M. M. (2008). A análise de conteúdo
das entrevistas será feita como nos sugere Raymond Quivy, “ os métodos de análise de
35
conteúdo, implicam a aplicação de processos técnicos relativamente precisos (como
por exemplo, o calculo das frequências relativas ou das co-ocorrências dos termos
utilizados). “De facto, apenas a utilização de métodos construídos e estáveis permite
ao investigador elaborar uma interpretação que não tome como referencia os seus
próprios valores e representações.” (Quivy,1992).
Também, nesta dimensão, será utilizada a técnica de Focus Group feita com cerca de
seis a oito pessoas (pais, alunos e aos representantes de instituições culturais) no
sentido de auscultar e clarificar os pontos de vista e as ideias sobre o desenvolvimento
das artes na escola.
Dimensão Estética - Modos de Fazer: Nesta dimensão, como atrás foi referido, serão
estudados e utilizados como amostra dez Agrupamentos de Escolas do PEEA, sendo
dois da zona Norte, dois da zona Centro, dois da região da Grande Lisboa, dois da
região de Setúbal e dois da zona Sul, de modo a fazer uma cobertura a nível nacional.
Serão utilizados como instrumentos de recolha de dados, as notas de campo sobre as
reuniões de acompanhamento (RA) do PEEA, a recolha fotográfica dos trabalhos das
crianças e da “ambiência” das salas de aulas e a análise dos trabalhos dos docentes em
contexto da formação desenvolvida ao longo de um ano. A opção por estes
instrumentos de recolha de dados fundamenta-se, quer pelo aprofundamento que
estes nos garantem, quer na observação dos aspetos objetivos a estudar, quer na
compreensão dos aspetos subjetivos em análise.
Embora as notas de campo possam ser todos os dados recolhidos durante todo o
estudo (Bogdan& Biklen,1991,c), neste dimensão, este instrumento é usado no sentido
mais restrito e mais autónomo. Neste contexto, as notas de campo são utiizadas para,
por um lado, captar uma imagem por palavras do local, pessoas, acções e conversas/
reuniões observadas no decurso do desencolvimento do PEEA, nos diferentes
contextos escolares, e, por outro, estes relatos tornam-se mais reflexivos, pois
servirão para apreender o ponto de vista do observador, as suas ideias e
preocupações.( Bogdan & Bibklen, 1991,d).
Nesta dimensão será também utilizado o recurso à fotografia, como acima é referido.
Como assinalam (Bogdan & Bibklen, 1991), a fotografia está intimamente ligada à
investigação qualitativa, e [pode fornecer] fortes dados descritivivos e ajudar a
compreender o que é subjetivo, assumindo especial relevância a sua utilização nesta
dimensão, na medida em que, e, parafraseando Lewis Hine, sociólogo,- um dos
primeiros cientistas a utilizar a câmara fotográfica para mostrar ao povo americano a
pobreza do seu país - , (…) “ Se eu pudessse contar a história por palavras não teria
tido a necessidade de carregar com uma câmara fotográfica.”(Scott,1973, cit. Bogdan
& Biblen, 1991).
Também a pertinência deste instrumento nesta dimensão do estudo se pode
verificar na medida que as fotografias dos trabalhos e do próprio ambiente escolar
podem servir para apresentar imagens que não encaixam nos construtos teóricos que
a investigadora está a formar, nem corresponderem ao que os docentes dizem que
fazem nas suas práticas de Educação Artistica, e, neste sentido, as fotografias podem
ser utilizadas para compreender o subjetivo, para investigar àcerca de como as
36
pessoas definem o seuposicionamente perante a arte, revelar o que as pessoas têm
como adquirido e o que elas assumem como inquestionável neste domínio.
Ao longo projeto de investigação procurou-se, através dos discursos reescritos, traçar as linhas
temporais, referenciando uma dimensão histórica e os seus modos de dizer, fazendo emergir
uma dimensão antropológica e nos seus modos de ver e apontar possibilidades para uma
dimensão estética nos seus modos de fazer.
Assumindo-se o valor da EA como centralidade das relações entre estas diferentes dimensões,
delimitou-se um quadro- referência que irá acompanhar este trabalho, quer sob os pontos de
vista epistemológico, quer metodológico.
Pensa-se que ao longo deste itinerário foi esclarecido o caminho para chegar ao “Estudo de
Caso” do PEEA, para continuar o questionamento sobre o valor atribuído à EA.
37
5. Cronograma
O presente trabalho de investigação tem uma duração previsional de três (3) anos.
O Cronograma para a realização do trabalho apresenta a seguinte configuração:
Fases da investigação Ano 1 (2014-2015)
Ano 2 (2015-2016)
Ano 3 (2016-2017)
1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem.
- Revisão literatura.
- Revisão do “estado da arte”.
- Recolha de dados: recolha de
artigos e normativos sobre a EA
em Portugal.
- Recolha de notas de campo e
registo fotográfico.
- Elaboração e entrega do Projecto
de investigação.
Defesa do projeto tese.
- Continuação da recolha de dados:
notas de campo, registo
fotográfico e entrevistas.
- Análise e tratamento de dados.
- Elaboração de quadro de pistas
de refllexão.
Inicio de escrita da tese.
- Conclusão e redação final da
escrita da tese;
- Leitura, apresentação e defesa da
Tese.
38
Bibliografia
ABRANTES, P. (coordenador geral), (2001). Currículo Nacional do Ensino Básico Competências
Essenciais. Lisboa, Ministério da Educação-Departamento da Educação Básica.
AZEVEDO, C. A. M. & AZEVEDO, A. G. (1998). Metodologia Científica. Porto: C. Azevedo.
BARBOSA, P. (1995). Metamorfoses do Real – Arte, Imaginário E Conhecimento Estético. Porto,
Edições Afrontamento.
BARDIN, L. (1997). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70.
BAUMGARTEN, A. Go. (1750/1993) Estética: A Lógica da Arte e do Poema. Petrópolis: Vozes.
BECKER, H. S. (1996). “The Epistemology of Qualitative Research”, in Jessor, R., A. Colby e R. A.
Shweder (eds.), Ethnography and Human Development, Chicago, The University of , Chicago,
The University of Chicago Press.
BELL, J. (1993). Como realizar um Projecto de Investigação. Lisboa: Gradiva.
BERGER, G. (1991). In CANÁRIO, R. O professor e a Produção de Inovações. Colóquio Educação
e Sociedade. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. p.113.
BEST, D. (1996). A racionalidade do sentimento. O papel das artes na educação. Porto: Edições
Asa.
BIKLEN, S., BOGDAN, R. (1994). Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria
e aos métodos. Porto Editor.
CANÁRIO, R. (1993). O professor e a Produção de Inovações. Colóquio Educação e Sociedade.
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
CARDOSO, M. F., SILVA, M. F., BASTOS, P. A. (2002). Educação Pela Arte. Lisboa, Instituto de
Inovação Educacional- Ministério da Educação.
CEIA, C. (1995). Normas para apresentação de trabalhos científicos. Lisboa: Editorial Presença.
DE KETELE, J.-M. & ROEGIERS, X. (1993). Metodologia da Recolha de Dados. Lisboa: Instituto
Piaget.
DUARTE JR, J. F. (1998). Fundamentos Estéticos Da educação. 5ª Edição. São Paulo, M.R.
Cornacchia Livraria e Editora Ltda - Papirus Editora.
FERREIRA, A. (2008). Arte, Tecnologia e Educação- as relações com a criatividade. São Paulo,
ANNABLUME editora.
FLICK, U. (2005b), “Triangulation in Qualitative Research”, em Flick, U., E. V.Kardorff, e I.
Steinke (eds.), A Companion to Qualitative Research, Sage, pp. 178-183.
39
FODDY, W. (1996). Como perguntar. Teoria e Prática da Construção de Perguntas em
Entrevistas e Questionários. Oeiras: Celta Editora.
GHIGLIONE, R. & MATALON, B. (1992). O Inquérito Teoria e Prática. Oeiras: Celta Editora.
LESSARD-HÉBERT, M. (1994). Investigação Qualitativa. Fundamentos e Práticas. Lisboa:
Instituto Piaget.
LOURENÇO, P (2002). Concepções e dimensões da eficácia grupal: desempenho e níveis de
desenvolvimento. Dissertação de Doutoramento não publicada. Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação, Universidade de Coimbra.
MARINA, J. A. (1995). Teoria da Inteligência Criadora. Lisboa, Editorial Caminho.
MATALON, B. & Ghiglione, R. (1993). O Inquérito: Teoria e Prática. Oeiras, Celta Editora.
MATOS, F., FERRAZ, H. (2006). Roteiro da Educação Artística. Dossier - As Artes na Educação.
noesis, Revista Nº 67. Lisboa, Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, pp.24-
33.
MONTERO, R. (2004). A Louca da Casa. Porto, Asa Editores, S.A.
MOREIRA, J. M. (2004), Questionário: Teoria e Prática, Coimbra, Almedina.
OREY, C. (1999) A exemplificação na arte. Um estudo sobre Nelson Goodman. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia.
PAREYSON, Luigi. Estética ( 1954). Teoria da Formatividade. Turim, Ed. Filosofia.
PARDAL, L. & CORREIA, E. (1995). Métodos e Técnicas de Investigação Social. Porto: Areal
Editores, Lda.
PATTON, Michael Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. California, Sage.
QUIVY, Raymond e Campenhoudt, Luc Van, (1992). Manual de Investigação em Ciências
Sociais. Lisboa, Gradiva.
READ, Herbert.(1958).A Educação pela Arte. Lisboa. Arte e Comunicação. Edições 70.
RIBEIRO DOS SANTOS, L. (1996). Educação Estética e Utopia Política. Lisboa. Edições Colibri.
SANTOS, João, (1991). Ensaios sobre a Educação I- A criança quem é? Lisboa. Livros Horizonte.
SANTOS, João, (1989).Se não sabe Porque é que pergunta. Lisboa. Assirio & e Alvim.
RILKE, R.M. (2004). Cartas a Um Jovem Poeta. Carcavelos, Coisas de Ler Edições, Lda.
SCHILLER; F. (1994).Sobre a Educação Estética do Ser Humano numa Série de Cartas e Outros
Textos. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
SILVERMAN , D. (2000). Doing qualitative research: a practical handbook. London: Sage.
40
TASHAKKORI, A., e C. Teddlie (1998). Mixed methodology. Combining qualitative and
quantitative approaches (Applied Social Research Methods Series, vol. 46). Londres, Sage.
VYGOTSKY, L. (2009). A Imaginação e a Arte na Infância. Lisboa, Relógio D’ Água Editores.
Webgrafia
AA.VV. – A Educação Artística e a Promoção das Artes na Perspectiva das Políticas Públicas:
Relatório do Grupo de Contacto entre os Ministérios da Educação e da Cultura [em linha].
Silva, Augusto Santos (coord.). Lisboa: Ministério da Educação. 2000 [Consult. 30 abr. 2014].
Disponível em WWW:
< http://www.educacao-artistica.gov.pt/documentos/Educ_Art%C3%ADstica_redu.pdf>
AA.VV. – Relatório do Grupo de Trabalho Ministério da Educação e Ministério da Cultura –
Despacho Conjunto Nº 1062/2003, DR-II SÉRIE DE 27 de novembro [em linha]. Xavier, Jorge
Barreto (coord.).s.l.: Abril de 2004 [Consult. 30 abr. 2014]. Disponível em WWW:<
http://www.educacao-artistica.gov.pt/documentos/Rel_MEd_MC.pdf>
AA.VV. – Roteiro para a Educação Artística: Desenvolver as Capacidades Criativas para o
Século XXI [em linha]. Lisboa: Comissão Nacional da UNESCO. 2006 [Consult. 30 abr. 2014].
Disponível em WWW:< http://www.clubeunescoedart.pt/files/livros/roteiro.pdf>
Assembleia da República – Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º 46/86. D.R. n.º 237,
Série I de 1986-10-14 [em linha]. Lisboa: Diário da República Eletrónico. 14 de outubro de 1986
[Consult. 30 abr. 2014]. Disponível em
WWW:< http://dre.pt/pdf1sdip/1986/10/23700/30673081.pdf>
Parlamento Europeu – Estudos artísticos na União Europeia: Resolução do Parlamento
Europeu, de 24 de Março de 2009, sobre os estudos artísticos na União Europeia
(2008/2226(INI)) [em linha]. s.l.: EUR-Lex, Acesso ao direito da União Europeia. 2009 [Consult.
29 mar. 2014]. Disponível em WWW <http://eur
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0023:0026:PT:PDF>