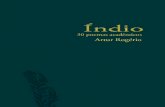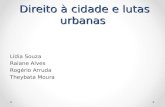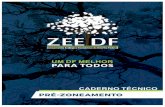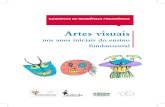MOURA, Rogério - O Trabalho Cultural e a Pedagogia Do Teatro
-
Upload
iago-luniere -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
description
Transcript of MOURA, Rogério - O Trabalho Cultural e a Pedagogia Do Teatro
-
s a l a p r e t a
270
O t rabalho cu l tura l e a pedagogia do teatro
Rogrio Moura
E
Rogrio Moura diretor teatral; mestre em Artes pela Escola de Comunicaes e Artes da USP; douto-rando da Faculdade de Educao da USP.
ste um momento da histria brasileirapropcio para discutir o papel dos educado-res e dos recursos (humanos e materiais) dis-ponveis para enfrentar o tema da formaodas novas geraes. Violncia, aumento da
excluso social e uma crescente dificuldade nodilogo entre governo e sociedade no mbito dagesto de polticas pblicas para jovens reme-tem esta discusso a Giroux, autor que propi-ciou um novo olhar sobre o campo da Pedago-gia Cultural, ao abordar de forma sinrgica osconceitos de cultura, educao e democracia.Para Giroux:
Nesta poca da nossa histria, especialmen-te importante que artistas, educadores e ou-tros trabalhadores culturais desenvolvam umadefinio mais ampla da instruo e da prti-ca pedaggica como uma forma de polticacultural. (1999, p. 277)
Este escopo mais amplo e abrangente emtermos da instruo e da prtica pedaggicasvem se traduzindo, no Brasil, entre outras inici-ativas, por atores estatais, que no mbito do en-sino mdio aliam secretarias de estado e organi-zaes da sociedade civil e do setor privado,visando instalar programas de formao de jo-vens das mais diversas naturezas dentro do sis-tema escolar formal.
Assim, a prtica pedaggica e a instruoexpandem-se at se traduzirem por programaspedaggicos, artsticos e culturais, dentre osquais citamos, no Estado de S Paulo, Parceirosdo Futuro, Programa Arquimedes e Progra-ma Profisso, geridos por diversas secretarias deEstado. Outras iniciativas apontam para a estru-turao de centros culturais dentro da rede es-colar atravs de parcerias entre o Estado e enti-dades de direito privado.
Observa-se uma transformao cujo al-cance pleno ainda no se conhece, na qual oEstado deixa de atuar sozinho no campo da ges-to da educao, sendo acompanhado por enti-dades e representantes do setor privado na ins-talao de atividades pedaggicas, artsticas eculturais para jovens, com a suposta intenode melhorar a sua insero social.
Desde j surgem novas abordagens poss-veis para a relao educador-educando, bemcomo para compreender o jogo de foras entrecultura do centro (de onde surgem as novas pro-postas pedaggicas) e cultura da margem (ondeesto os supostos objetos destas propostas pe-daggicas, os jovens).
A complexidade no campo da formaodas novas geraes, por sua vez, combinando oscampos da Pedagogia, da Cultura e do Direito,traz a urgncia de uma rediscusso acerca dos
-
O trabalho cultural e a pedagogia do teatro
271
modelos de formao de educadores. Esses mo-delos no somente no contemplam as mudan-as verificadas a partir dos anos 1990 na relaoescola-Estado-sociedade, como tambm noconseguem lanar um novo olhar sobre o direi-to educacional, incluindo-se a as mudanas ediscusses que surgiram a partir da nova Lei deDiretrizes e Bases da Educao Nacional, do Es-tatuto da Criana e do Adolescente e das portari-as e decretos subseqentes sancionados pelo Es-tado na segunda metade da dcada de 1990.
Os programas culturais, artsticos e edu-cacionais implantados principalmente na peri-feria da cidade de So Paulo no final dos anos1990, alguns operando dentro das escolas donvel mdio, trazem para a comunidade escolare para os educadores atuantes a necessidade deouvir e repensar constantemente o planejamen-to das atividades pedaggicas.
No contexto da formao propriamentedita de jovens e adolescentes, os ndices de ex-cluso social, de pobreza extrema e de violnciana periferia terminam por contribuir muitas ve-zes para uma atitude de rebeldia e mesmo denegao por parte dos adolescentes em tomarparte das atividades oferecidas, j que a princ-pio estas so identificadas como advindas de umEstado at ento omisso na tarefa de protegercidados e de oferecer-lhes qualidade de vida naforma de atividades culturais e de formao geral.
Pesquisa realizada por este autor ao longode dois anos na periferia de So Paulo mostrouque os jovens passam a interagir com as pro-postas pedaggicas oferecidas por estes progra-mas, na medida em que se tornam agentes doprprio processo de ensino-aprendizagem, ouseja, na medida em que so ouvidos.
Coloca-se um desafio duplo para os pro-gramas em discusso: aprender a ouvir o grupoalvo para o qual a poltica pblica est direcio-nada e promover a reviso dos fundamentos quejustificam a sua implantao. Certamente istono exime o educador da responsabilidade deatuar num plano mais poltico de formao dejovens e adolescentes, mas, pelo contrrio, obri-ga-o a estabelecer um meio termo entre atender
ao contedo do programa pedaggico, quandohouver, e ao mesmo tempo ouvir os principaisinteressados.
Educao e Cultura desta forma constro-em um sentido amplo para o processo de for-mao de jovens. Uma atitude mais poltica euma postura mais enrgica na luta por uma forma-o pedaggica e cultural de qualidade passama ser os novos desafios das polticas educacio-nais em grande parte dos pases latino-america-nos. Trata-se de desenvolver uma postura novade educadores que passem a lutar para que oprocesso educacional, numa perspectiva abran-gente que envolva tanto o ensino formal comoo informal, seja abordado a partir da idia deuma poltica cultural preocupada com a forma-o plena das novas geraes.
Esta discusso precisa abraar as interfacesentre os conceitos de cultura e trabalho, comoentende Chau. Para a autora, a cultura [...] entendida por um duplo registro: no sentidoantropolgico amplo de inveno coletiva etemporal de prticas, valores, smbolos e idiasque marcam a ruptura do humano em face dascoisas naturais com a instituio da linguagem,do trabalho [...] (1992, p. 39). Nesse primeirosentido, cultura um fato e somos todos seresculturais. Mas constitui-se a um segundo sen-tido para a palavra, considerada ento como:trabalho, entendido como o movimento peloqual os seres humanos so capazes de uma rela-o com o ausente e o possvel, so capazes denegar as condies imediatas de sua experinciae so capazes de criar o novo como plenamentehumano.
A interface entre trabalho e cultura con-duz possibilidade de pensar o trabalho artsti-co, portanto cultural, como processo produzi-do coletivamente por sujeitos. Para criar o novocomo plenamente humano preciso, no entan-to, que educadores/trabalhadores culturais em te-atro reconheam que a cultura no somenteum legado de crenas e costumes, monumen-tos ou tradies estticas que se transmutam emobras acabadas sobre um palco, mas tudo aqui-lo produzido pelo esforo humano de auto-su-
-
s a l a p r e t a
272
perao, incluindo o esforo de um bailarino naconstruo de uma partitura coreogrfica, o in-cansvel trabalho de construo do personagempor um ator ou a interao de jogadores no jogoteatral. Trabalho, aqui entendido na sua acepocultural, est relacionado a processo, ainda queeste se d num contexto de grande dificuldade,como o da periferia das megacidades.
Neste processo, o conceito de cultura sedemocratiza para abranger todas as classes e ex-tratos sociais da sociedade, compostos de sereshumanos capazes de negar as condies imedi-atas da sua experincia e criar o novo como ple-namente humano. preciso, no entanto, queeducador e educando visualizem o exerccio dacultura manifesto atravs do esforo de constru-o do trabalho cultural.
Desta forma, ser ento trabalho culturalo esforo de educar pela esttica, de construirum papel/personagem, de realizar um jogo tea-tral e de aliar a informalidade das prticas soci-ais dos sujeitos perifricos ao mpeto formativodos programas pedaggico-culturais do Estado.
Na verdade, para Chau, o sentido deuma poltica de cidadania cultural1 um pro-cesso a ser construdo atravs de uma vontadepoltica claramente determinada, que possibili-te a produo dos diversos sujeitos no contextodos respectivos processos de criao. O que seaponta a a necessidade de se superar o dficithistrico do poder pblico no cumprimento deseu papel como gestor da cultura e disponibi-lizador de bens culturais a todos os segmentosda sociedade brasileira.
Sabemos que o problema da formao dasnovas geraes atinge tanto pases da periferia
do capitalismo global, como Brasil, Mxico, Ar-gentina e outros, quanto pases centrais, entreos quais destacaramos Frana e Alemanha. Osdois grupos de pases apresentam alto ndice dedesemprego entre jovens, fenmeno este iden-tificado pelo Relatrio do PNUD (2000) comofalta de oportunidades para jovens urbanos.
Cabe frisar que este fenmeno diz respei-to dificuldade dos Estados Nacionais em ga-rantir formao plena e insero social s novasgeraes, num ambiente de fragilidade das po-lticas sociais advinda dos processos aceleradosde globalizao econmica e financeira, por suavez propiciados pelas reformas do ltimo dec-nio do sculo XX.
As reformas do Estado nos anos 1990 naAmrica Latina culminaram com uma intensainternacionalizao do capital e drsticos cortesnos oramentos sociais. Atentando para as mu-danas verificadas tanto em nvel local (naes),como em nvel global, cabe questionar a confi-gurao econmica e social desigual que vai sedelineando e propor alternativas a esse modeloglobal de sociedade, marcado pela demanda domercado. Somam-se ento ao enorme dficitnas polticas sociais vigentes no Brasil dos anos1990, as transformaes em mbito global aci-ma mencionadas.
O papel do teatro na construo dasoportunidades para jovens
O trabalho de teatro com jovens na periferia damegacidade busca contribuir para corrigir asdistores sociais criadas por um modelo deeconomia global, que na periferia capitalista
1 Ao definirmos poltica cultural como Cidadania Cultural e a cultura como direito, estamos operandocom os dois sentidos da cultura: como um fato ao qual temos direito como agentes ou sujeitos histri-cos; como um valor ao qual todos tm direito numa sociedade de classes que exclui uma parte de seuscidados do direito criao e fruio das obras de arte. Nossa poltica cultural tem se proposto aenfrentar o desafio de admitir que a cultura simultaneamente um fato e um valor, a enfrentar oparadoxo no qual a cultura o modo de ser dos humanos e no, entanto, precisa ser tomada como umdireito daqueles humanos que no podem exercer plenamente o seu ser cultural no caso, a classetrabalhadora. (Chau, 1992, p. 39)
-
O trabalho cultural e a pedagogia do teatro
273
planetria produz enormes prises sociais,compreendidas como as reas dos bolses depobreza apontados por Bruno (1997, p. 43). Aspopulaes a localizadas no conseguem seconectar ao que Castells (2000) chamou deParadigma Informacional, associado aos concei-tos de produo, de experincia e de poder2. Estasituao piorada pela extrema concentrao derenda e riqueza vigentes no Brasil, cujo IDH3 baixssimo, dada a dimenso de sua economia,sendo a distribuio de renda, de acordo com aONU, a terceira pior do mundo.
Busca-se compreender ento, qual seria opapel da educao esttica numa sociedade todesigual. neste contexto que o Jogo Teatral,aqui destacado pela perspectiva de uma praxis,estimula nos jovens e adolescentes excludosuma leitura crtica da realidade na qual estoinseridos, para que possam encontrar formas detransformar sua existncia e assumir o que Sen(2000) classificou como sua condio de agen-te. No se trata ento de um elenco de ativida-des teatrais voltadas para o lazer ou para sublimaro grave problema social a que esto submetidosestes jovens, mas de articular uma prtica arts-tica realidade social, ao mesmo tempo de-monstrando o claro papel que a linguagem doteatro pode desempenhar na sociedade e con-tribuindo para uma reflexo capaz de gerar, nosnveis simblico e concreto, a sustentabilidadedas prticas sociais dos sujeitos.
Este jogo social propiciado pelo exercciopedaggico-esttico reconstri a responsabilidade
dos sujeitos, atores do e no processo, que passam acompreender o sentido de suas prticas, avalian-do-as e experimentando o sentido de justia quedeve permear a relao entre dois indivduos.
A teoria dos Jogos Teatrais vem se conso-lidando no Brasil h mais de trinta anos, a par-tir da vasta contribuio terica que ia de JohnDewey a Viola Spolin e Bertolt Brecht, sendosob certos aspectos acentuadamente influencia-da pelo pensamento de Schiller e pela estticade Hegel. No Brasil, este trabalho se consoli-dou principalmente a partir da contribuio deKoudela (1991) e Pupo (1999), autores que,tendo iniciado suas pesquisas na dcada de1970, contriburam para tornar a rea de pes-quisa acadmica conhecida como Pedagogia doTeatro, um importante referencial na constru-o de uma poltica pblica em Arte e Teatro.
O tema do jogo, atravs do qual os ado-lescentes brincam, mas ao mesmo tempo re-solvem um problema de ordem esttica, podeestar relacionado a aspectos da vida poltica dopas, s diferenas raciais e culturais, a jogos ebrincadeiras tradicionais ou a todo e qualquertema proposto. Ao serem articulados no siste-ma de Jogos Teatrais, estes aspectos temticospodero conduzir a uma reflexo acerca dos va-lores ticos e das prticas sociais dos envolvidos.Busca-se assim devolver ao adolescente exclu-do o papel de um sujeito autnomo, que temvoz e direitos sociais e que interage com a vidada polis, estimulado pelo paedomo, o professor.Ao propor o resgate do sentido de ser cidado
2 Para Castells (2000, p. 33), produo a ao da humanidade sobre a matria (natureza) para apropri-ar-se dela e transform-la em seu benefcio, obtendo em produtos, consumindo (de forma irregular)parte dele e acumulando excedente para investimento conforme os vrios objetivos socialmente deter-minados; experincia a ao dos sujeitos sobre si mesmos determinada pela interao entre as identi-dades biolgicas e culturais desses sujeitos em relao a seus ambientes sociais e culturais; poder aquela relao entre os sujeitos humanos que, com base na produo e na experincia impem a vontadede alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou real de violncia fsica ou simblica
3 IDH: ndice de Desenvolvimento Humano. O Brasil possua a posio de nmero 59 no IDH do anode 1996; estudos apontam que sua posio atual caiu para 79o. A Noruega o primeiro da lista, sendoa Alemanha o 14o; pases como Chile e Argentina esto entre a 30 e a 35 posio. O IDH umestudo da ONU calculado a partir de trs variveis: longevidade, nvel educacional e renda da populao.
-
s a l a p r e t a
274
para o jovem excludo, o Jogo Teatral busca ar-ticular nos indivduos o que Sen (2001) cha-mou de intitulamento ou capacidade. Istosignifica prov-los de uma melhor capacitaopara ler um mundo to complexo, melhorandosua interao, poder de observao, esprito cr-tico e sensibilidade.
A prtica teatral no processo de aprendi-zagem associa os campos da Educao (na for-ma de uma Pedagogia do Teatro), da Cultura edo Direito, diretamente relacionados no so-mente produo simblica de indivduos egrupos em questo, mas tambm necessidadedestes atuarem num contexto de tamanha di-versidade. A se instala a imagem, criada porHegel, do homem cindido entre a carne e o es-prito. Entre a necessidade da sobrevivncia,marcada muitas vezes pela violncia e pobrezana periferia planetria, e a liberdade construdaprecariamente no mbito de suas prticas soci-ais, estes teens-perifricos vo encontrando seuscanais, meios e estratgias de transformao ede apropriao do conhecimento.
Este sujeito, ao negar as condies ime-diatas da sua existncia e criar o novo como ple-namente humano, tambm potencial possui-dor dos atributos da Sociedade em Rede, comoa entende Manuel Castells (2000).
Nas periferias das megacidades, o confli-to entre este homem da necessidade, s vezesesfacelado, usurpado na sua dignidade e no seubem estar, e o homem da liberdade, nascido dautopia do Estado Moral de Schiller, d-se deforma violenta, expressa uma nova complexida-de do processo de aprendizagem. Nesses mo-mentos, o educador tem que reconhecer que aidia de uma poltica pblica em cultura e edu-cao s poder sobreviver com o apoio e a con-cordncia do pblico-alvo, os jovens, passandoestes mesmos condio de paedomos, co-edu-cadores ou trabalhadores culturais.
Essa troca de papis, na qual o educadorpassa periferia do processo de aprendizagem eos jovens ao centro, sendo eles prprios os co-proponentes das prticas pedaggicas, diz res-peito a uma situao na qual a ruptura do contra-
to social, contrato este to aludido por Rousseau,obriga a pensar novas estratgias de ensino-aprendizagem. Essas novas estratgias precisamlevar em conta vrios aspectos, dentre os quaisdestacamos dois: o primeiro est relacionado falncia do Estado enquanto protetor do cida-do, principalmente no que diz respeito ao di-reito educao e cultura na periferia do sis-tema. Este primeiro aspecto fora muitas vezeso educador a reconstruir o planejamento peda-ggico a partir de zero, sempre levando em con-ta este progressivo desaparecimento, seno dedireito, mas de fato, da figura jurdico-insti-tucional do Estado.
O segundo aspecto est mais diretamen-te relacionado atuao do educador e sua rela-o com o educando. Este, na medida em quefoi expropriado pela ausncia de um Estado re-gulador que lhe garanta os direitos, no verificasentido em aprender a lngua nacional, as fr-mulas, datas e eventos histricos, nem toda aparafernlia do currculo formal da escola. Elerejeita o pacto com a comunidade escolar, e porextenso, com o Estado, o qual por sua vez al-meja form-lo. Este teen-perifrico parte para oataque, o que significa dizer que reconstri des-truindo a lngua, os costumes e as tradies etermina por forar a uma reformulao da es-tratgia pedaggica preparada pelo Estado, nafigura da escola ou do educador. As atitudes deviolncia extrema e uso intenso de drogas, bemcomo a alta taxa de homicdios e crimes de todaordem que partem da periferia, so somente aface mais visvel desse ciclo perigoso e s vezesperverso. Isto demonstraria a absurda incapaci-dade do Estado em prover uma insero mni-ma aos ditos excludos sociais. Esta incapacida-de torna-se manifesta atravs dos mecanismosde represso adotados, compreendidos pela ado-o de cmeras em salas de aula e de policia-mento ostensivo dentro das unidades escolares.
A utopia de Schiller, expressa na cons-truo do Homem Moral atravs da educaoesttica, aqui transposta para o presente a umcusto doloroso para todos os atores no processo,educadores e educandos, Estado e sociedade.
-
O trabalho cultural e a pedagogia do teatro
275
As contradies que surgem desta transposio,em tempo real, entre o homem da liberdade e oda necessidade, entre carne e esprito, entre Es-ttica e tica, terminam por clamar por umanova ordem econmica, social e cultural nummundo globalizado, do qual contraditoriamen-te um dos principais fundamentos o conceitode rupturas ps-coloniais.
A descolonizao pedaggica e culturaldesta outra Amrica, situada ao sul do Equador,
luso-afro-amerndia, passa a contar ento comum amplo espectro de estratgias, no campo dateoria e da prtica, onde linguagens artsticascomo o Teatro so deslocadas para o centro daspolticas pblicas em educao e cultura, e ondese d o ritual ludofgico de desconstruo dosmodelos eurocntricos, que depois de digeridosso ressuscitados e ressignificados.
Referncias bibliogrficas
BRUNO, Lcia Barreto Nuevo. Educao, qualificao e desenvolvimento econmico. In: Educa-o e trabalho no capitalismo contemporneo. So Paulo: Atlas, 1996.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. So Paulo: Paz e Terra, 2000.
CHAU, Marilena S. Poltica cultural, cultura poltica e patrimnio histrico. In: O Direito me-mria: patrimnio histrico e cidadania. Prefeitura do Municpio de So Paulo / Departamentodo Patrimnio Histrico, 1992.
GIROUX, Henry. Cruzando as fronteiras do discurso educacional. Porto Alegre: Artmed, 1999.
IPEA. Relatrio do Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Braslia: Insti-tuto de Pesquisas Econmicas Aplicadas, 1996.
KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos teatrais. So Paulo: Perspectiva, 1984.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.