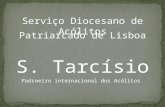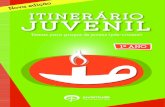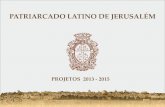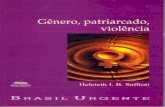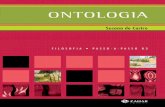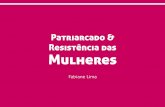MULHER E DEMOCRACIA NO BRASIL: SOBRE OS TRAJETOS … · definidos pelo patriarcado da época, ora...
Transcript of MULHER E DEMOCRACIA NO BRASIL: SOBRE OS TRAJETOS … · definidos pelo patriarcado da época, ora...

1
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
MULHER E DEMOCRACIA NO BRASIL: SOBRE OS TRAJETOS DE COLONIALIDADE,
GÊNERO E PATRIARCADO
Fernando da Silva Cardoso1
Resumo: O presente estudo discute o processo de redemocratização brasileiro a partir de uma
perspectiva pós-colonial e de gênero. Articula-se, a partir da análise crítica do discurso, as dimensões
da colonialidade, das violências de gênero e do patriarcalismo que perfazem a institucionalidade de
violências contra a mulher durante o civil-militarismo brasileiro. Propõe-se, também, algumas notas
teóricas justransicionais ligadas a descolonização das lentes de leitura de processos de violência de
gênero ocorridos nesses contextos. Os resultados obtidos nesta pesquisa assinalam para o processo de
despersonalização do gênero feminino no período da ditadura civil-militar no Brasil. A análise dos
discursos também aponta para a presença de marcadores patriarcais, coloniais e de diferenciação
enquanto elementos presentes na construção da categoria “gênero”, nas práticas de tortura e
opressões direcionadas a figura feminina nesse período. Conclui-se que a reconstrução do quadro
democrático no Brasil tem invisibilizado a participação política e os processos de resistência
protagonizados por mulheres, e que as lentes da interseccionalidade podem contribuir com o desvelar
da articulação de diferentes eixos de opressão presentes nesse processo de violência.
Palavras-chave: Mulher. Democracia. Discurso. Colonialismo. Patriarcado.
1 INTRODUÇÃO
As discussões em torno da formação da democracia brasileira têm convivido com a
necessidade de se pensar a participação de minorias nesse processo, e, assim, desvelar os matizes
coloniais que perpassaram – e ainda perpassam – os contornos de redemocratização nacional.
Assim, o presente estudo se propõe a compreender como a história de violência civil-militar,
em relação à mulher militante, reproduz uma matriz masculina e euro-colonial de dominação,
perpetuada, inclusive na redemocratização nacional. Parte-se da premissa de que existe um
margeamento histórico que subalterniza a participação, resistência e protagonismo da mulher frente
ao civil-militarismo no Brasil, o qual é reproduzido na formação democrática nacional por meio da
invisibilidade dada às violências patriarcais e de gênero que marcam a formação política do país.
Questiona-se as lacunas da formação democrática brasileira partindo da ideia de que os
quadros político-institucionais instituídos partem de processos de verdade, memória e justiça que dão
eco sistemático às questões de participação e violação urbana de direitos, de homens – em sua
maioria, brancos –, grandes figuras políticas, líderes e militantes – no masculino –, grupos
1 Doutorando em Direito - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2016). Mestre em Direitos Humanos - Universidade
Federal de Pernambuco (2015). Professor Assistente e Subcoordenador de Pesquisa e Extensão do Curso de Direito da Universidade
de Pernambuco - Campus Arcoverde, Pernambuco, Brasil.

2
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
historicamente visíveis na consolidação democrática do país. Questiona-se a necessidade de se
repensar a consolidação do quadro de democracia brasileiro a partir de uma perspectiva de gênero.
Nesse sentido, entendemos ser bem menor o espaço reservado aos casos de participação feminina e
de violência civil-militar contra mulheres2.
A figura feminina, aparece assimilada, de forma genérica, ora ligada a não contribuição com
a formação de quadros de democracia, ora a um cenário geral de violação de direitos, sem
individualização e (re)conhecimento histórico das vítimas e das condições concretas de suas lutas na
construção da democracia brasileira. Assim, inspiramo-nos na proposição dos “subaltern studies”,
“desde baixo” (MCEVOY; MCGREGOR, 2008) e da noção de colonialidade do poder (QUIJANO,
2005) como forma de tencionar a discussão sobre os contornos da democracia brasileira, a partir de
uma perspectiva de gênero, tendo como pano de fundo as graves violações de direitos humanos a
mulheres durante o regime militar-totalitário no Brasil, que denunciam, em tese, a formação
patriarcal da noção democracia nesse contexto.
É com base nas discussões oriundas do pensamento pós-colonial que passaremos a
desenvolver uma “perspectiva subalterna” dos trajetos da redemocratização no Brasil, assim como,
no que diz respeito ao – permanente – processo histórico-político de violência e de negação da
imagem feminina nesse quadro. Nesse sentido, enunciar as conotações das violações de direitos
humanos envolvendo a mulher brasileira e o modus pelo qual essa foi vista e tratada durante o regime
militar no Brasil, caminha para o desvelar de outras facetas de uma história da democracia,
hegemonicamente masculina e violenta em relação ao outro.
E, por fim, como forma de tratar epistêmica e metodologicamente a categoria “gênero” (e as
intersecções com a condição “mulher”), lançaremos mão da Análise Crítica do Discurso
(FAIRCLOUGH, 2003) de mulheres vítimas de tortura no período ditatorial brasileiro.
A análise crítica do discurso dos depoimentos mapeados, é tida como possibilidade de serem
discutidas as questões principais desse estudo, a saber, sobre como a ideia de colonialidade exercida
sobre a mulher a partir de práticas violentas se reflete na invisibilidade feminina na redemocratização
brasileira. Assim, a identificação e a organização destes depoimentos em categorias analíticas –
passíveis de apreciação – decorreram enquanto condições fundantes para que pudéssemos estabelecer
um quadro teórico-analítico capaz de desvelar algumas designações nas intersecções entre processos
2 Como também em face de povos do campo, indígenas, homossexuais, negros, povos tradicionais, etc.

3
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
de luta por democracia e questões de gênero3, implicitamente presentes nos discursos que descrevem
práticas de violência contra mulheres.
Assim, a partir do objetivo geral deste estudo, buscou-se analisar as interdiscursividades, as
representações e as enunciações acerca das conotações de gênero na história de luta por democracia
no Brasil.
2 AS BASES COLONIAIS DAS TRANSIÇÕES NO CONE SUL E NO BRASIL
O pós-totalitarismo tem significado, na história, a abertura a perspectivas democráticas. Não
se trata de uma coincidência, por exemplo, o fato de o conceito de justiça de transição ter sido
sedimentado no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. É também nesse período que a
decadência dos regimes militares e os massacres aos direitos humanos deram lugar, no Brasil, na
América Latina e no mundo, a possibilidade de reconciliação com passado, com a responsabilização
dos agentes violadores e consolidação de quadros democráticos.
O quadro de redemocratização brasileiro encontra, em seu caminho, a notória re-produção da
diferenciação, etnocentrismo, sexismo, da heteronormatividade e da branquitude, reproduzidos por e
reprodutores de graves violações de direitos humanos no país. Deve-se acrescentar a essa premissa a
ideia de que, em períodos transicionais, o Direito reveste-se de elementos extraordinários, seja no
sentido de ser prospectivo e/ou retrospectivo, ou sucessivo e/ou interruptivo, como possibilidade de
se “descolinizar” a história e perfazer os caminhos que sustentarão as bases democráticas.
Re-tratar acerca das bases coloniais4 dos processos que perfazem a consolidação da
democracia significa, a nosso ver, apresentar a ideia de que nesses quadros – de superação de graves
violações aos direitos humanos e reafirmação da institucionalidade política –, quando o Direito não
vai além de suas funções habituais, interligando-se à gênese dos direitos humanos, da história e da
política não consegue romper, na/a partir de mecanismos justransicionais, com a violência totalitária.
É preciso incluir/tratar acerca das narrativas que estão “fora da história”. A memória oficial –
masculina, eugênica e colonial – precisa ser re-visitada e discutida. Existem fronteiras, que margeiam
a noção de justiça de transição. Indubitavelmente, quando se fala em “margens”, “fronteiras”
relaciona-se com o outro, seja para negá-lo, para exclui-lo, para explora-lo, e, dificilmente, para
reconhecê-lo ou reivindica-lo. Esse movimento acentua-se quando se trata da figura feminina.
3 O procedimento metodológico e as análises construídas neste estudo consideram a análise da categoria gênero num plano
sociocultural e que aponta para a necessidade em serem compreendidos os marcadores históricos do patriarcado, ambos articulados no
sentido de discutir sobre democracia numa perspectiva de gênero. 4 As discussões apresentadas por Mignolo (2005; 2006), Escobar (2005), Quijano (2005), dentre outros, são fundamento a essa ideia de
“bases”. O movimento da colonialidade eurocêntrica construiu, não apenas, a ideia de Sul-Norte, branco-negro, homem-mulher, como
também, feriu, violou, fez desaparecer e matou pessoas, tendo enquanto fundamento e matriz hegemônica a subalternização da
dignidade humana, no Brasil e na América Latina, durante períodos de repressão.

4
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
É preciso pontuar que o legado jus transicional, que perfaz a redemocratização na América
Latina e no Brasil, convive, até os dias de hoje e, antes de tudo, com sua própria herança – histórico-
hegemônica – estruturalista, colonial e eugênica. Tomando como exemplo a reconstrução de quadros
e instituições democráticas no Brasil, as margens do eurocentrismo têm impedido de se ver, na
América Latina, um continente sem-nome próprio, um não-lugar (ESCOBAR, 2005).
O Direito precisa desconstruir o não-lugar (não reconhecimento) ocupado pela mulher,
indígenas, camponeses, povos do campo, etc., à não reparação de graves violações de direitos
humanos no Cone Sul. Especialmente no Brasil, está presente no percurso de redemocratização o
matriciamente da diferença, a preservação da verdade e justiça para poucos – a memória é,
anteriormente, negada – a partir de um imaginário colonial e colonizado5.
É preciso que a discussão acerca da consolidação da democracia em sociedades pós-conflito
no Cone Sul e, de modo especial, no Brasil, seja pensada a partir das linhas complexas que formam
suas margens. A re-tomada do debate sobre a violência exercida durante os regimes totalitários em
relação a grupos subalternos e de como o Direito se situa nesse cenário e após sua superação, pode
re-construir a imagem colonizada e eurocêntrica dos direitos humanos. A justiça de transição precisa
ser instrumentalizada para além da caracterização asséptica e homogênea de “sujeito de direitos”.
3 MULHER, PÓS-CONFLITO E DEMOCRACIA: TRAJETOS DE COLONIALIDADE?
A perspectiva colonial da história e do direito – reafirmada pela no pós-conflito – silencia
duplamente a mulher, seja no reconhecimento do sexo feminino no processo de lutas por democracia
no Brasil e no Cone Sul ou na (não)consideração de sua condição humana enquanto sujeito histórico.
O totalitarismo, repressão, torturas e mortes durante os regimes civil-militares no Cone Sul
gestaram e direcionaram inúmeras violações de direitos humanos a partir da lógica de “dominação
colonial”. A classificação social a partir da ideia de raça (QUIJANO, 2005), a construção da ideia de
espaço/tempo a partir das relações imperiais de poder (MIGNOLO, 2007), a naturalização da
subalternidade do outro (ESCOBAR, 2005), o patriarcado (LUGONES, 2007), foram alguns dos
símbolos da barbárie exercidos durante os regimes militares no Cone Sul e ainda são marcas
presentes na reconstrução dos quadros da democracia brasileira e latino-americana, em especial, em
relação ao lugar ocupado pela mulher.
Há nas linhas globais do desenho feminino, no contexto de transição e de redemocratização
brasileiro, os traços da colonialidade do ser (MIGNOLO, 2006), ou seja, um subjetivismo vigiado, o
5 O Sul epistêmico coincide parcialmente com o sul geográfico. O Sul global refere-se às regiões do mundo que foram submetidos ao
colonialismo europeu e que não atingiram níveis de desenvolvimento econômico semelhantes ao do Norte global (Europa e América
do Norte) (SANTOS, 2009).

5
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
controle da sexualidade e, principalmente, dos papeis exercidos e atribuídos aos gêneros na história e
na contemporaneidade, pouco desmistificados pelo atual Estado de direito. A colonialidade da
história de lutas por democracia na realidade brasileira e latino-americana, desempenhadas pela
mulher, precisa ir além da condição de mãe, esposa, companheira e re-tratar os papeis femininos na
resistência à violência. Afinal, os papéis exercidos pela mulher nesses contextos estavam ora
definidos pelo patriarcado da época, ora insurgindo em relação aos mesmos.
É certo que o direito foi feito para homens, para heróis, políticos, grandes baluartes, machos.
Acreditamos ser preciso questionar-se: Como o Brasil conviveu e ainda convive, em seu quadro
redemocratização, com os legados estruturais e culturais de diferenciação? As instituições
democráticas e políticas têm privilegiado a desconstrução da lógica colonial e de subalternização de
grupos historicamente invisibilizados? Como as críticas de gênero têm repercutido nesses quadros?
Esses questionamentos podem nos levar a reflexões sobre a necessidade de o Direito incluir
em sua dimensão transicional práticas democráticas de reconhecimento de sujeitos invisibilizados
pela história, notadamente, colonial e masculina. Esse cenário abre espaços a epistemologias e
semânticas inter/multiculturais, contra-hegemônicas, sobre os direitos humanos e as diferenças.
Para que possamos alcançar uma dimensão de gênero nos quadros de redemocratização,
políticas de memória e verdade – apreciação de crimes por Tribunais Internacionais, Tribunais
Especiais, criação de Comissões de Memória e Verdade e fomento as reparações – no Brasil – e no
Cone Sul – em relação à mulher, precisam ser democratizadas, visibilizadas. O Direito precisa
reconstruir os seus limites, a partir de um panorama prospectivo e humanista, como forma de garantir
a superação de quadros de totalitarismo e, principalmente, promover o reconhecimento de sujeitos
histórico-políticos, dentre eles, a mulher.
Certamente, o principal capítulo das interfaces entre a história, a mulher, a ditadura e a
redemocratização no Brasil precisa ser redesenhado por um fator que é visível nesse processo, mais
que, muitas vezes, escapa à hermenêutica das Comissões da Verdade, a questão ou o direito –
humano – à insurgência. A maneira pela qual a sociedade brasileira se organizou frente às violações
de direitos humanos e à repressão se instituiu enquanto elemento de reinvindicação política e
constitutivo da vida pública e da possibilidade de redemocratização brasileira.
4 GÊNERO, TORTURA E COLONIALIDADE: EM BUSCA DE ENUNCIAÇÕES
Fairclough (2003) aponta para um posicionamento discursivo no qual se compreenda a
relação entre sociedade e campo discursivo. Possibilita pensar as relações de dominação não
totalmente definidas política e economicamente, mais também, considera a ordem discursiva

6
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
construída pela história, pela medicina, pela religião, etc., que levam a significações relacionadas à
identidade, representação e outros aspectos que perfazem a imagem de determinados grupos sociais.
É a partir deste quadro que passamos a analisar as enunciações de gênero presentes em discursos de
mulheres brasileiras torturadas no período da ditadura civil-militar, buscando desvelar os implícitos
que perfazem a redemocratização brasileira.
Os depoimentos de Izabel Fávero, Maria do Socorro Diógenes e Lylia Guedes (torturadas,
respectivamente, nos anos 70, 71 e 72) – analisados com base na teoria apresentada a partir de três
noções: interdiscursividade, representação de atores sociais e nomeação –, estão presentes em
documento público organizado pelas Sec. Especiais de Direitos Humanos e de Políticas para as
Mulheres (MERLINO; OJEDA, 2010).
4.1 Interdiscursividade: a articulação da “diferença” no discurso “ser mulher” no período da
ditadura
Os três discursos analisados fazem menção a uma peculiar (re)produção de ideologias que
materializavam a dialética da violência masculina sobre a figura da mulher e criavam – ou instituíam
– o discurso militar acerca das questões de gênero. Destaquemos os seguintes trechos:
Lylia Guedes
[...] Durante o dia, eles me deixavam sentada numa cadeira dura, numa sala de expediente do Dops, no
caminho para a sala de tortura e para as celas. Eles passavam por ali o tempo todo, tinha muito assédio,
puxavam meu cabelo, falavam coisas (grifo nosso).
Izabel Fávero
[...] Levaram tudo o que tínhamos: as economias do meu sogro, a roupa de cama e até o meu enxoval. No
dia seguinte, fomos transferidos para o Batalhão de Fronteira de Foz do Iguaçu, onde eu e meu
companheiro fomos torturados pelo capitão Júlio Cerdá Mendes e pelo tenente Mário Expedito Ostrovski
(grifos nossos).
O primeiro trecho marca a construção da categoria “ser mulher” durante a ditadura, no qual a
figura feminina é traduzida enquanto objeto de suplício, espetáculo da violência, da hegemonia
militar – masculina – sobre o outro. O discurso de Lylia revela o feminino enquanto um símbolo sem
imagem, útil a institucionalização de um imaginário de repressão da época (Eles passavam por ali o
tempo todo, tinha muito assédio...) de permanente tortura (eles me deixavam sentada numa cadeira
dura, numa sala de expediente do Dops, no caminho para a sala de tortura e para as celas).
Quem fala no segundo trecho destacado, a partir do cenário de repressão da época, é a
“mulher militante” – uma espécie de imagem do feminino masculinizado pela noção de força e
resistência –, e a “mulher esposa” – frágil em relação à violência direcionada a sua família, que é a
“sombra do seu companheiro”. A categoria “ser mulher” no discurso de Fávero oscila entre o

7
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
imaginário patriarcal e de dependência feminina e a representação da militante/comunista que
suporta a condição duplamente clandestina de ser mulher e de conviver com um “comunista”.
Por outro lado, as passagens “Levaram tudo o que tínhamos” e “eu e meu companheiro”
remontam a imagem de uma mulher que encontrava espaços de sociabilidade na luta e na resistência
à opressão, que podia ser, na sua “condição feminina”, junto aos grupos de resistência. Essas noções
implícitas levam a um “nós” ou um “a gente”, que conviviam com a condição de “ser mulher”.
Nos trechos selecionados, essas mulheres “falam” a partir de uma perspectiva marginal,
carregada de ideologias históricas e sociais da época, sob as quais “ser mulher” reproduzia-se na
masculinidade da família, da luta e da resistência. Os discursos tratam da questão de “gênero” ao
passo que elas justificam as suas participações na oposição ao regime, mas não se colocam ao lado
dos companheiros, a casa, a família ainda era seu lugar de sociabilidade (Levaram tudo o que
tínhamos: as economias do meu sogro, a roupa de cama e até o meu enxoval...).
Assim, os campos argumentativos observados nos discursos de Lylia e Izabel convergem
quanto às condições marginalizadas do gênero no período ditatorial, em casa – na condição ainda de
esposa, mãe –, na luta – ditada pelos padrões da masculinização da mulher e de “extensão” do seu
companheiro – e nas próprias práticas de tortura – ao lhe serem conferidas a imagem de força e na
resistência hiper-masculina a dor e ao sofrimento.
A “diferença” se materializa enquanto marcador de um duplo processo de violência, em
primeiro lugar a exercida pelos mecanismos de poder e violência do regime; em segundo plano a
praticada pelo próprio margeamento da luta, notadamente masculina, que descaracteriza a mulher.
Ambas convergem para um imaginário e práticas sociais de colonialidade e reprodução de
marcadores de subalternidade de gênero.
4.2 Pode a mulher falar? As representações de atores sociais: sobre sujeitos, tortura e gênero
Como forma de serem analisados os posicionamentos ideológicos dos atores sociais em
relação à categoria “gênero”, nas práticas de tortura – ou não –, investigamos quais atores são
incluídos e excluídos nos discursos analisados. No quadro a seguir, apresentamos uma distribuição
das ocorrências de escolhas linguísticas, a partir da personalização.
Quadro 01 - Representação dos atores sociais presentes nos depoimentos analisados
Atores
Sociais
Personalização
Nomeação Categorização Generalização Coletivização
Homens
12 vezes
03
03
pais, presos, sogro;
01
01

8
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
dele; presos;
Militares
44 vezes
04
07
homens, caras do Dops do Rio, delegado, caras do
Dops, Exército, torturadores, chefão dos
torturadores;
11
eles, ele;
02
homens,
torturadores;
Família
03 vezes
02
sogros,
companheiro
Eu
(Mulher)
29 vezes
14
08
grávida, corpo, insultadíssima, torturada, magra,
mal, sequestrada, mulheres;
05
você, minha, meu,
me, mim;
01
mulheres;
Fonte: adaptado de Gomes (2013)6.
A recorrência dos atores sociais nos discursos analisados nomeia e define significados quanto
à categoria “gênero” no contexto da ditadura militar brasileira. Distinguem, ao passo que interligam,
representações da figura feminina, especialmente, nas práticas de tortura.
A ampla designação de termos relativos a “militares” está, em sua grande maioria,
relacionada com a prática de algum tipo de ação violadora não apenas da condição feminina, mas
principalmente humana (trabalharemos de modo mais aprofundado no subitem a seguir). A
disposição dos termos ao longo dos depoimentos denota a lógica de poder masculina, a diferenciação
biológica, os marcadores sociais e históricos do patriarcado, e principalmente, da violência civil-
masculino-militar na ampla e irrestrita (re)produção da subordinação feminina.
Importante observar que a recorrência de termos relacionados a “homens” (12 vezes)
desenha, nos discursos, o modo como às mulheres se colocam enquanto agentes políticos,
(não)participantes do processo de resistência e de luta contra a ditadura no Brasil, no sentido literal
do termo, sempre ao lado, enquanto sujeito secundário da história masculina de lutas. A
personalização destes atores sociais afirma um processo de inclusão e exclusão. A unidade das
relações sociais, na categorização de “homens” e “mulheres”, também existiu dentro do processo de
luta social contra a ditadura, o que invisibilizou as questões de gênero, contando, unicamente, os
acontecimentos que envolviam os sujeitos que, na perspectiva masculina da história, estiveram à
frente do processo de lutas sociais. Aquelas que fizeram parte desse momento da história não são
definidas nos discursos de modo pessoal, surgem ao lado, à margem da história de resistência.
Por outro lado, o número de ocorrências do ator social “família” (03 vezes), mesmo sendo
inexpressivo em relação aos demais, constrói um importante cenário de representações. Nas
passagens relativas a esta personalização, os discursos perfazem a ideia da mulher mãe, esposa,
6 GOMES, Jaciara J. Tudo junto e misturado: violência, sexualidade e muito mais nos significados do funk pernambucano - “É nós do
Recife para o mundo”. 2013, 218 fls. Tese (Doutorado - Linguística) Universidade Federal de Pernambuco, 2013.

9
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
companheira, que milita, mas retorna para o lar, que convive com a clandestinidade da “esquerda”,
que circulou entre o público e o privado, na privação, que feminizou o contexto social da época a
partir de sua condição cidadã e humana de resistência, de mulher.
Com relação à ocorrência do “eu” – “mulher” –, o desenho deste termo, nos discursos, está
relacionado a uma dupla representação imagética da mulher. Por um lado, de um “eu”, objeto de
suplício e tortura, no qual a adjetivação (torturada, insultadíssima, sequestrada) proporciona-nos um
processo de conhecimento do campo social da época, categorizado a partir da violência do poder
masculino do regime militar, em se tratando das relações de gênero. Como também, compõe a
discursividade da ordem punitiva do regime em relação à “mulher militante/comunista”, um “eu”
construído na sofreguidão do corpo, nas/pelas marcas à resistência ao poder vigente. Essencialmente,
era sobre a condição física e psíquica do “eu”, “mulher”, que foram instrumentalizadas as violências
civil-militares em relação às questões de gênero.
A tortura assume uma dupla condição de marca colonizadora. Seja pela descaracterização da
mulher – enquanto imagem – a partir da dor, da imposição da figura masculina, ou, a partir da
manutenção de marcadores de gênero, desde as relações sociais até as práticas de tortura.
4.3 Nomeações e ideologias: a despersonalização do gênero na prática da tortura
Fizemos menção, anteriormente, ao processo que denominamos de “despersonalização do
gênero feminino” no período da ditadura civil-militar no Brasil. A nosso ver, este é representado na
dinâmica violenta e histórica que ganha realce nas sistemáticas violações da categoria “gênero”
durante o militarismo brasileiro, ou seja, representa, especialmente, neste momento histórico, a não
legitimação da condição humana da mulher enquanto detentora de direitos. Vejamos esta
proposição na análise dos discursos utilizados nesta pesquisa que nos ajudam a construir essa ideia.
[...] Eu ficava horas numa sala, entre perguntas e tortura física. Dia e noite. Eu estava
grávida de dois meses, e eles estavam sabendo (grifo nosso). No quinto dia, depois de muito choque,
pau de arara, ameaça de estupro e insultos, eu abortei (Izabel Fávero). Via discurso, o gênero é
“despersonalizado” na (re)produção da lógica e de práticas de dominação iminentemente masculinas.
A fala desta brasileira, outra vez, aponta para a ideia de que a ditadura tratou de “aniquilar” a
existência feminina, ou seja, tratou de consolidar no imaginário da época a hegemonia masculina em
suas mais possíveis formas e espaços. Predomina neste trecho a ideologia perversa do patriarcado,
elevada a potência da opressão e das torturas, civil-masculinizadas, instrumentos de uma história de
poder masculino, fincada no não reconhecimento do outro.

10
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
O processo de nomeação, presente nos discursos analisados, traduz o corpo feminino, nas
práticas de opressão e de tortura, enquanto elemento sígnico da violência masculina (A primeira
coisa que fizeram foi arrancar toda a minha roupa e me jogar no chão molhado. Aí, começaram os
choques em tudo quanto é lado – seio, vagina, ouvido – e os chutes. [...] Eles abusavam muito da
parte sexual, com choques nos seios, na vagina... passavam a mão; Maria do Socorro Diógenes,
grifos nossos). Nesse discurso, a “corporificação” da violência categoriza o “gênero” da opressão;
assume o papel de (de)marcar os processos biológicos e socioculturais de diferenciação e de poder do
homem, reproduzidos na/pela ditadura civil-militar brasileira.
Percebe-se a presença de códigos e de estruturas ideológicas de sustentação do poder civil-
militar – e masculino –, perpassados, pelo reforço de ideias patriarcais que desnaturalizavam a figura
feminina. A tortura instrumentalizou, de forma explícita, a violência à identidade da mulher
brasileira que, propriamente, o combate ao “comunismo”, como se vê na fala de Lylia Guedes: “Eu
era uma desconhecida da repressão e muito menina, [...]. Mas quando passavam por mim, diziam:
Amanhã vai ser você, mas aí vai ser diferente” (grifo nosso). Os discursos evidenciam que há um
claro estruturalismo da noção de patriarcado, machismo, sexismo, racismo e de outras práticas
(re)afirmadoras da opressão e ligadas a categoria “gênero” ([...] diziam coisas nojentas sugerindo
que haveria violência sexual; Lylia Guedes), nas violações à condição feminina no período da
ditadura no Brasil (eu fui insultadíssima, a agressão moral era permanente; Izabel Fávero).
Nas falas, o processo de “despersonalização do gênero feminino” é traduzido sob a lógica da
perpetuação de estereótipos culturais, políticos, sociais e biológicos que marcam e possibilitam a
continuidade da violência. “Despersonalizar” passa a significar o controle da palavra, dos
argumentos para se exercer controle sobre determinado grupo – nesse caso, as mulheres.
A fala dessas mulheres, torturadas e oprimidas pela ditadura, revela que o exercício do poder
e da opressão da masculina exercidos nesse período, em relação à categoria “gênero”, marcam a
existência de uma violência que vai além da mera manutenção de poder da época, constrói um
cenário autônomo de castigos e torturas, de apropriação violenta do corpo da mulher para satisfazer
desejos individuais, antes mesmo dos “fins político-ditatoriais” que sustentaram o regime.
A apresentação da ideia de “despersonalização do gênero feminino” abarca a proposta
principal desta discussão de que: a tortura é parte do imaginário de colonialidade que opera, ao longo
da história, como elemento de apagamento da mulher. Ainda, que os marcadores de gênero são
realçados por essa violência enquanto imagens do etnocentrismo e hegemonia – masculina – sob a
figura da mulher – tida como o “diferente”.

11
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa aponta para inquietações na busca por uma justiça histórica, no
reposicionamento teórico de alguns panoramas, quanto à necessidade de ser (re)pensado “o gênero
da história” de lutas, o modo pelo qual a mulher foi fortemente violada em sua condição humana e
acerca do construção da democracia no Brasil.
O quadro representacional, alcançado a partir da análise crítica do discurso das mulheres
vítimas de tortura, (re)dimensiona o modus – colonial – pelo qual o “gênero” foi/é situado na história
e no pós-conflito, desenha uma narrativa de suplícios praticados contra a mulher durante o período
totalitário que é permeada, negativamente, por marcadores de gênero, balizados por práticas
hegemônico-autoritárias, pelo patriarcado e pela diferenciação biológico-sexista.
Em nossa análise, observamos que as interdiscursividades que permeiam a categoria
“gênero” são ditadas pelos padrões e processos de masculinização da
mulher/militante/companheira/comunista, fortemente cercada pela invisibilidade proporcionada pelo
imaginário patriarcal da época, marginalizada pela repressão e colonialidade do regime militar e
negligenciadas pelo processo de reconstrução do quadro democrático nacional.
Como também, a compreensão acerca das representações, identidades e nomeações
relacionadas à categoria “gênero”, apreendidos via análise de discurso, convergem para um quadro
no qual as violações ocorridas durante o período ditatorial – especialmente a tortura – são precedidas
pela lógica do poder masculino, da colonialidade historicamente construída, a partir da qual o
“homem militar” apropriou-se do corpo da mulher, de sua alma feminina, para perpetuar novas
práticas violentas e degradadoras do humano, do feminil.
Ainda, acerca da ideologia apreendida na análise, vê-se que a lógica patriarcal se apoia nas
estruturas civis e militares do governo ditatorial, e vice-versa. É a partir dessa lógica de poder que
ora a mulher integrava o denominado “sexo frágil”, “mãe”, “esposa”, “cidadã”, como também era
associada à “carne”, a “promiscuidade”, ao “prazer”, ou seja, ao corpo.
Ousaríamos afirmar que as ideias lançadas neste estudo, quanto ao processo de
despersonalização do gênero feminino, transmutam-se aos dias de hoje e se fazem presentes na
manutenção de forças sociais que impõe relações desiguais entre homens e mulheres no Brasil, que
impedem a afirmação de políticas ligadas a memória e a verdade, que freiam a possibilidade de uma

12
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
justiça histórica, que agravam a discriminação por questões de gênero, e, principalmente, que
aumentam a vulnerabilidade feminina frente à violência hiper-masculinizada que (re)xiste.
REFERÊNCIAS
ESCOBAR, Arturo. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-
desenvolvimento? In: LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências
sociais. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2005.
FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discurse: textual analysis for social research. London,
Routledge, 2003.
LUGONES, María. Heterosexualism and the Colonial/Modern Gender System. Hypatia vol. 22, no.
1, Winter, 2007.
MCEVOY, Kieran; MCGREGOR, Lorna. Transitional Justice from Below: grassroots activism and
the struggle for change (Human Rights Law in Perspective). Oxford: Paperback, 2008.
MERLINO, Tatiana; OJEDA, Igor (Orgs). Direito à memória e à verdade - Luta, substantivo
feminino. São Paulo: Ed. Caros Amigos, 2010.
MIGNOLO, Walter. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual
da modernidade. In: LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2005.
______. La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa
Editorial, 2007.
______. La descolonización del ser y del saber. In: ______; MALDONADO-TORRES; Nelson;
SHIWY, Freya. (Des)Colonialidad del ser y del saber. 1. ed. Buenos Aires: Del Signo, 2006.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER,
Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2005.
SANTOS, Boaventura de Souza. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia
de sabres. In: ______; MENESES, Maria Paula (Orgs.). Epistemologias do Sul. Coimbra: CES,
2009.
Women and democracy in Brazil: about the trajects of Coloniality, Gender and Patriarchy
Abstract: The present study discusses the Brazilian redemocratization process from a postcolonial
and gender perspective. From the critical analysis of the discourse, the dimensions of coloniality,
gender violence and patriarchalism that make up the institutionality of violence against women
during brazilian civilian militarism are articulated. It also proposes some justransional theoretical
notes based on the notion of intersectionality, as a way to decolonize the reading lenses of processes
of gender violence occurring in these contexts. The results obtained in this research point to the
process of depersonalization of the female gender in the period of the civil-military dictatorship in

13
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos),
Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X
Brazil. The analysis of the discourses also points to the presence of patriarchal, colonial and
differentiation markers as elements present in the construction of the category "gender", in the
practices of torture and oppression directed at the female figure in this period. It is concluded that the
reconstruction of the democratic framework in Brazil has made invisible the political participation
and the processes of resistance carried out by women, and that the lenses of intersectionality can
contribute to the unveiling of the articulation of different axes of oppression present in this process of
violence.
Keywords: Woman. Democracy. Speech. Colonialism. Patriarchy.