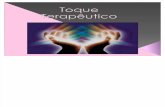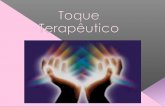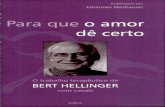O acompanhamento terapeutico e a construção de um protagonismo_Julieta Jerusalinsky
-
Upload
nenna-daiello -
Category
Documents
-
view
93 -
download
5
Transcript of O acompanhamento terapeutico e a construção de um protagonismo_Julieta Jerusalinsky

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>32
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
Julieta JerusalinskyO acompanhamento terapêutico e a construçãode um protagosnismo*
O acompanhamento terapêutico de crianças relaciona-se com a inclusão educativa por
visar a circulação social e a apropriação dos ideais da cultura a partir da singularidade
da criança. A circulação pela cidade fica articulada à possibilidade de circulação do desejo
para a criança.
>Palavras-chavePalavras-chavePalavras-chavePalavras-chavePalavras-chave: Acompanhamento terapêutico, inclusão, psicanálise de crianças,
síndrome de Down
Therapeutic accompaniment of children is related to educational inclusion, in so far as
it aims to foster social moving about and the appropriation of cultural ideals, based onthe child’s singularity. Moving about in the city becomes related to the possibility that
the child’s own desire will also become able to move about.
>>>>>Key wordsKey wordsKey wordsKey wordsKey words: Therapeutic accompanying, inclusion, child psychoanalysis, Down’s Syndrome
Quando se fala a respeito da inclusão decrianças que apresentam problemas emseu desenvolvimento – sejam estes origi-nados por fatores orgânicos e/ou pelaconstituição do sujeito – logo pensamosna inclusão escolar. Não é à toa, já que aescola é, por excelência, a instituição de-dicada à infância, incumbida pela socie-dade de instruir, proteger e preparar ascrianças enquanto o futuro, em que elas
serão jovens e poderão escolher diferen-tes caminhos de formação, não chega.Na escola se realiza a transmissão de va-lores e conhecimentos da cultura, e, ain-da que em cada família estes valores pos-sam assumir leituras particulares, cadamembro da família, para vir a ser um ci-dadão, terá que, de um modo ou de outro,se posicionar nessa cultura da qual fazparte.
*> O presente artigo apresenta algumas modificações em relação à sua primeira publicação na revista
Escritos da criança. Porto Alegre: Centro Lydia Coriat de POA, n. 6, 2001
ar
tig
os>
p
. 3
2-4
1

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>33
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
Então, quando uma criança apresentaproblemas em seu desenvolvimento e éimpossibilitada de ir à escola, uma amea-ça recai sobre seu futuro, suas possibili-dades de escolha e sua cidadania.Desde a declaração de Salamanca, em1994, muito tem se discutido acerca dainclusão escolar. Mas, ainda que a máxi-ma “escola para todos” signifique um pro-gresso político inegável, na clínica nosdefrontamos diariamente com os proble-mas “qual escola?” e “para quem?”, jáque, na prática, nem as crianças e nem asescolas são todas iguais.Em algumas interconsultas em escolas,quando somos chamados1 para discutir avida escolar de pacientes e interrogamosacerca do projeto pedagógico que se tempara a criança em questão, mais de umavez escutamos: “Está há tempo no mesmoano, não tem condições de seguir adian-te e acompanhar os outros, então vai fi-cando”; “Não se alfabetiza, então fica comas crianças menores. Mas, para a família,é importante que venha à escola”; ou até“Está aqui para ser feliz”.Por isso, para além do respaldo políticode uma lei, na clínica é necessário conside-rar se uma escola é compatível com o pro-jeto que cada família tem para sua crian-ça e também se o laço entre a escola e opequeno paciente está efetivamente pos-sibilitando sua aprendizagem. Quando es-tas questões se perdem de vista, a escoladeixa de cumprir a sua justa função.
Esse modo de ir à escola, em que a per-gunta pelo projeto pedagógico fica defora, simplesmente repete o esvaziamen-to de significação das ações no qual ficamtomadas algumas crianças que apresen-tam problemas em seu desenvolvimento.Nesse sentido também escutamos frasescomo: “Vai ao cinema quando a irmã vai”;“Quando os irmãos descem para brincar,sempre digo que a levem junto”, “Levo-aem todas as minhas viagens”, e assim pordiante.O “faz as mesmas coisas que todos” falatão presente em relação a crianças comproblemas de desenvolvimento, muitasvezes encobre, com uma aparente demo-cracia e pé de igualdade com os outros,o anonimato e a ausência de um projetode vida no qual uma criança é lançada.Freqüentar a escola simplesmente “por-que todos vão”, se bem possa ter um apa-rente efeito normalizador, não implica ainclusão social de uma criança se esta idaà escola não a toma num projeto maiorde transmissão da cultura. E tal transmis-são, se bem tenha a escola como lugarprivilegiado, não acontece só ali.A partir daí introduzimos na temática dainclusão a questão do acompanhamentoterapêutico (A.T.), que propomos conti-nuar trabalhando desde um recorte clíni-co.2
Quando inicia o A.T., Fabiana tem cincoanos. Freqüenta um jardim de infânciapróximo à sua casa. Nos primeiros conta-
1> Refiro-me aqui à experiência clínica em comum com os colegas do CEPAGIA – Centro de Estudo, Pes-
quisa e Atendimento Global da Infância e da Adolescência, Brasília- DF.
2> Trata-se de uma intervenção realizada ao longo do ano de 1994 no Centro Lydia Coriat de Porto Alegre,
onde o acompanhamento terapêutico vem sendo praticado desde 1980 como uma modalidade de inter-
venção articulada ao trabalho clínico interdisciplinar.
ar
tig
os

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>34
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
tos que realizo com a instituição, logo per-cebo que, apesar de ela ser ali bem cuida-da e ter a possibilidade de circular fora decasa, não está inscrita dentro de um pro-jeto pedagógico que arme expectativasquanto à sua aprendizagem e lhe propiciedesafios fundamentais para suas aquisi-ções. Convive com crianças, todas meno-res que ela, e circula sem ter uma turmafixa. Simplesmente “está ali no jardim” e“ali fica”, muitas vezes em turno integral,quando não tem com quem ficar em suacasa.Fabiana nasceu com síndrome de Down.Esteve em tratamento em estimulação pre-coce e, posteriormente, foi encaminhadapara tratamento na área de linguagem.3
A profissional que a atende, além de in-tervir em relação à linguagem, realiza comela um trabalho instrumental amplo, rela-tivo também à construção do pensamen-to e psicomotricidade – áreas nas quaisFabiana tem uma produção empobrecida.Tal empobrecimento se deve não só àsdificuldades impostas pela síndrome, mastambém por um posicionamento psíqui-co caracterizado por uma excessiva passi-vização, mesmo nas situações em que po-tencialmente teria condições de produzirmais.Além dessa pobreza em sua produção,começa a apresentar de modo freqüenteestados de ausência psíquica em que, porexemplo, não responde quando chamadaou deixa passar a sua vez de jogar em si-tuações coletivas com outras crianças.O recrudescimento desses sintomas coin-cide com uma perda familiar: a avó pater-na, já com idade avançada, tem uma cri-
se de arteriosclerose e fica impossibilita-da de continuar cuidando de Fabiana e deseus irmãos. A avó vinha exercendo talfunção desde que a mãe de Fabiana mor-reu de câncer, quando esta ainda erabebê. Não se trata apenas de uma perda,mas de uma perda que incide como umarepetição na queda da função maternana vida de Fabiana.Depois da doença e internação da avó,Fabiana começa a ter um aspecto descui-dado. Chega às sessões descabelada, como nariz escorrendo e com roupas que nãocombinam, deixando à vista a carência deum investimento libidinal em seu corpo.O pai está extremamente angustiado coma situação. Sente-se “sobrecarregado comtrabalho, sustentação econômica da famí-lia, diversas atividades de organização davida dos filhos: fazer as compras, levar etrazer da escola e, depois da doença daavó, a alimentação, os deveres...”. “Nãotenho mais vida própria e ainda assim nãoconsigo dar conta”, afirma. Esse “não darconta” nos fala, por um lado, da dificulda-de de cumprir as tarefas cotidianas, mas,por outro lado, aponta a impossibilidadelógica de recobrir a ausência da mãe. Istoé clinicamente apontado.É nesse contexto que ocorre a indicaçãoclínica e o surgimento da demanda fami-liar de um acompanhamento terapêutico.Justamente pela leitura realizada em ses-sões com o pai de que a pobreza da pro-dução de Fabiana e suas ausências psí-quicas estão ligadas a uma falta de sus-tentação simbólica e imaginária no seucotidiano.O trabalho com Fabiana se estabelece em
3> Tais tratamentos foram realizados no Centro Lydia Coriat.
ar
tig
os

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>35
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
duas manhãs por semana: uma na qualvou até sua casa, e outra em que a bus-co na clínica após sua sessão.No início do trabalho, um momento fun-damental é aquele no qual o pai ou a te-rapeuta, em presença de Fabiana, mecontam algo do que estiveram fazendoantes de minha chegada. É a partir de talrelato que se estabelece um “gancho” emque sustentamos para Fabiana a continui-dade de uma série simbólica.Fabiana ainda não está em posição depoder armar sozinha essa narrativa. Parase contar é necessário primeiro ser con-tado por outro,4 ser levado em conta nasérie simbólica do Outro encarnado. Porisso ela escuta atentamente esse relato ese reconhece nele. Quando convocada, rie balança a cabeça afirmativamente aoconcordar, iniciando uma apropriação.Fabiana produz uma cena reiterativa:preparar “papa” e mexer nas panelinhascom colherinhas. A partir deste ritual lú-dico, inicia-se a intervenção, que buscaproduzir uma maior extensão simbólicana cena do brincar. Intervém-se buscan-do nomear as comidas de que Fabianagosta e as de que não gosta, e armar umacena na qual se cozinha para alguém, seconvida esse alguém para jantar ou se ali-menta “o nenê”, como passa a fazer. Nes-se brincar que arma o contexto de seu in-teresse vão se colocando diferentes inter-pelações que propiciem conflitos cogniti-vos em sua produção (para quem faltaprato, qual prato combina com qual xíca-ra, por exemplo). Vão surgindo assim no-
vas palavras: “su-o” (por suco),“u-a” (uva),“iu” (frio), “ão” (feijão) entre outras. Elapassa a estabelecer critérios de classifica-ção, seriação, correspondência e conta-gem.A cena de brincar se estende até o fazercompras para depois poder cozinhar. Éentão que Fabiana fica extremamente im-plicada e animada com a proposta de ir aum supermercado de verdade. Lá, memostra os produtos e a atividade dosfuncionários enquanto vamos falando doque está acontecendo. Em várias sessões,solicita ir ao mercado, mas isto não con-siste mais em uma produção repetitiva.Sempre surge algo novo: em uma sessão,ela escolhe “comprar pão”, “cozinhar” pãocom manteiga e convidar as pessoas daclínica, perguntando: “Qué pão?” Em ou-tra, depois de comprar pão, diz a palavra“pato”, e vamos dar pão aos patos do lagono parque. A partir de algumas visitas aoparque surge um interesse por animais, oque dá lugar a uma visita ao zoológico.Depois, o interesse por cachorros motivauma ida ao cinema para ver o filme “101Dálmatas”.
A circulação na cidade e o mapea-mento do desejoComo vemos, no acompanhamento tera-pêutico não há um “setting” recortado poruma sala. A cena de trabalho parte doslugares conhecidos do paciente – tantoespaços privados, como a sua casa ou aclínica onde é atendido, quanto espaçospúblicos que lhe são familiares, como a
4> “Antes de toda formação do sujeito, de um sujeito que pensa, que se situa nele, algo conta, é contado,
e nesse contado já está o contador. Somente depois o sujeito há de se reconhecer nele e há de se reconhe-
cer como contador”. Lacan, J. (1964). Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, El seminario,
libro 11.
ar
tig
os

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>36
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
praça perto de sua casa ou a linha detransporte público que costuma utilizar.É a partir de tais lugares que o paciente éacompanhado em sua circulação e na ex-tensão das fronteiras dessa circulação,muitas vezes enquistadas em verdadeiroscircuitos fechados, que enquistam tam-bém a articulação do desejo.Podemos recordar aqui que o que carac-teriza o percurso dos circuitos do grafodo desejo proposto por Lacan (1960) é ofato de eles serem abertos. O desejo é ar-ticulado à cadeia significante, mas sempreescapa à articulação que esta propicia àdemanda, exigindo sempre uma volta amais.
Onde se trata do desejo, encontramos em sua
irredutibilidade à demanda a mola mesma do
que o impede igualmente de ser reduzido à ne-
cessidade. Para dizê-lo elipticamente: que o
desejo seja articulado é a razão mesma de que
não seja articulável. (Ibid.)
Não há dúvida de que a cidade está re-pleta de marcas simbólicas da cultura, e ocontato com elas pode ser propiciadordo despertar do desejo. Mas simplesmen-te circular pela cidade não basta. A ques-tão é a partir de quais referenciais cons-tituímos o percurso que nela vamos tra-çando.Assim, “supermercado, pão, parque, pa-tos, zoológico, cachorros, cinema” nãoconstituem um conjunto aleatório com oobjetivo de divertir, animar ou preenchero tempo, lançando a criança à sorte deseus devaneios fantasiosos. Tampoucotrata-se de uma espécie de lista de ativi-dades previamente configuradas combase nos ícones de nossa cultura. Tal cir-culação que realizamos pela cidade vaisendo construída, passo a passo, a partir
do despertar dos interesses que compa-recem no estabelecimento do laço entreo desejo de uma criança, com a singula-ridade que ele comporta, e o social. É nes-te sentido que, no trabalho de acompa-nhamento terapêutico, ocorre uma espé-cie de mapeamento concomitante entre acirculação do desejo e a circulação pelacidade.É verdade que, no trabalho com pacien-tes que apresentam graves patologias,muitas vezes temos de pinçar uma peque-na palavra distraída ou timidamenteenunciada por eles e outorgar-lhe brilhosuficiente para que seja a pedra funda-mental de partida para a aventura do de-sejo. E não só fazemos isso. Também épreciso que, desde a nossa função clíni-ca, emprestemos o fio para alinhavaruma série significante na qual a criançapossa vir a se reconhecer e da qual pos-sa vir a se apropriar. E lá pelas tantas nosperguntamos: e agora, o que vem? O quevem depois do “pão”? O que vem depoisdo “pato”?A questão é justamente que, em princípio,não vem nada. Nada liga “pão” com“pato”, a não ser o a posteriori da histó-ria que cada um vai construindo. Este éum ponto delicado dessa função clínica,pois se o Acompanhante Terapêutico ra-pidamente se põe a fazer uma série de ati-vidades com o paciente que ele julga apriori como interessantes, até pode haverum “pão” e depois um “pato”, mas serãoo pão e o pato do acompanhante terapêu-tico e não do pequeno paciente. Corre-seentão o risco de que, como na história de“João e Maria”, o paciente descubra queandou muito, se embrenhou pelas trilhas,mas que os pedacinhos de pão que traça-vam o caminho não estão mais ali. Mais
ar
tig
os

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>37
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
uma vez, a criança fica no lugar de quemfoi “levado”, teve seu caminho devoradopor um Outro absoluto que, como ospássaros da história, apaga os vestígios deseu desejo incipiente.
A aprendizagem e a vida cotidianaFreqüentemente encontramos, em rela-ção a crianças que apresentam proble-mas em seu desenvolvimento, uma super-valorização dos aspectos ligados ao ensi-no formal, mas o que muitas vezes se per-de de vista, para além “do que” uma crian-ça sabe, é o “para que serve isso”. Há umapreocupação de que a criança saiba dizero nome de todas as cores, tenha motrici-dade fina para recortar as figurinhas daescola, monte jogos de encaixe reconhe-cendo formas ou pule num pé só, mas nahora de combinar as roupas, abrir o bo-tão da calça, calçar pé direito e esquerdodo tênis ou pegar o pote em cima da es-tante, são os adultos que fazem pela crian-ça. Inibe-se assim o encontro com todosos desequilíbrios cognitivos que armamconflito na vida cotidiana e confrontam acriança com a necessidade de estabelecernovas estratégias.Se “fazer tudo por ela” implica um modoextremamente passivizante de situar umacriança, no caso desta apresentar umapatologia de cunho orgânico, encontra-mos um agravante: ver que a criança en-contra de fato mais dificuldades do que asoutras em suas realizações geralmentelança o adulto a resolver as situações porela, a fim de evitar a angústia que lhe des-perta a antecipação do fracasso que vê acada ensejo de iniciativa da criança.Nas primeiras sessões de acompanha-mento terapêutico na casa de Fabiana,fica evidente que ela se detém diante de
situações simples, como escolher a roupapara vestir, pegar a escova de cabelo doarmário em cima da pia ou abrir a emba-lagem da pasta de dentes, esperando queos outros tomem as decisões e resolvam porela as dificuldades. Nessas situações, a in-tervenção consiste em sustentar paraFabiana a possibilidade de escolha e osconflitos cognitivos (Qual blusa você achamais bonita? Como fazer para chegar láem cima? Pulando? Subindo em algumacoisa? Pegando uma cadeira na sala?).Dessa forma, ela passa a estabelecer no-vas estratégias e implicar-se ativamentena cena.Após seis meses de intervenção, certo diao pai conta algo ocorrido na noite ante-rior: ele disse a Fabiana que ela precisa-va tomar banho, mas, como estava cansa-do, ele lhe daria banho só no dia seguin-te. Com surpresa, acrescenta ao relato:“Quando me dei conta, Fabiana apareceuna sala de banho tomado e de pijama”.O pai, então, diz que, apesar de a avó fa-zer falta nos cuidados cotidianos, ela “tra-tava Fabiana como se ainda fosse umbebê e não a deixava fazer nada sozinha”.Ela era vestida, banhada e alimentada semque se abrisse lugar às suas escolhas.O desejo passa a ter lugar e a desdobrar-se à medida que pode começar a ser su-posto e escutado, e também à medida quese formula uma expectativa em relação auma criança. Pois é diante de tal anteci-pação simbólica sustentada por um Outronão anônimo que deixa de dar na mesmao que uma criança fizer, já que cada umade suas produções começa a ter um me-dida em relação ao ideal ao qual é ende-reçada.Que uma criança seja remetida ao idealsocial é organizador de sua constituição.
ar
tig
os

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>38
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
Por isso
é importante mostrar a uma criança quais são
os traços, as representações que o discurso
social privilegia para que ela possa vir a repre-
sentar-se neste discurso. (Jerusalinsky, 2000)
Uma cena de brincar propriamente sim-bólica então se constitui: Fabiana me con-vida para brincar (“Bicá?”), me colocasentada em uma cadeira, puxa outra aomeu lado e diz “eu papai”, e, apontando-me, diz “nina” (por menina). Os papéis sãoassim distribuídos. Põe-se a dirigir umcarro imaginário, me faz descer, me ser-ve a comida dizendo “ó, ida”, rapidamen-te me põe no carro novamente, me deixana escola (“olinha”) e me diz “chau”. E de-pois, sentando-se fatigada, diz “abou” (poracabou). Quando finalmente consigo mesituar – para além de ser ali transferen-cialmente tomada como objeto que per-mite a Fabiana pôr em cena a sua repre-sentação –, percebo que a seqüência secaracteriza pela pressa e mecanicidadecom a qual este pai de brincadeira faztudo, enquanto a menina é carregada.Ponho em palavras tal construção e aofereço a Fabiana, que balança a cabeçae me diz “é”.Poder brincar de que uma menina é car-regada já implica não estar mais nesse lu-gar, mas em uma nova posição simbólicadesde a qual, ativamente, pode represen-tar o que vinha sendo sua vida até então.Depois de algum tempo circulando pordiversos lugares da cidade, Fabiana pedenovamente para ir ao supermercado, oque, de início, me surpreende bastante,pois há tempos esse não era um lugar deinteresse. Chegando lá, segura um paco-te de bolo e diz “meu”. É aí que perceboque estamos próximos à data de seu ani-
versário. O aniversário de Fabiana teveentão um bolo feito por ela (preparadodurante o A.T.), cortado por ela e servidopor ela, já que, segundo contou seu pai,depois do parabéns em jantar familiar, nahora de cortar o bolo, Fabiana imediata-mente se levantou da cadeira e insistiu“deixa eu, deixa eu”. “Meu”, “eu”, “deixa eu” são enunciadosque nos falam da constituição psíquicade Fabiana e põem em cena o posiciona-mento ativo que passou a ter.O trabalho em acompanhamento terapêu-tico consiste não só em uma circulaçãopela cidade que rompa com circuitos fe-chados e reiterativos da criança, mas tam-bém em que seu modo de circulação pelaprópria casa possa se rearmar. Partimos,para tanto, das atividades que fazem partedo cotidiano e nas quais o paciente nosconvoca a partir de seus interesses. Aliprocuramos sustentar para a criança osconflitos instrumentais contidos nas pe-quenas dificuldades que se apresentam,acompanhando o estabelecimento desuas próprias estratégias para que, aoapropriar-se delas, possa generalizá-lasem seu cotidiano. Evidentemente, comisto estamos intervindo quanto à suposi-ção do sujeito na criança. Ao convocá-laa uma posição ativa, permanentementedeslocamos a antecipação de fracassoque sobre ela recai.
Entre o público e o privadoAo realizar o acompanhamento terapêu-tico de uma criança com problemas pordiferentes espaços públicos – e principal-mente quando tais problemas de desen-volvimento se manifestam no corpo,como é o caso na síndrome de Down –,verificamos quanto o encontro do olhar
ar
tig
os

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>39
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
do adulto com a “diferença” presente nacriança o faz vacilar em fazer valer paraela as normas comuns a todos. Se umacriança está transgredindo e logo se per-cebe nela um traço que pode ser indica-dor de patologia orgânica, tal percepçãofreqüentemente é seguida de palavrascomo “deixa ela fazer” ou “tudo bem, coi-tadinha”.É neste curto instante que uma criançafica situada no fio da navalha que separao convívio com a diferença da tolerânciadiante da exclusão. E, por mais que essaexclusão opere por vezes de modo silen-cioso ou se apresente recoberta de com-preensiva tolerância, nem por isso deixade ter violentos efeitos simbólicos para acriança. Tais efeitos a deslocam da di-mensão da infância (pela qual uma crian-ça é situada como aquela a quem devemser transmitidos os ideais da cultura) e alançam a uma exceção social em si mes-ma patologizante. O que ela fizer passa aser meramente tolerado, pois não se ins-creve mais como um ato com efeitos nolaço social.Se uma criança, por apresentar uma pa-tologia que se dá a ver no corpo, encon-tra-se com olhares de estranhamento aocircular no espaço público, a questãocentral é: de que modo poderá vir a res-ponder a tais olhares? Isto inicialmentedependerá da posição em que os adultosimplicados em sua criação (e, conseqüen-temente, em sua constituição como sujei-to) a situem e a inscrevam, com a sua pa-tologia e apesar dela, no discurso social.É nesse fio de navalha entre o convíviocom a diferença e a exclusão experimen-tadas no espaço público pela criança, quese faz necessária nossa intervenção en-quanto acompanhantes terapêuticos,
rearticulando um laço social antecipada-mente suposto como rompido.Se o trabalho de A.T. ocorre no espaçoprivado e no público, constatamos queefeitos clínicos interessantes podem seproduzir na passagem entre um e outro.Intervimos para que comece a se estabe-lecer na criança a borda que separa essesespaços, convocando-a para que, na me-dida do possível, se situe dentro das nor-mas que regem o convívio social – nãopor uma simples adaptação imitativa,mas por efeito de uma inscrição simbóli-ca que lhe permita situar-se como sujei-to na cena.Fabiana, de início, cumprimentava e abra-çava todos os que via pela frente. Tal atitu-de, vindo de uma menina pequena, é to-mada na ordem da simpatia – clichê, aliás,que recai sobre as crianças que apresen-tam síndrome de Down. Mas, ao virem deuma menina já um pouco maior, essesabraços começam a adquirir socialmenteo caráter de uma conduta invasiva. Mar-car isto a Fabiana, ajudá-la a perceber areação das pessoas, falar da diferençaentre conhecidos e estranhos lhe permi-te ressituar-se e começar a circular social-mente nos códigos da cultura, em vez desimplesmente movimentar-se no espaçopúblico desde uma suposta exceção que,ao tolerar tudo, a condenaria à exclusão.
Da especificidade do A.T.No desenvolvimento de uma criança, aconstituição do sujeito e as realizaçõesinstrumentais encontram-se extremamen-te intrincadas: se, por um lado, nenhumaprodução instrumental tem valor senãona medida em que um sujeito possa delaapropriar-se em nome de um desejo, poroutro, a clínica nos demonstra que as
ar
tig
os

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>40
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
conquistas instrumentais realizadas poruma criança também podem surtir efeitosem sua constituição como sujeito. Nocaso de Fabiana, por exemplo, o tomarbanho sozinha ou querer cortar seu bolomodificam a posição na qual ela é situa-da pela família. Ela “surpreende” e, comisto, se opera um reconhecimento do seulugar de sujeito. Evidentemente, para quetal efeito ocorra, é necessário que a pro-dução da criança seja tomada como umato simbólico, ou seja, como uma inscri-ção que divide uma série em um antes eum depois.Que isto ocorra não é pouco. É trabalhoque excede o âmbito do A.T. e implica aintervenção em equipe interdisciplinarcom o paciente e sua família.Em tal contexto, o A.T. tem sua especifici-dade marcada ao dar sustentação no co-tidiano às intervenções que se operamdesde o tratamento clínico. E seus efeitossão “terapêuticos” na medida em que nelevai comparecendo uma articulação coma direção da cura do paciente.Se isto nos diz algo acerca do “terapêuti-co”, o lugar de “acompanhante”, por suavez, nos dá muito o que pensar quanto àtransferência presente neste modo de in-tervenção.Em primeiro lugar porque “precisar deacompanhante” pressupõe que o pacien-te em questão está, de certo modo, lança-do à solidão. De fato, não ir à escola, nãocircular em “turmas” de amigos, não terparceiros para realizar atividades no co-tidiano, não ter namorada ou namoradosão diferentes modos de privação de la-ços sociais com os quais crianças e ado-lescentes que apresentam deficiências e/ou psicopatologias freqüentemente ficamdeparados.
Transferencialmente, então, ficamos in-vestidos como o “parceiro”, o “amigo”, o“colega”, a “tia” ou, como coloca Fabianaa certa altura da intervenção, dirigindo-sea mim em tom interrogativo: “Mamãe?”.Tal pergunta exige uma certa travessia,pois é desde o investimento que o pacien-te deposita na transferência que se fazpossível armar alguma representação so-bre o que ele demanda. Assim, pela pri-meira vez Fabiana pode perguntar pelolugar de “mamãe”. É então que começa-mos a falar de sua mãe e de sua morte, aver fotos no álbum de família e a convo-car seu pai e seus irmãos a “historizar” fa-tos de sua vida.Se bem sejamos depositários de tais atri-buições – o que, convenhamos, é bastan-te denso quando se suporta tal transferên-cia no cotidiano do paciente –, não esta-mos ali para preencher a solidão e funcio-nar como engodos. Ao contrário, visamosque um paciente possa produzir algumarepresentação de sua condição, e utiliza-mos a partir daí nossa presença comoinstrumento na construção de laços como social. Quando estes laços operarem,deixaremos de ser necessários.Fabiana me convidava para ir ao “parqui-nho” de seu condomínio, que funcionavacomo ponto de encontro dos vizinhos,mas, chegando lá, ficava como espectado-ra da brincadeira, não era chamada aparticipar e, muitas vezes, não sabia comofazê-lo. Fomos tomando dessas cenas ob-jetos de interesse (bambolê, amarelinha,futebol) que Fabiana, com maior ou me-nor habilidade, foi aprendendo a domi-nar, mas sobretudo com as quais armáva-mos situações de verdadeira diversão noespaço de A.T.. Ao nos ver brincando des-te modo, outras crianças foram pedindo
ar
tig
os

pu
lsio
na
l >
rev
ista
de
psi
can
áli
se >
>41
an
o X
V, n
. 16
2, o
ut.
/20
02
para entrar na cena e descobriram quepodiam brincar junto com Fabiana.Em muitos casos, além da privação de la-ços sociais, há, devido à gravidade doquadro, a necessidade de um “acompa-nhamento” do paciente para realizar umasérie de atividades e hábitos que a maio-ria das pessoas conseguem realizar sozi-nhas. Quando – diante do circuito fecha-do de queixa e gozo em função da “sobre-carga causada pela dependência do pacien-te” – é um terceiro que passa a exercer afunção de acompanhamento, pode che-gar a se operar um efeito interessante decorte no olhar familiar que antes detinhaum controle permanente sobre as produ-ções do paciente.Em um caso ou outro, a função do acom-panhamento terapêutico visa abrir ao pa-ciente uma brecha desde a qual não fiquecondenado ao anonimato de quem sem-pre é levado e carregado por outros econte, no cotidiano, com o suporte ne-cessário para que – a partir do que vai seformulando enquanto desejo – possaexercer algum protagonismo no seumodo de circulação e inclusão social.
ReferênciasLACAN, J. (1960). Subversión del sujeto y
dialética del deseo en el inconsciente
freudiano. In: Escritos 2. Buenos Aires:
Siglo Veintiuno, p. 784.
_____ (1964). El seminario. Libro 11. Loscuatro conceptos fundamentales delpsicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.
JERUSALINSKY, Alfredo (2000). Pedagogia elinguagem, seminário realizado na USP-
Lugar de vida, inédito.
ar
tig
os
Artigo recebido em abril/2002
Aprovado para publicação em agosto/2002
Os 10 mais vendidosem agosto de 2002
1o
Espinosa, filosofia práticaGilles Deleuze
2o
SuperegoMarta Rezende Cardoso
3o
Dos benefícios da depressãoPierre Fédida
4o
O lugar dos pais napsicanálise de criançasAna Maria Sigal (org.)
5o
Depressão, estação psiqueDaniel Delouya
6o
Clínica da melancoliaAna Cleide Moreira Guedes
7o
HipocondriaM.Aisenstein, A. Fine,
G. Pragier (orgs.)8o
Rumo à palavra. Três criançasautistas em psicanálise
Marie-Christine Laznik-Penot9o
Alcoolismo, delinqüência,toxicomania
Charles Melman10o
O conceito de repetição em FreudLúcia Grossi dos Santos