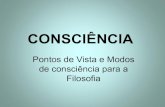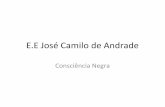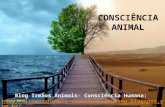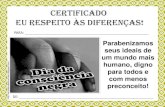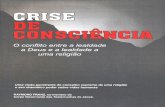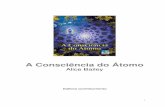O Apelo a Consciencia
-
Upload
rosana-biral -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of O Apelo a Consciencia
-
O APELO CONSCINCIA NOS MOVIMENTOS ECOLGICOS E NOS
MOVIMENTOS POR EDUCAO AMBIENTAL.
Leandro Belinaso Guimares (UFSC)
O presente trabalho fruto de uma pesquisa histrica sobre os sentidos que a
educao tem assumido nos diversos movimentos ecolgicos,1 em diferentes momentos.
Em outras palavras, minha angstia inicial foi buscar compreender um pouco sobre como e
com quais sentidos estes movimentos constituram aes educativas. Tal estudo ampliou-
se, recentemente, em decorrncia da incorporao, nas minhas preocupaes de
pesquisador, de um episdio atual emergido em sintonia com um evento denominado
por Carvalho (1998) de acontecimento ambiental que chamarei de emergncia dos
movimentos2 por educao ambiental. Segundo a autora, este evento chamado
acontecimento ambiental no qual os movimentos por educao ambiental so uma
derivada designa um campo contraditrio e diversificado de discursos e valores que
constituem um amplo iderio ambiental (p.114).
No sentido dado por Badiou (1994), um evento um suplemento aquilo que
difere do que h que nos obriga a decidir uma nova maneira de ser. Nas palavras do
autor, preciso, pois, supor que aquilo que convoca a tornar-se sujeito um a mais
(p.109). Nesse sentido, somos obrigados ao sermos fiis ao evento a inventar uma
nova maneira de ser e de agir na situao (p.110). Em outras palavras, com o surgimento
e a disseminao dos movimentos por educao ambiental a partir desse evento o
acontecimento ambiental somos convocados a transformar nossa maneira de ser3.
1 Estou pluralizando a expresso movimentos ecolgicos em sintonia com a argumentao de Guimares (1998) e Guimares & Noal (2000). Singularizar tal termo indicaria olhar para o movimento como se fosse homogneo, fundamentado em propsitos nicos e convergentes. Por outro lado, pluralizar diz respeito a entender os movimentos como apresentando posicionamentos e propsitos mltiplos (Guimares, 1998, p.68). 2 Ao utilizar o termo movimentos por educao ambiental busco incluir no apenas os chamados novos movimentos sociais (ecolgicos ou outros), mas todas as inmeras aes nomeadas como sendo educao ambiental que vemos hoje disseminadas pelas sociedades, atravs de diferentes instituies oficiais e no-oficiais e, inclusive, empresas pblicas e privadas. Nesse sentido, o termo refere-se velocidade com que vemos surgirem tais aes, bem como, movimentao discursiva no sentido de colocarem em movimento diferentes sentidos e valores - que tal episdio provoca. 3 Para Badiou (1994), sujeito o suporte de um processo de fidelidade ao evento, de um processo de verdade. Nas palavras do autor, o sujeito no preexiste de forma alguma ao processo. Ele absolutamente inexistente na situao antes do evento. Dir-se- que o processo de verdade induz um sujeito (p.110).
-
2
Podemos dizer, ento, que a emergncia dos movimentos por educao ambiental
tem configurado novas maneiras de ser? Como esse processo de subjetivao tem sido
operado? H proximidades e distanciamentos entre, por um lado, a educao ambiental e,
por outro, as aes educativas desenvolvidas pelos movimentos ecolgicos nas dcadas de
setenta e oitenta? So essas perguntas que me remetem a produzir este trabalho. Assim, ele
se apresenta como a confluncia da pesquisa histrica que empreendi com minhas
preocupaes atuais. No pretendo esgotar tais questes aqui, mas exercitar um olhar para o
campo da educao ambiental a partir delas. Posso dizer, ainda, que meu olhar em
operao neste trabalho foi propiciado pelos Estudos Culturais4 por duas razes. A
primeira seria por buscar nas pesquisas que empreendo um olhar desconfiado sobre tudo
aquilo considerado previamente como verdadeiro, natural ou imutvel. A segunda razo
seria por buscar enxergar como tem sido constitudo o campo da educao ambiental, ou
seja, por consider-lo uma construo histrica, cultural e social.
Este trabalho pretende olhar para os movimentos ecolgicos dos anos setenta
dcada de emergncia dos mesmos no Brasil e para os movimentos por educao
ambiental contemporneos, buscando enxergar traos semelhantes na constituio de suas
aes educativas. No pretendo me deter em marcar aqui, neste texto, as descontinuidades
existentes entre estes dois momentos e movimentos distintos embora elas apaream
no decorrer deste trabalho. Porm, para que este estudo possa tornar-se um pouco mais
transparente em suas intenes, cabe indagar, nesse momento, se possvel conectar e,
portanto, ler, ao mesmo tempo, os movimentos ecolgicos nos anos setenta e os
movimentos por educao ambiental nos anos noventa.
A noo de tempo cunhada por Serres (1999) me permite traar uma conexo entre
esses momentos. Isso para evitar falar de uma linearidade temporal ou mesmo que o
educativo constitudo pelos movimentos ecolgicos deu origem s prticas contemporneas
em educao ambiental. Para fugir desse esquema que a noo de tempo de Serres (1999)
4A perspectiva dos Estudos Culturais foi inaugurada e adquiriu visibilidade nos anos sessenta em Birmingham (Inglaterra), a partir dos trabalhos de Richard Hoggart e Raymond Williams. Tais estudos romperam com a viso tradicional de cultura (comumente associada alta cultura), considerando-a como as manifestaes de vida de todos os grupos humanos. A partir dessa viso ampliada, os Estudos Culturais romperam com as disciplinas tradicionais, tornando-se uma perspectiva para a qual convergem diversas disciplinas. A cultura passa a ser vista, ento, como um conjunto de prticas de significao processos de produo e veiculao de significados (Costa, 2000).
-
3
me parece interessante e adequada para minha argumentao. Segundo o autor, a teoria
clssica de tempo a da linha, contnua ou entrecortada, enquanto, para ele, o tempo escoa
de maneira extraordinariamente complexa, inesperada, complicada (p.79). Nesse sentido,
o tempo se assemelharia com uma cincia das proximidades e dos rasgos.
Se voc apanha um leno e o estende para pass-lo, voc pode definir sobre ele distncias e proximidades fixas. Em torno de um pequeno crculo que voc desenha prximo a um lugar, voc pode marcar pontos prximos e medir, pelo contrrio, distncias longnquas. Tome em seguida o mesmo leno e amasse-o, pondo-o em seu bolso: dois pontos bem distantes se vem repentinamente lado a lado, at mesmo superpostos; e se, alm disso, voc o rasgar em certos lugares, dois pontos prximos podem se afastar bastante...(Serres, 1999 p.82).
No se trata, pois, de buscar as origens da educao ambiental ou mesmo de traar
uma linearidade temporal entre os movimentos ecolgicos dos anos setenta e oitenta e
aquilo que venho chamando de movimentos por educao ambiental nos anos noventa. No
se trata, tambm, de um estudo epistemolgico que poderia ter a inteno de ver nos
movimentos ecolgicos as razes, os fundamentos, da educao ambiental. Pretendo, sim,
desenredar um mesmo fio que os atravessam. No ato de costurar um rasgo vamos
percebendo o entrelaamento dos fios que constituem o tecido. necessrio dizer, ento,
que em cada momento esse mesmo fio se conecta com outros tecendo redes5 onde brotam
singularidades. Em outras palavras, quero salientar que participar de um movimento
ecolgico nos anos setenta apresenta-se diferente de atuar em uma Organizao No-
Governamental Ambientalista nos anos noventa.
Enquanto uma perspectiva de pesquisa histrica tradicional poderia revelar uma
preocupao analtica com a busca da verdade e, tambm, poderia estar centrada na busca
do epistemolgico regras e padres universais pelos quais so formados os
conhecimentos sobre o mundo , um historicismo radical volta-se para uma ontologia do
presente (Veiga-Neto, 1996), ocupando-se com a busca dos padres historicamente
formados em relaes de poder. Em outras palavras, um estudo histrico passa a ser visto,
segundo Popkewitz (1997), como um problema da epistemologia social. Nessa acepo,
5 Utilizo o conceito de rede no sentido dado por Latour (1994). Para o autor, a noo de rede permite reatar o n grdio atravessando, tantas vezes quantas forem necessrias, o corte que separa os conhecimentos exatos e o exerccio do poder, digamos a natureza e a cultura (p.09). Assim, as redes so para o autor conexes ao mesmo tempo reais como a natureza, narradas como o discurso, coletivas como a sociedade (p.12).
-
4
nega-se a possibilidade de utilizao de noes como progresso, inteno e teleologia
investigao histrica, passando-se a buscar enxergar nela as descontinuidades que marcam
pocas, perodos, ou as vises hegemnicas que as caracterizam. Vejamos um pouco mais
sobre isso nas palavras de Michel Foucault:
Se a histria do pensamento pudesse permanecer como o lugar das continuidades ininterruptas, (...) se ela tramasse, em torno do que os homens dizem e fazem, obscuras snteses que a isso se antecipam, o preparam e o conduzem, indefinidamente, para seu futuro, ela seria, para a soberania da conscincia, um abrigo privilegiado. A histria contnua o correlato indispensvel funo fundadora do sujeito: a garantia de que tudo que lhe escapou poder ser devolvido. (...) Fazer da anlise histrica o discurso do contnuo e fazer da conscincia humana o sujeito originrio de todo devir e de toda prtica so as duas faces de um mesmo sistema de pensamento (Foucault, 1987).
Como j salientei anteriormente, minha inteno maior no marcar neste trabalho
descontinuidades histricas. Precisamente, o fio que permite inscrever subjetividades
individualistas atravs do apelo conscincia em operao em inmeras aes
educativas, seja nos movimentos ecolgicos dos anos setenta, seja nos movimentos por
educao ambiental nos anos noventa que este trabalho abordar. Para tanto, procurarei
mostrar e analisar algumas empiricidades onde podemos ver isso, explicitamente, em
circulao.
Empiricidades em operao um apelo conscincia nos movimentos
ecolgicos nos anos setenta.
Nos anos setenta os movimentos ecolgicos emergem com ampla visibilidade nas
sociedades. Sintonizados com outros movimentos contestatrios da poca, assumiram
posies crticas em relao aos modos de vida das civilizaes urbano-industriais. Nesse
sentido, ampliaram o leque de contestaes em circulao na poca incluindo temticas
como o uso de agrotxicos nas prticas agrcolas, a poluio ambiental provocada pelas
indstrias, entre outras. Naquele momento, os militantes ecologistas mostravam-se
preocupados com a sensibilizao da populao para com suas lutas. Isso mostra que as
questes educativas vinculadas s problemticas ambientais ganhavam prestgio e enorme
-
5
importncia. Nos anos setenta, os movimentos ecolgicos passaram, inclusive, a nutrir uma
crena nas prticas educativas como solucionadoras dos problemas ambientais. No
prembulo do clssico livro: Fim do Futuro? Manifesto Ecolgico Brasileiro de Jos
Lutzemberger, podemos ler:
Este um documento de luta. Sua finalidade esclarecer, sacudir, chocar. fazer pensar, promover discusso. A linguagem deliberada. Os minsculos grupos que hoje lutam pela conscientizao ecolgica e contra toda desestruturao ambiental e social no mais podem ater-se linguagem tmida. (...) Queremos indicar os novos rumos onde procurar estas solues. Elas decorrero do novo paradigma, do novo esquema mental que atravs desta exposio procuramos transmitir (Lutzemberger, 1977, p.10, grifos meus).
Estava em operao nos movimentos ecolgicos emergentes na dcada de setenta
um entendimento da educao como prtica de transmisso de saberes e de promoo da
conscientizao das pessoas em relao aos mesmos (Guimares, 1998, p75). Assim,
somente mudando a forma de pensar (o esquema mental) dos indivduos pois s assim
poderia haver mudana de valores que os problemas ambientais poderiam avistar um
horizonte de soluo. Este entendimento do processo educativo concebia a existncia de um
saber ecolgico6 que poucos teriam acesso que deveria ser transmitido s pessoas a
fim de conscientiz-las. Somente a posse mental desse saber, pela maioria das pessoas,
poderia solucionar os problemas ambientais. Nesse sentido, estava sendo construdo um
ideal educativo que pretendia alcanar um estgio de conscientizao plena, pois, somente
assim, ocorreria a mudana de valores e da moral de todas as pessoas (Guimares, 1998,
p.75).
Os movimentos ecolgicos emergentes nos anos setenta podem ser vistos como
desencadeadores de processos de singularizao. Nesse sentido, utilizando-me das
argumentaes de Flix Guattari, posso dizer que eles foram captadores dos elementos de
seu tempo e construtores de referncias prticas e tericas que recusaram a subjetivao
capitalstica. Segundo Guattari (1999), o trao comum entre os diferentes processos de
singularizao um devir diferencial que recusa a subjetivao capitalstica (p.47). Os
sujeitos sociais foram constitudos a partir das significaes em jogo naquela poca, ou
-
6
seja, ser ecologista nos anos setenta era estar em movimento, era estar inserido em uma luta
de contestao social onde a dimenso ambiental ganhava enorme importncia em
decorrncia dos discursos catastrficos em circulao nas sociedades a partir dos anos
sessenta. Tais discursos catastrficos foram provenientes das Cincias que produziram
inmeras pesquisas disseminando dados matemticos sobre o estado da degradao
ambiental no planeta provocado pelos seres humanos (Grn, 2000).
Porm, paradoxalmente, houve processos educativos constitudos pelos movimentos
ecolgicos nos anos setenta que parecem ter sido cooptados por um processo de
individuao caracterstico daquilo que Guattari conceitua como subjetivao
capitalstica. Assim, ao mesmo tempo em que configuravam processos de singularizao,
tambm instauravam processos de individualizao atravs de seus ideais educativos, pelos
quais todos aqueles que no estivessem inseridos nos movimentos deveriam sofrer um
processo de conscientizao. Guattari (1995) nos ajuda a ver melhor esta questo:
O sujeito no evidente: no basta pensar para ser, como proclamava Descartes, j que inmeras outras maneiras de existir se instauram fora da conscincia, ao passo que o sujeito advm no momento em que o pensamento se obstina em apreender a si mesmo e se pe a girar como um pio enlouquecido, sem enganchar em nada dos Territrios reais da existncia, os quais por sua vez derivam uns em relao aos outros, como placas tectnicas sob a superfcie dos continentes (p.17).
A partir desta reflexo posso dizer que foi dado um imenso privilgio conscincia
associada Razo pelos movimentos ecolgicos nos anos setenta, em suas
intencionalidades educativas, excluindo, portanto, outras possveis maneiras de existir
como nos fala Guattari. Porm, preciso dizer que no so os inmeros indivduos
militantes dos movimentos ecolgicos nos anos setenta ou mesmo os educadores
ambientais de hoje que esto sendo questionados neste trabalho. Ao contrrio, so os
discursos pedaggicos que associam conscincia, Razo e informao formulados e
movimentados a partir da poca Moderna em articulao com os discursos ecolgicos
em diferentes momentos que esto, aqui, sendo mostrados em operao.
6 O saber aqui entendido, na acepo dada por Michel Foucault, em relao inerente com o poder. Nesse sentido, na geometria em questo, posso dizer que deter aquilo que estou chamando de saber ecolgico significaria governar quais conhecimentos, valores e atitudes cada indivduo deveria possuir.
-
7
Continuo, a seguir, a compor este trabalho focalizando, agora, os movimentos por
educao ambiental contemporneos.
Empiricidades em operao um apelo conscincia nos movimentos por
educao ambiental nos anos noventa.
Se nos anos setenta a educao ambiental no estava constituda como um campo
de saberes e prticas, nos anos noventa ela atinge um boom discursivo passando a ser
praticada e, portanto, constituda, por inmeros grupos, instituies e movimentos sociais
(para alm dos chamados ecolgicos). Porm, a educao ambiental tem se apresentado
por diferentes cruzamentos de sentidos, onde se inscrevem tanto subjetividades
emancipatrias quanto, subjetividades reduzidas individualidade e/ou interioridade
psicolgica (Carvalho, 1998, p.120).
Nos anos noventa posso dizer que inmeras aes intituladas como sendo educao
ambiental apresentam uma intencionalidade conscientizadora. No mais o esprito de
contestao e luta social imprimido nos anos setenta que est em jogo nos anos noventa.
H, desde os anos oitenta, um processo de institucionalizao dos movimentos ecolgicos,
de vinculao poltica mais acentuada e marcada, de surgimento de aes no campo
jurdico, entre outras caractersticas que merecem ser exploradas e diferenciadas em relao
aos anos setenta demonstrando as rupturas histricas entre estes momentos. No entanto, me
interessa apresentar, aqui, o processo educativo de individualizao, ou seja, de apelo
conscincia, que continua em operao nos movimentos por educao ambiental
contemporneos. Assim, passo a compor duas cenas que me ajudam nesse exerccio.
Cena 1. Em uma palestra sobre educao ambiental proferida por mim para alunos e
alunas de um Curso de Graduao em Geografia, os estudantes foram incitados
inicialmente a falar sobre como enxergavam o campo da educao ambiental. Em outras
palavras, eu gostaria de ouvir qual era o entendimento deles a respeito deste campo. A
grande maioria utilizou em sua fala o argumento da necessidade de conscientizar a
populao a respeito dos inmeros problemas ambientais existentes. Um aluno chegou a
propor a criao de uma disciplina no Curso de Graduao em Geografia chamada
conscientizao ambiental. Tal disciplina seria responsvel por discutir formas de
-
8
conscientizar as pessoas a no terem comportamentos inadequados e, tambm, a
interferirem favoravelmente soluo dos problemas ambientais nas sociedades.
Cena 2. Em muitos trabalhos sobre educao ambiental que foram apresentados sob
a forma de comunicao oral no I Simpsio Gacho em Educao Ambiental ocorrido
no ano de 2000 no municpio gacho de Erechim , possvel ler atravs dos resumos
contidos nos Anais um apelo conscincia em inmeras aes educativo-ambientais
desenvolvidas no Brasil. Passo, ento, a exemplificar tal fato com alguns trechos destes
resumos. Optei por omitir a autoria dos mesmos em razo do meu interesse, aqui, em
apenas destacar algumas frases inseridas em cinco deles. Portanto, cada frase destacada diz
respeito a um resumo diferente.
Todo esse trabalho foi desenvolvido numa perspectiva interdisciplinar, onde toda a comunidade escolar, direta ou indiretamente, foi envolvida, buscando conscientizar e informar... Verificamos um aumento da percepo das crianas envolvidas para com a problemtica ambiental e uma maior preocupao em responsabilizar-se pelo meio ambiente onde esto inseridas, conscientizando-se... Portanto se faz necessria implantao de um projeto de Educao Ambiental, capaz de modificar atitudes, reformular conceitos e principalmente formar conscincia ecolgica. Diante disso, nosso projeto vem ao encontro da idia de que ainda possvel a conscientizao para mudar a Histria do homem e do ambiente no qual ele est inserido. ...a Educao Ambiental toma forma e torna-se imprescindvel para a conscientizao dos cidados...
Estudos realizados por Tristo (2000) com professores e professoras nos mostram a
imensa importncia que dada aos processos educativos conscientizadores nas aes em
educao ambiental contemporneas. Como argumenta Tristo (2000), as falas dos
professores e das professoras nos mostram que a questo da conscincia ocupa lugar central
no discurso pedaggico, sendo que o sentido da palavra conscincia est diretamente
vinculada razo. Assim, esta noo de conscincia convertida em inteno racional do
sujeito. Sua principal crtica refere-se a um processo de banalizao e, portanto, a um
vazio de significaes em torno dessa noo de conscincia. Para a autora, privilegiar
-
9
somente a cognio a mente , exclui outras mediaes importantes em trabalhos com
educao ambiental como o corpo individual e as questes econmicas, sociais e culturais
mais amplas.
Aps apresentar aquilo que chamei de empiricidades, passo a traar sucintamente
algumas reflexes sobre possibilidades de compor aes educativo-ambientais que possam
fugir de um processo constitutivo desenvolvido a partir de um corte individualizante,
comportamental e, apenas, cognitivo, a fim de incorporar outras dimenses.
Uma luta pela subjetividade resistncias aos processos de individuao.
Duas vertentes de pensamento nos incitam a traar linhas de fuga s narrativas que
instituem prticas de educao ambiental de corte individualista e comportamental
(Carvalho, 2000, p.63). A primeira diz respeito ao trabalho de Caldart (2000) sobre a
pedagogia do Movimento Sem Terra. A partir das argumentaes da autora, somos
provocados a exercitar uma educao ambiental que atravesse quase sem tocar pela
pedagogia da palavra e seu apelo conscientizao ou denncia da alienao provocada
pelas condies sociais (Caldart, 2000, p.214).
Na perspectiva em questo, os movimentos sociais so vistos como sujeitos
pedaggicos, como constituidores de princpios educativos. Nesse sentido, podem ser
vistos como formadores de sujeitos, como desencadeadores de processos de subjetivao
concebidos, no caso do Movimento Sem Terra (MST), na prpria luta social. Nessa viso,
h uma ao educativa criadora de solidariedade, concebida e vivida no fato de estar em
movimento (Caldart, 2000). A partir dessas reflexes, ns, educadores ambientais, somos
levados a nos perguntar sempre sobre as relaes de poder investidas intrinsecamente nos
saberes em jogo nas nossas aes pedaggicas. E mais, no ato de educar ambientalmente,
podemos dizer que nosso saber mais apropriado e verdadeiro? Devemos conscientizar a
partir de informaes privilegiadas que detemos ou colocar em confronto, em disputa,
perspectivas e sentimentos? O que seria, afinal, educar ambientalmente? Ser que h uma
nica maneira de se estar ou se sentir educado ambientalmente?
A segunda vertente de pensamento que gostaria de referir diz respeito aos trabalhos
de estudiosos do porte de Flix Guattari e Gilles Deleuze que ao darem destaque aos
-
10
processos de subjetivao nos provocam criao de resistncias aos processos de
individuao e, nesse sentido, de no articulao entre os registros do meio ambiente, das
relaes sociais e da subjetividade humana que Guattari (1995) chama ecosofia.
A fora que moveu a elaborao deste trabalho, talvez tenha sido uma ansiedade
pela construo de aes educativo-ambientais que estejam pautadas em uma luta de
criao de resistncias aos processos de atomizao e individuao, em jogo na
conformao de subjetividades capitalsticas. Nas palavras de Deleuze (1988):
A luta por uma subjetividade moderna7 passa por uma resistncia s duas formas atuais de sujeio, uma que consiste em nos individualizar de acordo com as exigncias do poder, outra que consiste em ligar cada indivduo a uma identidade sabida e conhecida, bem determinada de uma vez por todas (p. 113).
A partir dessas consideraes posso dizer que est em jogo, nos estudos feitos por
Deleuze e tambm por Guattari, uma forte crtica idia do sujeito como fundamento
ltimo de todo conhecimento. No processo de enunciao um sujeito se produz e
produzido. So exatamente as amarras do poder que poderiam ser foco de ateno nas
construes de estratgias educativo-ambientais. Em vez de pretender conscientizar e,
portanto, individualizar e, tambm, em vez de pretender ligar diferentes indivduos a uma
mesma identidade ecolgica determinada e fixa, poderia ser interessante operar
estratgias educativas que estivessem atentas rede onde esto conectados diferentes
sujeitos constitudos pela cultura e pela histria.
Referncias Bibliogrficas
BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito. Rio de Janeiro, Relume-Dumar, 1994.
CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra: a escola mais do que escola. Petrpolis: Vozes, 2000.
CARVALHO, Isabel. As transformaes na cultura e o debate ecolgico: desafios polticos para a educao ambiental. In: NOAL, F.O., REIGOTA, M., BARCELOS, V.H. de L. (Orgs.) Tendncias da educao ambiental brasileira. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1998.
7 O adjetivo moderno dado subjetividade no apresenta em Deleuze qualquer relao com o conceito de Modernidade como uma poca da Histria.
-
11
CARVALHO, Isabel. A questo ambiental e a emergncia de um campo de ao poltico-pedaggica. In: LOUREIRO, C.F.B; LAYRARGUES, P.P & CASTRO, R.S. (Orgs.). Sociedade e meio ambiente: a educao ambiental em debate. So Paulo: Cortez, 2000.
COSTA, Marisa Vorraber. Estudos culturais: para alm das fronteiras disciplinares. In: ___ (Org.). Estudos Culturais em educao. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2000.
DELEUZE, Gilles. Foucault. So Paulo: Brasiliense, 1988.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 1987.
GUATTARI, Flix. As trs ecologias. Campinas: Papirus, 1995.
GUATTARI, Flix & ROLNIK, Suely. Micropoltica: cartografias do desejo. Petrpolis: Vozes, 1999.
GUIMARES, Leandro Belinaso. O educativo nas aes, lutas e movimentos de defesa ambiental: uma histria de descontinuidades. Porto Alegre: UFRGS, 1998. Dissertao, Mestrado em Educao Faculdade de Educao, 1998.
GUIMARES, Leandro Belinaso & NOAL, Fernando Oliveira. Um olhar sobre os ideais educativos constitudos pelos movimentos ecologistas nos anos setenta. In: Reunio Anual da ANPEd, 23., 2000, Caxambu. Anais eletrnicos... Caxambu, 2000. Disponvel em: . Acesso em: 15 dez. 2000.
GRN, Mauro. tica e educao ambiental: a conexo necessria. Campinas: Papirus, 2000.
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.
LUTZEMBERGER, Jos. Fim do Futuro? Manifesto ecolgico brasileiro. Porto Alegre: Movimento/Editora da UFRGS, 1977.
POPKEWITZ, Thomas S. Reforma educacional: uma poltica sociolgica - poder e conhecimento em Educao. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997.
SERRES, Michel. Luzes: cinco entrevistas com Bruno Latour. So Paulo: Unimarco Editora, 1999.
TRISTO, Martha. Os contextos de significao comuns sobre a educao ambiental na perspectiva dos/as professores/as. In: Reunio Anual da ANPEd, 23., 2000, Caxambu. Anais eletrnicos... Caxambu, 2000. Disponvel em: . Acesso em: 15 dez. 2000.
VEIGA-NETO, Alfredo J.da. Epistemologia social e disciplinas. Episteme. Porto Alegre, v.1, n.2, 1996.