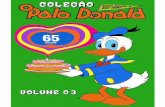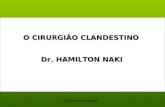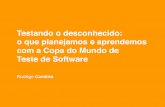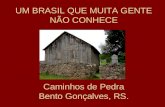O Código Desconhecido
-
Upload
pimentel-diogo2056 -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of O Código Desconhecido
-
8/18/2019 O Código Desconhecido
1/6
1
Uma poética da sugestão no filme Código Desconhecido de
Michael Haneke
Maria Thereza Azevedo
As imagens ambíguas, a supressão de diálogos, o tempo indeterminado,
as elipses, os prolongamentos invisíveis na extensão da cena, os silêncios, são
procedimentos recorrentes na arte cinematográfica.
Uma vertente da estética audiovisual contemporânea transformou estes
procedimentos em sistemas de organização, optando por um certo abandono da
estrutura dramática, modelo tutelar dos filmes dramático-narrativos, em
detrimento de outras formas que acabam por definir novos paradigmas de
composição.
No drama o ponto de partida é sempre uma situação inicial quedesencadeia o conflito para impulsionar a ação dramática que conduz a uma
solução final. Os elos de ligação entre cenas são fundamentadas por uma
compreensão lógico-temporal. O sentido apoia-se na história narrada num
mecanismo de engrenagem das ações que projeta uma só trajetória centrada no
personagem principal.
O filme Código desconhecido,(2000) do austríaco Michael Haneke, não
caminha nesta direção. Sua composição com trajetórias de diversos
personagens, não tem como princípio de ligação o drama, ou seja, o desenrolar
de uma ação. As diferentes histórias conectam-se a partir de uma situação
inicial: um adolescente branco, francês, joga os restos do papel amassado que
envolvia um sanduíche que acabara de comer numa mulher que pede esmolas
com as mãos estendidas, sentada no chão de uma avenida em Paris. Este gesto
-
8/18/2019 O Código Desconhecido
2/6
2
incendeia a indignação de um rapaz negro que o obriga a pedir desculpas à
mulher. O rapaz resiste, não pede desculpas e a confusão chama a atenção de
policiais que prendem o negro e a mulher, Maria, uma pedinte romena que está
ilegalmente no país e acaba sendo deportada. O negro, Amadou, professor de
crianças surdas-mudas, é preso e tratado como um criminoso. O adolescente
Jean, cunhado de Anne (Juliette Binoche), sai impune.
Esta poderia ser uma situação de impulso ao desenrolar da história do
filme, mas não é. A situação inicial, aqui, não funciona como leit motiv, para o
desenvolvimento da ação dramática. Os personagens da situação inicial nos
conduzem até novas situações, mas distanciadas de uma linha narrativa que dá
unidade à uma obra dramática. São vários enunciados que se estruturam de
maneira autônoma, mas articulados por um tema comum. São destinosfracionados, unidos pela intolerância.
A deportação de Maria nos leva ao Leste Europeu, região onde o
companheiro de Anne, Georges, trabalha como fotógrafo de guerra. A história
de Maria , que junta dinheiro das esmolas para enviar à família, não tem
nenhuma ligação com a história de Georges, a não ser pelo espaço geográfico
que ambos conhecem, de pontos de vista diferentes.
Há no filme uma subjetividade formal ordenadora das histórias secretas,
uma combinação de sistemas que agregam várias fontes.
Amadou nos conduzirá à sua família: africanos que não falam francês e
vivem em Paris. O pai é taxista, a irmã surda-muda. Vamos saber sobre estas
pessoas, mas o que elas dizem e como vivem não é nenhum desenrolar da
história de Amadou desencadeada pela situação da rua. São fragmentos,
momentos, situações que reiteram os conteúdos abordados no filme: relações
humanas, intolerância, racismo, preconceito, incompreensão, indiferença.
Assim, uma constelação de sentidos formam-se através destes
fragmentos, cada situação nova reitera a situação anterior.
Nesta estrutura de histórias desconectadas, mas semelhantes em seus
conteúdos, ocorrem coisas fora de cena. Aliás, temos a impressão que as
questões que moveriam o drama não estão na cena, mas fora dela. São ações
-
8/18/2019 O Código Desconhecido
3/6
3
corriqueiras como: Anne está passando roupas, fora de campo uma criança
chora. Não sabemos de onde vem o choro. Pode ser de qualquer uma daquelas
centenas de janelas de apartamentos de uma cidade grande. Anne (Juliette
Binoche) ouve o choro e se preocupa. A campainha toca, Anne vai atender,
não há ninguém. Ela apanha um bilhete no chão. Não sabemos o que está
escrito neste bilhete. Percebemos que Anne lê, mas não sabemos o quê lê. Ela
sai em busca de quem escreveu o bilhete, uma vizinha? Ninguém se manifesta.
Este remeter-se para um fora de cena é um procedimento semelhante ao
usado pelos dramaturgos e encenadores simbolistas, o sugerir sem mostrar.
Funciona como uma espécie de "espaço vazio" procedimento bastante usado
pelo cineasta japonês Yasujiro Ozu. Para Noel Burch, "o quadro vazio tem um
curioso ancestral pré-cinematográfico, um fragmento dramático de Baudelaire,na qual uma parte importante da ação se passa nos bastidores, deixando vazio
o espaço cênico". 1 Assim, o essencial dramático ocorre por detrás do que é
visível.
Temos a impressão que o roteiro do filme Código Desconhecido é maior
do que o próprio filme e que a história não contada foi escrita para ser
suprimida.
Sabemos um pouco mais desta preocupação de Anne com a criança que
chora quando ela conversa com Georges sobre isso, enquanto faz compras num
Supermercado. Só que o assunto não se desenvolve, ele desperta uma outra
conversa sobre eles com o tema criança, ou seja, uma ação não leva a outra por
causalidade, mas por associação.
Em outro momento, Anne está num enterro. Percebemos que a sua
vizinha também está. Não sabemos de quem é este enterro, o padre sugere na
sua oração que é de uma criança, não temos certeza, presumimos que é
possível ser da criança que chorava fora da cena em que Anne passava roupas.
É uma sugestão.
1 BURCH, Noel - Práxis do Cinema - São Paulo: Editora Perspectiva; 1992 pag 45
-
8/18/2019 O Código Desconhecido
4/6
4
O poeta simbolista Stephanie Mallarmé acreditava que ao denominar um
objeto, grande parte da sua fruição é suprimida, pois o interessante é
adivinhar aos poucos.
Essa potencialidade advinhatória e decifratória desperta no espectador
leitor uma reflexão sobre o tema abordado. É no espaço vazio que está o
espaço do outro, na incompletude é que se encontra a história secreta que cada
um monta.
Outro exemplo de incompletude é o que se passa com o pai de Jean no
momento de uma conversa sobre o filho que partiu. Ele se desloca do espaço
da conversa incômoda para o primeiro plano escuro de um banheiro, não
acende a luz e não ergue a tampa do vaso. Temos a impressão de que ele,
sentado no vaso, chora. Mas não estamos certos se isso realmente estáocorrendo. No escuro, a cena é apenas uma sugestão. Ao esconder-se, ele
expõe a sua ferida. O filme parece comportar-se desta maneira, a de expor
através do esconder.
Numa outra cena vemos a herança de Jean, dezenas de bezerros, mortos.
O pai acaba de matar o último bezerro. A questão do pai com a negação do
filho é manifestada pelo silêncio. Na realidade, apenas o silêncio e o possível
choro no banheiro insinuam o que pode estar passando na alma do
personagem.
O dramaturgo Maurice Maeterlink considera o silêncio mais eloqüente
do que as palavras.2 Estes silêncios, acontecimentos fora de cena e
deslocamento do eixo central narrativo, com blocos de situações, são sistemas
combinados que se organizam a partir de princípios semelhantes.
Umberto Eco, ao lembrar dos procedimentos dos simbolistas refere-se a
eles como horizontes inesperados, como por exemplo o projeto de
decomponibilidade do livro de Mallarme " (...) o bloco unitário deveria cindir-
2 MAETERLINK apud BEN TL EY , Er ic - O dramaturgo como pensador . Rio de Janeiro: Civi l ização
Brasi leira, 1991 pag 121
-
8/18/2019 O Código Desconhecido
5/6
5
se em planos reversíveis e geradores de novas profundidades, através da
decomposição em blocos menores, por sua vez móveis e decomponíveis."3
Os procedimentos de Haneke em Código Desconhecido são semelhantes
aos apontados por Eco. A estrutura do drama é a de um bloco unitário. No caso
do filme, este bloco acaba por cindir-se em planos geradores de novas
profundidades.
Assim, ao sair da trilha central e deslocar-se para os espaços de origem
dos personagens, onde vivem outras pessoas como ele, aprofundando na sua
cultura e na sua etnia, isso fala mais sobre o personagem, do que ele próprio.
Estes destinos cindidos pela intolerância não se encontram nunca, a não
ser pela própria intolerância. E o corpo subjacente, velado e invisível do
filme, só passa a ter existência ao relacionar-se com outros corpos, os corpos-mentes dos espectadores- interlocutores. Tocado ele se manifesta.
Ao velar o drama, num jogo de impossibilidades, Michael Haneke em
Código Desconhecido acaba por revelar as questões essenciais deste mesmo
drama, criando um corpo invisível que dialoga e traz à tona detonadores de
consciência.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BENTLEY, Eric. O dramaturgo como pensador . Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1991.
BORDWELL, David. Narration in the fi ction film. USA: University of
Wisconsin System, 1993
BURCH, Noel. Práxis do Cinema - São Paulo: Editora Perspectiva; 1992
CHARNEY., Leo e SCHWARTZ, Vanessa. O cinema e a invenção d vida
moderna. São Paulo, Cosac & Naif, 2001.
ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo, Perspectiva -1991.
3 ECO, Umberto, Obra Aberta . São Paulo: Perspectiva, 19 91 pag 55
-
8/18/2019 O Código Desconhecido
6/6
6
HEGEL, G.W. F O si st ema das Ar te s Curso de es té ti ca. São Paulo: Martins
Fontes, 1997.
ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 1997.
_______ “Influências estéticas de Schopenhauer" in: Texto Contexto. São
Paulo, Perspectiva, 1991.