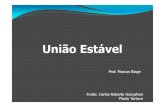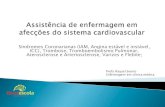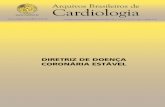O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NA UNIÃO ESTÁVEL NA …siaibib01.univali.br/pdf/Luiz Carlos Sandri...
Transcript of O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NA UNIÃO ESTÁVEL NA …siaibib01.univali.br/pdf/Luiz Carlos Sandri...
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS - CEJURPS CURSO DE DIREITO
O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NA UNIÃO ESTÁVEL NA HIPÓTESE DE MORTE DO COMPANHEIRO, À LUZ DO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
LUIZ CARLOS SANDRI JUNIOR
Itajaí (SC), outubro de 2006
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS - CEJURPS CURSO DE DIREITO
O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NA UNIÃO ESTÁVEL NA HIPÓTESE DE MORTE DO COMPANHEIRO, À LUZ DO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
LUIZ CARLOS SANDRI JUNIOR
Monografia submetida à Universidade do Vale do Itajaí –
UNIVALI, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em
Direito. Orientador: Prof. Dr. Diego Richard Ronconi
Itajaí (SC), outubro de 2006
AGRADECIMENTO
À Deus, caminho divino, por ter sido amigo
fiel em todas as horas.
À minha mãe Lúcia Maria Lapa, às minhas
irmãs Louyse e Stefany, e ao meu pai Luiz
Carlos Sandri (in memorian), que representam
em minha vida fortaleza, sabedoria e
dignidade. Por sempre acreditarem em mim,
sendo eternos incentivadores, a quem minha
gratidão não pode ser traduzida em
palavras;
À minha namorada Gabriela, por todo
carinho, amor e atenção durante todo este
tempo que estamos juntos e principalmente
nos momentos mais difíceis;
Ao meu orientador de conteúdo Profº Drº
Diego Richard Ronconi, pela dedicação,
pelo auxílio incansável e por ser, além de
professor, um grande amigo.
Aos amigos Márcio e Téia, por me
proporcionarem momentos de paz e
tranqüilidade para a realização deste
projeto.
À todos os meus amigos e aqueles que, de
alguma forma, contribuíram para tornar esta
chance possível.
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho à minha mãe Lúcia,
pelo exemplo de luta, respeito, amor à vida e
aos seus filhos, e por ter sido a força que me
permitiu conquistar esse sonho.
TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade
pelo aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a
Universidade do Vale do Itajaí, a coordenação do Curso de Direito, a
Banca Examinadora e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade
acerca do mesmo.
Itajaí (SC), 20 de outubro de 2006
Luiz Carlos Sandri Junior Graduando
PÁGINA DE APROVAÇÃO
A presente monografia de conclusão do Curso de Direito da Universidade
do Vale do Itajaí – UNIVALI, elaborada pelo graduando Luiz Carlos Sandri
Júnior, sob o título “O Direito Real de Habitação na União Estável na
hipótese de morte do companheiro, à luz do ordenamento jurídico
brasileiro”, foi submetida em ______ de ________________ de 2006 à banca
examinadora composta pelos seguintes professores:
_________________________________________________________________________
[Nome dos Professores ] ([Função]), e aprovada com a nota [Nota] ([nota
Extenso]).
Itajaí (SC), outubro de 2006.
Prof. Dr. Diego Richard Ronconi Orientador e Presidente da Banca
Professor Antonio A. Lapa Coordenação da Monografia
ROL DE CATEGORIAS
Rol de categorias que o Autor considera estratégicas à
compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos
operacionais.
Concubinato
Concubinato natural ou puro é aquele efetivado livremente entre pessoas
de sexos diferentes, sem impedimento matrimonial, e de forma estável. O
Concubinato espúrio ou impuro é aquele efetivado por homem e mulher,
de forma estável, porém impedidos de casar1.
Cônjuge
Aquele que é unido por matrimônio perante o ordenamento civil brasileiro.
Direito das Coisas
“Direito das Coisas: é o complexo de normas reguladoras das relações
jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem”2.
Direito de Propriedade
“É o direito atribuído a uma pessoa sobre a coisa, corpórea ou incorpórea,
de forma plena, sob os limites dos preceitos de ordem pública”3.
Direito Real de Habitação
“Direito real sobre coisa alheia através do qual um sujeito (o habitante)
poderá se utilizar gratuitamente de um imóvel, para moradia própria e de
sua família”4.
1 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. 3 ed. São Paulo: Editora RT, 2004. p.216-217 2 Clóvis Beviláqua Apud DAIBERT, Jefferson. Direito das Coisas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p.1 3 DAIBERT, Jefferson. Direito das Coisas., p.152 4 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. p.231
Função Social da Propriedade
“É uma obrigação de agir a fim de cumprir com as exigências do bem
comum e da Justiça Social, dando à propriedade uma utilidade de forma
a justificar e legitimar o próprio direito por meio desse comportamento”5.
Habitação
“Habitação consiste em uso para moradia, não abrangente da
percepção dos frutos, pois somente confere direito de habitar,
gratuitamente, imóvel residencial alheio. Quem habita não pode alugar
nem emprestar a coisa, mas somente ocupá-la com sua família”6:
União Estável (Concubinato Puro)
Entidade familiar entre homem e mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família 7, formada por companheiros.
Uso
“Direito de servir-se a pessoa de coisa alheia, sem perceber-lhe os frutos”8.
Usufruto
“Direito real transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar
durante certo tempo, sob certa condição ou vitaliciamente de bens
pertencentes a outra pessoa, a qual conserva sua substância”9.
5 SANTOS, Eduardo Sens dos. A função social do contrato. Fpolis: Ed. OAB/SC, 2004.p.138 6 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. 6 ed. São Paulo: Editora Método, 2003. p.209 7 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 28/07/2006. 8 BESSONE, Darcy. Direitos reais. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p.302 9 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.455
SUMÁRIO
RESUMO .............................................................................................X
INTRODUÇÃO .................................................................................... 1
CAPÍTULO 1........................................................................................ 4
NOÇÕES SOBRE O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO ........................... 4 1.1 BREVE INTRODUÇÃO ACERCA DO DIREITO DAS COISAS .............................4 1.2 O DIREITO DE PROPRIEDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL ......................7 1.3 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.........................................................15 1.4 DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS REAIS DE USUFRUTO, USO E HABITAÇÃO .......20 1.4.1 USUFRUTO .......................................................................................................20 1.4.2 USO ...............................................................................................................22 1.4.3 HABITAÇÃO ....................................................................................................24
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 ................................................................. 27
CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL NO DIREITO BRASILEIRO......................................................................... 27 2.1 BREVE HISTÓRICO DA UNIÃO ESTÁVEL NO BRASIL......................................27 2.2 CONCEITO DE UNIÃO ESTÁVEL.....................................................................29 2.3 ELEMENTOS DA UNIÃO ESTÁVEL ...................................................................31 2.4 CONCUBINATO E UNIÃO ESTÁVEL: DISTINÇÕES .........................................34 2.5 EFEITOS DA UNIÃO ESTÁVEL..........................................................................36 2.5.1 EFEITOS SOCIAIS ..............................................................................................37 2.5.2 EFEITOS PATRIMONIAIS ......................................................................................38 2.5.3 EFEITOS PESSOAIS.............................................................................................41
CAPÍTULO 3...................................................................................... 43
A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL POR MORTE DO COMPANHEIRO E O DIREITO REAL DO SOBREVIVENTE.................. 43
3.1 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS DO COMPANHEIRO COM O ADVENTO DAS LEIS 8.971/94 E 9.278/96 ..................43 3.2 A SUCESSÃO DO COMPANHEIRO NO ATUAL CÓDIGO CIVIL....................52 3.3 A GARANTIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE NA UNIÃO ESTÁVEL....................................................................60 3.4 OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS E A CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE ........................................66
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................ 71
REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS ................................................ 76
ANEXOS ........................................................................................... 82
RESUMO
A Constituição da República Federativa do Brasil de
1.98810 reconheceu a União Estável como “entidade familiar”. Para a
regulamentação do instituto, em relação à sucessão entre os
companheiros, foram promulgadas duas leis: a Lei 8.971/94 e a Lei
9.278/96. Ambas não chegaram a expressar originalmente o atual
panorama brasileiro, mas elevaram os direitos advindos da União Estável a
patamares similares ao do casamento, conferindo semelhança aos
cônjuges e companheiros, e, em algumas situações, colocando os
companheiros em situações até mais benéficas que o próprio cônjuge. O
Código Civil de 2002, que viria para concretizar definitivamente os direitos
sucessórios dos companheiros, representou um grande retrocesso em
relação às conquistas alcançadas por meio da legislação especial,
reduzindo significativamente o amparo que vinha sendo dispensado ao
companheiro sobrevivente na União Estável, deixando este em posição
muito inferior se comparado ao cônjuge. Assim, discute-se se o atual
Código revogou ou não o disposto nas leis anteriores, bem como se o
convivente sobrevivente tem ou não o Direito Real de Habitação,
reconhecido pela Lei 9.278/96, e esquecido pelo vigente Código Civil
Brasileiro.
10 Doravante chamada, simplesmente, Constituição Federal, Constituição Federal do Brasil ou Constituição Federal de 1.988.
INTRODUÇÃO
A presente Monografia tem como objeto o Direito Real
de Habitação na União Estável, na hipótese de morte do companheiro.
Tem como objetivo institucional é a produção de uma
monografia para a obtenção do título de bacharel em Direito, pela
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.
O objetivo primordial da pesquisa é a identificação dos
direitos sucessórios do companheiro na relação de União Estável, à luz da
doutrina, jurisprudência e legislação, bem como a concessão do Direito
Real de Habitação ao companheiro sobrevivente perante o ordenamento
jurídico brasileiro.
Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando das
noções gerais acerca dos Direitos Fundamentais, como o Direito de
Propriedade, seu conceito, Função Social, e, ainda, comparando e
distinguindo com os Direitos Reais de Usufruto, Uso e Habitação.
O Capítulo 2 está diretamente relacionado ao instituto
da União Estável. Além do histórico, encontram-se alguns conceitos, seus
elementos caracterizadores e, logo, a distinção com o Concubinato. O
capítulo ainda aborda os efeitos sociais, patrimoniais e pessoais
decorrentes da União Estável.
No Capítulo 3 está demonstrado a evolução no plano
sucessório dos direitos reservados ao companheiro com a edição das leis
especiais de 1.994 e 1.996; a situação do mesmo perante o atual Código
Civil, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à
concessão do Direito Real de Habitação ao companheiro sobrevivente.
2
Para a presente pesquisa são adotadas os seguintes
perguntas: 1. O que é o instituto da União Estável? 2. O que é o Direito Real
de Habitação? 3. Terá o companheiro sobrevivente da União Estável o
Direito Real de Habitação, perante o atual ordenamento jurídico
brasileiro?
O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as
Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos
destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das
reflexões sobre a concessão do Direito Real de Habitação ao
companheiro sobrevivente da União Estável, perante o atual
ordenamento jurídico brasileiro.
Para a presente monografia foram levantadas as
seguintes hipóteses:
� A União Estável é a entidade familiar formada entre homem
e mulher, configurada na convivência pública, contínua e
duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição
de família, sem o vínculo do matrimônio.
� O Direito Real de Habitação é um direito real que confere ao
beneficiário o direito de habitar gratuitamente casa alheia.
� O companheiro sobrevivente, na União Estável, tem o Direito
Real de Habitação, enquanto viver ou não constituir nova
união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à
residência da família.
Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na
Fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, na Fase de
Tratamento de Dados o Método Cartesiano, e, o Relatório dos Resultados
expresso na presente Monografia é composto na base lógica Indutiva.
Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as
Técnicas, do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da
Pesquisa Bibliográfica.
CAPÍTULO 1
NOÇÕES SOBRE O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO
1.1 BREVE INTRODUÇÃO ACERCA DO DIREITO DAS COISAS
Assim como a maioria dos institutos do Direito Civil
Brasileiro, o Direito das Coisas ou Direitos Reais tem as suas origens no
Direito Romano. Sempre se manteve firme à doutrina tradicionalista, sendo
o que por maior tempo resistiu às modificações que até então lhe foram
introduzidas.
Define Clóvis Beviláqua11: “Direito das Coisas: é o
complexo de normas reguladoras das relações jurídicas referentes às
coisas suscetíveis de apropriação pelo homem”.
Seguindo o mesmo raciocínio, Diniz12 complementa
quando ensina:
Infere-se deste conceito que o Direito das Coisas visa
regulamentar as relações entre os homens e as coisas,
traçando normas tanto para a aquisição, exercício,
conservação e perda de poder dos homens sobre esses
bens como para os meios de sua utilização econômica.
Gomes13, no início de sua obra, transcreve:
A evolução histórica do Direito das Coisas comprova a
importância que sempre desfrutou como complexo de
normas reguladoras desse poder do homem, em cujo
11 Apud DAIBERT, Jefferson. Direito das Coisas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p.1 12 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. v. 4. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p.3. 13 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.9
5
regime se reflete a forma de organização econômico-
política da sociedade.
Vale ainda destacar o ensinamento de Laffayette14
acerca do Direito das Coisas:
O Direito das Coisas é aquele que define o poder do
homem, no aspecto jurídico, sobre a natureza física,
regulando a aquisição (por título singular), o exercício, a
conservação, a reivindicação e a perda daquele poder, à
luz dos princípios consagrados nas leis positivas.
O Direito das Coisas estabelece um vínculo imediato e
direto entre o sujeito ativo ou titular do direito e a coisa sobre a qual o
direito recai e cria um dever jurídico para todos os membros da
Sociedade.
Wald15 descreve que:
Sendo o ramo de direito que regula as relações entre o
indivíduo e os bens sobre os quais exerce o seu poder, o
direito das coisas reflete a vida política, social e econômica
do tipo de sociedade em que impera. Tem, assim,
características próprias em cada legislação, e nele a
tendência conservadora se mantém com maior vigor do
que em outros ramos do direito civil.
Uma distinção adotada por Gonçalves16, em relação
às palavras bens e coisas:
Tudo o que satisfaz uma necessidade humana é bem. A
palavra coisa, no entanto, é utilizada para designar os bens
materiais ou concretos, úteis aos homens e de expressão
econômica. Bem, portanto, é gênero, e coisa, espécie.
Coisas são bens corpóreos: existem no mundo físico e hão
14 Apud GOMES, Orlando. Direitos Reais. p.9 15 WALD, Arnoldo. Direito das Coisas. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.2 16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Coisas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p.1
6
de ser tangíveis pelo homem (CC alemão, §90; CC grego,
art. 999).
Ressalta-se que há uma limitação ao interesse da
ordem jurídica. Segundo Daibert17, “a necessidade do homem será
atendida na medida da utilidade do bem que procura”.
Ao se observar que o homem se apropria de bens que
sejam úteis à satisfação de suas necessidades, irá se perceber que nem
todos os bens interessarão ao Direito das Coisas.
De acordo com Rodrigues18:
Se o que ele procura for uma coisa inesgotável ou
extremamente abundante, destinada ao uso da
comunidade, como a luz solar, o ar atmosférico, a água do
mar etc., não há motivo para que esse tipo de bem seja
regulado por norma de direito, porque não há nenhum
interesse econômico em controlá-lo.
Por igual observa Daibert19:
Se a coisa procurada é encontrada em quantidade
absurda, inesgotável, e é utilizada pela comunidade sem
que se consuma (o ar atmosférico, a luz solar, o oceano,
etc.), não haverá, conseqüentemente, necessidade de se
ordenarem juridicamente tais coisas; não há razão para que
as subordinemos ao direito positivo, porque a ninguém
interessa o seu controle.
Portanto, segundo Diniz20, somente as coisas úteis e
raras, “que despertem as disputas entre os homens”, poderão ser
incorporadas ao patrimônio do homem, sendo bens suscetíveis de
17 DAIBERT, Jefferson. Direito das Coisas. p.2 18 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p.13 19 DAIBERT, Jefferson. Direito das Coisas. p.2 20 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p.4
7
apropriação, e, quando da apropriação originar o vínculo, este será
conhecido como domínio.
As características fundamentais dos Direitos Reais,
destacadas por Lisboa21 são:
a) a incidência direta e imediata do titular sobre a coisa, sob todos os seus
aspectos (domínio) ou em apenas alguns de seus aspectos (direito real
desmembrado do domínio).
b) a defesa dos direitos reais, por ações reais e pelo
exercício do direito, com exclusividade e em oponibilidade
erga omnes.
c) a inexistência de superposição de direitos colidentes.
d) o objeto dos direitos reais é uma coisa incorpórea, seja
ela móvel ou imóvel.
e) o poder que o titular exerce sobre a coisa independe de
prestação do sujeito passivo da relação, que é a
coletividade em geral.
O estudo da Propriedade e dos Direitos Reais sobre
coisa alheia (de fruição ou de garantia) é o objeto primordial no Direito
das Coisas.
É de se avaliar a significação econômica, política e
social do instituto jurídico da propriedade em função da influência que
sua forma exerce na estrutura da Sociedade.
1.2 O DIREITO DE PROPRIEDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL
O Código Civil Brasileiro não define Propriedade,
apenas descreve os poderes do proprietário.
21 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. 2 ed. São Paulo: RT, 2002. p.34
8
Nos termos do artigo 1228 do Código Civil Brasileiro22:
Art. 1228: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha.
§1º O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais
(...).
Verificam-se alguns conceitos básicos de alguns
doutrinadores para uma melhor compreensão acerca do instituto da
Propriedade, iniciando por Miranda23:
Em sentido amplíssimo, propriedade é o domínio ou
qualquer direito patrimonial. Em sentido amplo, propriedade
é todo direito irradiado em virtude de ter incidido regra de
direito das coisas. Em sentido quase coincidente, é todo
direito sobre as coisas corpóreas e a propriedade literária,
científica, artística e industrial. Em sentido estritíssimo, é só o
domínio.
A propósito, é de se observar o ensinamento de
Pereira24:
Não existe um conceito inflexível do direito de propriedade.
Muito erra o profissional que põe os olhos no direito positivo
e supõe que os lineamentos legais do instituto constituem a
cristalização dos princípios em termos permanentes, ou que
o estágio atual da propriedade é a derradeira, definitiva
fase de seu desenvolvimento. Ao revés, evolve sempre,
modifica-se ao sabor das injunções econômicas, políticas,
sociais e religiosas. Nem se pode falar, a rigor, que a
estrutura jurídica da propriedade, tal como se reflete em
22 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 jul. 2006. 23 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957. p.9 24 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.81
9
nosso Código, é a determinação de sua realidade
sociológica, pois que aos nossos olhos e sem que alguém
possa impedi-lo, ela está passando por transformações tão
substancias quanto aquelas que caracterizaram a criação
da propriedade individual, ou que inspiraram a sua
concepção feudal.
Na concepção de Daibert25, Propriedade “é o direito
atribuído a uma pessoa sobre a coisa, corpórea ou incorpórea, de forma
plena, sob os limites dos preceitos de ordem pública”.
O Direito Real de Propriedade é o mais amplo entre os
Direitos Reais. Para Diniz26, é a Propriedade “a relação fundamental do
direito das coisas, abrangendo todas as categorias dos direitos reais,
girando em seu torno todos os direitos reais limitados de gozo ou fruição,
sejam os de garantia ou de aquisição”.
Miguel Reale27 enfatiza:
A propriedade é a plenitude do direito sobre a coisa; as
diversas faculdades, que nela se distinguem, são apenas
manifestações daquela plenitude. Entre a propriedade e os
direitos reais sobre coisa alheia, há uma relação de tal
ordem que estes são projeções daquela, que não perde
nenhuma de suas características pelo fato de se
constituírem os demais.
Baseando-se na obra de Ronconi28, foi a partir da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1.789 que o direito
de Propriedade teve seu reconhecimento como direito fundamental.
25 DAIBERT, Jefferson. Direito das Coisas., p.152 26 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p.116 27 Apud DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p.116 28 RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p.124
10
Em toda a evolução do Direito Privado ocidental, o
âmago essencial da propriedade sempre foi o de um poder jurídico
soberano e exclusivo do indivíduo sobre uma coisa determinada.
A Constituição Federal de 1.98829 trata da Propriedade
como Direito Fundamental do indivíduo, uma vez que o caput do art. 5º
garante o Direito de Propriedade como algo inviolável.
O atual texto constitucional introduziu o instituto entre
os direitos e garantias fundamentais, e de acordo com José Mello de
Freitas30 foi considerado como “regra fundamental, apta para
instrumentalizar todo o tecido constitucional e, por via de conseqüência,
todas as normas infraconstitucionais, criando um parâmetro interpretativo
do ordenamento jurídico”.
Contudo, o inciso XXIII do artigo antes referido dita: “a
propriedade atenderá a sua função social”.
Para Lisboa31, “apesar de o direito de propriedade ser
considerado direito real fundamental, o seu exercício e o dos demais
direitos reais são limitados aos interesses socialmente relevantes”.
Expressivo é o esclarecimento de Roberto J. Pugliese32:
A propriedade, de modo objetivo e genérico trata-se
expressamente de um direito garantido no texto
constitucional (art. 5º), mais que um simples direito, trata-se
de direito individual fundamental, consistente num dos
espectros da personalidade humana reconhecida e
garantida como tal pelo sistema constitucional vigente e
29 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em 28 jul. 2006. 30 José Mello de Freitas – Ética geral e profissional Disponível em www.freitas.adv.br/ download/aindex_ dow.php Acessado em 28/07/2006. 31 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. P.34 32 Apud Suzana de Oliveira - Patrimônio pessoal o exercício deste direito de propriedade. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4811 Acessado em 29/07/2006
11
tradicional no país. (...) Os mesmos dogmas que garantem o
direito de propriedade como espectros da personalidade
da pessoa. (...) Assim definido, temos, pois, em síntese, que
toda a propriedade como direito fundamental declarado
no diploma constitucional tem sua função social inerente
prevista e dela não pode abrir mão, sob pena de ferir, pois,
a própria constituição que a garante.
Se até então a Propriedade era direito inviolável, ao
indivíduo estava assegurado o exercício incontestável desse direito,
usando, gozando e dispondo da coisa que lhe pertencesse. Com o passar
do tempo, a necessidade social e o bem estar coletivo começaram a
exigir limitações a esse direito e também limitações à própria extensão da
Propriedade.
Passou-se, então, a questionar as características
tradicionais do Direito de Propriedade, como o absolutismo, a
exclusividade e a perpetuidade.
Para Diniz33, “percebe-se que o direito de propriedade
não tem um caráter absoluto porque sofre limitações impostas pela vida
em comum.(...) São limitações imprescindíveis ao bem-estar coletivo e à
própria segurança da ordem econômica e jurídica do país.”
Segundo Wald34:
O fundamento dessas medidas é sujeitar o interesse do
proprietário ao interesse coletivo, harmonizando outrossim os
direitos dos diversos proprietários. Podemos dizer que à
subordinação do direito subjetivo individual ao interesse
coletivo correspondem as medidas de ordem pública,
encontradiças no direito administrativo e constitucional.
33 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p.251 34 WALD, Arnoldo. Direito das Coisas. p.127
12
No mesmo norte, entende Rogério Gesta Leal35 que “a
propriedade não se acha mais assegurada em toda a plenitude, mas em
função do interesse social, sendo admitidas limitações estabelecidas em
favor do bem-estar da coletividade”.
Ainda se discute, atualmente, se o Direito de
Propriedade pode ser realmente considerado um Direito Fundamental,
pelo fato de o Direito de Propriedade não poder ser eficaz para todos.
Segundo Bessone36, a Propriedade não pode ser um
direito natural de todos os homens, devido à escassez dos bens
econômicos. A não ser que houvesse considerável abundância e que
todos pudessem satisfazer suas necessidades. “Neste caso, esvaziar-se-ia o
próprio conceito de bem econômico”, comenta o autor.
No entendimento de Peces-Barba37:
O direito de Propriedade é um direito individual garantidor
da proteção de seu titular, e neste direito a escassez é
contundente, sendo, por conseguinte, impossível tê-lo como
Direito Fundamental, tecnicamente, pois, não podendo a
Propriedade ser eficaz a todos, consiste somente numa
instituição de direito privado, mas não num Direito
Fundamental. A escassez, assim, é uma barreira para a
eficácia da Propriedade ser tida como Direito Fundamental.
Ensina Peces-Barba38:
35 Apud CHEMERIS, Ivan Ramon. A função social da propriedade: o papel do Judiciário diante das invasões de terras. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003. p.57 36 BESSONE, Darcy. Direitos reais. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p.55 37 Apud RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, p.127 38 Apud RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, p.127, (“Assim uma pretensão moral (justiça), ao meu juízo, para ser plenamente um direito fundamental, tem que ser suscetível de incorporar-se às categorias técnicas do Direito positivo, direito subjetivo, liberdade, poder ou imunidade (validez) e ser possível na realidade (eficácia). Provavelmente a escassez seja um dos maiores obstáculos à eficácia dos direitos”).
13
(...) Asi una pretensión moral (justicia), a mi juicio, para ser
plenamente um derecho fundamental, tiene que ser
suceptible de incorporarse a las categorias técnicas del
Derecho positivo, derecho subjetivo, libertad, potestad o
inmunidad (validez) y ser posible en la realidad (eficacia).
Probablemente la escasez sea uno de los obstáculos más
grandes a la eficacia de los derechos.
Para Rogelio Perez Perdomo39, o Direito de Propriedade
perdeu o seu papel como Direito Fundamental; não pelo aumento da
escassez, mas por sua abundância, comparando-se à situação do início
do século XIX, quando então tal Direito foi aclamado na Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1.789. O autor destaca que a
Propriedade foi um Direito Fundamental, porém em épocas determinadas.
Este é o ensinamento de Ronconi40:
Diante da ameaça sofrida pela burguesia, como
conseqüência das represálias da monarquia francesa, o
surgimento das idéias liberais fez com que a Propriedade
fosse considerada Direito Fundamental e sustentada,
enquanto tal, até hoje, em muitas Constituições,
especialmente na Constituição Brasileira.
Apesar de ser considerado Direito Fundamental no
ordenamento jurídico brasileiro, para Santos41:
Ou o direito de propriedade é absoluto e não se impõe a
ele qualquer restrição, ou se reconhece sua relatividade, de
modo a servir a interesses harmonizados com outros direitos
do ser humano, notadamente o direito à vida digna e
saudável e ao emprego, dentro de uma sociedade livre,
39 Apud RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, p.128 40 RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, p.128 41 SANTOS, Eduardo Sens dos. A função social do contrato. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2004. p.138
14
justa e solidária, como preconiza a Constituição da
República.
Contudo, destaca-se a conceituação de Ronconi42
acerca da Propriedade:
Compreende-se por Propriedade: o direito de uso, gozo,
disposição e reivindicação de todos os bens e/ou direitos de
alguém, respeitados os limites impostos pelo Estado, a fim de
garantir a perfeita convivência do grupo social em que se
insere.
No mesmo sentido, Bodnar43 refere-se à Propriedade
como sendo esse direito de usar, gozar, dispor e reivindicar o bem de
quem quer que o possua injustamente, “com o dever correlato de fazê-lo
de acordo com o bem-estar social da comunidade”.
Para Ronconi44, “o direito de Propriedade não consiste
mais em um direito absoluto, pois deve obedecer à Função Social, isto é, à
atividade ligada a um interesse eminentemente privatísticos em
detrimento do benefício maior de uma coletividade”.
Com outras palavras, porém no mesmo sentido,
Bodnar45 transcreve da seguinte maneira:
A legitimação e o fundamento do direito de propriedade
estão no cumprimento de suas finalidades sociais, ou seja,
nos benefícios que esta deve proporcionar não apenas
para a pessoa enquanto indivíduo mas para o progresso e o
bem de toda a Sociedade.
42 RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, p.130. Grifo meu. 43 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2005. p.22 44 RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, p.130 45 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p.22
15
Desta análise resulta que o interesse coletivo ou
público impõe padrões limitados ao Direito de Propriedade através do
Estado, em benefício da comunidade, e, segundo Diniz46, essas restrições
legais têm a finalidade de amparar não só o interesse coletivo, mas
também o interesse privado na busca da coexistência pacífica.
1.3 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
A Função Social é um instituto que designa o princípio
pelo qual o interesse coletivo tem preferência sobre a propriedade
privada, porém, sem extingui-la. O princípio da Função Social da
Propriedade é conseqüência do intervencionismo do Estado no meio
social individual, com o objetivo de concretizar uma visão social de bem
comum47.
Para Venosa48, toda Propriedade deve cumprir uma
Função Social. Segundo o autor, “a propriedade, na atualidade, não é
vista somente como um direito, mas também como uma função e como
um bem coletivo de adequação social e jurídica”.
Santos49 define a Função Social da Propriedade como
“uma obrigação de agir a fim de cumprir com as exigências do bem
comum e da Justiça Social, dando à propriedade uma utilidade de forma
a justificar e legitimar o próprio direito por meio desse comportamento”.
Ronconi50 utiliza o seguinte conceito para determinar a
Função Social da Propriedade:
46 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p.253 47 Propriedade. Disponível em http://www.dji.com.br/civil/propriedade.htm Acessado em 04/08/2006. 48 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.158 49 SANTOS, Eduardo Sens dos. A função social do contrato. p.138 50 RONCONI, Diego Richard. Falência & recuperação de empresas: análise da utilidade social de ambos os institutos. Itajaí: Editora da Univali, 2002. p.54
16
Consiste na utilização, gozo, disposição e reivindicação dos
bens e/ou direitos de alguém, afastando-se interesses
eminentemente privatísticos prejudiciais em detrimento do
benefício maior de uma coletividade, de forma que, para
haver tal equilíbrio, o Estado limitará e/ou estabelecerá
regras à sua utilização na conformidade do bem comum.
A concepção de Função Social da Propriedade
ganhou força no ordenamento jurídico brasileiro na Carta de 193451
(artigo 113, inciso 17), onde ordenava a garantia do Direito de
Propriedade, “que não poderá ser exercido contra o interesse social ou
coletivo, na forma que a lei determinar”. Essa idéia veio mais reforçada na
Carta Magna de 194652 (artigo 141, §16 e artigo 147) quando diz que “o
uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social”.
De acordo com Chemeris53, foi a Emenda
Constitucional 1/69 que determinou a Função Social da Propriedade
como “princípio para o desenvolvimento nacional e a justiça social (artigo
160, III). De lá pra cá, a função social da propriedade não perdeu mais o
seu lugar na Lei Maior”.
Atualmente, o instituto tem sua base constitucional no
artigo 5°, inciso XXIV da Constituição Federal de 1.98854, e civil no Código
Civil Brasileiro de 200255, mais precisamente em seu artigo 1228, §1º:
51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1934. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituiçao34.htm. Acesso em 13 ago. 2006. 52 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1946. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituiçao46.htm. Acesso em 13 ago. 2006. 53 CHEMERIS, Ivan Ramon. A função social da propriedade: o papel do Judiciário diante das invasões de terras. p.59 54 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em 13 ago. 2006. 55 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 13 ago. 2006.
17
Art. 1228. §1º O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as finalidades econômicas e sociais e de
modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
No entendimento de Venosa56:
As vigas mestras para a utilização da propriedade estão na
Lei Maior. Cabe ao legislador ordinário equacionar o justo
equilíbrio entre o individual e o social. Cabe ao julgador
traduzir esse equilíbrio e aparar os excessos no caso
concreto sempre que necessário. Equilíbrio não é conflito,
mas harmonização.
Acerca do princípio da Função Social da Propriedade,
Fachin57 entende que “a propriedade tem uma função social, princípio
jurídico aplicado ao exercício das faculdades e poderes que lhe são
inerentes”.
Silva58 destaca que:
(...) é certo que o princípio da função social não autoriza a
suprimir, por via legislativa, a instituição da propriedade
privada. Contudo, parece-nos que pode fundamentar até
mesmo a socialização de algum tipo de propriedade, onde
precisamente isso se torne necessário à realização do
princípio, que se põe acima do interesse individual. Por isso é
que se conclui que o direito de propriedade (dos meios de
produção especialmente) não pode mais ser tido como um
direito individual. A inserção do princípio da função social,
sem impedir a existência da instituição, modifica sua
natureza, pelo que, como já dissemos, deveria ser prevista
apenas como instituição do direito econômico.
56 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. p.159 57 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea. Porto Alegre: Fabris, 1988. p.19 58 RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, p.163
18
A Função Social se equivale às limitações impostas ao
que diz respeito ao Direito de Propriedade. Sua finalidade, portanto, é
estabelecer uma noção mais dinâmica da Propriedade, eliminando a
idéia estática, e de acordo com Fachin59, “representando uma projeção
da reação anti-individualista”. Para o autor, “o fundamento da função
social da propriedade é eliminar da propriedade privada o que há de
eliminável”.
A Propriedade, segundo José Cretella Júnior60, “é
condição social, estando sempre subordinada a sua finalidade, a sua
aplicação ao interesse coletivo”.
Gomes61 vai um pouco mais longe quando diz que:
A propriedade deixou de ser um direito subjetivo do sujeito e
tende a tornar-se função social do detentor da riqueza
mobiliária ou imobiliária para ser empregada como
crescimento da riqueza social e para interdependência
social. Isto porque só o proprietário pode executar uma
certa tarefa social, só ele pode aumentar a riqueza geral,
utilizando o seu próprio patrimônio. A propriedade neste
sentido não é um direito intangível e sim um direito em
constante mudança a modelar-se às necessidades sociais,
às quais deve responder.
No mesmo sentido, Wilson Batalha62:
A propriedade não é o direito subjetivo do proprietário, mas
é a função social do possuidor da riqueza; disso resulta que
a propriedade deixa de ser um direito intangível e absoluto.
A propriedade não é um direito, mas uma função social. Daí
por que, se o proprietário não cultiva o seu campo,
59 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea. p.19-20 60 Apud CHEMERIS, Ivan Ramon. A função social da propriedade: o papel do Judiciário diante das invasões de terras. p.57 61 GOMES, Orlando. Direitos Reais. pp.108-109 62 Apud CHEMERIS, Ivan Ramon. A função social da propriedade: o papel do Judiciário diante das invasões de terras. p.54
19
receberá a intervenção governamental para fazê-lo, a fim
de obrigá-lo a cumprir sua função social.
Porém, não se deve negar a existência de direitos
subjetivos, pois é de se recordar que o instituto é considerado um Direito
Fundamental. Sendo assim, destaca-se que a Função Social é parte do
Direito de Propriedade, mas não seu conteúdo exclusivo.
No entendimento de Bodnar63, o eficaz esforço em
favor do progresso, e da proteção em respeito à pessoa humana exige
dos operadores jurídicos uma nova postura em relação à interpretação
dos direitos individualistas, como o Direito de Propriedade, para que este
esteja em serviço da Sociedade em geral e não somente voltada ao
interesse particular, desempenhando assim com as suas funções sociais.
Tepedino64, ao tratar da temática, observa:
Tal conclusão oferece suporte teórico para a correta
compreensão da função social da propriedade, que terá,
necessariamente, uma configuração flexível, mais uma vez
devendo-se refutar os apriorismos ideológicos e
homenagear o dado normativo. A função social modificar-
se-á de estatuto para estatuto, sempre em conformidade
com os preceitos constitucionais e com a concreta
regulamentação dos interesses em jogo.
Comenta Bodnar65: “É somente com este repensar
crítico que nós operários do direito, poderemos construir uma sociedade:
mais justa, solidária, fraterna e com menos desigualdade social”.
63 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p.42 64 Apud GOMES, Orlando. Direitos Reais. p.124 65 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p.42
20
1.4 DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS REAIS DE USUFRUTO, USO E HABITAÇÃO
Os Direitos Reais sobre coisa alheia são aqueles que
limitam o exercício dos direitos ligados à Propriedade. Para Lisboa66,
podem ser divididos em dois grandes grupos: Direitos Reais de uso e gozo e
Direitos Reais de garantia.
Usufruto (usus fructus), Uso (usus) e Habitação
(habitatio) são espécies de Direitos Reais de gozo ou fruição, derivadas do
direito romano. Transfere-se o estudo para a identificação de cada um
dos institutos individualmente.
1.4.1 Usufruto
O artigo 713 do Código Civil Brasileiro de 191667 definiu
Usufruto como sendo: “o direito real de fruir as utilidades e frutos de uma
coisa, enquanto temporariamente destacado da propriedade”, em
decorrência da influência do direito romano, onde Paulo68 já conceituava
o instituto como “o direito de usar uma coisa pertencente a outrem e de
perceber-lhe os frutos, ressalvada sua substância”. O vigente Código Civil
Brasileiro não conceitua Usufruto, apenas trata de sua incidência e
aplicabilidade.
Clóvis Beviláqua69, assim como o referido artigo do
Código Civil Brasileiro de 1916, falha na definição, pois despreza a idéia de
preservação da substância. Segundo o autor, é “o direito conferido a uma
pessoa, durante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os
frutos e utilidades que ela produz”.
66 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. p.217 67 BRASIL. Lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 ago. 2006. 68 Apud MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2000. p.286 69 Apud RODRIGUES, Silvio. Direito civil v.5. Direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2002. p.295
21
O mesmo acontece com Mauro70 ao definir Usufruto
como “um direito real em função do qual certa pessoa assume,
temporariamente, os poderes de uso e fruição sobre coisa alheia”. A idéia
de não comprometimento da substância é fundamental à noção do
instituto.
No conceito de Venosa71, “usufruto é um direito real
transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar durante certo
tempo, sob certa condição ou vitaliciamente de bens pertencentes a
outra pessoa, a qual conserva sua substância”.
Bodnar72 descreve o Usufruto no mesmo sentido, como
sendo “a faculdade temporária conferida a alguém de usar determinado
bem ou dele retirar seus frutos e utilidades, sem comprometer-lhe a sua
substância”.
No mesmo norte e, baseando-se na definição
encontrada no art. 578 do Código Civil francês, Gomes73 transcreve:
“Nessa ordem de idéias, o usufruto pode ser definido como o direito de
desfrutar um bem alheio como se dele fosse proprietário, com a
obrigação, porém, de lhe conservar a substância”. O autor complementa
acrescentando que esse direito deve ser temporário.
Dois sujeitos compõem o Usufruto sendo: o usufrutuário
e o nu proprietário. Segundo Diniz74, o usufrutuário “detém os poderes de
usar e gozar da coisa, explorando-a economicamente”, enquanto que o
nu proprietário “faz jus à substância da coisa, tendo apenas a nua
propriedade, despojada de poderes elementares”.
70 MAURO, Laerson. 1000 perguntas de direito das coisas. 5 ed. Rio de Janeiro: Thex Editora, 2001. p.248 71 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. p.455 72 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p.116 73 GOMES, Orlando. Direitos Reais. p.333 74 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p.415
22
1.4.2 Uso
Também derivado do direito romano, o Uso, segundo
Venosa75, originalmente se caracteriza como “o direito de usar uma coisa
sem receber os frutos”.
Dessa mesma idéia, Bessone76 define o Uso como
sendo “o direito de servir-se a pessoa de coisa alheia, sem perceber-lhe os
frutos”.
Mauro77 assim conceitua: “uso é direito real que
confere ao titular o poder de utilizar-se de uma coisa alheia, para o fim
exclusivo de atender às necessidades pessoais e de sua família”.
Lisboa78 utiliza-se do mesmo conceito. Em suas
palavras, “uso é o direito real sobre coisa alheia através do qual o usuário
pode se utilizar da coisa, sem poder perceber os seus respectivos frutos,
salvo para uso próprio ou familiar”.
No concepção de Bodnar79:
Uso é a faculdade temporária conferida a alguém a título
gratuito de auferir todas as utilidades do bem para satisfazer
as suas necessidades e as de sua família. As necessidades
devem estar comprovadas e são avaliadas de acordo com
o contexto social em que vive o usuário.
Deve-se considerar a condição social e o local onde
vive o usuário, para que se possa calcular quais as suas necessidades, nos
termos do artigo 1412, §1º do Código Civil80.
75 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. p.481 76 BESSONE, Darcy. Direitos reais. p.302 77 MAURO, Laerson. 1000 perguntas de direito das coisas. P.260 78 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. p.229 79 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p.117
23
Segundo Diniz81:
O uso não é imutável, poderá ser ampliado ou diminuído se
houver aumento ou diminuição das necessidades pessoais
do usuário, tendo-se sempre por base a sua condição social
e o local em que ele vive, pois é possível que haja, por
exemplo, uma ascensão da condição social do
beneficiário, por ter ele adquirido novos recursos
intelectuais, caso em que ele poderá utilizar frutos ou
rendimentos que satisfaçam a tal ordem de novas
necessidades, não fazendo uso de frutos naturais, industriais
ou civis, que ultrapassem o limite ideal dessas necessidades.
O artigo 1412, §2º do Código Civil Brasileiro82 ordena
que as necessidades da família do usuário compreendam as de seu
cônjuge, as dos filhos solteiros e as das pessoas de seu serviço doméstico.
Wald83 explica que o usuário pode utilizar a coisa e
apropriar-se dos seus frutos, em sua limitação, com a finalidade de
consumo e não a de alienação.
São direitos do usuário, segundo Gomes84: “fruir a
utilidade da coisa; perceber frutos que bastem às suas necessidades e de
sua família; administrar a coisa”. Suas obrigações são as de: “conservar a
coisa; não dificultar o exercício dos direitos do proprietário; restituir a
coisa”.
80 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 27 ago. 2006. 81 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p.443 82 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 27 ago. 2006. 83 WALD, Arnoldo. Direito das Coisas. p.226 84 GOMES, Orlando. Direitos Reais. p.354
24
Alguns doutrinadores, assim como Gomes85, apelidam
o instituto de “usufruto em miniatura”.
Não existe muita distância entre o Direito Real de Uso e
o Usufruto, o que diferencia é a intensidade do direito. Pereira86 explica
que, “enquanto o usufrutuário aufere toda a fruição da coisa, ao usuário
não é concedida senão a utilização reduzida aos limites das
necessidades”.
Para Wald88: “a diferença básica entre o uso e o
usufruto é não implicar o primeiro o gozo amplo e ilimitado da coisa, que
encontramos no segundo. Quando constituído sobre coisa fungível
(dinheiro, título ao portador), equipara-se completamente ao usufruto”.
Outras distinções entre os dois institutos são de que o
Usufruto pode ter o seu exercício cedido enquanto o Uso não. Ainda, o
Usufruto é indivisível, admite, embora impropriamente, como objeto, um
bem fungível e consumível, enquanto que o Uso não.
Como bem observa Rodrigues89, “o uso é uma espécie
de usufruto de abrangência mais restrita, pois é insuscetível de cessão e é
limitado pelas necessidades do usuário e de sua família”.
1.4.3 Habitação
Como o Direito de Habitação requer um fim
delimitado, que é o de servir de moradia a pessoa beneficiada e sua
família, este instituto é ainda mais restrito que o Uso.
85 GOMES, Orlando. Direitos Reais. p.351 86 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. p.307 88 WALD, Arnoldo. Direito das Coisas. p.226 89 RODRIGUES, Silvio. Direito civil v.5. Direito das coisas. p.312
25
Segundo Bodnar90, “trata-se de direito real
personalíssimo e temporário que confere ao beneficiário o direito de
habitar gratuitamente casa alheia, pessoalmente ou com sua família”.
Outro conceito de mesmo caráter é o de Lisboa91, ao
definir Habitação como “o direito real sobre coisa alheia através do qual
um sujeito (o habitante) poderá se utilizar gratuitamente de um imóvel,
para moradia própria e de sua família”. O autor completa ensinando que
o Direito Real de habitação só terá validade se for averbado junto ao
registro imobiliário respectivo.
Segundo Diniz92, o Direito Real de Habitação é limitado,
personalíssimo, temporário, indivisível, intransmissível e gratuito. A
doutrinadora ensina que o habitador poderá viver na casa com a sua
família e ainda hospedar parentes e amigos, desde que não seja cobrada
a estadia, sendo vedado ao habitador alugar ou emprestar a coisa.
O atual Código Civil Brasileiro ordena em seu
artigo141493:
Art. 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar
gratuitamente coisa alheia, o titular deste direito não a
pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la
com sua família.
Nesse sentido, ensina Oliveira94:
Habitação distingue-se de usufruto, pois tem caráter mais
restrito. Consiste em uso para moradia, não abrangente da
percepção dos frutos, pois somente confere direito de
90 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p.118 91 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. p.231 92 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. p.450 93 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 27 ago. 2006. 94 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. 6 ed. São Paulo: Editora Método, 2003. p.209
26
habitar, gratuitamente, imóvel residencial alheio. Quem
habita não pode alugar nem emprestar a coisa, mas
somente ocupa-la com sua família.
Segundo Venosa95, “tanto o uso como a habitação
possuem cunho eminentemente alimentar, embora a lei não proíba que
decorram de negócios onerosos”.
Para Bessone96, “o Direito Real de habitação
diferencia-se qualitativamente do usufruto e também da figura que o
Código chamou de uso, por consistir uso típico, não abrangente da
percepção dos frutos”.
No que diz respeito à constituição e à extinção do
Direito de Habitação, aplicam-se os princípios básicos relacionados ao
Usufruto.
A seguir, transfere-se o estudo às considerações
acerca do instituto da União Estável.
95 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. p.484 96 BESSONE, Darcy. Direitos reais. p.305
27
CAPÍTULO 2
CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL NO DIREITO BRASILEIRO
2.1 BREVE HISTÓRICO DA UNIÃO ESTÁVEL NO BRASIL
A União Estável apenas foi reconhecida como
entidade familiar quando inserida ao texto constitucional97, no artigo 226,
§3º, determinando que o Estado protegesse o instituto. Todavia, antes do
seu reconhecimento, as relações extramatrimoniais apresentaram-se,
muitas vezes, de forma repreendida.
Cavalcanti98 explica que o fato de as relações
extramatrimoniais terem sido repreendidas se deve ao fato de que o Brasil
adotava regras muito formais quanto à família, ou seja, a família sempre
deveria ser calçada pelo casamento como se este fosse uma forma de
defesa.
Prossegue Cavalcanti99 mencionando que, na época
imperial, as leis que regiam o Brasil seguiam as regras das Ordenações de
Portugal, que já naquela época posicionavam-se contra as relações que
não fossem seladas pelo casamento, até mesmo porque, perante o
sacerdote, o casamento era considerado sacramento.
Apenas em 1.890, com o Decreto nº 181 de 24 de
janeiro, passou o casamento civil a ser o único meio de constituição de 97 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em 03 set. 2006. 98 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. São Paulo: Manole, 2004. p.48-49 99 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.48-49
28
família legítima e, logo em seguida, no ano de 1.891 ficou estabelecido
que não se poderia admitir a dissolução do vínculo conjugal. Cavalcanti100
ensina que apenas em 1.912, com o Decreto 2.681, a companheira
adquiriu um benefício, sendo que nesse decreto era prevista a
responsabilidade das empresas de estrada de ferro de indenização aos
dependentes, inclusive às companheiras. Afirma, ainda, a doutrinadora,
que o Código Civil de 1.916101 se absteve de regulamentar a União Estável,
mencionando apenas algumas regras repressoras, tais como o artigo 183,
III, e o art. 1.777.
Segundo ensinamento de Cavalcanti102:
O avanço jurisprudencial da questão tornou-se de suma
importância para evolução dos direitos advindos destas
relações extramatrioniais, afastando-se graves injustiças
presentes em leis ultrapassadas. Nesse sentido, o Supremo
Tribunal Federal acabou editando quatro súmulas
jurisprudenciais a respeito, que trouxeram mais justiça e
conforto para os relacionamentos não formalizados pela
celebração do casamento.
Trata-se da Súmula 35 que fala acerca do acidente de
trabalho, onde a concubina tem direito de indenização; a Súmula 380,
que menciona que se comprovada a sociedade de fato, poderá haver a
dissolução; a Súmula 382 que diz que o convívio more uxório não é
indispensável à caracterização da sociedade conjugal e, por fim, a
Súmula 447, que se refere à disposição testamentária. Todas as Súmulas do
Supremo Tribunal Federal, antes mencionado.
100 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p. 50 101 BRASIL. Lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 03 set. 2006. 102 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p. 52
29
Foi com o reconhecimento na Constituição Federal103,
artigo 226, § 3º, que a União Estável então passou a ser considerada
entidade familiar. Todavia, aduz Cavacanti104, que mesmo após seu
reconhecimento, houve dúvidas acerca de sua configuração, já que não
foi apresentado conceito e efeitos provenientes, cabendo, então, à
jurisprudência e à doutrina dirimir questões duvidosas que fossem surgindo.
Com o advento do atual Código Civil, o conceito foi claramente exposto
e, portanto, preencheu a lacuna que antes apresentava.
Após o estudo do breve histórico da evolução da
União Estável no Brasil, dirige-se o estudo ao conceito do instituto.
2.2 CONCEITO DE UNIÃO ESTÁVEL
Além da Constituição Federal de 1988, em seu artigo
226, § 3º, o artigo 1.723 do Código Civil105 também reconheceu a União
Estável e a define como entidade familiar entre homem e mulher,
“configurada na convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
Para Venosa106 “a união estável, denominada na
doutrina como concubinato puro, passa a ter a perfeita compreensão
como aquela união entre homem e mulher que pode converter-se em
casamento”.
103 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em 10 set. 2006. 104 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p. 53 105 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 10 set. 2006. 106 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p.453
30
Lisboa107 conceitua a União Estável como sendo “a
relação íntima e informal, prolongada no tempo e assemelhada ao
vínculo decorrente do casamento civil, entre sujeitos de sexos diversos
(conviventes ou companheiros), que não possuem qualquer impedimento
matrimonial entre si”.
O professor Álvaro Villaça Azevedo108 também
transcreve acerca do tema:
União estável é a convivência não adulterina nem
incestuosa, duradoura, pública e contínua, de um homem e
de uma mulher, sem vínculo matrimonial, convivendo como
se casados fossem, sob o mesmo teto ou não, constituindo,
assim, sua família de fato.
No mesmo sentido, Santos109 apresenta a União Estável
como “a convivência estável e séria entre um homem e uma mulher, sem
que nenhum deles seja ligado por um vínculo precedente matrimonial”. O
autor complementa dizendo que é este “um fenômeno social, antes de
jurídico, que não pode certamente incorrer nas qualificações de ilicitude
ou de ilegitimidade, pondo em risco os fundamentos de ordem pública
sobre os quais o casamento se assenta”.
Segundo entendimento de Cavalcanti110:
Trata-se de fato jurídico não solene, de formação sucessiva
e complexa. Ou seja, somente após a configuração de
certos elementos é que ela finalmente poderá ser
reconhecida como entidade familiar pelo sistema jurídico.
Isto quer dizer que a união estável precisa se adequar a
107 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. p.213 108 Álvaro Villaça Azevedo – União Estável. Artigo publicado na Revista do Advogado n° 58, AASP, São Paulo, março/2000. Disponível em http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina /texto.asp?id=696 - Acessado em 15/08/2006. 109 SANTOS, Frederico Augusto de Oliveira. Alimentos decorrentes da união estável. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p.15 110 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.113
31
certos elementos para que seja finalmente reconhecida
como fato jurídico.
Cahali111 ensina que:
A união estável nada mais é do que um fato no mundo
empírico com conseqüências jurídicas pela sua existência.
Concomitantemente ao fato social, caracteriza-se como
fato jurídico. (...) Diverge, substancialmente, nesse particular,
a união estável do casamento, pois os companheiros
passam a integrar o instituto não após o cumprimento das
formalidades legais para a sua celebração, mas pela sua
caracterização diante da conduta dos partícipes,
passando, a partir daí, pela postura adotada pelo
relacionamento, a ser atingida pela esfera jurídica das
partes, entre si, perante a sociedade e o Estado.
Destacam-se, a seguir, alguns dos elementos
configuradores da União Estável.
2.3 ELEMENTOS DA UNIÃO ESTÁVEL
Para que seja configurada a União Estável, alguns
elementos devem ser considerados. Dispõe Lisboa112:
a) a diversidade de sexo; (...) b) a inexistência de
impedimento matrimonial entre os conviventes; c) a
exclusividade; d) a notoriedade ou publicidade da relação;
(...) e) a aparência de casamento perante a sociedade,
como se os conviventes tivessem contraído matrimônio civil
entre si; f) a coabitação; g) a fidelidade; (...) h) a
informalização da constituição da União; i) a durabilidade,
caracterizada pelo período de convivência, para que se
reconheça a estabilidade da união.
111 CAHALI, Francisco José. União estável e alimentos entre companheiros. São Paulo: Saraiva, 1996. p.52 112 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. p.213-214
32
Cavalcanti113 explica que a diversidade dos sexos é
requisito essencial para a consolidação da caracterização da União
Estável, visto que está expressamente previsto na Constituição Federal este
elemento.
Afirma Oliveira114: “O mandamento constitucional
exige, para a união estável, que a coabitação se dê entre pessoas de
sexos diferentes, isto é, entre homem e mulher, não tendo amparo
constitucional a união estável entre homossexuais”.
Outro elemento apontado como requisito para que se
caracterize a União Estável é a inexistência de impedimentos matrimoniais,
ou seja, de acordo com Cavalcanti115, conforme dispõe o artigo 1.723, §
1º, do Código Civil116, “a união estável não se constituirá se presentes os
impedimentos do casamento (artigo 1.521), não se aplicando o
impedimento matrimonial por vínculo no caso de a pessoa casada se
achar separada judicialmente ou de fato”.
Já a exclusividade trata-se de um elemento objetivo
necessário relacionado ao princípio da monogamia, onde não é admitido
o compromisso com terceiros, constituindo relacionamento paralelo e
desleal. Dando seguimento ao raciocínio, este é o entendimento de
Guilherme Calmon Nogueira da Gama117:
A união extramatrimonial entre homem e mulher para fins
de constituição de família e dotada de estabilidade deve
ser caracterizada como o único vínculo existente para 113 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.117 114 OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Alimentos e Sucessão no casamento e na união estável. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p.85 115 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.132 116 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 10 set. 2006. 117 Apud CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.117
33
ambos os companheiros, ou, em termos sintéticos, deve-se
tratar de uma união monogâmica.
Alguns doutrinadores, como Francisco José Cahali e
João Roberto Parizatto118, entendem que poderá se caracterizar a União
Estável mesmo se um, ou até ambos os conviventes forem casados, desde
que separados de fato dos respectivos cônjuges, pois a união de
indivíduos separados de fato já vem sendo reconhecida doutrinariamente
e jurisprudencialmente há algum tempo.
Com relação à notoriedade e à publicidade da União
Estável, preleciona Cavalcanti119:
A Lei 9.278/96 e o novo Código Civil (art. 1.723) determinam
claramente que a união para ser considerada estável deve
ser pública. Isto quer dizer que não podemos considerar
uma relação oculta, escondida e, portanto, sem
notoriedade como uma entidade familiar. (...) Portanto, essa
publicidade que deve existir necessita estar relacionada
com a notoriedade do tratamento familiar entre o qual,
pelo menos perante as pessoas mais próximas, que tenham
contato direto com eles. Ou seja, familiares, amigos e outras
pessoas da sua convivência.
O elemento durabilidade é outro requisito que merece
destaque, e apesar de a Constituição Federal não fixar prazo para a
caracterização da União Estável, este período deverá ser duradouro,
lembrando-se que sempre deve haver o ânimo de constituir família para
que se caracterize a União Estável. “Deve-se entender razoável o período
de cinco anos, como indicativo de um período condizente para o
118 Apud OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Alimentos e Sucessão no casamento e na união estável. p.90-91 119 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.128
34
reconhecimento da estabilidade”, ensina Lisboa120. “Porém não pode ser
admitido como regra absoluta”, completa o autor.
Identificados alguns dos principais elementos da União
Estável, se encaminha o estudo à distinção entre o instituto e o
Concubinato.
2.4 CONCUBINATO E UNIÃO ESTÁVEL: DISTINÇÕES
Inicialmente cabe destacar a análise feita por
Matielo121 acerca da distinção entre Concubinato e União Estável, ou seja,
segundo o doutrinador, no decorrer do tempo foi convencionado
classificar toda e qualquer espécie de convivência como pertencente a
um grande gênero denominado Concubinato.
Posto isso, prossegue Matielo122:
Em sentido amplo (lato sensu) como a união entre o homem
e a mulher, sem casamento e em sentido estrito (stricto
sensu), onde, o concubinato assume as exatas feições da
união estável como concebida pela legislação protetora.
É consabido que o Concubinato pode ser classificado
como puro e impuro, sendo que Matielo123 ensina que o “puro” refere-se
ao sentido estrito, acima indicado e o “impuro” refere-se ao sentido
amplo.
É o entendimento do Desembargador Sérgio Fernando
de Vasconcellos Chaves124:
O elemento diferenciador que a doutrina estabelece entre
uma relação concubinária pura ou impura está na
120 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. p.214 121 MATIELO, Fabrício Zamprogna. Concubinato. 3 ed. São Paulo: Novak, 2001. p.22-23 122 MATIELO, Fabrício Zamprogna. Concubinato. p.22-23 123 MATIELO, Fabrício Zamprogna. Concubinato. p.24-25 124 Apud RIZZARDO, Arnaldo. Direito e Família. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p.904
35
manutenção do vínculo do matrimônio paralelamente ao
concubinato. Se o concubinato é mantido paralelamente
ao casamento, diz-se concubinato impuro ou
concubinagem; se os conviventes não têm qualquer
impedimento matrimonial, diz-se que vivem em
concubinato puro. Considera-se também que constitui
concubinato dito impuro a situação em que um ou os dois
componentes mantém uma união de fato paralelamente a
um casamento ou a uma união estável.
Já na concepção de Lisboa125, Concubinato nada
mais é do que a união informal entre pessoas de sexos diferentes e que,
como se fossem casados civilmente, passam a viver perante a sociedade.
Todavia, classifica o Concubinato em duas modalidades, ou seja,
“natural” ou “puro” e, “espúrio” ou “impuro”.
Lisboa126 define o Concubinato natural ou puro como
sendo aqueles efetivados livremente entre pessoas de sexos diferentes,
sem impedimento matrimonial, e de forma estável. O Concubinato espúrio
ou impuro é definido pelo doutrinador como sendo aquele efetivado por
homem e mulher, de forma estável, porém impedidos de casar.
Deve-se identificar, portanto, a diferença apontada
por Lisboa127, ou seja, o Concubinato espúrio não pode ser comparado à
União Estável, haja visto que ele se fundamenta na possibilidade de
facilitar a conversão em casamento, constitucionalmente protegida sob a
égide de entidade familiar.
Destaca-se, nesse sentido, o entendimento de
Rizzardo128 sobre a diferença da União Estável e da União Concubinária. A
primeira é definida pelo autor como sendo a união entre pessoas de sexos
diferentes em situações de inexistência de impedimentos para o
125 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. p.215 126 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. p.216-217 127 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. p.217 128 RIZZARDO, Arnaldo. Direito e Família. p.893
36
casamento, abrangendo, inclusive, a união de pessoas que estão apenas
separadas de fato com outra pessoa. Já a segunda é vista como sendo a
união quando há impedimento para o matrimônio, todavia, deve haver
uma união prolongada, convivência constante e disposições que
impeçam a realização da conversão da união em matrimônio.
Dessa forma, vê-se de maneira clara que a
modalidade Concubinato, prevista no artigo 1.727 do atual Código
Civil129, constitui em relações não eventuais entre homem e mulher,
impedidos de casar, ao contrário da União Estável, a qual não prevê fatos
impeditivos para a transformação da união em casamento.
Reconhecendo-se a União Estável como entidade
familiar, transfere-se o estudo à análise dos efeitos produzidos, tanto no
que concerne aos aspectos extrínsecos quanto aos intrínsecos. Efeitos
estes de ordem social, patrimonial e pessoal.
2.5 EFEITOS DA UNIÃO ESTÁVEL
Ao se referir aos efeitos resultantes da União Estável,
destaca-se o ensinamento de Gama130:
O conjunto de efeitos produzidos pelo fenômeno é tão
amplo que muito se assemelha aos efeitos do casamento,
mesmo porque ambos os institutos são formadores e
mantenedores da instituição familiar. Outrossim, alguns
efeitos gerados pelo companheirismo afetam tão somente
a esfera da vida pessoal do casal, sem qualquer conotação
econômico-patrimonial, gerando direitos e deveres
denominados de família puros, enquanto outros se refletem
no campo patrimonial, impondo obrigações e/ou deveres
129 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006. 130 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O Companheirismo – Uma Espécie de Família. São Paulo: Editora RT, 1998. p.222
37
em contraposição ao direito titularizado por algum
partícipe. Estes são os direitos patrimoniais ou econômicos.
Pessoa131 doutrina que a União Estável gera efeitos
jurídicos de ordem social, pessoal e patrimonial, sendo que os dois
primeiros advêm do estado concubinário e o último das repercussões de
caráter econômico em relação aos conviventes e a terceiros.
Pereira132 transcreve da seguinte maneira acerca do
tema:
As tendências e tentativas de estabelecer os efeitos da
união estável são sempre no sentido de equipará-la a um
casamento oficial, fazendo-se uma analogia às regras
definidas de um casamento civil, mas com as
peculiaridades e os cuidados morais, às vezes até mesmo
moralistas de cada tribunal. Podemos dizer, então, que de
um casamento informal, ou seja, de uma união estável,
estabelecem-se relações pessoais e patrimoniais com
conseqüentes efeitos jurídicos.
Nos próximos itens serão abordados, separadamente,
os efeitos sociais, patrimoniais e pessoais da União Estável.
2.5.1 Efeitos Sociais
A Constituição Federal reconheceu a União Estável por
ser ela uma realidade social, porém, ensina Diniz133, que não só por esse
motivo foi reconhecida, mas, também, para que fosse tutelada pelo
Estado, e para que sua conversão em casamento fosse possível.
Orlando Soares134 entende que:
131 PESSOA, Cláudia Grieco Tabosa. Efeitos patrimoniais do concubinato. São Paulo: Saraiva, 1997. p.61-62 132 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e união estável. 7ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.51 133 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família. p.352 134 Apud VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. p.450
38
Seja como for, o desinteresse pelo casamento acabou
provocando uma espécie de clamor público, no sentido de
que fossem constitucionalizadas e reguladas,
legislativamente, as uniões livres entre homem e mulher,
para efeito de recíproca assistência e proteção à prole daí
resultante; originando a noção de entidade familiar, prevista
na Cata Política de 1988, em razão do que não mais pode
falar em família ilegítima, em oposição à família legítima,
pois ambas essas situações estão sob o mesmo manto da
proteção legal e constitucional.
Para Cavalcanti135, a regulamentação da União
Estável exteriorizou a vontade das partes de criar uma entidade familiar
diferente do casamento, mas reconhecida pelo direito e com efeitos de
ordem patrimonial e pessoal que repercutem na esfera social, gerando
efeitos sociais basilares, observando-se, sempre, os princípios do direito de
família.
2.5.2 Efeitos Patrimoniais
Com relação aos efeitos patrimoniais da União Estável,
Pessoa136 explica que as partes podem estipular as regras para a
convivência, ou seja, os deveres e direitos de cada convivente podem ser
entabulados através de um contrato escrito.
Em sua obra, Pessoa137 descreve que até o advento da
Lei n° 8.971/94138 esses efeitos se limitavam ao campo previdenciário e da
infortunística; estenderam-se, com a atuação dos tribunais ao Direito das
Obrigações, quanto aos atos lícitos e ilícitos, aos quais foram acrescidos os
decorrentes da obrigação alimentar, no campo do Direito de Família e os
135 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.240 136 PESSOA, Cláudia Grieco Tabosa. Efeitos patrimoniais do concubinato. p.61 137 PESSOA, Claudia Grieco Tabosa. Efeitos patrimoniais do concubinato. P.68 138 BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm. Acesso em 22 set. 2006.
39
relacionados ao Direito Sucessório, sendo que estes últimos, até então,
eram apenas objeto de controvérsias na doutrina e na jurisprudência.
Com a edição da Lei nº 9.278/96139, firmou-se a
regulamentação dos direitos sucessórios do companheiro, onde se
introduziu a partilha dos bens adquiridos na constância da União Estável
no âmbito patrimonial, bem como o Direito Real de Habitação do
companheiro sobrevivente, relativamente ao imóvel destinado à
residência da família.
A questão patrimonial no âmbito sucessório do
companheiro merece destaque, e será tratada com mais clareza e
profundidade no próximo capítulo deste trabalho.
Encontra-se o primeiro efeito patrimonial da União
Estável no artigo 1.725 do Código Civil140, ordenando que, “na união
estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às
relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de
bens”.
Rodrigues141 conceitua o regime de comunhão parcial
de bens como sendo:
(...) aquele que, basicamente, excluem da comunhão os
bens que os consortes possuem ao casar ou que adquirir por
causa anterior e alheia ao casamento, e que inclui na
comunhão os bens adquiridos posteriormente.
O segundo efeito patrimonial está disposto no artigo 5º
da Lei 9.278/96142, que dispõe sobre a partilha do patrimônio formado
139 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9278.htm. Acesso em 15 set. 2006. 140 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006. 141 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito de família. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.206
40
durante a convivência, onde “os bens móveis e imóveis adquiridos por um
ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título
oneroso, são considerados fruto do trabalho e a colaboração comum,
passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo
estipulação em contrário em contrato escrito”.
Nesse sentido explica Rizzardo143:
Constatada a contribuição indireta da ex-companheira na
constituição do patrimônio amealhado durante o período
de convivência more uxório, a contribuição consistente na
realização das tarefas necessárias ao regular
gerenciamento da casa, aí incluída a prestação de serviços
domésticos, admissível o reconhecimento da existência da
sociedade de fato e conseqüente direito à partilha
proporcional.
O terceiro efeito patrimonial a ser enfrentado diz
respeito ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro(a),
assegurado pelo disposto no art. 1.964 do Código Civil144: “podem os
parentes, os cônjuges ou conviventes pedir uns aos outros alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada”.
Assim, aduz Pessoa145, que na relação entre
companheiros, os alimentos se revestem das mesmas características da
obrigação alimentar, ou seja, da condicionabilidade, da variabilidade, da
irrenunciabilidade, da reciprocidade, da impenhorabilidade etc.
142 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9278.htm. Acesso em 15 set. 2006. 143 RIZZARDO, Arnaldo. Direito e Família. p.911 144 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006. 145 PESSOA, Cláudia Grieco Tabosa. Efeitos patrimoniais do concubinato. p.74
41
Por fim, analisa-se a necessidade ou não de outorga
uxória entre os companheiros e, conforme descreve art. 1.647, I, do
Código Civil146, vê-se que não há, teoricamente, a sua obrigatoriedade.
Todavia, para Lisboa147, em se tratado de bens imóveis, é necessária a
autorização dos conviventes para a transmissão da coisa.
2.5.3 Efeitos Pessoais
Ensina Pessoa148, no que diz respeito apenas aos efeitos
pessoais da União Estável, que são aqueles relacionados à formação da
estrutura da união concubinária, ou seja, aqueles que não tem relação
com o cunho econômico. Nesse sentido, aponta o doutrinador como
sendo, por exemplo, a fixação de domicílio, a representação do casal e
relação da prole para com terceiros, as relações de família e as relações
com a sociedade.
Lisboa149 cita seis efeitos pessoais da União Estável com
destaque e ênfase ao disposto no artigo 1.724 do Código Civil, sendo eles:
a fixação de domicílio pelos coniventes, a coabitação exclusiva, a
fidelidade física e moral, a assistência material e imaterial recíproca, a
adoção do nome do convivente, e o registro e reconhecimento de filho
havido da União Estável.
Acerca dos efeitos pessoais da União Estável,
Cavalcanti150 ensina que o legislador não previu expressamente a
fidelidade, a lealdade e a coabitação para a União Estável, porém se
preocupou apenas com o respeito e a consideração recíproca, que são
elementos indispensáveis para um relacionamento familiar. Todavia,
146 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006. 147 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. p.232 148 PESSOA, Cláudia Grieco Tabosa. Efeitos patrimoniais do concubinato. p.62 149 LISBOA, Robero Senise. Manual Elementar de Direito Civil. p.231 150 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.214-215
42
explica a doutrinadora, que quando o legislador se refere ao respeito e
consideração recíproca, de forma subjetiva, ele quis dizer também
fidelidade e coabitação, no sentido de que assim se estabelece uma
exclusividade e uma presunção de racionamento sexual e, portanto, se
configura a União Estável.
Regina Beatriz Tavares da Silva Papa dos Santos151
prossegue e aponta a assistência moral recíproca como efeito pessoal da
União Estável, transcrevendo da seguinte forma sobre o assunto:
A assistência moral baseia-se no amor, que se presume
existir entre os companheiros, razão pela qual pode parecer
impossível delimitar seu conteúdo no plano jurídico.
Realmente o amor ou afeição é sentimento que a lei não
pode impor aos companheiros, o que gera falsa noção de
que a assistência moral seja um dever mais moral do que
jurídico, vago e de difícil sancionamento legal.
Por fim, tem-se o efeito pessoal denominado “poder
familiar”, enfatizado por Cavalcanti152, já que a Constituição Federal de
1.988 estabeleceu ampla equiparação da União Estável ao Casamento,
devendo os companheiros, convivendo sob o mesmo teto ou não,
reconhecerem o poder familiar e exercerem a guarda, educação e
sustento dos filhos.
Após algumas considerações gerais acerca da União Estável no Direito
Brasileiro, tais como o breve histórico, o conceito, os elementos
configuradores, a distinção entre o Concubinato e os seus efeitos, dirige-se
o estudo do próximo capítulo à dissolução da União Estável por morte do
companheiro e o Direito Real do sobrevivente.
151 Apud CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.217 152 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável: requisitos e efeitos pessoais. p.220
43
CAPÍTULO 3
A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL POR MORTE DO COMPANHEIRO E O DIREITO REAL DO SOBREVIVENTE
3.1 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS DO
COMPANHEIRO COM O ADVENTO DAS LEIS 8.971/94 E 9.278/96
Com o reconhecimento da União Estável como
entidade familiar pela Constituição Federal de 1.988153 (artigo 226, § 3º),
para fins de proteção do Estado, significativas mudanças ocorreram para
a evolução do instituto.
É de se observar que mesmo antes do advento da Lei
8.971/94154, que veio a regular os direitos dos companheiros no plano
sucessório, alguns doutrinadores e juízes, ainda que minoritários, se
pronunciaram no sentido de resguardar direitos sucessórios causa mortis
aos que viviam em União Estável, com base no artigo 226, §3º da Lei
Maior155, estendendo as mesmas garantias do cônjuge ao companheiro.
Contudo, segundo Pellizzaro156, essas manifestações doutrinárias e
jurisprudenciais “eram restritas aos casos de concordância integral de
todos os herdeiros”.
153 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em 20 set. 2006. 154 BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm. Acesso em 22 set. 2006. 155 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em 20 set. 2006. 156 PELLIZZARO, André Luiz. A Sucessão Hereditária na União Estável. Curitibanos: Edipel, 2000. p.63
44
Somente com o advento da Lei nº 8.971/94157 é que o
direito sucessório dos companheiros foi reconhecido. O texto da lei,
publicado no Diário Oficial de 30/12/1994, é o seguinte:
Art. 1º. A companheira comprovada de um homem solteiro,
separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele
viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá
valer-se do disposto na Lei 5.478, de 25/07/1968, enquanto
não constituir nova união e desde que prove a
necessidade.
Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é
reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separada
judicialmente, divorciada ou viúva.
Art. 2º. As pessoas referidas no artigo anterior participarão
da sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes
condições:
I – o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto
não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos
bens do de cujos, se houver filhos deste ou comuns;
II – o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto
não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens
do de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam
ascendentes;
III – na falta de descendentes e de ascendentes, o (a)
companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da
herança.
Art. 3º. Quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da
herança resultarem de atividade em que haja colaboração
do(a) companheiro(a), terá o sobrevivente direito à metade
dos bens.
157 BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm. Acesso em 22 set. 2006.
45
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Como o art. 4º diz respeito à data de publicação da
lei, e o art. 5º à revogação das disposições em contrário, Oliveira158 afirma
que a referida norma trata dos direitos decorrentes da União Estável em
apenas três artigos substanciais, delimitando a situação dos companheiros
e a convivência entre casais “solteiros, separados judicialmente,
divorciados, ou viúvos, por mais de cinco anos, ou com prole dessa união”.
Observa-se que o inciso III do art. 2º da lei alterou a
ordem de vocação hereditária que previa o art. 1.603 do Código Civil de
1.916159, colocando o companheiro na mesma posição em que se
encontrava o cônjuge, ou seja, depois dos descendentes e ascendentes,
e antes dos colaterais, bem como dos Municípios, Distrito Federal e ou
União.
Pellizzaro160 entende que com a edição desta lei, a
União Estável consagrou-se como “verdadeiro instituto jurídico,
colocando-se ao lado do casamento e passando, portanto, a integrar o
direito de família”.
Assim consideram Oliveira e Amorim161:
Passou a ser admitida a sucessão causa mortis entre
companheiros, similar ao direito consagrado ao ex-cônjuge
pelo Código Civil de 1916 nos artigos 1.603, inc. III, e 1.611,
com implícita alteração da ordem de vocação hereditária,
158 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. p.89 159 BRASIL. Lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 03 set. 2006. 160 PELLIZZARO, André Luiz. A Sucessão Hereditária na União Estável. p.34 161 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. AMORIM, Sebastião Luiz. Inventários e partilhas – direito das sucessões. São Paulo: LEUD, 2003. p.162-163
46
uma vez que, existindo companheiro com direito à herança,
afasta-se o chamamento dos colaterais sucessíveis.
Nas palavras de Gomes162, “a existência da união
estável colocou o companheiro, sob a égide da referida lei, na ordem de
sucessão dos herdeiros antes dos colaterais, afastando-os da sucessão”.
Pronuncia-se João Roberto Parizatto163 nesse sentido:
No caso em apreço, igualou-se para fins sucessórios a(o)
concubina(o) ao cônjuge, prevendo-se que, na hipótese de
inexistirem descendentes ou ascendentes do de cujus, a(o)
concubina(o) receberá a totalidade da herança, o que
ocorre, na mesma hipótese, ao cônjuge sobrevivente que
aparece em terceiro lugar na ordem de vocação
hereditária prevista no art. 1.603 do Código Civil.
Baseando-se no teor do artigo 2º, inciso III, Oliveira164
concorda em ser o convivente sobrevivente o herdeiro totalitário em caso
da não existência de descendentes e ascendentes, tornando assim o
companheiro como herdeiro necessário, porém, esta colocação não
recebe total amparo da doutrina.
Por mais que o companheiro tenha se equiparado ao
cônjuge na ordem de vocação hereditária, nos termos do inciso III, do
artigo 2º, da Lei 8.971/94165, não se deve interpretar que tal disposição
legal tenha equiparado a união estável ao casamento, porque, desta
maneira, desnecessária seria a determinação constitucional de converter
162 GOMES, Orlando. Sucessões. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p.67 163 Apud OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Alimentos e Sucessão no casamento e na união estável. p.238 164 OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Alimentos e Sucessão no casamento e na união estável. p.236 165 BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm. Acesso em 22 set. 2006.
47
a união em casamento, conforme ordena o artigo 226, § 3º da
Constituição Federal de 1.988166.
Na concepção de Lisboa167:
Tem-se a impressão, destarte, que a lei regulou a matéria de
forma açodada e discriminatória, desprestigiando o
casamento e desfavorecendo os interesses do cônjuge
sobrevivente. É mais vantajoso, nessa situação jurídica, ser
convivente do que possuir o status de cônjuge supérstite
remanescente de um casamento sob o regime de bens de
comunhão universal, de separação obrigatória de bens ou
de comunhão parcial sem a existência de bens particulares
do autor da herança.
Segundo Venosa168, “embora haja o reconhecimento
constitucional, as semelhanças entre o casamento e a união estável
restringem-se apenas aos elementos essenciais”.
Na interpretação de Mário Roberto Carvalho de
Faria169:
Tendo a Constituição Federal colocado o casamento em
um patamar superior à união estável, não há dúvida de que
a posição do cônjuge é superior à da companheira,
devendo por isso precedê-la na ordem da vocação
hereditária. Discordamos daqueles que entendem estar a
companheira colocada no mesmo plano do cônjuge. Em
havendo cônjuge, jamais será a companheira considerada
herdeira do autor da herança.
Gama170, oportunamente, ensina que: 166 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em 10 set. 2006. 167 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil, volume 5: direito de família e das sucessões. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p.427 168 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2005. p.150 169 Apud OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Alimentos e Sucessão no casamento e na união estável. p.238
48
A missão do intérprete, diante da norma constitucional, é
adotar orientação que não permita reconhecer maiores
benefícios aos companheiros do que aos cônjuges,
inexistindo qualquer vedação que o tratamento seja
idêntico. E é justamente o que ocorre em relação ao direito
previsto no art. 2º, inciso III, da Lei 8.971/94, ou seja, à
equiparação do direito à sucessão dos companheiros ao
direito à sucessão dos cônjuges.
Uma outra evolução, que na concepção de
Rodrigues171, “mostra a boa vontade do legislador para com os
participantes da união estável”, é que o legislador deferiu, conforme
estipula o art. 3º da referida lei, o direito à metade dos bens do pré-morto
ao companheiro sobrevivente, se demonstrado apenas uma colaboração
para a construção do patrimônio, enquanto que a Súmula 380 do
Supremo Tribunal Federal somente admitia a partilha dos bens, se fossem
provados que estes eram decorrentes do esforço comum de ambos
conviventes.
A referida lei teve a finalidade de consagrar o direito
hereditário do companheiro, para que se consolidasse a jurisprudência
dos tribunais e resultasse na pacificação doutrinária, que até então era
esparsa e conflitante. Porém, algumas imperfeições e dúvidas surgiram
com a norma.
Oliveira172, em sua obra, destaca alguns graves vícios
técnicos na redação da lei, argüindo inclusive uma inconstitucionalidade,
no ponto em que a crítica considera um excesso de direitos resguardados
ao companheiro, quando a lei “dá mais direitos ao companheiro que ao
casado, havendo que se restringir para atender aos mesmos princípios
que informam o direito sucessório para o cônjuge sobrevivente”. 170 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O Companheirismo: uma espécie de família. p.427 171 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito de família. p.306 172 OVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. p.91-93
49
Segundo Jorge Lauro Celidônio173, “ao invés de estar
facilitando a conversão em casamento, desestimulando o concubinato,
está, na realidade, estimulando a sua continuidade”, afrontando a norma
constitucional.
A Lei nº 9.278/96174, que aparentemente viria
esclarecer as dúvidas deixadas pela lei anterior, confundiu ainda mais os
direitos do companheiro no plano sucessório, não passando imune à
crítica dos doutrinadores.
Segundo Wald175:
A situação da companheira ficou ainda mais confusa com
a Lei 9.278, de 10.05.1996, que, sem exigir prazo específico
para o reconhecimento da união estável, atribuiu à
companheira (e ao companheiro), que denomina
convivente, o direito à meação em relação aos bens
adquiridos onerosamente, por qualquer um dos integrantes
da união, durante a vigência da mesma (art. 5º), salvo
estipulação contratual em contrário. Por outro lado, ficou
também assegurado ao companheiro sobrevivente o direito
real de habitação na moradia comum, enquanto não
constituir nova união ou não contrair matrimônio (art. 7º,
parágrafo único).
Portanto, com a nova lei, o período para a
caracterização da União Estável, que até então era de cinco anos passou
a deixar de existir, e um único acréscimo feito pela lei foi a garantia do
Direito Real de Habitação ao companheiro sobrevivente, o mesmo direito
reservado ao cônjuge viúvo no artigo 1.611, § 2º, do Código Civil de
173 Apud OVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. p.90 174 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9278.htm. Acesso em 15 set. 2006. 175 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro – direito das sucessões. 11 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p.90
50
1.916176. A lei não se referiu aos direitos de usufruto e de herança, não
revogando o disposto na lei anterior.
No entendimento de Venosa177:
O diploma legal mais recente, Lei nº 9.278/96, que poderia
aclarar definitivamente a questão, mais ainda confundiu,
pois se limitou, laconicamente, a atribuir direito real de
habitação ao companheiro com relação ao imóvel
destinado à residência familiar, enquanto não constituísse
nova união.
No que diz respeito à concessão do Direito Real de
Habitação, quando o companheiro sobrevivente já possuía direito à
herança e ao usufruto nos termos da lei anterior, Oliveira178 expressa-se da
seguinte maneira:
Note-se que a cumulação de direitos sucessórios na união
estável vai além do que o Código Civil de 1.916 prevê ao
cônjuge sobrevivente, com distinções muito claras a quem
tenha sido casado no regime que não seja o da comunhão
de bens, ou no regime da comunhão universal, para acesso
ao usufruto ou à habitação, respectivamente (art. 1.611, §§
1º e 2º).
Uma outra crítica observada por parte da doutrina
aparece quando a lei estabelece em seu art. 1º que: “é reconhecida
como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de
um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição
de família”, nota-se, que o legislador foi omisso quanto às uniões
homossexuais, que, segundo Pellizzaro179, “a existência, e até mesmo
176 BRASIL. Lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 03 set. 2006. 177 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. p.150 178 OVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. p.97 179 PELLIZZARO, André Luiz. A Sucessão Hereditária na União Estável. p.49
51
aceitação, vêm ocorrendo, como se verifica notadamente, na legislação
previdenciária”. O doutrinador cita em sua obra o comentário do
desembargador gaúcho Marco Antonio Scapini180 no que diz respeito às
uniões de pessoas de mesmo sexo:
A Constituição deixou claro que só a união estável entre
pessoas de sexos opostos é reconhecida como entidade
familiar. Afastou, portanto, a concepção de família, num
resquício de conservadorismo preconceituoso, as uniões
heterossexuais. Estas, no entanto, formam parcela
importante e significativa da sociedade, que não pode ser
desprezada.
(...)
Na convivência de pessoas do mesmo sexo, formado
patrimônio com participação mútua, pode-se,
perfeitamente, reconhecer a existência de uma sociedade
de fato, passível de dissolução, tal qual ocorria na visão
antiga do concubinato.
(...)
É corriqueiro amantes, mesmo em relacionamento
extraconjugal, formarem patrimônio comum. Se tal ocorrer
com a contribuição de ambos, pode-se aí, igualmente,
admitir a existência de uma sociedade de fato, resolvendo-
se os litígios com base no Direito das Obrigações (Revista da
Ajuris nº 53, p.305).
Contudo, apesar das críticas sofridas pela doutrina em
relação à redação e à técnica legislativa utilizadas pelo legislador na
elaboração da Lei nº 8.971/94181, é de se considerar que um importante
caminho foi percorrido para o cumprimento da norma constitucional,
180 Apud PELLIZZARO, André Luiz. A Sucessão Hereditária na União Estável. p.49-50 181 BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm. Acesso em 22 set. 2006.
52
sendo que, em matéria sucessória, o maior avanço se deu com o advento
da Lei nº 9.278/96182, que supriu a lacuna deixada em relação aos
conviventes, no que tange o direito sucessório de propriedade e usufruto,
e, ainda, introduziu o direito de habitação em caso de União Estável.
Ressalta-se que até a entrada em vigor do atual
Código Civil, o entendimento doutrinário é no sentido de que a Lei
9.278/96 não havia ab-rogado a lei 8.971/94, o que propiciou a vigência
conjunta das mesmas. Segundo Oliveira183, “deu-se, pois, somente a
derrogação da Lei 8.971/94, porque revogada em parte, naquilo que se
tornou incompatível com os termos da Lei 9.278/96”.
3.2 A SUCESSÃO DO COMPANHEIRO NO ATUAL CÓDIGO CIVIL
Tratando-se da sucessão do companheiro e o amparo
do atual Código Civil, inicia-se o estudo com a seguinte afirmação de
Venosa184: “O mais moderno Código conseguiu ser perfeitamente
inadequado ao tratar do direito sucessório dos companheiros”.
O vigente Código Civil retrocedeu consideravelmente
a matéria relativa à sucessão do companheiro sobrevivente na União
Estável. Em local impróprio e em apenas um único dispositivo, o código
define a situação dos companheiros no que se refere ao direito sucessório.
Dispõe o artigo 1.790185:
182 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9278.htm. Acesso em 15 set. 2006. 183 OVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. p.98 184 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. p.155 185 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006.
53
Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da
sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos
onerosamente na vigência da união estável, nas condições
seguintes:
I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota
equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
II – se concorrer com descendentes só do autor da herança,
tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;
III – se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito
a um terço da herança;
IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à
totalidade da herança.
O dispositivo sofre várias críticas por parte da doutrina.
Primeiramente, acredita-se que a matéria está disposta em lugar incorreto
do Código Civil, por se encontrar no capítulo das disposições gerais sobre
o Direito das Sucessões, sendo que deveria constar no título da Sucessão
Legítima, que abrange os descendentes, ascendentes, cônjuge e
colaterais, capítulo este sobre a Ordem da Vocação Hereditária.
Hironaka186 transcreve da seguinte maneira:
Não obstante sua importância, parece, todavia, que a
regra está topicamente mal colocada. Trata-se de
verdadeira regra de vocação hereditária para as hipóteses
de união estável, motivo pelo qual deveria estar situada no
capítulo referente à ordem de vocação hereditária.
Para Oliveira187:
186 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentário ao Código Civil: parte especial: do direito das sucessões, vol. 20 (arts. 1.784 a 1.856). São Paulo: Saraiva, 2003. p.53 187 OVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. p.105
54
O novo código sequer inclui o companheiro na ordem da
vocação hereditária, limitando-se a tratar de seus direitos
nas disposições gerais do Direito das Sucessões.
(...)
É certo que também o companheiro tem direito à herança,
ainda que de forma distinta daquela prevista para o
cônjuge, mas não pode ser excluído da qualidade de
sucessor legítimo, em determinadas circunstâncias.
No entendimento de Venosa188:
A impressão que o dispositivo transmite é de que o legislador
teve rebuços em classificar a companheira ou companheiro
como herdeiros, procurando evitar percalços e críticas
sociais, não os colocando definitivamente na disciplina da
ordem de vocação hereditária. Desse modo, afirma
eufemisticamente que o consorte da união estável
“participará” da sucessão, como se pudesse haver um
meio-termo entre herdeiro e mero “participante” da
herança.
Verifica-se, ao analisar os artigos 1.790, 1.845 e 1.846 do
Código Civil189, que o companheiro, ao contrário do cônjuge supérstite,
não aparece como herdeiro necessário, o que acarreta uma possibilidade
do autor da herança dispor, em testamento, da integralidade de seu
patrimônio, ressalvado, conforme o caso, ao companheiro sobrevivente o
direito de meação quanto aos bens adquiridos onerosamente na
constância da união estável.
Sobre a restrição da participação do companheiro na
sucessão do outro somente sobre os bens adquiridos onerosamente na
vigência da União Estável, constatada no caput do artigo 1.790, adverte-
188 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. p.156 189 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006.
55
se que esta não estava prevista na Lei nº 8.971/94190, em que o
companheiro poderia herdar a integralidade da herança quando não
existisse descendente ou ascendente. Por outro lado, o inciso IV deste
artigo ressalta que não havendo parentes sucessíveis o companheiro terá
direito à totalidade da herança. Com isto, observa-se uma dificuldade ao
se interpretar o caput e o inciso IV simultaneamente.
Ainda no caput do artigo 1.790191, verifica-se a
confusão que o legislador fez entre sucessão e meação. Zeno Veloso192 faz
a distinção entre os dois institutos, ensinando que a meação é decorrente
de uma relação patrimonial existente em vida, estabelecida por lei ou
pela vontade das partes, enquanto que a sucessão hereditária origina-se
na morte, e transmite-se aos sucessores conforme as previsões legais
(sucessão legítima) ou a vontade do hereditando (sucessão
testamentária).
Inácio de Carvalho Neto193 deu o seguinte parecer
acerca da confusão desencadeada pelo legislador:
Em primeiro lugar, limita o art. 1.790 à sucessão aos bens
adquiridos na vigência da união estável. Esse fato mostra a
confusão que o legislador fez entre sucessão e meação.
Veja-se o absurdo desta regra: não tendo o de cujus
deixado nenhum outro herdeiro sucessível, o companheiro
recolherá todos os bens adquiridos na constância da união
a título oneroso, e os demais bens serão considerados
vacantes, passando ao domínio da Fazenda Pública. Não
190 BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm. Acesso em 22 set. 2006. 191 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006. 192 Zeno Veloso - União estável e direitos sucessórios à luz do Direito Civil-Constitucional. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8213&p=2 Acessado em 19/08/2006. 193 Inácio de Carvalho Neto – A sucessão do cônjuge e do companheiro no novo Código Civil. Disponível em http://www.mundolegal.com.br/?FuseAction=Doutrina_Detalhar&di d=20168 Acessado em 19/08/2006.
56
obstante a confusão, prevalece ainda a distinção, já que o
art. 1.725 é claro em falar do regime de bens na união
estável. Não vemos incompatibilidade entre as duas
disposições. Nada impede que o companheiro tenha direito
à meação e à herança. Mas esta será sempre (ressalve-se a
hipótese de haver testamento beneficiando o
companheiro, quando então poderá este ser contemplado
inclusive com bens anteriores à união) sobre os bens
adquiridos na constância da união a título oneroso.
Portanto, segundo a redação do art. 1.790, ocorrendo
a hipótese de inexistirem descendentes, ascendentes ou outros parentes
sucessíveis, e também não existirem bens adquiridos onerosamente ao
longo da vigência da união estável, pode-se chegar à conclusão de que
o companheiro não terá direito à sucessão, e os bens do de cujus
adquiridos antes da união estável passarão ao Município ou ao Distrito
Federal. Porém, a referida interpretação poderá ser defasada a partir da
previsão do art. 1844 do Código Civil de 2002194, o que não exime de
críticas o caput do art. 1.790.
Rodrigues195 tem as seguintes considerações em
relação à atual norma civil e as mudanças nela trazidas:
Em vez de fazer as adaptações e consertos que a doutrina
já propugnava, especialmente, nos pontos em que o
companheiro sobrevivente ficava numa situação mais
vantajosa do que a viúva ou o viúvo, o Código Civil coloca
os partícipes de união estável, na sucessão hereditária,
numa posição de extrema inferioridade, comparada com o
novo status sucessório dos cônjuges. (...) Diante desse
surpreendente preceito, redigido de forma inequívoca, não
se pode chegar à outra conclusão senão a de que o direito
sucessório do companheiro se limita e se restringe, em
194 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006. 195 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Direito das Sucessões. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.117
57
qualquer caso, aos bens que tenham sido adquiridos
onerosamente na vigência da união estável. (...) Sendo
assim, se durante a união estável dos companheiros, não
houve aquisição, a título oneroso, de nenhum bem, não
haverá possibilidade de o sobrevivente herdar coisa
alguma, ainda que o de cujus tenha deixado valioso
patrimônio, que foi formado antes de constituir união
estável.
Visto que, pela lei anterior, o companheiro era o
terceiro na ordem da vocação hereditária, nota-se uma considerável
redução em sua participação, uma vez que, segundo Oliveira196, pelo
código vigente, o companheiro concorrerá com os colaterais. Porém, será
favorecido, concorrendo este com ascendentes e descendentes, assim
como se reconhece ao cônjuge sobrevivente. O referido autor comenta
que “trata-se de evidente retrocesso no critério no sistema protetivo da
união estável, pois no regime da Lei 8.971/94 o companheiro recebia toda
a herança na falta de descendentes ou ascendentes”.
Rodrigues197 é enfático quando diz:
Nada justifica colocar-se o companheiro sobrevivente numa
posição tão acanhada e bisonha na sucessão da pessoa
com quem viveu pública, contínua e duradouramente,
constituindo uma família, que merece tanto
reconhecimento e apreço e que é tão digno quanto a
família fundada no casamento. O correto, como fazia a Lei
nº 8.971/94, art. 2º, III, teria sido colocar o companheiro
sobrevivente à frente dos colaterais.
Outro benefício que a lei dispõe somente a favor do
cônjuge é o que traz o artigo 1.832198. Na concorrência com os
196 OVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. p.211 197 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Direito das Sucessões. p.119 198 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006.
58
descendentes, “caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem
por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da
herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer”,
enquanto que se o companheiro concorrer com descendentes somente
do autor da herança terá direito à metade que couber a cada um deles,
e concorrendo com outros parentes sucessíveis terá direito a 1/3 (um
terço) da herança (artigo 1.790, incisos II e III).
Um detalhe que se deve observar, ressalta Fernanda
Moreira dos Santos199, é que no inciso I a lei menciona a palavra “filhos”,
enquanto que no inciso II a palavra é “descendentes”. Deve-se, portanto,
interpretar o inciso I de forma ampliada, compreendendo os
descendentes de modo a evitar injustiças na hipótese de não haver filhos,
porém netos em comum, por exemplo. Ocorre, como se verifica, uma má
técnica legislativa.
Uma última controvérsia que gera discussão no âmbito
doutrinário é saber se o vigente Código Civil200 revogou ou não os
dispositivos das Leis 8.971/94201 e 9.278/96202, pois não o fez expressamente.
Busca-se definir se o direito real de habitação, previsto no art. 7º,
parágrafo único da Lei n. 9.278/96, e o usufruto vidual em favor do
companheiro sobrevivente, previsto nos incisos I e II do art. 2º da Lei nº
8.971/94, ainda prevalecem diante da atual norma civil, pois esta não os
mencionou, o que significa outro recuo. Este será o objeto de estudo do
título que dá seqüência a este trabalho. 199 Fernanda Moreira dos Santos – União estável e direitos sucessórios à luz do Direito Civil-Constitucional. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8213&p=2 Acessado em 22/08/2006. 200BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006. 201 BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm. Acesso em 22 set. 2006. 202 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9278.htm. Acesso em 15 set. 2006.
59
No entendimento de Cahali203
Houve a revogação dos artigos referidos por
incompatibilidade com a nova lei. Com efeito, o art. 1.790
estabelece que o companheiro ou companheira
“participará da sucessão do outro (...) nas condições
seguintes”. Fora das condições previstas na norma, o
sobrevivente não participa da sucessão de seu falecido
companheiro; e aqueles direitos não deixam de representar
uma forma de participar da sucessão. Vale dizer, neste
particular – sucessão decorrente da união estável -, o novo
Código disciplinou inteiramente a matéria, revogando,
assim, os efeitos sucessórios entre os conviventes previstos
em normas anteriores.
Oliveira204 transcreve da seguinte forma acerca das
mudanças ocorridas com o advento do atual Código Civil205 em relação à
sucessão dos companheiros:
Nada mais se contempla em favor do companheiro além
do discutível e limitado direito de herança. Decai o direito
de usufruto, não mais previsto no novo ordenamento civil, o
que se justifica diante da participação do companheiro
(assim como do cônjuge) na herança atribuída aos
descendentes e ascendentes. Também desaparece, e aqui
sem justificativa, o direito de habitação em favor do
companheiro, muito embora seja previsto para o cônjuge
sobrevivente (art. 1.831 do novo Código Civil), que ainda
passa a qualificar-se como herdeiro necessário (art. 1.845 do
novo Código Civil). Como se verifica, o direito sucessório do
companheiro é flagrantemente discriminatório, em
comparação com a posição reservada ao cônjuge, nada
justificando essa diversidade de tratamento legislativo
quando todo o sistema jurídico, à luz da Constituição,
203
CAHALI, Francisco José. Curso Avançado de Direito Civil. 2 ed. São Paulo: Editora RT,
2003. p.232 204 OVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do novo código civil. p.213 205 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 16 set. 2006.
60
recomenda proteção jurídica à união estável como forma
alternativa de entidade familiar, ao lado do casamento.
Rodrigues206 sintetiza em um único parágrafo a
decepção causada aos doutrinadores e à toda comunidade jurídica
pelas falhas e erros trazidos pela atual lei civil:
O Código Civil regulou o direito sucessório dos
companheiros com enorme redução, com dureza imensa,
de forma tão encolhida, tímida e estrita, que se apresenta
em completo divórcio com as aspirações sociais, com as
expectativas da comunidade jurídica e com o
desenvolvimento de nosso direito sobre a questão.
Ante todo o exposto, nota-se que, no que tange o
Direito Sucessório dos companheiros, o Código Civil de 2002 representou
um grande retrocesso em relação às conquistas alcançadas por meio da
legislação especial. As leis 8.971/94 e 9.278/96 haviam conferido ao
companheiro garantias que os deixaram muito próximos aos direitos do
cônjuge, e, em algumas ocasiões, em situações até mais benéficas.
Porém, a edição do vigente Código Civil reduziu significativamente o
amparo que vinha sendo oferecido no plano sucessório ao convivente,
deixando este em posição muito inferior se comparados ao cônjuge.
No próximo item irá se definir a posição da doutrina e
da jurisprudência quanto ao Direito Real de Habitação reservado ao
companheiro sobrevivente.
3.3 A GARANTIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO COMPANHEIRO
SOBREVIVENTE NA UNIÃO ESTÁVEL
Como já visto anteriormente, o Direito Real de
Habitação do companheiro foi introduzido no ordenamento jurídico
206 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Direito das Sucessões. p.119
61
brasileiro com a Lei 9.278/96207, por intermédio do seu artigo 7º, parágrafo
único. Após o advento da referida lei, estava assegurada, ao cônjuge
sobrevivente, a garantia de continuar residindo na moradia do casal,
desde que aquele bem fosse o único daquela natureza a inventariar e
enquanto se mantivesse o estado de viuvez.
O vigente Código Civil208 trata do Direito Real de
Habitação em seu artigo 1.831, porém, não faz referência à União Estável.
Logo, o artigo 1.790 do Código Civil, que ampara a União Estável, nada
menciona a respeito do Direito Real de Habitação. Dessa forma,
identifica-se a grande controvérsia em torno do direito reservado aos
conviventes, afinal, o parágrafo único da Lei 9.278/96 foi revogado ou não
pelo Código Civil de 2002? A grande maioria da doutrina entende que
não, assim como as decisões proferidas pelos tribunais.
Preceitua Rodrigues209:
O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à
residência da família, que a legislação anterior conferia ao
companheiro sobrevivente, não foi mencionado no Código
Civil, com relação à união estável, o que significa outro
recuo. Porém, como o direito real de habitação,
relativamente ao imóvel destinado à residência da família,
foi previsto em lei especial (Lei nº 9.278/96, art. 7º, parágrafo
único), e como esse benefício não é incompatível com
qualquer artigo do novo Código Civil, uma corrente poderá
argumentar que ele não foi revogado, e subsiste. Em
contrapartida, poderá surgir opinião afirmando que o
aludido art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/96 foi
revogado pelo Código Civil, por ter este, no art. 1.790,
regulado inteiramente a sucessão entre companheiros, e,
207 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9278.htm. Acesso em 15 set. 2006. 208 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 16 set. 2006. 209 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Direito das Sucessões. p.119
62
portanto, não houve omissão quanto ao aludido direito real
de habitação, mas silêncio eloqüente do legislador.
Na seqüência, verificam-se as versões de alguns
doutrinadores a respeito da temática.
Para Hironaka210:
Não estabelece o Código Civil atual o direito real de
habitação previsto pela Lei nº 9.278/96, devendo-se, por
isso, e em analogia com a situação garantida ao cônjuge e
autorizada pela Constituição Federal, ter o dispositivo do art.
7º, parágrafo único, desta lei como não revogado.
Venosa211, nesse mesmo sentido, ensina que:
A Lei nº 9.278/96 estabelecera, no art. 7º, o direito real de
habitação quando dissolvida a união estável pela morte de
um dos companheiros, direito esse que perduraria enquanto
vivesse ou não constituísse o sobrevivente nova união ou
casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência
da família. Somos da opinião de que é perfeitamente
defensável a manutenção desse direito no sistema do
Código de 2002. Esse direito foi incluído na referida lei em
parágrafo único de artigo relativo à assistência material
recíproca entre os conviventes. A manutenção do direito de
habitação no imóvel residencial do casal atende às
necessidades de amparo do sobrevivente, como um
complemento essencial ao direito assistencial de alimentos.
Esse direito mostra-se em paralelo ao mesmo direito
atribuído ao cônjuge pelo atual Código no art. 1.831. Não
somente essa disposição persiste na lei antiga, como
também, a nosso ver, a conceituação do art. 5º, que diz
respeito aos bens móveis e imóveis que passam a pertencer
aos conviventes no curso da união estável. De qualquer
forma, a situação desses dispositivos é dúbia e trará
incontáveis discussões doutrinárias e jurisprudenciais.
210 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentário ao Código Civil: parte especial: do direito das sucessões, vol. 20 (arts. 1.784 a 1.856). p.56 211 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. p.158
63
Também entendendo pela manutenção do direito real
de habitação na união estável, após a entrada em vigor do Código Civil
de 2002212, destaca-se o ensinamento de Diniz213:
(...) urge lembrar que o companheiro sobrevivente, por
força da Lei 9.278/96, art. 7º, parágrafo único, e,
analogicamente, pelo disposto nos arts. 1.831 do Código
Civil, e 6º da Constituição Federal (Enunciado n. 117 do STJ,
aprovado nas Jornadas de Direito Civil de 2002), também
terá direito real de habitação, enquanto viver ou não
constituir nova união ou casamento, relativamente ao
imóvel destinado à residência de família; mas pelo Código
Civil tal direito só é deferido ao cônjuge sobrevivente.
Diante da omissão do Código Civil, o art. 7º, parágrafo
único daquela Lei estaria vigente por ser norma especial.
Cahali214, entendendo os argumentos utilizados por tais
estudiosos, porém, apenas no que tange a subsistência do Direito Real de
Habitação, não se relacionando com o Usufruto, posiciona-se
diferentemente:
Sustentarão alguns estudiosos, com bons argumentos, que o
Código não revoga lei especial, como aquelas. Utilizam esta
fundamentação, porém, apenas para sustentar a
subsistência do direito real de habitação, silenciando
quanto ao usufruto.
A premissa é verdadeira, quando se afirma que a legislação
especial não foi revogada. Porém, a nova regra restringe
expressamente a participação do herdeiro nas condições
nela estabelecidas. Daí a incompatibilidade das normas
apta a gerar a revogação daquelas previsões. Se assim não
for, estaria subsistindo, também, pelas mesmas razões, o
212 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006. 213 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 6: direito das sucessões. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 117 214 CAHALI, Francisco José. Curso Avançado de Direito Civil. p.233
64
usufruto, criando uma situação privilegiada para o
companheiro sobrevivente.
Com a mesma interpretação, Bráulio Dinarte da Silva
Pinto215 enfatiza:
(...) não consigo ver direito real de habitação como o
resultado sucessório de uma união estável, quando o óbito
tiver ocorrido sob a vigência da nova lei. Tal injustiça deve
ser enfrentada pelo legislador, de tal forma a, melhorando o
texto legal, resolver tal problema. Porém, não pode o
homem do direito, que não tem função legislativa, avocar
para si a responsabilidade de legislar e de aplicar direito
que inexiste, a benefício de uns, mas prejuízo de outros. A
omissão da lei nova serviu para revogar o direito ao usufruto
vidual, e tal é indiscutível na posição uniforme da doutrina.
Mas por que alguns sustentam que a omissão do Código de
2.002 não retirou o direito real de habitação dos
companheiros? Sustentam, os defensores do direito à
habitação aos companheiros, que tal resulta ainda do
parágrafo único, do art 7o, da Lei 9.278/96. A Lei 9.278/96
está revogada. O caput do art. 7o, da Lei 9.278/96, também
está revogado. Todos os demais dispositivos da Lei 9.278/96
estão revogados, menos o parágrafo único, do art. 7o.
Portanto, estamos diante de uma lei que foi integralmente
revogada pela nova lei, menos um único parágrafo que se
mantém vivo e vigente. Data maxima venia, não consigo
aceitar tal interpretação. Entendo a preocupação e o
desejo de proteger a união estável, aproximando-a, ao
máximo, e até igualando-a, ao casamento. Mas não
consigo aceitar a manutenção de um parágrafo solto e
perdido no meio de uma lei revogada. E não consigo ler
direito real de habitação no art. 1.790 e nem ler união
estável no art. 1.831.
215 Bráulio Dinarte da Silva Pinto - Direito real de habitação no novo Código Civil. http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9745 Acessado em 02/10/2006.
65
Diante desta lacuna, o Projeto de Lei nº 6960/2002216,
visando alterar o artigo 1.790 do Código Civil, apresenta a seguinte
redação:
Projeto de Lei nº 6960/2002 - O companheiro participará da
sucessão do outro na forma seguinte:
I – em concorrência com descendentes, terá direito a uma
quota equivalente à metade do que couber a cada um
deles, salvo se tiver havido comunhão de bens durante a
união estável e o autor da herança não houver deixado
bens particulares, ou se o casamento dos companheiros se
tivesse ocorrido, observada a situação existente no começo
da convivência, fosse pelo regime da separação
obrigatória(art. 1641);
II – em concorrência com ascendentes, terá direito a uma
quota equivalente à metade do que couber a cada um
deles;
III – em falta de descendentes e ascendentes, terá direito à
totalidade da herança.
Parágrafo único: Ao companheiro sobrevivente, enquanto
não constituir nova união ou casamento, será assegurado,
sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o
direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado
à residência da família, desde que seja o único daquela
natureza a inventariar.
Nesse sentido, é de se destacar o Enunciado 117 do
Superior Tribunal de Justiça, aprovado nas Jornadas de Direito Civil de
2002217:
216 Projeto de Lei 6960/2002, que visa alterar o artigo 1.790 do Código Civil. Data da apresentação: 12/06/2002. Disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe. asp?id=56549
66
Enunciado 117 – Art. 1831: o direito real de habitação deve
ser estendido ao companheiro, seja por não ter sido
revogada a previsão da Lei n. 9.278/96, seja em razão da
interpretação analógica do art. 1831, informado pelo art. 6º,
caput, da CRFB/88.
A extinção do direito real de habitação se dá com a
morte do companheiro, ou com a constituição por este de nova união
estável ou casamento, ou, ainda, com a ocorrência de alguma das
hipóteses que ensejam a extinção do usufruto (Código Civil de 2002218,
artigo 1.416). O companheiro pode, ainda, renunciar ao direito real de
habitação, por se tratar de direito sucessório.
Observar-se-á, a seguir, que a jurisprudência é
praticamente unânime em conceder o Direito Real de Habitação ao
companheiro sobrevivente, desde que comprovada a União Estável e
preenchido os requisitos, como destinação do bem (moradia), e desde
que o bem seja único de natureza residencial a inventariar.
3.4 OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS E A CONCESSÃO DO DIREITO REAL
DE HABITAÇÃO AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE
A jurisprudência brasileira vem decidindo da seguinte
maneira quanto ao cabimento do Direito Real de Habitação:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - UNIÃO ESTÁVEL - DIREITO REAL
DE HABITAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 9.278/96 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
MEDIDA LIMINAR - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DO ART.
927 DO CPC - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - AGRAVO
DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento n. 2001.000060-7, de
217 Enunciado aprovado na Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado, do STJ.
218 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15 set. 2006.
67
Criciúma. Relator: Des. Luiz Carlos Freyesleben, em
29/08/2002)219.
A ementa acima transcrita é agravo de instrumento
interposto pelos herdeiros da falecida e seu espólio, contra decisão
proferida pela Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Criciúma, que indeferiu pedido de liminar visando à reintegração de posse
dos herdeiros no imóvel de propriedade da autora da herança.
Comprovada a União Estável entre o agravado e a
falecida, a Juíza teve como fundamento o parágrafo único do artigo 7º
da Lei 9.278/96220, negando o provimento do recurso.
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DIREITO REAL
DE HABITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA LEI 9.278/96 E DO ARTIGO
226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERMANÊNCIA DA
COMPANHEIRA NO IMÓVEL - UNIÃO ESTÁVEL - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Reconhecida a união estável, dissolvida por morte de
um dos conviventes, prescreve o parágrafo único, do artigo 7º, da Lei
9.278/96 que é assegurado ao sobrevivente o direito real de habitação,
enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente
ao imóvel destinado à residência da família, o que não interferirá no
direito sucessório dos herdeiros em relação ao referido bem”. (AC nº
98.008621-3, de São Francisco do Sul, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz,
em 10/12/01)221.
219 Disponível em www.tj.sc.gov.br Acessado em 02/10/2006. Grifo meu. 220 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9278.htm. Acesso em 15 set. 2006. 221 Disponível em www.tj.rs.gov.br Acessado em 02/10/2006. Grifo meu
68
Em caso idêntico, assim decidiu o Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul:
“ACÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. LEI
9.278/96. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SENDO
INCONTROVERSO QUE A AGRAVANTE RESIDIA HÁ ALGUNS
ANOS NO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA, EM ALEGADA
SITUAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS, ATÉ A
DATA DO ÓBITO DESSE, E ESTANDO DEMANDANDO EM JUÍZO
O RECONHECIMENTO DAQUELE VÍNCULO, NÃO ESTÁ
CARACTERIZADA SITUAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO
SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DE LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS SUCESSORES DO FALECIDO,
QUE SEQUER COABITAVAM NO IMÓVEL, MORMENTE NÃO
ESTANDO PROVADA SITUAÇÃO DE POSSE NOVA. O ART. 7º,
PARAGRÁFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.278/96 ASSEGURA AO
SOBREVIVENTE DA RELAÇÃO ESTÁVEL DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO NO IMÓVEL QUE CONVIVIAM, AINDA QUE AQUELA SITUAÇÃO ESTEJA SUB JUDICE, HIPÓTESE QUE
REFORÇA A TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE, CABENDO AO MÉRITO
DA DEMANDA A SOLUÇÃO DO FEITO POSSESSÓRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (AI nº 70003211836,
Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, em 08/11/01).
Outra decisão no mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO. O parágrafo único do art. 7º da Lei nº. 9.278/96
assegura à companheira sobrevivente da relação estável o
direito real de habitação no imóvel em que residia com o
falecido desimportando que ela possua imóvel próprio.
Precedentes. Apelação Provida”. (APELAÇÃO CÍVEL:
70013330881. Rel. José Ataídes Siqueira Trindade. TJRS. Data
do julgamento 22/12/2005)222.
222 Disponível em www.tj.rs.gov.br Acessado em 02/10/2006. Grifo meu
69
Observa-se a decisão proferida pela Comarca da
Capital:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA - QUE DETERMINA A RESERVA DA METADE
DOS BENS INVENTARIADOS E O DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - GARANTIA DE EVENTUAIS DIREITOS DA CONCUBINA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”. (Agravo de
instrumento n. 2002.021566-5, da Capital - Fórum Distrital do
Estreito. Relator: Des. Wilson Augusto do Nascimento, em
28/02/2003)223.
Trata-se de agravo de instrumento interposto com o
desiderato de ver reformada a decisão interlocutória que determinou a
reserva de metade dos bens inventariados em favor da agravada, bem
como lhe conferiu o Direito Real de Habitação. Com efeito, o Juiz
declarou que o Direito Real de Habitação reconhecido pelo julgador a
quo, deveria ser mantido até a decisão definitiva da lide, resguardando,
assim, os direitos da agravada.
A este respeito, decidiu a Câmara, por votação
unânime, negar provimento ao recurso:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA CONCUBINA -
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - AGRAVO DESPROVIDO”.(ACV n. 98.015244-5 - Rel.
Juiz Torres Marques).
Nesse mesmo sentido se manifesta o Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná:
223 Disponível em www.tj.sc.gov.br Acessado em 02/10/2006. Grifo meu
70
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO
ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA CONVIVENTE
SOBREVIVENTE. O ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº
9.278/96 ASSEGURA AO CONVIVENTE SOBREVIVENTE DA
RELAÇÃO ESTÁVEL DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL
EM QUE RESIDIA COM O FALECIDO, NÃO IMPORTANDO QUE
O BEM TENHA SIDO ADQUIRIDO ANTES DO
RELACIONAMENTO, MESMO PORQUE O DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO ESTÁ CALCADO NOS PRINCÍPIOS DA
SOLIDARIEDADE E MÚTUA ASSISTÊNCIA, ÍNSITOS À UNIÃO
ESTÁVEL. Apelação desprovida”. (TJRS, Ap. Cív. Nº
70009713736, 8a CC, Rel. Des. José S. Trindade, julgamento:
21/10/2004)224.
Portanto, esse é o posicionamento que a jurisprudência
vem tomando quanto à concessão do Direito Real de Habitação ao
companheiro sobrevivente na União Estável.
224 Disponível em www.tj.pr.gov.br Acessado em 02/10/2006. Grifo meu
71
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visto que, a União Estável é a convivência não
adulterina, nem incestuosa, entre casais de sexo oposto, de forma
duradoura, pública e contínua, sem nenhum vínculo matrimonial entre
eles, porém convivendo como se casados fossem, a presente pesquisa
tratou de estabelecer os direitos sucessórios decorrentes dessa relação.
Não teve o objetivo de esgotar o assunto, mas buscou levantar as
necessidades dos companheiros, principalmente no que diz respeito à
concessão do Direito Real de Habitação ao companheiro sobrevivente
desta união, e o seu amparo diante do atual ordenamento jurídico
brasileiro.
A Constituição Federal de 1.988 admitiu a União Estável
como “entidade familiar”, posta sobre a proteção do Estado, inseriu a
matéria no âmbito do Direito de Família. A partir daí, deixou de gozar o
casamento da aptidão exclusiva para servir de fundamento à família.
Para a regulamentação da matéria relativa ao direito
sucessório entre companheiros, de acordo com o artigo 226, § 3º, da
Constituição Federal, foram promulgadas duas leis: a Lei 8.971/94 e a
9.278/96. Ambas não chegaram a expressar originariamente o atual
panorama brasileiro, mas elevaram os direitos originados da União Estável
a patamares similares ao do casamento, conferindo semelhança aos
cônjuges e companheiros, e, em algumas situações, deixando os
companheiros em posição até mais benéfica que o próprio cônjuge. A
dúvida que existia era se, o advento da segunda lei havia, ou não,
revogado a primeira, restando lacunosa a interpretação por algum
tempo.
72
Com o advento do atual Código Civil, pensava-se que
as dúvidas que até então haviam diante das lacunas deixadas pelas leis
especiais seriam preenchidas, porém, o Código Civil veio confundir ainda
mais os intérpretes e aplicadores dessas, com a entrada em vigor.
Embora não haja revogação expressamente pelo
Código das Leis 8.971/94 e a 9.278/96, com base nas pesquisas, conclui-se
que a Lei nº 8.971/94 foi revogada tacitamente porque o atual Código
abordou todos os assuntos nela contidos, e a Lei n. 9.278/96 não foi
totalmente revogada porque permaneceu em vigor o parágrafo único,
do artigo 7º, de que trata o Direito Real de Habitação, direito este
garantido ao cônjuge sobrevivente de morar no imóvel que servia de
residência à família.
Se houvesse limitação a este direito, ter-se-ia uma
grave injustiça. O legislador garantiu ao cônjuge o Direito Real de
Habitação no artigo 1.831 do Código Civil, por analogia, aplicar-se-ia o
mesmo ao companheiro, e ainda, se a norma especial já previa este
direito, não convém revogar e desamparar o companheiro suprimindo o
parágrafo único, do artigo 7º da Lei 9.278/96, embora este
posicionamento contrarie o pensamento de alguns doutrinadores.
A situação do cônjuge sobrevivente melhorou no que
diz respeito aos problemas de ordem sucessória, ampliando-se os direitos
que lhe assistem. Quanto ao companheiro, em parte acompanhando as
inovações em relação ao cônjuge, também acolhe melhoramentos. Mas
no que se distanciou da sucessão do cônjuge, foi efetivamente um
desastre a regulamentação da matéria. Era de se esperar que o
companheiro supérstite tivesse também sua condição privilegiada,
relativamente àquela condição anteriormente descrita em leis, e tivesse
garantido a igualdade de direito em relação ao cônjuge sobrevivente,
fazendo-se, assim, valer o direito constitucional em sua amplitude.
73
Como se observou na regulamentação do direito
sucessório do companheiro no vigente Código Civil, não houve as
adaptações e consertos solicitados pela maioria dos doutrinadores, mas
sim uma regulamentação estrita, que frustra as expectativas da
comunidade jurídica e flagela as aspirações dessas entidades familiares.
Vem, por isso, recebendo críticas doutrinárias,
começando por classificar o companheiro como herdeiro eventual e
mero participante. É lamentável o fato de o legislador ter regulado a
sucessão do companheiro no capítulo das Disposições Gerais (Capítulo I,
do Título I, do Livro V, da Parte Especial), enquanto que a sucessão do
cônjuge é corretamente tratada no capítulo Da Ordem de Vocação
Hereditária, que se coloca no âmbito da Sucessão Legítima (Capítulo I, do
Título II). Com isso, o partícipe da União Estável encontra-se em posição
inferior em relação à nova posição sucessória do cônjuge.
Embora o legislador tenha deixado de colocar
expressamente o companheiro supérstite como herdeiro necessário, óbice
não há que ele concorra com os descendentes comuns, na ordem de
vocação hereditária, como herdeiro necessário.
Outro tratamento reducionista concedido à União
Estável é o que limita o direito do companheiro de só receber a totalidade
da herança na inexistência de parentes colaterais de quarto grau (primos,
sobrinhos netos, tios avós).
Ademais, analisando o caput do artigo 1.790 do
Código Civil, constata-se a restrição da participação do companheiro na
sucessão do outro somente sobre os bens adquiridos onerosamente na
vigência da união estável. Valendo advertir que esta restrição não
imperava na Lei nº 8.971/94, em que o companheiro poderia herdar a
integralidade do acervo quando não existisse descendente ou
ascendente. Por outro lado, o inciso IV deste artigo ressalta que não
74
havendo parentes sucessíveis o companheiro terá direito a totalidade da
herança. Observa-se, com isto, um problema ao interpretar o caput e o
inciso IV, conjuntamente.
Aos aplicadores do direito caberá uma interpretação
construtiva com o objetivo de garantir ao companheiro, na ausência de
outros herdeiros, a totalidade da herança, por força do inciso IV, do artigo
1.790 e do artigo 1.844, não permitindo assim que a herança se torne
vacante e passe para o acervo do Município, do Distrito Federal ou da
União.
Enfim, o Direito Real de Habitação sobre o imóvel
destinado à residência da família, objeto primordial deste trabalho, que a
legislação anterior conferia ao companheiro sobrevivente, em relação à
união estável, não foi mencionado no atual Código Civil, significando,
assim, mais um retrocesso da legislação vigente.
Os debates sobre este tema, embora tenha sido pauta
de discussão entre os diversos estudiosos do Direito, ainda perdurará por
algum tempo, por estar ainda em discussão no Congresso Nacional as
mudanças em relação à sucessão expressa no artigo 1.790 do Código Civil
e o amparo da garantia do Direito Real de Habitação ao companheiro da
União Estável, e ainda pelo fato da sucessão das uniões entre
homossexuais continuarem sem qualquer previsão legal. Porém, cedo ou
tarde, creio que haverá de ser reconhecida seus direitos como entidade
familiar por força do princípio da dignidade da pessoa humana.
Os doutrinadores, bem como os tribunais, vêm se
posicionando favoravelmente ao companheiro no que se refere à
concessão do Direito Real de Habitação, desde que comprovados os
requisitos para a caracterização da União Estável, e desde que o imóvel
seja único a ser inventariado com a finalidade de moradia. Porém, crê-se
que muito ainda se tem que fazer, para se definir, com clareza, os limites e
75
o alcance do Direito Real de Habitação, na nova formatação que lhe foi
outorgada pela Lei de 2.002. Progride-se, com debates e discussões a
respeito, e esta pesquisa teve esta finalidade.
Quanto às hipóteses de pesquisa, as mesmas foram
devidamente confirmadas no seguinte sentido:
a) É a União Estável uma entidade familiar,
reconhecida constitucionalmente, formada entre homem e mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e
estabelecida com o objetivo de constituição de família, sem vínculo
matrimonial, porém, vivendo os companheiros como se casado fossem.
b) O Direito Real de Habitação é um direito limitado,
personalíssimo, temporário, indivisível, intransmissível e gratuito, que
concede ao companheiro sobrevivente na União Estável, de morar no
imóvel que servia de residência para a família, desde que comprovada a
união de fato e desde que o bem a ser inventariado seja único com a
finalidade de servir de moradia à pessoa beneficiada, enquanto viver ou
não constituir nova união ou casamento.
c) Apesar de o atual Código Civil não amparar o
Direito Real de Habitação na União Estável, entendem os tribunais, assim
como a doutrina majoritária, que o companheiro tem a garantia do Direito
Real de Habitação em analogia com o Direito concedido ao cônjuge
pelo ordenamento jurídico vigente, e pela defesa da não revogação das
leis especiais que já haviam concedido o benefício ao companheiro
sobrevivente.
76
REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS
AZEVEDO, Álvaro Villaça – União Estável. Artigo publicado na Revista do
Advogado n° 58, AASP, São Paulo, março/2000. Disponível em
http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina /texto.asp?id=696 - Acessado
em 15/08/2006.
BESSONE, Darcy. Direitos reais. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. 1 ed. Curitiba:
Juruá, 2005.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Presidência da República
Federativa do Brasil. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 28
jul. 2006.
BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Presidência da República
Federativa do Brasil. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9278.htm. Acesso em 15 set.
2006.
BRASIL. Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Presidência da República
Federativa do Brasil. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8971.htm. Acesso em 22 set.
2006.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Presidência da República Federativa do Brasil.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm.
Acesso em 08 ago. 2006.
77
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de
1946. Presidência da República Federativa do Brasil.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituiçao46.htm. Acesso em 13
ago. 2006.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de
1934. Presidência da República Federativa do Brasil.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituiçao34.htm. Acesso em 13
ago. 2006.
BRASIL. Lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Presidência da República
Federativa do Brasil. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em 15
ago. 2006.
CAHALI, Francisco José. Curso Avançado de Direito Civil. 2 ed. São Paulo:
Editora RT, 2003.
CAHALI, Francisco José. União estável e alimentos entre companheiros.
São Paulo: Saraiva, 1996.
CARVALHO NETO, Inácio de. A sucessão do cônjuge e do companheiro no
novo Código Civil. Disponível em http://www.mundolegal.com.br/
?FuseAction=Doutrina_Detalhar& did=20168. Acessado em 19/08/2006.
CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley. Casamento e União Estável:
requisitos e efeitos pessoais. São Paulo: Manole, 2004.
CHEMERIS, Ivan Ramon. A função social da propriedade: o papel do
Judiciário diante das invasões de terras. São Leopoldo: Editora Unisinos,
2003.
78
DAIBERT, Jefferson. Direito das Coisas. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979.
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. v.4. 20 ed. São Paulo:
Saraiva, 2004.
FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade
contemporânea. Porto Alegre: Fabris, 1988.
FREITAS, José Mello de. Ética geral e profissional – Disponível em
www.freitas.adv.br/download/aindex_dow.php?aul=25 Acessado em
28/07/2006.
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O Companheirismo – Uma
Espécie de Família. São Paulo: Editora RT, 1998.
GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
GOMES, Orlando. Sucessões. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Coisas. 3 ed. São Paulo: Saraiva,
2000.
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Comentário ao Código Civil:
parte especial: do direito das sucessões, vol. 20 (arts. 1.784 a 1.856). São
Paulo: Saraiva, 2003.
LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. 2 ed. São Paulo:
Editora RT, 2002.
LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil, volume 5: direito de família
e das sucessões. 3 ed. São Paulo: Editora RT, 2004.
MATIELO, Fabrício Zamprogna. Concubinato. 3 ed. São Paulo: Novak, 2001.
79
MAURO, Laerson. 1000 perguntas de direito das coisas. 5 ed. Rio de
Janeiro: Thex Editora, 2001.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 2 ed. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1957.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva,
2000.
OLIVEIRA, Euclides Benedito de. União estável: do concubinato ao
casamento: antes e depois do novo código civil. 6 ed. São Paulo: Editora
Método, 2003.
OLIVEIRA, Euclides Benedito de. AMORIM, Sebastião Luiz. Inventários e
partilhas – direito das sucessões. São Paulo: LEUD, 2003.
OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Alimentos e Sucessão no casamento e na
união estável. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
OLIVEIRA, Suzana de. Patrimônio pessoal o exercício deste direito de
propriedade. - Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=
4811 Acessado em 29/07/2006.
PELLIZZARO, André Luiz. A Sucessão Hereditária na União Estável.
Curitibanos: Edipel, 2000.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro:
Forense, 2006.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e união estável. 7ed. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004.
80
PESSOA, Cláudia Grieco Tabosa. Efeitos patrimoniais do concubinato. São
Paulo: Saraiva, 1997.
PINTO, Bráulio Dinarte da Silva. Direito real de habitação no novo Código
Civil. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9745
Acessado em 02/10/2006.
RIZZARDO, Arnaldo. Direito e Família. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 1984.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil - Direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2002.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito de família. 27. ed. São Paulo: Saraiva,
2002.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Direito das Sucessões. 25 ed. São Paulo:
Saraiva, 2002.
RONCONI, Diego Richard. A Responsabilidade Civil nos Contratos de
Alienação Fiduciária em Garantia. Florianópolis: OAB/SC, 2006.
RONCONI, Diego Richard. Falência & recuperação de empresas: análise
da utilidade social de ambos os institutos. Itajaí: Editora da Univali, 2002.
SANTOS, Eduardo Sens dos. A função social do contrato. Florianópolis:
OAB/SC Editora, 2004.
SANTOS, Fernanda Moreira os - União estável e direitos sucessórios à luz do
Direito Civil - Constitucional. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=8213&p=2 Acessado em 19/08/2006.
81
SANTOS, Frederico Augusto de Oliveira. Alimentos decorrentes da união
estável. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 3 ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 6 ed. São Paulo: Atlas,
2006.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 5 ed. São Paulo:
Atlas, 2005.
WALD, Arnoldo. Direito das Coisas. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro – direito das sucessões. 11
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.
http://www.dji.com.br/civil/propriedade.htm Acessado em 04/08/2006.
http://www.tj.pr.gov.br Acessado em 02/10/2006.
http://www.tj.sc.gov.br Acessado em 02/10/2006.
http://www.tj.rs.gov.br Acessado em 02/10/2006.
83
ANEXO 1 – LEI Nº 8.971, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994.
Publicada no Diário Oficial da União, de 30 de
dezembro de 1994.
Regula o direito dos companheiros e alimentos à
sucessão.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A companheira comprovada de um
homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com
ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do
disposto na Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto não constituir
nova união e desde que prove a necessidade.
Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas
condições é reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separada
judicialmente, divorciada ou viúva.
Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior
participarão da sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes condições:
I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito
enquanto não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens
do de cujos, se houver filhos ou comuns;
II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito,
enquanto não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do
de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes;
84
III - na falta de descendentes e de ascendentes,
o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança.
Art. 3º Quando os bens deixados pelo(a) autor(a)
da herança resultarem de atividade em que haja colaboração do(a)
companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1994; 173º da
Independência e 106º da República. ITAMAR FRANCO
85
ANEXO 2 – LEI Nº 9.278, DE 10 DE MAIO DE 1996
Publicada no Diário Oficial da União de 13 de maio de
1996.
Regula o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a
convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher,
estabelecida com objetivo de constituição de família.
Art. 2° São direitos e deveres iguais dos conviventes:
I - respeito e consideração mútuos;
II - assistência moral e material recíproca;
III - guarda, sustento e educação dos filhos comuns.
Art. 3° (VETADO)
Art. 4° (VETADO)
Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou
por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título
oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum,
passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo
estipulação contrária em contrato escrito.
86
§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a
aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos
anteriormente ao início da união.
§ 2° A administração do patrimônio comum dos
conviventes compete a ambos, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Art. 6° (VETADO)
Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a
assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos
conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.
Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte
de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação,
enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente
ao imóvel destinado à residência da família.
Art. 8° Os conviventes poderão, de comum acordo e a
qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento,
por requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu
domicílio.
Art. 9° Toda a matéria relativa à união estável é de
competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de
justiça.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO