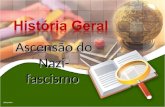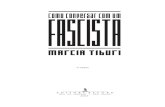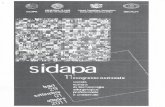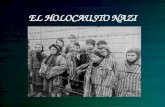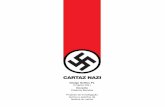O IMPÉRIO DAS IMAGENS DE HITLER: O PROJETO DE EXPANSÃO INTERNACIONAL DO MODELO DE CINEMA...
-
Upload
lucadesouza11 -
Category
Documents
-
view
190 -
download
3
description
Transcript of O IMPÉRIO DAS IMAGENS DE HITLER: O PROJETO DE EXPANSÃO INTERNACIONAL DO MODELO DE CINEMA...
-
WAGNER PINHEIRO PEREIRA
O IMPRIO DAS IMAGENS DE HITLER:
O PROJETO DE EXPANSO INTERNACIONAL DO MODELO DE CINEMA NAZI-FASCISTA NA EUROPA E NA AMRICA LATINA
(1933 - 1955)
-
UNIVERSIDADE DE SO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTRIA PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM HISTRIA SOCIAL
O IMPRIO DAS IMAGENS DE HITLER: O PROJETO DE EXPANSO INTERNACIONAL DO MODELO DE
CINEMA NAZISTA NA EUROPA E NA AMRICA LATINA (1933 - 1955)
Wagner Pinheiro Pereira
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Histria Social do Departamento de Histria da Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, para a obteno do ttulo de Doutor em Histria.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Helena Rolim Capelato
SO PAULO
2008
-
RESUMO
O Imprio das Imagens de Hitler: O Projeto de Expanso Internacional do Modelo de Cinema Nazista na Europa e na Amrica Latina (1933 - 1955)
O propsito principal desta tese de doutorado desenvolver um estudo de histrias
conectadas sobre a expanso internacional do modelo de cinema nazista na Europa e na
Amrica Latina, durante as dcadas de 1930 e 1950. A influncia da Alemanha nazista
sobre as indstrias de cinema e as produes cinematogrficas da Itlia fascista, de
Portugal salazarista, da Espanha franquista, do Brasil varguista e da Argentina peronista,
representou a tentativa de Berlim tornar-se a Nova Hollywood Mundial e teve
importantes implicaes polticas, culturais e econmicas em todos esses regimes
polticos de massas, que nos propomos analisar.
A tese analisa tambm trs instituies poltico-culturais privilegiadas do III Reich: 1)
O Ministrio Nacional para Esclarecimento Pblico e Propaganda (Reichsministerium fr
Volksaufklrung und Propaganda - RMVP), atravs do qual o ministro da propaganda
nazista, Dr. Joseph Goebbels, empenhou-se na conquista do controle total dos meios de
comunicao de massa, na reestruturao forada das indstrias cinematogrficas e na
padronizao das sesses de cinema, impondo uma produo obrigatria, planejada para
aumentar o potencial propagandstico do cinema; 2) A Cmara Internacional de Cinema
(Internationale Filmkammer IFK), uma organizao internacional de representantes da
indstria cinematografia de vinte e duas naes, fundada em 1935 para estabelecer o
controle hegemnico da Alemanha nazista sobre um espao europeu econmico e
cultural integrado, que pudesse rivalizar com os modelos de cinema dos Estados Unidos
da Amrica e da Unio Sovitica e; 3) A Hispano-Film-Produktion (HFP), atravs da qual
o cinema nazista tentou conquistar os mercados hispnicos (Espanha e Amrica Latina).
Em termos gerais, a anlise das polticas governamentais, dos principais temas
polticos apresentados nos filmes, da influncia da censura e de outros aspectos
relacionados produo cinematogrfica, tais como legislao, polticas de crdito e
sistemas de co-produes entre esses regimes polticos de massas, pretende mostrar
como o cinema mundial foi influenciado e controlado pela Alemanha nazista, mas
apresentou especificidades que procuramos mostrar neste trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: Cinema Nazista; Nazi-Fascismo; Leni Riefenstahl; Amrica Latina;
Propaganda Poltica.
-
ABSTRACT
The Hitler Empire of Image: The International Expansion Project of Nazi Cinemas Model in Europe and Latin America (1933 - 1955)
The main purpose of this PhD Thesis is to develop a connected histories study on
the international expansion of Nazi Cinemas model in Europe and Latin America, during
the 1930s and 1950s. The Nazi Germanys influence over the film industries and
cinematographs productions of Mussolinis Italy, Salazars Portugal, Francos Spain,
Vargas Brazil, and Perons Argentine, represented the Berlins ruthless attempts at
becoming the New World-Wide Hollywood, and also had important political, cultural and
economical implications in all these mass political regimes, that we proposed to analyze.
The thesis also analyzes three privileged political-cultural institutions of the III Reich:
1) The Reich Ministry for Popular Enlightenment and Propaganda (Reichsministerium fr
Volksaufklrung und Propaganda - RMVP), through which the Nazi propaganda minister,
Dr. Joseph Goebbels, sought to achieve total control of the mass media communications,
forced restructuring of national film industries, and standardized film screening by
imposing a compulsory production, designed to enhance films propagandistic potential; 2)
The International Film Chamber (Internationale Filmkammer IFK), a international
organization of national film industry representatives from twenty-two nations, founded in
1935 to establish a Nazi Germany hegemonic control over an integrated European
economic and cultural space that could rival the United States of America and the Soviet
Union cinemas models, and; 3) The Hispano-Film-Produktion (HFP), through which Nazi
cinema tried to conquer Spanish markets (Spain and Latin America).
In general terms, the analysis of the governmental policies, the main politics themes
presented on the films, the influence of censorship, and others aspects related to the
cinematograph productions, such as legislation, credit policies, and co-productions system
between these mass political regimes, present how the world cinema was influenced and
controlled by Nazi Germany, but presented specificities that we intend to point out in these
PhD thesis.
KEY-WORDS: Nazi Cinema; Nazi-Fascism; Leni Riefenstahl; Latin America; Propaganda.
-
S U M R I O
AGRADECIMENTOS ...................................................................................................................................... 001
INTRODUO ................................................................................................................................................ 006
CAPTULO I: CINEMA DA ALEMANHA NAZISTA: UM MODELO MUNDIAL DE CINEMA POLTICO ............................ 028
1.1 A Edificao do Cinema na Alemanha: Indstria e Propaganda ..................................................... 028 1.2 Fritz Lang: Um Modelo de Cinema Poltico para a Alemanha (Nazista) ......................................... 032 1.3 A Alemanha de Adolf Hitler: Propaganda Poltica e o Controle dos Meios de Comunicao ...... 039 1.4 O Imprio das Imagens de Hitler: O Cinema Alemo do III Reich ................................................... 070 1.4.1 A Organizao do Cinema Nazista Durante a Repblica de Weimar ....................................... 070 1.4.2 As Idias Cinematogrficas de Goebbels e os Modelos de Filmes Estrangeiros ................... 078 1.4.3 O Processo de Alinhamento (Gleichschaultung) do Cinema Alemo .................................. 091 1.4.4 O Processo de Estatizao da Indstria Cinematogrfica Alem ............................................ 103 1.4.5 O Espetculo do Poder: O Nazismo nas Telas de Cinema ........................................................ 109
1.5 A Cmara Internacional de Cinema e o Projeto Expansionista do Cinema Nazista ...................... 122 1.6 Os Cineastas Oficiais e suas Produes Cinematogrficas ........................................................... 134 3.6.1 Leni Riefenstahl: A Estetizao Cinematogrfica do Nazismo ................................................. 134 3.6.2 Veit Harlan: O Cinema de Entretenimento Poltico do Nazismo ........................................... 146
CAPTULO II: CINEMA DA ITLIA FASCISTA: O PARCEIRO CONCORRENTE .............................................................. 156 2.1 A Itlia de Benito Mussolini: Propaganda e Controle dos Meios de Comunicao ...................... 157 2.2 O Cinema de Mussolini: Indstria, Propaganda e Entretenimento ................................................. 166 2.3 O Cinema Fascista na Luta pela Hegemonia Cultural na Europa ................................................... 192 2.3.1 O Cinema Fascista na Guerra Civil Espanhola ........................................................................... 194 2.3.2 O Cinema Fascista na Europa da Nova Ordem Mundial de Hitler ......................................... 196
2.4 Os Cineastas Oficiais e suas Produes Cinematogrficas ........................................................... 200 2.4.1 Alessandro Blasetti: O Cinema Camisa Negra do Fascismo ................................................ 200 2.4.2 Giovacchino Forzano: O Cinema Educativo de Benito Mussolini ........................................... 205
CAPTULO III: CINEMA DE PORTUGAL SALAZARISTA: O APRENDIZ DEDICADO ........................................................ 208
5.1 O Portugal de Antnio de Oliveira Salazar: A Configurao do Estado Novo ............................... 208 5.2 O Cinema de Salazar: Imagens de um Estado Novo ........................................................................ 217 5.3 Os Cineastas Oficiais e suas Produes Cinematogrficas ........................................................... 239 5.3.1 Antnio Lopes Ribeiro: O Cineasta Oficial do Salazarismo ...................................................... 239 5.3.2 Leito de Barros: O Monumental Cinema Histrico do Salazarismo ....................................... 247
CAPTULO IV: CINEMA DA ESPANHA FRANQUISTA: O SUCESSOR FIEL ...................................................................... 258 6.1 A Espanha de Franco: Guerra Civil e Franquismo ........................................................................... 258 6.2 O Cinema de Franco: A Cruzada Franquista nas Telas ................................................................... 262 6.3 Os Cineastas Oficiais e suas Produes Cinematogrficas ........................................................... 280 6.3.1 Jos Luis Senz de Heredia: O Modelo de Cinema Franquista ................................................ 280 6.3.2 Juan de Ordua: O Cinema Dramtico do Franquismo ............................................................. 288
-
CAPTULO V: CINEMA DO BRASIL VARGUISTA: O SIMPATIZANTE AMBGUO ............................................................ 294 7.1 O Brasil de Getlio Vargas: Propaganda e Controle dos Meios de Comunicao ....................... 294 7.2 O Cinema Brasileiro na Era dos Estdios: Adhemar Gonzaga e Carmen Santos ......................... 309 7.3 O Livro das Imagens Luminosas: Cinema, Poltica e Educao na Era Vargas ............................ 326 7.4 A Obra Getuliana em Cena: Humberto Mauro e os Filmes Nacionalistas ...................................... 350
CAPTULO VI: CINEMA DA ARGENTINA PERONISTA: O LTIMO DISCPULO ............................................................... 368 8.1 O Projeto Nazista na Argentina e a Contra-Ofensiva
Britnica e Norte-americana na Amrica Latina .............................................................................. 368 8.2 A Argentina de Pern: Propaganda e Controle dos Meios de Comunicao ................................ 374 8.3 Evita: Carreira Artstica no Rdio e no Cinema ................................................................................ 382 8.4 O Cinema de Pern: Uma Nao em Festa ........................................................................................ 390
CONSIDERAES FINAIS ............................................................................................................................ 405
ARQUIVOS E BIBLIOTECAS ........................................................................................................................ 410
PERIDICOS .................................................................................................................................................. 412
DOCUMENTOS OFICIAIS, TEXTOS DE POCA, DIRIOS E MEMRIAS ................................................ 413
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................................. 419
-
Dedico esta Tese de Doutorado, com todo o meu amor e carinho, minha me Elza e minha av Petra.
-
1
AGRADECIMENTOS
Durante a realizao da minha Tese de Doutoramento tive a oportunidade de
conhecer vrias pessoas, estreitar laos de amizades e, sobretudo, aprender muito com
todas elas. Por isso, vrias so as pessoas s quais gostaria de expressar minha gratido.
Primeiramente, quero dedicar um agradecimento muito especial Profa. Dra. Maria
Helena Rolim Capelato, orientadora desta Tese de Doutoramento, a quem, desde os
tempos da Iniciao Cientfica, devo tanto o apoio para a realizao das minhas pesquisas,
quanto a gratificante oportunidade de vivenciar o trabalho de historiador. Ter sido o seu
orientando, durante dez anos, , para mim, uma grande honra e motivo de orgulho, pois a
Profa. Maria Helena, alm de ser uma historiadora com uma trajetria exemplar e
inspiradora, destaca-se, ao nvel pessoal, pela sua humildade, disposio e generosidade.
Indubitavelmente, sua amizade, confiana, incentivo e esmerada orientao foram
fundamentais para a realizao deste trabalho.
Ao Prof. Dr. Francisco Carlos Teixeira da Silva, eminente Professor Titular de Histria
Contempornea da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cuja presena na
minha Banca Examinadora de Defesa de Doutorado muito me honrou e a quem sou grato
pelo incentivo, apoio, sugestes bibliogrficas e frutfero dilogo compartilhado ao longo
desses anos.
Minha gratido ao Prof. Dr. Marcos Francisco Napolitano de Eugnio, integrante da
Banca Examinadora de Defesa de Doutorado, pela sua ateno, solicitude, indicaes
bibliogrficas e consideraes sobre o tema da pesquisa. Sua participao na Banca,
como em outras ocasies, trouxe uma rica contribuio e orientao, auxiliando a apontar
um caminho para o aperfeioamento final do presente trabalho.
Profa. Dra. Maria Luiza Tucci Carneiro, integrante da Banca Examinadora de
Defesa de Doutorado, que tem acompanhado desde o incio a evoluo da minha trajetria
acadmica e da minha pesquisa de doutorado, agradeo pela sua boa vontade, incentivo e
estimulante troca de idias e sugestes, que tem sido para mim de valia inestimvel.
Ao Prof. Dr. Eduardo V. Morettin, integrante da Banca Examinadora de Qualificao
e de Defesa de Doutorado, agradeo pelo apoio, incentivo, sugestes e rico intercmbio de
idias, compartilhados no grupo de discusso que coordena sobre Cinema e Histria na
Universidade de So Paulo.
Profa. Dra. Tnia Regina de Luca, integrante da Banca Examinadora de
Qualificao, o meu agradecimento pela receptividade e gentileza que demonstrou ao
-
2
acompanhar e compartilhar de minhas idias sobre o tema e pelo emprstimo de
importantes materiais sobre Histria Contempornea.
Profa. Dra. Vera Lucia Amaral Ferlini, Presidente da Comisso Gestora da Ctedra
Jaime Corteso, agradeo pela ateno, confiana, incentivo e inestimvel apoio que
recebi para o desenvolvimento da pesquisa em Portugal e Espanha. A bolsa de estadia de
curta durao de pesquisa concedida pela Ctedra Jaime Corteso foi fundamental para o
aprimoramento de minha formao como pesquisador na rea de Histria Ibrica e para a
realizao da minha pesquisa de doutoramento em Portugal e Espanha.
Profa. Dra. Mary Lucy Murray Del Priore, a primeira a acreditar na minha
capacidade de pesquisa, agradeo pela orientao e incentivos recebidos nos primeiros
passos da minha formao de historiador, desde o incio da graduao na USP.
Profa. Dra. Mariarosaria Fabris agradeo as estimulantes discusses sobre cinema
italiano e o emprstimo de material bibliogrfico e audiovisual sobre o tema, que foram
importantes para o estudo do caso fascista.
Profa. Dra. Mary Anne Junqueira, sou grato pelo apoio dado ao desenvolvimento
da pesquisa e pelo rico intercmbio de idias sobre temas da Histria dos Estados Unidos
da Amrica que compartilhamos.
Aos professores do Departamento de Histria (FFLCH-USP) , Profa. Dra. Elizabeth
Cancelli, Profa. Dra. Eni de Mesquita Samara, Profa. Profa. Dra. Maria Ligia Coelho Prado,
Prof. Dr. Elias Thom Saliba, Prof. Dr. Nicolau Sevcenko e Prof. Dr. Modesto Florenzano
sou grato pelas indicaes, informaes e esclarecimentos que se incorporaram ao
trabalho e pelo apoio recebido ao longo da minha trajetria acadmica.
Aos Prof. Dr. Rubens Machado Jr. e Prof. Dr. Henri Gervaiseau, do Departamento de
Cinema, Rdio e TV (ECA-USP), sou grato pelas enriquecedoras reflexes e discusses
terico-metodolgicas, realizadas em cursos de ps-graduao e congressos.
Gostaria de fazer um agradecimento especial tambm todos os meus orientadores
no exterior:
Ao Prof. Dr. Wolfgang Benz, Diretor do Centro de Estudos sobre Anti-semitismo da
Universidade Tcnica de Berlim (Alemanha) e renomado autor de livros que so referncia
aos estudos do nazismo, sou profundamente grato pela ateno, solicitude e apoio para
indicar-me todos os contatos e arquivos que deveria consultar, alm das estimulantes
discusses acerca da Histria da Alemanha Nazista. Tendo sido o meu orientador na
Alemanha, no s esteve ao meu lado desde as etapas iniciais de instalao em Berlim,
mas tambm demonstrou enorme interesse em acompanhar a evoluo da pesquisa,
ajudando-me no acesso e coleta de fontes e bibliografia, alertando-me para a
-
3
complexidade histrica da Alemanha Nazista e corrigindo os mal-entendidos de minhas
interpretaes iniciais. Sem dvida, sua contribuio foi muito importante para o resultado
desta pesquisa.
Ao Prof. Dr. Fernando Rosas, Diretor do Instituto de Histria Contempornea da
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e um dos mais renomados historiadores
portugueses dedicados ao estudo do salazarismo, e ao Prof. Dr. Tiago Costa Pinto dos
Reis Miranda, investigador do Centro de Histria da Cultura da Universidade Nova de
Lisboa (Portugal), agradeo pelas orientaes no desenvolvimento da pesquisa e pelos
auxlios no acesso e coleta de fontes e bibliografia, durante a minha estadia em Portugal.
Ao Prof. Dr. Lorenzo Delgado Gmez-Escalonilla, do Centro Superior de
Investigaes Cientficas (CSIC) de Madri e um dos mais renomados historiadores
espanhis dedicados ao estudo do franquismo, sou grato pela excelente orientao
prestada durante a minha estadia na Espanha. Sua presteza em recomendar-me os
arquivos e obras bibliogrficas mais importantes e sua preocupao em integrar-me em
seu grupo de estudos, estabelecendo meu contato com outros pesquisadores que
trabalhassem temas afins, foram imprescindveis para a concretizao da parte espanhola
da pesquisa.
Profa. Dra. Marie-Christine Pauwels, da Universidade de Paris X, agradeo pela
orientao, indicaes e sugestes dadas durante a minha estadia na Frana.
Profa. Dra. Patrcia Funes, da Universidade de Buenos Aires, agradeo pelas
primeiras orientaes sobre cinema argentino e peronismo, assim como as indicaes de
especialistas, bibliografia e localizao de fontes na Argentina.
Ao Dr. Bruno Walter Otto Fischli, Diretor do Instituto Goethe de So Paulo, agradeo
a colaborao e esclarecimentos sobre cinema alemo, recebidos desde as minhas
pesquisas iniciais durante a Graduao em Histria.
Martha Dill, Dieter Gern, Jos A. Zanetin e as bibliotecrias Bethinha e Angela
agradeo a gentileza e ateno com que fui sempre recebido e atendido no Instituto
Goethe de So Paulo.
Ao Joel Yamaji, Claudinho e Bill, agradeo pela ateno, gentileza e auxlio na
consulta e emprstimo de material do arquivo da ECA-USP.
Ao DAAD (Servio Alemo de Intercmbio Acadmico) agradeo pela bolsa
concedida para a realizao da minha pesquisa de doutorado na Alemanha.
Agradeo, em especial, ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico
e Tecnolgico), pela bolsa de doutorado, que foi imprescindvel e fundamental para a
realizao e concluso desta tese de doutorado.
-
4
Ao Dr. Hermann Kux, que incentivou e torceu pela concretizao da minha viagem
Alemanha, agradeo as amveis indicaes sobre o modo de vida alemo, a ateno, o
auxlio e apoio inestimveis dados ao longo de todo o processo da pesquisa na Alemanha.
Profa. Astrid Rosa Grisanti, pessoa to querida, que desde o incio incentivou e
transmitiu confiana para que eu seguisse a carreira de historiador, expresso a minha
gratido pelo carinho, confiana e estmulo que tenho recebido em todos os momentos.
Carla Bscaro, a analista precoce, que esteve ao meu lado nos momentos mais
importantes desta pesquisa, muito obrigado pela nossa linda histria, repleta de carinho,
admirao e incentivo incondicional.
Marcia Yumi Takeuchi, querida amiga e parceira nas aventuras histricas, um
agradecimento especial pela longa e sincera amizade, pelo apoio, pelas estimulantes
discusses historiogrficas e pelos materiais coletados em Buenos Aires.
Glucia Rodrigues Castellan, agradeo pela nossa frutfera e agradvel
convivncia e pelo estmulo recebido para os momentos de inspirao histrica, vitais
para a redao final da tese.
Anglica Muller, minha amiga gacha-carioca, agradeo a excelente acolhida no
Rio de Janeiro.
Agradeo tambm o apoio e incentivo dos meus queridos amigos do curso de
Histria da FFLCH-USP: Jos Miguel Nanni Soares, Mariana Martins Villaa, Maria Antnia
Dias Martins, Ismara Izepe de Souza, Aline Beltrame e Mariana Cardoso dos Santos
Ribeiro, que acompanharam a realizao da minha tese de doutoramento, dando uma
fora especial para a superao daquelas dificuldades histricas, e compartilhando
comigo inmeros e inesquecveis momentos acadmicos e pessoais.
Ao Luiz Gustavo Ribas, monitor da turma do curso de Cinema e Televiso: Histria e
Linguagem, um agradecimento especial pela ateno, gentileza, apoio e empenho na
coleta de materiais durante o desenvolvimento desta tese de doutorado.
Finalmente, mas no menos importante, desejo expressar a minha enorme gratido
a todos os membros da minha querida famlia, que sempre deram um importante e
carinhoso apoio para a realizao da minha pesquisa, compreendendo os momentos de
ausncia ocorridos durante o meu auto-exlio para o desenvolvimento da tese. Dedico,
assim, todo o meu reconhecimento aos meus pais, com um agradecimento especial e
eterno minha querida me Elza, presena constante e vital em minha vida, que nunca
mediu esforos para que pudesse me dedicar aos estudos com exclusividade e realizar os
meus mais importantes projetos e sonhos. Muito obrigado pelo amor, carinho, confiana,
-
5
apoio e bons valores que sempre recebi e pelo seu estmulo incessante e envolvente em
acompanhar e vibrar com cada momento e descobertas desta pesquisa.
minha av Petra, de saudosa memria, que foi a maior incentivadora pela minha
paixo por Histria e Cinema, sou tambm grato pelo carinho, ternura e confiana que
sempre recebi, e pelo seu apoio e incentivo quando decidi seguir a carreira de historiador.
memria dela e sua presena neste trabalho associo os meus eternos agradecimentos.
Deixo aqui registrado os meus sinceros agradecimentos todas aquelas pessoas
que mesmo no tendo sido citadas aqui, sabem que acompanharam, direta ou
indiretamente, o desenvolvimento da pesquisa e me auxiliaram tendo sempre uma palavra
amiga e um gesto de incentivo.
-
6
I N T R O D U O
Quem controla o passado controla o futuro; quem controla o presente controla o passado.
George Orwell. 1984. (1949) De acordo com a lei dos pensamentos duplos no importa se a guerra no real ou, quando , que a vitria no possvel. A guerra no para ser ganha ou perdida para ser eternizada. A essncia da guerra moderna que a destruio produz trabalho ao ser humano. A sociedade hierrquica somente possvel nas bases da pobreza e da ignorncia. A princpio, a guerra planejada para manter a sociedade na beira da fome. A guerra a fria dos governantes contra suas prprias ideologias e seu objetivo no a vitria sobre a Eursia ou Lestsia, mas manter a prpria estrutura da sociedade intacta.
George Orwell. 1984. (1949)
As duas epgrafes acima foram extradas do livro 1984, que comeou a ser escrito
por George Orwell em 1943, com o ttulo de O ltimo Homem da Europa, mas s viria a
ser publicado em 1949. H quem afirme que a obra deve muito a um romance russo, Ns,
da autoria do dissidente Evgeni Zamiantin, escrito em 1920 e traduzido para o ingls em
1924. Orwell confessou conhecer a obra e ser de certa forma seu herdeiro (tal como, alis,
Aldous Huxley e o seu Admirvel Mundo Novo)1. O romance de Orwell foi, todavia, muito
mais preciso no que se refere denncia da opresso estatal e muito mais terrvel ainda
na sua mensagem de alerta para um mundo dominado pelo Olho onipresente do Big
Brother (Grande irmo), que tudo observa e a todos domina.
Considerado o equivalente contemporneo do Levithan (s que em forma de
romance)2, 1984 est longe de poder ser reduzido a uma simples alegoria ao totalitarismo
sovitico3, muito embora a Unio Sovitica e Stlin sejam, de fato, os seus modelos mais
1 Com 1984, um fantstico romance que a sade cada vez mais dbil de Orwell no deixou levar at onde queria, a crtica tem concedido ao autor o lugar de precursor literrio que raramente lhe foi atribudo com seus romances anteriores. No entanto, acredito que 1984 pode ser pensado como continuador de uma tradio do romance distpico que representa o cruzamento do romance utpico do renascimento e do iluminismo e as duras realidades polticas do sculo XX. Orwell no foi o primeiro a tent-lo; acontece que a sua atualidade e a poca em que foi escrito o trouxeram at a cultura de massa, via televiso e cinema. A primeira metade do sculo XX, contudo, havia-nos dado vrios romances distpicos, alguns dos quais mais aperfeioados do que 1984. Nos anos 1930, o escritor tcheco Karel Capek (conhecido na Gr-Bretanha atravs de George Bernard Shaw) escreveu uma excepcional prefigurao da Segunda Guerra Mundial em A Guerra das Salamandras, alm de uma distopia sobre guerras religiosas em A Fbrica do Absoluto. E acima de tudo, temos Ns, do russo Evgueni Zamiatine, a primeira utopia negra inspirada no bolchevismo e talvez a melhor de todas , um livro literalmente excepcional e politicamente clarividente que Orwell leu e em que se inspirou para escrever 1984. 2 A comparao feita por Bernard Crick, George Orwell: A Life. Londres: Penguin Books, 1992. p.570. 3 O termo regime ou Estado Totalitrio utilizado nesta tese baseia-se na perspectiva terica trabalhada por Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo. Anti-semitismo. Imperialismo. Totalitarismo. (So Paulo: Cia. das Letras, 1998). Nesta obra, a autora considera o Totalitarismo como um sistema poltico no qual o Estado domina completamente a sociedade e at a vida pessoal dos indivduos. O regime totalitrio uma forma de ditadura, porm muito mais invasora da privacidade das pessoas do que as ditaduras tradicionais. Sob esse regime, o Estado centraliza todos os poderes polticos e administrativos, no permitindo a existncia de outros grupos ou partidos polticos, alm do partido no poder que se superpe e se confunde com o Estado. O Totalitarismo se caracteriza pelo desrespeito s liberdades pblicas e individuais do cidado, principalmente as
-
7
bvios. O estatuto de clssico de 1984 atestado pelo fato das suas imagens e metforas
fazerem hoje parte do vocabulrio e imaginrios polticos: do Big Brother Novilngua,
do Duplipensar aos famosos slogans Guerra Paz, Liberdade Escravido, Ignorncia
Fora, dos Dois Minutos do dio, ao Buraco da Memria, possvel reconhecer os
traos mais sinistros do pesadelo totalitrio.
Cartaz do Big Brother apresentado numa adaptao cinematogrfica da obra 1984 de George Orwell.
Mas 1984 muito mais do que uma descrio visionria de um mundo petrificado
pelo triunfo do totalitarismo. Em muitos aspectos, o livro tambm uma descrio
alegrica do mundo de 1949 (o ambiente esqulido da Faixa Area Nmero 1 o territrio
europeu da Oceania onde se desenrola a ao do livro uma aluso Londres do ps-
guerra; o Ministrio da Verdade Miniver, em Novilngua inspirado na BBC) e uma
premonio das conseqncias que poderiam resultar do impasse entre trs
superpotncias munidas de armas nucleares (a Oceania, Eursia e Lestsia,
correspondentes, nos tempos da Guerra Fria, ao bloco anglo-americano, URSS e China).
liberdades de opinio, associao, imprensa e comunicao, fazendo com que a opinio pblica deixe de existir como esfera independente. Nesse regime, o Estado torna-se uma entidade ameaadora que comanda e fiscaliza a vida de todas as pessoas do nascimento at a morte. A vida familiar passa a girar em torno da ideologia do grupo no poder, a formao das crianas e dos jovens so militarizadas em instituies do Estado. Alm de destruir a individualidade dos cidados, as ditaduras totalitrias fazem a sociedade viver numa atmosfera constante de insegurana e terror, perpetrada pela atuao da polcia secreta estatal e pela manipulao do imaginrio coletivo atravs das mensagens veiculadas pelos meios de comunicao de massa, que so utilizados intensamente com propsitos de propaganda poltica e de monopolizao da verdade. As duas maiores manifestaes do Totalitarismo no sculo XX foram o Nazismo alemo (1933 - 1945) e o Stalinismo sovitico (1924 - 1953), apesar das diferenas ideolgicas que as distinguem.
-
8
Finalmente, 1984 apresenta um conjunto de observaes acerca do uso da
linguagem, enquanto instrumento de controle social (veja-se, por exemplo, o fenmeno do
politicamente correto) e da manipulao da memria enquanto mecanismo de dominao
poltica (Quem controla o passado controla o futuro; quem controla o presente controla o
passado, era um dos lemas do Partido Interno do INGSOC Socialismo Ingls).
George Orwell foi um intelectual que procurou, acima de tudo, manter a iseno e a
liberdade de crtica, que se definia a si prprio como um escritor poltico, mas que se
colocava para alm de qualquer simpatia ou filiao partidria apesar de nunca renegar o
seu pendor socialista e confessar votar na legenda trabalhista, na falta de algo melhor. Por
isso, a sua previso de um mundo tiranizado pelos medias destinava-se tanto ao
Ocidente quanto ao Oriente, tanto ao capitalismo, que ele considerava o embrio do nazi-
fascismo, quanto ao comunismo da URSS, pervertido pelo terror stalinista. esta liberdade
de anlise que faz de Orwell um escritor universal e de 1984 um monumento de lucidez,
enquadrado na poca em que foi concebido e catapultado para os nossos dias, onde, se
possvel, ainda mais terrivelmente ameaador do que em 1950.
O mundo antecipado por Orwell dividia-se em trs grandes blocos polticos: Eursia,
Lestsia e Oceania, esta governada pelo Partido Interno que dividiu a Histria em duas
pocas: antes e depois do aparecimento do Partido. A Histria anterior desapareceu,
ignorada, destruda e desvirtuada. Os deuses foram substitudos pelo Big Brother (esse
Grande Irmo que criou a revoluo e governa em nome dela). Um pouco por todo o lado
impera o Olho desse inspetor geral, que por vezes cede lugar imagem do rebelde
fugitivo, Emmanuel Goldstein, inimigo n.1 da Revoluo, que escreveu Teoria e Prtica
do Coletivismo Oligrquico, um livro amaldioado, relatando a verdade sobre o que se
passa na Oceania. preciso odiar Goldstein, amar a Revoluo e a Ordem estabelecida.
Winston, o protagonista do romance, apenas um trabalhador do Ministrio da Verdade,
que escreve artigos que no s contribuem para o desenvolvimento de uma nova
linguagem (Novilngua), como tambm se encarregam de expandir a doutrina certa e
erradicar as heresias. Mas numa terra onde o amor est proibido e se consentem as
relaes sexuais apenas com o fim de procriar, Winston cai num crime mental, ao se
apaixonar por Jlia. assim que ir parar s mos de OBrien, que se encarregar de
torturar o dissidente, at este assumir o erro, expurgar as falhas atravs da tcnica de
vaporizao e outras igualmente terrveis que o levaro a aceitar o duplo pensamento
que permite que 2+2=5, ou o que quer que o Partido ordene. A descrio de elementos
exteriores, cenogrficos, pode ter perdido algum do seu tom de ameaa, to latente em
1949 (paradas militares, prises, torturas fsicas e psicolgicas continuam a existir hoje,
-
9
mas se calhar no sero as mais graves, talvez por serem as mais facilmente detectveis),
mas a lavagem cerebral que permite dominar sutilmente por dentro o cidado, essa
sublimou-se habilmente. No ser verdadeiramente orwelleana a invaso do Iraque, com
tudo o que a rodeou, antes, durante e depois? No ser terrivelmente orwelleana a
progressiva desmotivao cultural, educacional, civilizacional? O ministro da informao do
Iraque no parecia comandar o Ministrio da Verdade? Bush no tem a presena e a
grandeza ameaadora de um Big Brother, mas no se identifica bem com as mesmas
conseqncias nefastas?
Ao mesmo tempo, parece que a sociedade e a cultura de massas vivem num
momento de crise de valores. Por exemplo, apesar da seriedade do tema, o nazismo e o
Holocausto, que servem como testemunho dos tempos sombrios e como emblema das
possibilidades de destruio no mundo contemporneo, so incorporados e apropriados
pela cultura de massas e pelo universo pop de forma inconseqente, gerando, muitas
vezes, uma banalizao do mal. Apesar dos horrores cometidos pelo nazismo
continuarem causando um sentimento de repulsa, as imagens e estticas nazistas ainda
exercem uma espcie de efeito hipntico e inconsciente, fascinando e seduzindo as
pessoas, que desconhecem ou ignoram os verdadeiros horrores do nazismo. Como
exemplos dessa perspectiva, Adolf Hitler passou a ser visto como um precursor dos astros
pop, tendo como referncia os histricos congressos nazistas comparados aos grandes
espetculos de pera-rock; tornaram-se comuns entre os jovens, a adoo de videogames
que tratam este genocdio como um jogo de luta entre o Bem e o Mal; ou ento, a matana
sistemtica de mais de seis milhes de judeus assume, junto a mdia, as caractersticas de
um tpico melodrama hollywoodiano.
Resta sublinhar que, em 1984, o grande Olho perseguia o cidado na rua e em casa
de forma obsessiva e ameaadora. Afinal, chegados ao incio do sculo XXI, h milhares
de cidados que formam fila indiana porta dos estdios de TV em todo o mundo para
serem vigiados no por um ente totalitrio, mas por todos ns. Afinal, o terror no precisa
necessariamente se instalar pelo cinzento glido das paredes de prises estereotipadas ou
numa ambientao austera e claustrofbica, mas pode adquirir outros tons, aparentemente
mais alegres, mas que encerram ameaas no localizveis, to ou mais perigosas do que
as imaginadas pelo autor no romance. O seu Big Brother deu origem a programas de
televiso que fazem reverter em proveito prprio a estrutura de um Estado vigiado que
Orwell antevia. A perverso da Histria foi fazer de (quase) todos ns comparsas
voluntrios deste jogo terrvel.
-
10
O que mais assustador, no entanto, descobrir que muito mais do que uma obra
de fico, a formao de um conjunto de Estados, que possuam projetos totalitrios, e a
instrumentalizao poltica dos meios de comunicao e das produes culturais como
recursos de propaganda e de controle social imaginados por George Orwell em 1984,
quase conseguiram realmente dominar o mundo. Ao contrrio dos paralelos traados entre
a obra e as superpotncias do contexto da Guerra Fria, imaginados pelo autor e
especialistas, foi a partir da dcada de 1910 que comeou a se configurar a formao de
trs superpotncias polticas, com projetos de configurar o mundo totalmente a sua
imagem e idias. Tratava-se dos Estados Unidos da Amrica (EUA), da Unio das
Repblicas Socialistas Soviticas (URSS) e da Alemanha Nazista (III Reich).
O confronto entre essas trs superpotncias visvel no s no campo poltico, que
culminou com a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), na qual, duas delas tiveram de se
aliar para destruir um inimigo comum, para depois voltarem a se opor no cenrio da Guerra
Fria, mas pode ser acompanhado atravs do ponto de vista cultural, em especial no campo
cinematogrfico. Para se ter a dimenso das formas pelas quais esses pases almejavam
conquistar aliados, visando formar blocos poltico-culturais, a presente tese de
doutoramento centra sua ateno no projeto poltico de expanso internacional do modelo
de cinema da Alemanha nazista, idealizado pelo Ministrio Nacional para Esclarecimento
Pblico e Propaganda (Reichsministerium fr Volksaufklrung und Propaganda) do III
Reich. Os nazistas pretendiam configurar um terceiro modelo cinematogrfico, capaz de
competir com o cinema hollywoodiano clssico e com o cinema revolucionrio sovitico,
objetivando alcanar uma hegemonia mundial, o que simbolizaria a efetivao da idia do
triunfo do Reich dos Mil Anos de Adolf Hitler. Para isso, o regime nazista buscou realizar
parcerias com alguns regimes polticos de massas europeus e latino-americanos. O projeto
mostrou-se to fecundo que sobreviveria a derrota do nazi-fascismo na Segunda Guerra
Mundial, mantendo-se como uma alternativa vivel at 1955, momento em que as novas
estticas modernas de cinema decretaram o fim do modelo de cinema poltico de massas,
proposto pelo nazismo.
Dessa forma, o estudo da utilizao do cinema como instrumento de propaganda
poltica nos governos de Adolf Hitler (Alemanha), de Benito Mussolini (Itlia), de Antnio de
Oliveira Salazar (Portugal), de Francisco Franco (Espanha), de Getlio Vargas (Brasil) e de
Juan Domingo Pern (Argentina) torna-se indispensvel para delinear um quadro de
referncia da poltica de comunicao e dos rgos estatais de propaganda na Europa e
na Amrica Latina, durante as dcadas de 1930 -1950.
Neste sentido, privilegia-se analisar de que forma estes governos criaram sofisticados
-
11
mecanismos estatais de propaganda e utilizaram-se do cinema para conquistar a adeso
da sociedade em torno de um projeto poltico-pedaggico nacionalista, que visava educar
as massas segundo seus princpios ideolgicos.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa sobre a circulao internacional de uma esttica
cinematogrfica especfica, consolidada durante o regime nazista, que serviu de modelo
para os outros pases europeus e latino-americanos. O modelo alemo foi difundido na
Itlia, Portugal, Espanha, Brasil e Argentina e apropriado de diferentes maneiras, de
acordo com as especificidades locais. O aspecto comum a essas experincias diz respeito
a poltica de massas que foi posta em prtica nesse diferentes pases, nos quais foram
introduzidos um tipo novo de poder que tinha como um dos seus pilares a propaganda
poltica divulgada pelos meios de comunicao, inclusive o cinema4. Os documentrios,
4 Para a definio de uma poltica de massas, baseada na relao lder/massa e na propaganda poltica, nos valemos das anlises de Hannah Arendt contidas em sua obra Origens do Totalitarismo, onde a autora analisa, em profundidade, essas duas questes. No entanto, importante esclarecer que no estamos incorporando o conceito de totalitarismo para definir a natureza dos regimes nazista, fascista, salazarista, franquista, varguista e peronista como totalitrios, pois esta conceituao, alm de complexa, polmica e foge ao escopo do nosso trabalho. importante lembrar, no entanto, que a construo poltica e ideolgica do conceito Totalitarismo se deu de forma precoce. Coube a oposio liberal italiana, entre 1923 e 1925, a caracterizao do fascismo como um Estado Totalitrio. Na verdade, a oposio apenas apropriou-se, negativizando, de uma expresso proposta pelo prprio Mussolini. Em seu af de elevar o Estado posio de realidade ltima da nao, Mussolini insistia em que espiritual ou materialmente no existiria qualquer atividade humana fora do Estado, neste sentido o fascismo totalitrio. (MUSSOLINI, Benito. Scritti e Discorsi. Milo: Ulrico Hoelpi Editore, 1935. p.07.) Porm, anlises posteriores como a de Hannah Arendt no considerariam o fascismo italiano como um regime totalitrio, categoria da qual fariam parte apenas o nazismo alemo (1933 - 1945) e o stalinismo sovitico (1924 - 1953). Afinal, para a autora, o uso do termo Totalitarismo deveria ser usado com parcimnia e prudncia. No prefcio do seu livro Origens do Totalitarismo, escrito em 1966, ao assinalar as diferenas entre os regimes totalitrios nazista e stalinista Hannah Arendt mostrou-se cautelosa sobre o caso da Repblica Popular da China, sob a liderana de Mao Ts-tung, durante o perodo da Revoluo Cultural (1966 - 1975), mesmo porque, naquele momento, segundo ela, o nosso conhecimento ainda menos seguro do que era em relao Rssia dos anos 1930, em parte porque esse pas conseguiu isolar-se muito mais radicalmente contra os estrangeiros aps a vitria da Revoluo, e em parte porque ainda no tivemos o auxlio de desertores dos escales superiores do Partido Comunista Chins. Neste aspecto, a autora insistiu no reconhecimento de que o governo totalitrio diferente das tiranias e das ditaduras; a distino entre eles no de modo algum uma questo acadmica que possa ser deixada, sem riscos, aos cuidados dos tericos, porque o domnio total a nica forma de governo com a qual no possvel coexistir. Com essa ressalva, o fascismo italiano para no falar de outras formas tradicionais de ditadura foi excludo de sua anlise. Taxativamente, a autora lembrou que Mussolini, to orgulhoso do termo Estado totalitrio, no tentou estabelecer um regime inteiramente totalitrio, contentando-se com a ditadura unipartidria. E prosseguiu: Ditaduras no-totalitria semelhantes surgiram, antes da II Guerra Mundial, na Romnia, Polnia, Estados Blticos, na Hungria, em Portugal e, mais tarde, na Espanha. Os nazistas, cujo instinto era infalvel para discernir essas diferenas, costumavam comentar com desprezo as falhas dos seus aliados fascistas, ao passo que a genuna admirao que nutriam pelo regime bolchevista da Rssia (e pelo Partido Comunista da Alemanha) s era igualada e refreada por seu desprezo em relao s raas da Europa Oriental. O nico homem pelo qual Hitler sentia respeito incondicional era Stlin, o gnio sendo a recproca verdadeira, como revelou Kruschev no XX Congresso: Stlin confiou apenas em um homem e esse homem era Hitler. (ARENDT, Op.cit., pp.341-342; 343; 358; 359-360.). A deciso de Hannah Arendt em definir somente o nazismo e o stalinismo como regimes totalitrios, excluindo o fascismo italiano, levou alguns autores a contestaram esta excluso, como fez Renzo De Felice em Le Fascisme. Un totalitarisme litalienne? (Paris: Presses de la FNSP, 1981). O conceito de totalitarismo, assim como o de fascismo, tambm foi discutido e adotado por alguns autores na Espanha, Portugal, Brasil e Argentina para definir franquismo, salazarismo, varguismo e peronismo, em trabalhos como: MILZA, Pierre. Les Fascismes (Paris: Imprimerie Nationale, 1985), MUOZ, Jacobo. El Franquismo: um fascismo a la espaola (In: Cadernos de PEDAGOGIA. Fascismo y Educacin. Set.1976), PINTO, Antonio da Costa. O Salazarismo e o Fascismo Europeu (Lisboa: Estampa, 1992), FALCON, Francisco Jos Calazan. Fascismo: Autoritarismo e Totalitarismo (In: SILVA, Jos Werneck da. O Feixe e o Prisma. Uma Reviso do Estado Novo. Vol.1 O Feixe. O Autoritarismo com Questo Terica e Historiogrfica. Rio de Janeiro: Zahar, 1991) e LEFORT, Claude. A Imagem do Corpo e o Totalitarismo (In: A Inveno Democrtica. Os Limites do Totalitarismo. So Paulo: Ed. Brasiliense, 1987). Contudo, muitos outros autores refutam essa tese de considerar esses regimes totalitrios ou fascistas. Acreditamos que, embora a experincia nazista tenha servido de modelo para as demais, as especificidades locais no podem ser deixadas de lado. Cabe comentar ainda que a anlise sobre o totalitarismo relacionado ao terror, uma das bases do conceito formulado por Arendt, tambm demonstra a dificuldade da aplicao desse conceito para outras realidades histricas, porque se essa experincia tipifica o nazismo e o stalinismo, o mesmo no se pode dizer em relao s demais polticas que se caracterizaram pela extrema represso e controle social, mas no tiveram uma prtica de terror, similar as analisadas pela autora.
-
12
filmes de fico, de reconstituio histrica, cinejornais e desenhos animados tiveram um
papel fundamental na propagao de um projeto poltico que visava a difuso de um
imaginrio totalitrio construdo a partir da representao de uma sociedade UNA, indivisa
e coesa; atravs desse tipo de imaginrio, os representantes desses regimes buscavam
construir uma identidade coletiva excludente que definia um NS (irmanado num mesmo
ideal) por oposio a um OUTRO (considerado inimigo). A ptria/nao era vista como um
todo organicamente construdo pelo par lder/massa5. Conquistar os coraes e mentes
para as causas que os representantes desse novo tipo de poder defendiam significava dar
legitimidade s polticas defendidas poca, inclusive s polticas destinadas
propaganda e meios de comunicao de massa.
Os regimes analisados so considerados por ns como expresso de polticas de
massas, orientadas por projetos de natureza totalitria que foram re-apropriados e postos
em prtica de formas distintas e cujos resultados tambm foram diferenciados. Por esse
motivo, nos referimos a todos esses regimes como polticas de massas, orientadas por
projetos que definiram a criao de um imaginrio totalitrio.
Os regimes polticos de massas se propunham a colocar, no centro de toda ao
poltica, o povo enquanto massa, desqualificando a idia da democracia representativa6.
Neste aspecto, o povo era considerado como agregado homogneo e como exclusivo
depositrio dos valores positivos, especficos e permanentes de uma nao.
A caracterstica bsica da poltica de massas era o contato direto entre o lder
carismtico e as massas, supostamente sem a intermediao de partidos ou corporaes,
embora ocorresse, muitas vezes, a monopolizao da representao poltica por parte de
um partido nico de massa, hierarquicamente organizado, que se superpunha e se
confundisse com o Estado. A idia geral era a de que o lder procurava estabelecer um
vnculo emocional e no racional com o "povo" para ser eleito e governar. Isto
implicava num sistema de polticas, ou mtodos utilizados para o aliciamento das classes
sociais de menor poder aquisitivo alm da classe mdia urbana, entre outros, procurando a
5 Para a compreenso do significado dos imaginrios totalitrios, ver o estudo de Claude Lefort, que analisou o significado da representao do par lder/massa atravs da imagem do corpo UNO no texto: A Imagem do Corpo e o Totalitarismo. In: LEFORT, Claude. A Inveno Democrtica. Os Limites do Totalitarismo. So Paulo: Ed. Brasiliense, 1987. pp.107-131. 6 A noo de massa, como a de povo, demasiadamente abstrata, pois apenas descreve os aspectos mais superficiais dessa realidade poltica e no permite conhec-la por completo. Mas segundo Francisco Weffort, para uma caracterizao formal do fenmeno, necessrio estabelecer os seguintes aspectos gerais: 1) a massificao, provocada pela proletarizao (de fato, mas no consciente) de amplas camadas de uma sociedade em desenvolvimento, que desvincula os indivduos de seus quadros sociais de origem e os rene na massa, conglomerado multitudinrio de indivduos relacionados entre si por uma sociabilidade perifrica e mecnica; 2) a perda da representatividade da classe dirigente e, em conseqncia, de sua exemplaridade que, assim, se transforma em dominante, parasitria; 3) aliadas a estas duas condies, a presena de um lder forte e carismtico, que fala sempre em nome do povo, como se este fosse um conjunto homogneo e no houvesse em seu interior diferenas entre as classes sociais, e a existncia de um cenrio histrico marcado por grandes desigualdades sociais, misria, ausncia de uma slida tradio de vida democrtica. Tais condies abrem possibilidades de que a poltica de massas venha a se constituir e alcance ampla significao social. WEFFORT, Francisco C. Poltica de Massas. In: IANNI, Octavio et alii. Poltica e Revoluo Social no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilizao Brasileira, 1965. pp.173-174.
-
13
simpatia daqueles desarraigados para angariar votos e prestgio resumindo, legitimidade
para si. Isto pode ser considerado um dos mecanismos mais representativos desta forma
de governo, que teve sua frente lideranas carismticas e autoritrias com enorme
popularidade junto s massas.
Os lderes polticos de massas apresentavam a sociedade como se estivesse dividida
entre as massas impotentes e os grupos de poderosos que se colocam contra elas. Mas a
idia de luta de classes no era parte dessa retrica poltica, que preferia glorificar o papel
infalvel do lder como protetor das massas7.
Na poltica de massas, o conceito de povo no era racionalizado, mas intudo ou
convincentemente postulado, isto , colocado como fato de tal forma que passa a ser
reconhecido sem necessidade de ser demonstrado. Baseada na premissa da
homogeneidade das massas populares, a poltica de massas se diferenciava radicalmente
no s dos movimentos de classe, como tambm dos movimentos interclassistas. Estes
no negavam a diferenciao de classes, embora tentassem concili-las; a poltica de
massas, ao contrrio, a ignorava, para ela a diviso era entre povo e no-povo. O no-
povo era tudo o que extrnseco a um povo histrico, territorial e qualitativamente
determinado. Dessa forma, exaltava a coletividade nacional, valorizando a formao de um
homem novo ideal, que era enquadrado em organizaes tendente a uma socializao
poltica planificada, funcional ao regime e a ideologia do grupo no poder.
Os regimes polticos de massas caracterizaram-se tambm pelo aniquilamento das
oposies mediante o uso da violncia e do terror e pela utilizao de um aparelho de
propaganda, baseado no controle das informaes e dos meios de comunicao de
massa, com o propsito de monopolizao da verdade. O crescente dirigismo estatal no
mbito econmico e a tentativa de integrar nas estruturas de controle do partido ou do
Estado, de acordo com uma lgica totalitria, a totalidade das relaes econmicas,
sociais, polticas e culturais foram caractersticas importantes desse tipo de fenmeno
poltico.
7 Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, explicou a emergncia dos totalitarismos, relacionando-os ao crescimento da sociedade de massa. Segundo a autora, as massas so constitudas por um grande nmero de indivduos atomizados, isolados, sem qualquer sentimento claro de integrao em grupo ou classe, ansiosos para escapar do curso arbitrrio, ininteligvel, de suas vidas dirias para a coerncia fictcia de uma ideologia. O totalitarismo atrai essas massas desapegadas e lhes inculca lealdade, graas sua propaganda megalomanaca, oferecendo-lhes como meta a dominao mundial e inimigos por toda a parte para temer e odiar. E simultaneamente a fora lealdade pelo terror, com o emprego do assassinato implacvel e arbitrrio. Contudo, no momento da derrota do totalitarismo, os seres disponveis que compem a massa cessam imediatamente de acreditar no dogma pelo qual ainda pouco estavam dispostos a sacrificar sua vida. Logo que o movimento, isto , o mundo fictcio que as abrigou, destrudo, as massas revertem, sem dificuldades ou escrpulos, ao seu antigo status de indivduos isolados que aceitam de bom grado uma nova funo num mundo novo ou mergulham novamente em sua antiga e desesperada superfluidade, procura de outra fico promissora, ou esperam at que a velha fico recupere fora suficiente para criar novo movimento de massa. Cf. ARENDT, Op.cit., pp. 361 e 413.
-
14
* * *
Inserido no panorama da circulao de imagens, idias e prticas poltico-culturais,
que envolveram os dilogos entre os regimes polticos de massas na Europa e na Amrica
Latina, o presente estudo encontra na perspectiva das histrias conectadas uma proposta,
que contribui para o mapeamento das aproximaes e dos conflitos de idias e prticas
polticas entre a Alemanha nazista e os outros Estados europeus e latino-americanos (Itlia
fascista, Portugal salazarista, Espanha franquista, Brasil varguista e Argentina peronista), a
partir de lgicas espaais, temporais, polticas e culturais distintas, mas que, em funo da
similaridade do corpus documental, assim como da postura dos Estados, dos projetos de
cinema e da atuao dos cineastas desses governos, permite uma melhor compreenso
dos casos estudados.
O intercmbio de idias e propostas cinematogrficas entre produtores culturais de
diferentes nacionalidades resultou numa rede de contatos entre cineastas que permitiu a
configurao de novas formas de representao relacionadas aos fenmenos de
circulao, apropriao e ressignificao de idias. Na reconstituio do movimento de
circulao de idias, especial ateno conferida aos contatos entre os cineastas que as
diferentes histrias conectadas permitiram.
Cabe lembrar que os tempos atuais de avano da globalizao propiciaram a
discusso sobre a construo de histrias conectadas. Em artigo publicado em 2001,
Serge Gruzinski defende a ampliao do olhar do historiador para alm da nao,
propondo que se estabeleam conexes8. A expresso connected histories (histrias
conectadas) foi proposta por Sanjay Subrahmanyam, historiador indiano radicado na
Frana, que desmonta a viso tradicional da historiografia europia sobre o mundo
asitico, propondo que a inter-relao de processos situados em lugares diferentes seja
estudada9. Tal perspectiva mostra-se mais fecunda para a compreenso de fenmenos
localizados em uma grande escala geogrfica porque permite uma anlise acurada entre
objetos de dimenses variadas. Enfatiza que a histria asitica moderna no pode ser vista
como mero produto ou resultado do comando da histria europia, sem a qual,
supostamente, no existiria. Prope que ela seja entendida em suas conexes com a
Europa e com as outras partes do mundo, sem que se estabeleam plos, um
determinante e outro subordinado.
8 GRUZINSKI, Serge. Les mondes mls de la Monarchie catholique et autres connected histories . Annales, Histoire, Sciences Sociales. Paris, janvier fvrier 2001. 9 SUBRAHMANYAM, Sanjay. Connected histories: notes towards a reconfiguration of early modern Eurasia. In: LIEBERMAN, Victor (Ed.). Beyond binary histories. Re-imagining Eursaia to c. 1830. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999.
-
15
Chakrabarty, indiano radicado nos Estados Unidos, prope que o olhar do historiador
no fique restrito ao espao nacional, critica a perspectiva eurocntrica e defende uma
abordagem transnacional, uma vez que h contatos constantes entre culturas e
sociedades10. Acreditamos que o enfoque das histrias conectadas, ao privilegiar a
circulao, as trocas e as zonas de contato que se constituram culturalmente em nosso
caso, no mbito da Europa e Amrica Latina complementa de forma enriquecedora o
tradicional mtodo comparativo, entendido como uma estratgia que permite ao historiador
no apenas identificar semelhanas, analisar influncias comuns, mas tambm
compreender as implicaes peculiares de fatores similares em contextos diferentes e
detectar inter-relaes11.
* * *
A propaganda veiculada nas produes cinematogrficas dos regimes polticos de
massas europeus e latino-americanos representa um dos mais importantes pilares de
sustentao desse tipo de poder.
O termo propaganda possui uma conotao pejorativa ao sugerir estratgias
manipuladoras de persuaso, intimidao e engano. Apesar disso, as conotaes
negativas e emotivas da palavra propaganda esto intimamente ligadas s lutas
ideolgicas do sculo XX12.
10 CHAKRABARTY, Dipesh. Provincializing Europe. Postcolonial thought and historical difference. Princeton: Princeton University Press, 2000. 11 BLOCH, Marc. Pour une histoire compare des societs europennes. In : Mlange historiques. Paris: SEVPEN, 1963. 12 O emprego original do termo, para descrever a propagao sistemtica de crenas, valores e prticas, remonta ao sculo XVII, quando o Papa Gregorio XV promulgou, em 1622, a Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Sacra Congregao para a Propagao da F), uma misso organizada pelo Vaticano para disseminar a f no Novo Mundo, reviver e fortalecer o poder da Igreja na Europa e, principalmente, contra-atacar as idias rivais da Reforma Protestante. Ao longo dos sculos XVIII e XIX, a palavra foi empregada em todas as lnguas europias, referindo-se de forma generalizada tanto a difuso de idias polticas e religiosas, quanto a publicidade dos anncios comerciais. No entanto, se considerarmos o termo propaganda em toda sua amplitude, poderia ser elaborada uma longa lista de outros povos e culturas que utilizaram tcnicas de propaganda, principalmente atravs da arte, desde o Egito Antigo at as naes que compem o amplo mosaico do nosso tempo presente. Segundo Clia Szniter, possvel situar a origem da propaganda poltica ao lado do surgimento da prpria poltica, ou das formas mais primitivas de organizao social, reconhecendo como tal todas as manifestaes que incluem a relao multido-lder, envolvendo persuaso, crenas em mitos e a utilizao de simbologias. Seu uso como meio de controlar o fluxo de informaes, manejar a opinio pblica, ou manipular comportamentos to antigo quanto se tem registro histrico. Os dirigentes das cidades-estado, reinos ou imprios do mundo antigo utilizaram a arte em uma escala monumental para destacar seu poder, glorificar suas vitrias e intimidar ou difamar seus inimigos. Os smbolos e rituais polticos da Roma imperial foram elaborados detalhadamente pelos imperadores dos sculos I e II, cujas imagens se comemoravam em esttuas monumentais e se distribuam em moedas e medalhas por todo o Imprio. Os espaos arquitetnicos de Roma foram planejados para celebrar cerimnias espetaculares de triunfo, obedincia e unidade, e para exibir prisioneiros e despojos de guerra. Durante a Idade Mdia, a arte esteve intimamente ligada a poltica, j que as esferas da autoridade religiosa e da profana eram indivisveis. As obras artsticas medievais, de temtica crist, refletiam, muitas vezes, os interesses ideolgicos dos poderes eclesisticos ou seculares, que as encomendavam. J a propaganda poltica de carter nacional, dirigida s massas, tem como referncias iniciais as grandes festas da Revoluo Francesa (1789) e as prprias cerimnias polticas que marcaram sua nacionalizao nos pases ocidentais durante o sculo XIX. Ainda neste perodo, as tcnicas de propaganda do um salto vertiginoso com a progressiva emergncia da sociedade de massas. medida que cada veculo de comunicao de massas comeava a encontrar um pblico, imediatamente este se tornava tambm um veculo de propaganda (jornais, revistas, cartazes, etc.). No final do sculo XIX e incio do XX, os meios de comunicao de massas ganharam ainda mais agilidade, rapidez e poder de difuso e penetrao junto populao com a inveno do rdio e do cinema e, posteriormente, da televiso. Esses veculos de comunicao introduziram possibilidades inditas no que se refere persuaso e propagao de idias, em virtude de sua atuao ainda mais eficaz sobre o
-
16
A propaganda moderna se fez presente na Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918),
quando os governos em luta se deram conta de que os mtodos tradicionais de
recrutamento no obtiveram sucesso em repor o nmero de combatentes necessrios para
o front de batalha. Necessitaram, ento, conquistar o apoio da opinio pblica e, para isso,
utilizaram os meios de comunicao de massas, como a imprensa de grande tiragem, o
rdio, o cinema e todos os novos processos de reproduo grfica, para disseminar
mensagens favorveis s diretrizes da poltica estatal em tempos de guerra. Alm de
utilizar os meios de comunicao como armas de propaganda poltica, os governos
tambm fizeram uso da censura e da manipulao de informaes que foram combinadas
a crescente aplicao da guerra psicolgica empreendida contra a moral do inimigo.
Depois da Primeira Guerra Mundial, a propaganda governamental prosseguiu nos
pases democrticos, ainda que as agncias oficiais preferissem, a partir de ento, referir-
se a ela com eufemismos do tipo servios de informao ou educao pblica. Esse af
por evitar a palavra foi motivado pela idia de sua incompatibilidade com os ideais da
democracia, j que a palavra propaganda foi sendo associada cada vez mais com os
emergentes Estados unipartidaristas, tais como a Unio Sovitica e a Alemanha nazista,
que empregaram-na abertamente em sua terminologia oficial. Nas democracias ocidentais,
a palavra propaganda era vinculada noo de Totalitarismo, termo polmico que, at
1945, foi empregado para definir as ditaduras nazi-fascistas e, durante a Guerra Fria, a
Unio Sovitica e os demais Estados comunistas.
A histria da propaganda poltica moderna est, portanto, intimamente ligada ao
desenvolvimento da poltica, da sociedade e da cultura de massas, consolidada a partir da
dcada de 1920, com o avano tecnolgico dos meios de comunicao. Valendo-se de
idias e conceitos, a propaganda os transforma em imagens, smbolos, mitos e utopias que
so transmitidos pela mdia. A referncia bsica da propaganda a seduo, elemento de
ordem emocional de grande eficcia na conquista de adeses polticas. Em qualquer
governo, a propaganda estratgica para o exerccio do poder, mas adquire uma fora
muito maior naqueles em que o Estado, graas ao monoplio dos meios de comunicao,
exerce controle rigoroso sobre o contedo das mensagens, procurando bloquear toda
atividade espontnea ou contrria ideologia oficial. O poder poltico, nesses casos,
conjuga o monoplio da fora fsica e da fora simblica; tenta suprimir dos imaginrios,
toda representao do passado, presente e futuro coletivos que seja distinta daquela que
atesta a sua legitimidade e cauciona o controle sobre a vida coletiva. Em governos dessa
imaginrio dos indivduos. Cf. Informaes extradas dos estudos de: CLARK, Toby. Arte y Propaganda en el Siglo XX. Madrid: Ediciones Akal, 2000. pp.7-9. & SZNITER, Clia. A Dimenso Visual da Propaganda Nazista: As Imagens do Judeu e do Ariano. So Paulo: Dissertao de Mestrado (FFLCH-USP), 1996. pp.59-62.
-
17
natureza, a propaganda poltica se torna onipresente, atua no sentido de aquecer as
sensibilidades e tende a provocar paixes, visando assegurar o domnio sobre os coraes
e mentes das massas13.
Dentre todos os meios de comunicao utilizados para exercer tal influncia
psicolgica, o cinema foi privilegiado. Neste sentido, a escolha de filmes ficcionais, de
reconstituio histrica, documentrios e cinejornais como fonte primria de investigao
decorrente da importncia adquirida pela produo cinematogrfica com sentido poltico,
principalmente, a partir da Primeira Guerra Mundial. Como afirmam Leif Furhammar e
Folke Isaksson:
A velha idia de que os filmes podem ser considerados apenas como diverso ou arte, ou eventualmente ambos, atualmente encarada com crescente ceticismo. amplamente reconhecido que os filmes refletem tambm as correntes e atitudes existentes numa determinada sociedade, sua poltica. O cinema no vive num sublime estado de inocncia, sem ser afetado pelo mundo; tem tambm um contedo poltico consciente ou inconsciente, escondido ou declarado14.
No entanto, a utilizao do cinema como fonte histrica remonta h apenas quatro
dcadas e, ainda, encontra dificuldades no que se refere formulao de um arcabouo
terico e metodolgico efetivo. De qualquer forma, avanos foram realizados com a
formulao de alguns conceitos fundamentais acerca dessa relao, que no podem ser
ignorados pelo historiador que deseje pensar a relao Cinema e Histria. Alguns dos
problemas enfrentados nesse tipo de anlise dizem respeito ao enquadramento do filme
enquanto fonte histrica e agente da Histria.
Qualquer reflexo sobre a relao Cinema e Histria toma como parmetro a
premissa de que todo filme uma fonte histrica, desde que corresponda a um vestgio do
passado, seja ele imediato ou remoto. Todavia, foi a partir da dcada de 1960 que o filme
comeou realmente a ser visto como um possvel documento para a investigao histrica.
Para Marc Ferro, um dos principais estudiosos da relao Cinema e Histria15, essa
demora se explica pela prpria histria da historiografia. Em seu artigo Analyse de Film,
Analyse de Socits16 retoma o final do sculo XIX, momento em que a Histria se
organiza como disciplina positiva, para constatar que a fala preponderante do perodo era
13 As reflexes tericas sobre propaganda poltica apresentadas foram extradas do estudo de: CAPELATO, Maria Helena R. Multides em Cena. Propaganda Poltica no Varguismo e no Peronismo (Campinas: Papirus, 1998. pp.35-36.); DOMENACH, Jean-Marie. A Propaganda Poltica (So Paulo: Difel, 1963); DRIENCOURT, Jacques. La propagande, nouvelle force politique (Paris: Librarie Armand Collin, 1950); TCHAKHOTINE, Serge. A Mistificao das Massas pela Propaganda Poltica. (Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1967) e nas consideraes de ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo, em especial quando a autora diz que nos pases totalitrios, a propaganda e o terror parecem ser duas faces da mesma moeda. Cf. ARENDT, Op.cit., p.390. 14 FURHAMMAR, Leif & ISAKSSON, Folke. Cinema e Poltica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. p.38. 15 Sobre aos trabalhos tericos de Marc Ferro dedicados a relao Cinema e Histria ver: MORETTIN, Eduardo. O cinema como fonte histrica na obra de Marc Ferro. In: Histria e Cinema. Dimenses Histricas do Audiovisual. So Paulo: Alameda, 2007. pp.39-64. 16 FERRO, Marc. Analyse de film, Analyse de socits. Paris: Hachette, 1975.
-
18
a fala do Estado e de suas instituies, de um Estado que se via e se queria uno, onde no
havia lugar para a diferena. O documento privilegiado, portanto, somente poderia ser o
oficial declaraes ministeriais, discursos e tratados comerciais.
Essa linha de pensamento somente sofreu mudanas com as pesquisas da Nova
Histria, quando novas fontes foram valorizadas, dentre elas, as produes
cinematogrficas, conforme afirma o historiador Jacques Le Goff17. Portanto, ao refletirmos
sobre o papel do cinema na sociedade, constatamos que
vivemos no sculo do audiovisual. Ao realizarem em 1895 a primeira projeo pblica de filmes numa tela, os irmos Lumire entreabriram uma moderna e fabulosa Caixa de Pandora, de que surgiu, pouco a pouco, uma nova dimenso do espetculo, uma nova escrita, uma nova arte, uma nova indstria, um novo tipo de representao do mundo, um novo campo imenso proporcionado imaginao humana. No obstante a tcnica tenha evoludo desde ento, no obstante os meios de difuso dessa espantosa mquina de refazer a vida tenham se transformado radicalmente com o passar dos anos (vdeo, canais de televiso pblicos e privados, televiso a cabo, satlites...), no obstante o espectador de hoje tenda a preferir o cinema em casa s salas cheias de outrora, no obstante tudo isso, as imagens em movimento continuam a exercer um poder de atrao considervel, as histrias contadas na pelcula continuam a seduzir um grande pblico, as estrelas da tela grande ou pequena continuam a ter uma popularidade fantstica. O cinema continua a ser, por excelncia, a diverso do nosso tempo, com uma influncia e um poder de persuaso inigualveis18.
Visto isso, nas palavras de Martin Jackson,
o cinema deve ser considerado como um dos depositrios do pensamento do sculo XX, na medida em que reflete amplamente a mentalidade dos homens e mulheres que fazem filmes. Do mesmo modo que a pintura, a literatura e as artes plsticas, o cinema ajuda a compreender o esprito do nosso tempo19.
O cinema desde sua inveno serviu inicialmente cincia como um instrumento do
seu progresso; os Exrcitos tambm o utilizaram desde o incio, at para melhor identificar
as armas do inimigo; os governos, desde muito cedo, perceberam o seu poder de
propaganda e que, sob a aparncia de representao, eles doutrinam e glorificam. Mais do
que centenrio, o cinema enfim mereceu a ateno do historiador; resta agora estud-lo e
associ-lo com o mundo que o produz. Afinal,
desde seus incios, o cinema, como espetculo de massas, recorreu Histria como fonte de inspirao temtica. O prprio Mlis chegou a rodar em suas atualidades filmadas alguns episdios como as bodas do rei Eduardo VII reconstrudos em estdios antes que os fatos histricos se produzissem. Posteriormente, resulta evidente sublinhar que, O Nascimento de uma Nao e O Encouraado de Potemkin se baseavam em fatos histricos, e que no poucos momentos clebres da Histria o Imprio Romano, a Idade Mdia, a colonizao do Terceiro Mundo, a Conquista do Oeste, etc. tem
17 LE GOFF, Jacques. A Nova Histria. Lisboa: Edies 70, 1982. p.28. 18 BEYLIE, Claude. As Obras-Primas do Cinema. So Paulo: Martins Fontes, 1991. p.09. 19 JACKSON, Martin A. El historiador y el cine. In: ROMAGUERA, Joaquim & RIAMBAU, Esteve. (org.). La historia y el cine. Barcelona: Fontamara, 1983. p.14.
-
19
desempenhado papis transcendentais na gnesis de alguns gneros cinematogrficos. Por sua parte, a Histria tem tido no cinema desde que este existe um valioso instrumento de trabalho, que nem sempre adequadamente valorizado pelos prprios historiadores. Mas o certo que o cinema, bem como instrumento de reproduo documental de alguns acontecimentos fundamentais desde a guerra dos Beres at o bombardeio israelita de Beirut bem como possibilidade de reconstruo fictcia de qualquer fato histrico, j faz tempo que deveria ser tido em conta por seu ilimitado potencial de memria histrica transmitida em imagens20.
Vrios foram os estudiosos que se preocuparam com a relao entre Cinema e
Histria. O historiador Eduardo Morettin afirma que essa relao to antiga quanto o
prprio cinema, conforme comprova a leitura do artigo Le cinma et lhistoire, um
documento de 1898, em que o autor, Boleslas Matuszewski, mostrava-se
consciente do que era histria, sensvel ao que poderia ser o cinema (...) analisando as relaes mtuas destas duas formas de expresso21.
Siegfried Kracauer, um dos pioneiros da utilizao do cinema como documento de
investigao histrica e preocupado com as potencialidades democrticas e totalitrias dos
meios de comunicao de massa, procurou demonstrar, em De Caligari a Hitler: Uma
Histria Psicolgica do Cinema Alemo (1947), como o cinema alemo da Repblica de
Weimar enormemente artificial realmente refletia tendncias psicolgicas profundas e a
loucura institucionalizada da vida na Alemanha. Segundo ele, os filmes conseguiam refletir
a mentalidade nacional porque (1) no so produes individuais, mas coletivas e (2) tm
como alvo e mobilizam uma audincia de massa, no por meio de temas ou discursos
explcitos, mas nos desejos implcitos, inconscientes, ocultos, no verbalizados22. Na
abordagem figurativa de Kracauer, o cinema alemo da Repblica de Weimar prenunciou a
insanidade caligaresca do nazismo. O autor identificou uma espcie de teleologia mrbida
em obras-primas como O Gabinete do Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, dir.
Robert Wiene, 1919) e M O Vampiro de Dsseldorf (M Eine Stadt sucht einen Mrder,
dir. Fritz Lang, 1931), um movimento na direo do nazismo evidenciado nas tendncias
autoritrias dos prprios filmes. Nesse sentido, Kracauer explora uma espcie de mimese
social, percebendo a historicidade da prpria forma como figurativa de situaes sociais.
Ou seja, os filmes so vistos como representando, de uma forma alegrica, no a histria
literal, mas as obsesses profundas, perturbadoras e inconscientes do desejo e da
parania nacionais.
20 ROMAGUERA, Joaquim & RIAMBAU, Esteve (orgs.). La historia y el cine. Barcelona, Fontamara, 1983. p.07. 21 G.M.S. Le cinma et lhistoire: un document de 1898. In: Cultures (1): 1974. p.233. Apud. MORETTIN, Eduardo Victorio. Cinema e Histria: Uma Anlise do Filme Os Bandeirantes. So Paulo: Dissertao de Mestrado em Artes, 1994. Nota 2, p.10. 22 KRACAUER, Siegfried. De Caligari a Hitler. Uma Histria Psicolgica do Cinema Alemo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. p.17.
-
20
Seria, no entanto, somente a partir da dcada de 1960 que o filme comeou
realmente a ser visto como um possvel documento para a investigao histrica, sendo
elevado categoria de novo objeto, definitivamente incorporado ao fazer histrico23.
Dessa forma, a partir dos avanos da historiografia da Nova Histria, o cinema e os
filmes foram includos nos estudos dos historiadores. Segundo Marc Ferro,
o filme pode tornar-se um documento para a pesquisa histrica, na medida em que articula ao contexto histrico e social que o produziu um conjunto de elementos intrnsecos prpria expresso cinematogrfica. Esta definio o ponto de partida que permite tirar o filme do terreno das evidncias: ele passa a ser visto como uma construo que, como tal, altera a realidade atravs de uma articulao entre a imagem, a palavra, o som e o movimento24.
O filme, desde ento, passou a ser encarado como testemunho da sociedade que o
produziu, como um reflexo no direto e mecnico das ideologias, dos costumes e das
mentalidades coletivas.
Ao estudarmos a histria do cinema podemos constatar que ele possibilitou somar
tcnica e linguagem para a produo da realidade, tal qual esta se apresenta ao olhar.
Dessa forma, o cinema criou a iluso de ser uma arte objetiva, neutra, na qual no haveria
a interferncia do homem, j que a cmera cinematogrfica seria vista como um artefato
mecnico que eliminaria a interveno humana e asseguraria a objetividade.
Segundo Jean-Claude Bernardet,
ao sustentar-se que o cinema natural, isto que ele representa a viso natural como afirmar que o real expressa-se sozinho na tela sem a interferncia humana. Tal colocao implica, entre outros aspectos, na eliminao do grupo que produz a fala e conseqentemente perde-se no horizonte que o cinema representa principalmente um ponto de vista. A histria do cinema em grande parte a luta constante para manter ocultos os aspectos artificiais do cinema e para sustentar a impresso de realidade. O cinema como toda rea social um campo de luta e a histria do cinema tambm o esforo constante para denunciar esse ocultamento e fazer aparecer quem fala25.
Neste aspecto, possvel identificar o passado comum entre o cinema e a fotografia
baseado na crena construda no sculo XIX, segundo a qual ambos poderiam captar a
realidade de forma neutra. Porm, logo ficou evidente que as cmeras fotogrficas e
cinematogrficas no proporcionavam o registro objetivo da realidade. Uma vez que as
23 Conforme j apontado, esta incorporao ocorre nos domnios da chamada Nova Histria. Esta corrente do pensamento historiogrfico francs, em linhas gerais, relativiza a importncia do fato histrico, pois o fato no em histria a base essencial de objetividade ao mesmo tempo porque os fatos histricos so fabricados e no dados e porque, em histria, a objetividade no pura submisso aos fatos. LE GOFF, Jacques. Histria. In: Enciclopdia Einaudi. Memria e Histria. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1987. p.167. 24 FERRO, Marc. Cinema e Histria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p.86. 25 BERNARDET, Jean-Claude. O Que Cinema. So Paulo: Editora Brasiliense, 1981. pp.11-20.
-
21
imagens produzidas era o resultado de escolhas feitas pelos fotgrafos e cineastas,
segundo interesses, crenas, valores, preconceitos e convenes26.
Todavia, o passado comum entre o filme e a fotografia no significou uma identidade
total. Segundo o historiador Antnio Costa, na fotografia o objeto foi arrancado de sua
durao e imobilizado num momento expressivo; no cinema o objeto foi inserido na
durao, ritmando no contraponto de imagens, com todos os momentos que exprimiu27.
Portanto, como afirma o historiador Elias Thom Saliba,
o cinema transformou na sua vocao aquilo que a fotografia nunca conseguiu captar: as imagens em movimento, a animao das cenas, o trnsito das luzes, o ritmo incessante das mudanas de planos. Originalmente fotografia animada que proporcionava a iluso do movimento, o cinema fez, com que, pela primeira vez, a imagem das coisas fosse a imagem da prpria durao delas (...) Registro e reproduo do movimento, segundo seus pais fundadores. Desdobramento do comportamento humano que no admite equilbrio na ausncia de movimento, segundo abordagens psicolgicas. Uma continuidade entre inmeras rupturas, segundo definies mais modernas. Mobilidade dos tempos em funo do espectador, sempre imvel na poltrona, embora criativo e participante, segundo as teorias da recepo mais recentes. Da a ntima e fecunda proximidade do cinema com a temporalidade e a histria 28.
Vale ressaltar ainda que os cineastas e/ou produtores de um filme espelham os
valores da sociedade atravs da presena de elementos da esttica e da prpria
linguagem cinematogrfica, dos quais, muitas vezes, nem mesmo eles tm conscincia,
constituindo-se, dessa forma, em zonas ideolgicas no-visveis da sociedade 29. Postula-
se, assim, que um filme, seja ele qual for, sempre vai alm do seu contedo, escapando
mesmo ao controle de quem faz a filmagem.
Na mesma perspectiva, Siegfried Kracauer afirma:
O que os filmes refletem no so credos explcitos, mas dispositivos psicolgicos, profundas camadas da mentalidade coletiva que se situam abaixo da conscincia30.
26 No caso do processo inicial de elaborao da fotografia, por exemplo, possvel identificar uma srie de escolhas de natureza tcnica impostas ao fotgrafo que condiciona a imagem por ele elaborada, tais como: o ngulo escolhido, a potncia da cmera utilizada para o trabalho, os recursos/tcnicas disponveis para a revelao, bem como o tipo de papel usado para a impresso e as cores nas quais ser imprensa. Alm dos aspectos tcnicos devemos destacar o papel do fotgrafo na criao da imagem fotogrfica atravs da sua influncia na escolha e no tratamento dado ao tema fotografado, o que faz com que o fotgrafo exteriorize um posicionamento poltico que interfere brutalmente na produo supostamente objetiva e real do registro mecnico. Para Boris Kossoy: A eleio de um aspecto determinado isto , selecionado do real, com seu respectivo tratamento esttico , a preocupao na organizao visual dos detalhes que compem o assunto, bem como a explorao dos recursos oferecidos pela tecnologia: todos so fatores que influiro decisivamente no resultado final e configuram a atuao do fotgrafo enquanto filtro cultural. O registro visual documenta, por outro lado, a prpria atitude do fotgrafo diante da realidade; seu estado de esprito e sua ideologia acabam transparecendo em suas imagens, particularmente naquelas que realiza para si mesmo enquanto forma de expresso pessoal. KOSSOY, Boris. Fotografia e Histria. So Paulo: tica, 1989. p.27. 27 Cf. COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1987. 28 SALIBA, Elias Thom. Histria e Mobilidade em Central do Brasil. In: SOARES, Maria de Carvalho & FERREIRA, Jorge (orgs.). A Histria Vai ao Cinema. Vinte Filmes Brasileiros Comentados por Historiadores. Rio de Janeiro: Record, 2001. p.250. 29 FERRO, Marc. Cinema e Histria. p.93. 30 KRACAUER, Op.cit, p.18.
-
22
Os filmes, na verdade, como todo produto humano e, portanto, histrico, contm
elementos que lhe foram inseridos de forma consciente e outros que no. Estes ltimos,
por sua vez, localizam-se numa esfera inconsciente, seja do produtor tratado
individualmente, seja da coletividade como um todo.
Indubitavelmente, o fascnio que o cinema exerce sobre as pessoas se deve a sua
impresso de realidade que a grande responsvel por trazer o espectador o mais
prximo possvel do assunto do filme, da histria contada, estabelecendo entre ambos uma
relao de pura fascinao, onde aquele abandonaria sua conscincia crtica, e esta [a
obra] deixaria de ser uma tomada de conscincia de uma certa realidade para limitar-se a
ser uma cpia do real31.
O cinema em si, imagem fotogrfica em movimento (e posteriormente sonorizada), j
traz um grande potencial de convincente mimisis da realidade. O movimento traz a
dimenso do tempo ao cinema. Segundo Edgard Morin,
o movimento a fora decisiva da realidade: nele e atravs dele que o tempo e o espao so reais. (...) a conjuno da realidade do movimento e da aparncia das formas provoca a sensao da vida concreta e uma percepo da realidade objetiva32.
J a incluso do som, segundo Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, contribuiu para que
se obtivesse a iluso de que
o mundo exterior o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme33.
Dessa forma, o cinema sonoro surgiu como um aperfeioamento da impresso de
realidade, inserido que est na tendncia da evoluo das tcnicas cinematogrficas que
caminham no sentido de um acrscimo dos efeitos de realidade. Mas, a
impresso de realidade por si s era insuficiente, embora fundamental, para o estabelecimento de um estado de fascinao no espectador. Era preciso que ela estivesse conectada a uma histria de sonho, um cenrio de sonho, percorrido por criaturas de sonho, como so efetivamente os componentes deste cinema em que tudo mais belo do que na realidade, mas no demasiado o suficiente para parecer possvel34.
Conforme lembra Eduardo Morettin, Marc Ferro
entende que todo o filme, sem privilegiar nenhum gnero, deve ser analisado pelo historiador. A obra cinematogrfica traz informaes fidedignas a respeito do seu presente. A recuperao destas informaes exige do pesquisador conhecimentos tericos e tcnicos (...) A noo de autenticidade, surgida da
31 Cf. KANE, Pascal. A Relao Espetculo Espectador. In: TORRES, A. Roma. Cinema, Arte e Ideologia. Porto: Afrontamento, s.d. pp.22-23. 32 MORIN, Edgar. O Cinema ou o Homem Imaginrio. Lisboa: Moraes Ed., 1980. p.108. 33 ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. Dialtica do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p.118. 34 MONACO, James. How to Read a Film The Art, Technology, Language, History and Theory of Film and Media. Londres: Oxford University Press, 1977. pp.184-185.
-
23
necessidade de se compreender exatamente o que se passou, a realidade de um dado momento histrico, permeia toda a discusso35.
Ao examinar documentrios, baseados na realidade, e filmes ficcionais, Marc Ferro
adverte-nos que a realidade do documentrio pode ser to falsa, construda ou
manipulada, quanto pode ser real uma situao encenada num filme de fico. Por isso,
documentrios, filmes ficcionais ou de reconstituio histrica tm o mesmo valor para o
historiador na medida em que o real e o imaginrio so igualmente Histria e ambos
so resultados de uma construo e ultrapassam, em sua imagem e concepo, as
pretenses de seus realizadores.
A hiptese? Que o filme, imagem ou no da realidade, documento ou fico, intriga autntica ou pura inveno, Histria. O postulado? O que no aconteceu (e tambm, por que no? O que aconteceu), as crenas, as intenes, o imaginrio do homem, so to Histria quanto prpria Histria36.
Viso que pode ser complementada com a de Ismail Xavier ao considerar que o
cinema sempre ficcional, um fato da linguagem, constitudo de imagens e de sons, pertencendo ao universo do discurso, sendo produzido e controlado, de diferentes formas por uma fonte produtora37.
A observao de Marc Ferro refere-se a um preconceito existente em relao ao
cinema e literatura, enquanto fontes teis para o historiador: o fato de pertencerem ao
campo da fico, daquilo que foi inventado, do que no aconteceu realmente. No caso
especfico do cinema, por exemplo, surgiu, inicialmente, a preocupao em classificar o
que seria o documentrio e o que seria a obra de fico, entendendo-se que o primeiro,
composto de cenas reais, de poca, poderia ser objeto de estudo do historiador, enquanto
que a obra ficcional no o seria, na medida em que, resultado da criao de um artista,
pouco ou nada teria a ver com a noo de realidade histrica.
Uma questo decorrente dessa abordagem refere-se a classificao dos chamados
filmes de reconstituio histrica, que teriam a tarefa de reconstruir o mais fidedignamente
possvel os acontecimentos do passado, a vida das grandes personagens histricas,
alm da preocupao em reconstituir a indumentria, a moblia e os costumes da poca.
Para Marc Ferro,
todo filme constitui um reflexo do contexto histrico em que havia sido realizado. Se, no entanto, este filme aborda um tema histrico do passado, a articulao Cinema-Histria se produz num nvel duplo: a do filme como instrumento de anlise e reproduo de um acontecimento histrico, e tambm como paralelo reflexo contemporneo das circunstncias histricas do momento da sua produo38.
35 MORETTIN, Op.cit., p.23. 36 FERRO, Marc. Analyse de Film, Analyse de socits. p.10. 37 XAVIER, Ismail. O discurso cinematogrfico. A opacidade e a transparncia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. p.27. 38 RIAMBAU, Esteve. El Film Histrico. In: ROMAGUERA, Joaquim & RIAMBAU, Esteve (org.). La historia y el cine. Barcelona: Fontamara, 1983. p.67.
-
24
importante frisar, segundo Ferro, que
nos filmes que tratam do passado, nosso interesse no est, particularmente, na sua representao do passado, mas na escolha dos temas, nos gostos da poca, nas necessidades de produo, nos lapsos do criador39.
Portanto devemos iniciar nossas investigaes a partir da anlise imagtica:
preciso considerar a Histria a partir das imagens. No procurar nelas apenas a ilustrao, confirmao ou desmentido da esc