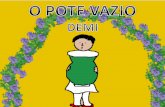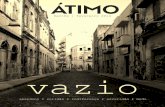O Mausoleu Vazio
-
Upload
diegorezende -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
description
Transcript of O Mausoleu Vazio
-
O MAUSOLU VAZIO: o signo da ausncia em O albatroz, romance de Jos Geraldo Vieira
Carlos Eduardo FERNANDES NETTO *
RESUMO
Analisando o romance O Albatroz, de Jos Geraldo Vieira (1897-1977), buscamos demonstrar de que maneira a elaborao ficcional da guerra e de outros acontecimentos relacionados a grandes quadros histricos proporciona uma percepo especfica do sofrimento humano levado ao extremo. A especificidade do discurso ficcional, no caso, verificada na possibilidade de se vislumbrar o cerne inenarrvel das vivncias expostas, que, paradoxalmente, revelam sua ausncia no prprio instante da apresentao, dada a impossibilidade de se apreender a dor por meio de palavras ou imagens.
PALAVRAS-CHAVE: Jos Geraldo Vieira. Guerra. Histria. Fico. Dor. Discurso.
Introduo
O romance O Albatroz, de Jos Geraldo Vieira, um livro sobre a guerra, ou sobre os perodos de exceo tornados to frequentes que se impem como o nico tempo da histria. A obra toda ambientada em tempos e espaos de desastres e calamidades. Na sequncia narrativa, os intervalos de paz so bruscamente suprimidos pela destruio e pela morte. A presena de elementos poticos tem como resultado a constituio de uma atmosfera trgica, em que o mal sofrido no encontra justificao nem reparao. Analisando esse livro, buscamos demonstrar como o discurso ficcional pode proporcionar uma apreenso peculiar da realidade histrica marcada por extremos de sofrimento humano. No romance O Albatroz, o carter especfico da fico manifesta-se na assuno, pela linguagem, de sua insuficincia em equivaler intensidade pungente da dor resultante da perda. Assim, o mago das vivncias relatadas s pode ser referido mediante estruturas narrativas e figuraes poticas que apontam para o ritmo implacvel dos acontecimentos e para a perplexidade, o silncio e o vazio acarretados pelos eventos.
Por esse motivo, pode-se dizer que o livro apresenta uma estrutura bem realizada, responsvel pela construo da realidade inexorvel e indizvel que envolve Virgnia, a personagem principal. A sequncia narrativa formada por uma cadeia de perdas afetivas que a protagonista suporta com dignidade trgica ao longo de sua vida marcada por um nmero crescente de mortes violentas de seres amados, ocorridas durante alguns dos grandes acontecimentos pertencentes ao panorama histrico de final do sculo XIX at meados do sculo XX.
Combinando fatos da histria e sofrimento pessoal, o livro oferece uma viso do tempo decorrido entre a Guerra de Canudos (1896-1897) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O carter transnacional do livro atende ao propsito ficcional de constituio de um * Ps-doutor em Teoria Literria (IEL-UNICAMP, 2009). Doutor em Estudos Literrios (FCL-UNESP-
Araraquara, 2001). Docente do Centro Universitrio de Araras Dr. Edmundo Ulson (UNAR). [email protected]
-
painel histrico ampliado cujo ritmo de acontecimentos encontra correlao estrutural na continuidade de perdas vivenciadas pela protagonista. Na composio de O Albatroz, as injunes polticas afetam a vida da personagem central com a brutalidade irredimvel e injustificvel da fatalidade trgica; no entanto, por relacionar as perdas afetivas irreparveis s catstrofes contemporneas, o recurso atemporalidade da sina reverte-se em universalizao historicizada das vivncias individuais, alinhadas em perspectiva com os eventos do panorama mundial.
Considerando-se o carter transnacional da obra, esta requer do pesquisador o abandono de qualquer tendncia abordagem localista da produo literria brasileira. Cumpre ao estudioso demonstrar que, por efeito da elaborao ficcional, amplia-se o campo da percepo, que passa a englobar uma realidade humana mais abrangente.
Mas a ampliao perceptiva relacionada feio transnacional do livro deve a sua fora no somente extenso temtica e presena do campo de batalha europeu, mas correlao ficcional de histria, mito e poesia, combinados em uma estrutura narrativa que condensa o amplo painel histrico e o faz convergir na sequncia trgica vivida pela protagonista. Contribui para a elaborao da atmosfera trgica o recurso a personagens mticas e a imagens poticas, como a do albatroz.
Fico e poesia
Quanto ao emprego de smbolos poticos como um dos recursos presentes na transposio da histria para o plano da fico, j o ttulo do romance retoma a imagem baudelairiana da ave cujas asas, adequadas s grandes altitudes, a impedem de caminhar. Inserido na amplitude do painel histrico da obra, o apelido Albatroz no se refere somente personagem Fernando, o neto de Virgnia, que foi morto em Monte Castelo quando servia como combatente da Fora Expedicionria Brasileira. A densidade humana da obra permite a extenso da imagem ao nmero incontvel de pessoas que, tentando ajustar seus passos a uma superfcie inspita, foram surpreendidas pela brutalidade dos tempos de guerra que so, afinal, todos os tempos da histria, modernamente acelerados e tecnologicamente sofisticados na sanha de matar.
relevante notar que, assim como o ttulo, tanto as imagens que constituem todo o ambiente ficcional quanto as mortes sucessivas esto fortemente associadas ao mar. Alm da metfora do ttulo, muitas outras imagens martimas constituem a ambientao da obra. Essa atmosfera talssica sugere, a nosso ver, um destino abissal que traga os esforos dos heris para as profundezas. Assim, as expresses Barcos de papel e Os jazigos inteis, ttulos dos dois primeiros captulos de O Albatroz, resultam da simbolizao potica de ideias como fragilidade, persistncia, morte e solido. Alm disso, corroboram a noo de insuficincia do discurso em traduzir a dor. Na obra estudada, a falta, inerente linguagem, tem como ndice formal a estrutura narrativa, que se apresenta, dada a sucesso vertiginosa de choques, como configurao possvel do inenarrvel.
Estrutura revolucionria
Sendo assim, vale ressaltar que o lastro potico da obra no responde isoladamente pelo valor de conhecimento atribuvel ao romance. Antes, importa observar a peculiaridade da organizao narrativa. A respeito de O Albatroz, j se falou em revoluo na estrutura do
-
gnero, considerando-se as manifestaes deste no Brasil. Alfredo Bosi, em sua Histria Concisa da Literatura Brasileira, indica a posio marginal de Jos Geraldo Vieira na literatura nacional. E acrescenta:
[...] Sem dvida, mais fcil op-lo aos regionalistas que situ-lo pacificamente entre os intimistas como Lcio Cardoso e Cornlio Pena. Porque h nele, alm de tomadas introspectivas, uma ambio, nem sempre realizada, mas aguilhoante, de revolucionar a estrutura do gnero romance entre ns, e faz-la surpreendente como um painel entre impressionista e cubista. Para tanto, joga com os planos da realidade presente e do passado e arma smbolos que os unifiquem. O Albatroz foi, nesse particular, a sua experincia narrativa mais feliz, enquanto logrou fixar uma constante psicolgica (a dor causada pela perda de seres amados) atravs de uma complexa histria de geraes. (BOSI, 2001, p.412)
O carter inovador dos recursos da forma narrativa nesse romance tinha sido indicado por Adonias Filho. Em estudo publicado no livro O Romance Brasileiro de 30, o romancista-crtico afirma:
[...] Lendo-se o romance O Albatroz , sem a menor dvida na sequncia tolstoiana, logo se verifica a atualidade no tratamento, o timbre moderno, o interesse em fundir com certas normas tcnicas uma estria que daria um bloco fisicamente gigantesco na carpintaria tradicional. No fossem os recursos da estrutura e provavelmente o romance no venceria o grande obstculo. (ADONIAS FILHO, 1969, p.122)
Autor de estilo vigoroso e de flego suficiente para erigir uma obra de dimenses equivalentes monumental Guerra e Paz, Jos Geraldo Vieira, imbudo da sensibilidade artstica de seu tempo, optou pela justaposio de acontecimentos que, assim reunidos, do sequncia narrativa um ritmo de vertigem e desassossego. Os episdios so bruscos, e no h trgua no acumular de suas irrupes. Quanto s personagens, so apresentadas sucintamente. Embora seja possvel perceber que a morte as espreita, devido apreenso decorrente da prpria dinmica da exposio, a narrao da fatalidade feita por meio de recursos que acentuam o carter sbito do acontecimento trgico.
Adonias Filho observa que uma das opes tcnicas bem sucedidas o emprego do dirio na parte final do livro. Evitando o processo descritivo, Jos Geraldo Vieira
[...] penetrou em cheio na zona mais conflagrada da estrutura. Aquele impressionismo, que sempre encontra um correspondente em todos os artistas modernos, que se diria escapar dos nervos de um tempo apocalptico, o que enraza O Albatroz na estrutura revolucionria. (ADONIAS FILHO, 1969, p.123)
A expresso zona conflagrada da estrutura remete correlao entre forma narrativa e ritmo histrico. Assim, a dinmica da narrao efetua o encadeamento de episdios ficticiamente relacionados guerra de Canudos, calamidade da gripe de 1918, rebelio paulista de 1924, Coluna Prestes, ao movimento de 1930 e Segunda Guerra Mundial. Os destinos individuais subordinam-se guerra ou a situaes que lembram tempos de guerra.
-
As mortes, ocorridas no mar ou alm-mar, levam contagem dos jazigos inteis. Os jazigos vazios No segundo captulo do livro, como acontece desde a pgina inicial, o narrador acompanha a rememorao do irmo de Virgnia, o professor aposentado Maurcio, cuja lembrana remonta ao tempo em que o coronel Aleixo Cintra mandou construir um mausolu para quatro geraes de sua famlia.
O coronel, sogro de Virgnia, morreu a bordo de um navio quando retornava da campanha de Canudos, durante a qual se tornara to consciente da realidade dos sertes que, em carta dirigida ao filho Artur, afirmara ansiar pelo aparecimento de um gnio capaz de revelar a verdade e a extenso das mazelas nacionais. Com a morte desse prenunciador fictcio da grande obra de Euclides Cunha, conta-se o primeiro jazigo intil, pois o cadver, atirado ao mar, no ocupa o mausolu.
Artur Cintra, filho do coronel Aleixo e marido de Virgnia, morre na exploso do encouraado Aquidab, em 21 de janeiro de 1906. O desastre, que vitimou 212 pessoas e que nunca foi explicado, ocorre, na fico, quando Artur acende o isqueiro para o cigarro de um companheiro. Torna-se intil o segundo jazigo, pois o corpo da personagem desfeito em pedaos, no centro da exploso.
O terceiro jazigo teria sido ocupado, se houvesse ordem natural nas mortes, pelo filho de Virgnia e Artur. Mas essa outra personagem, Carlos Gama e Cintra, morreu em um acidente areo no esturio do rio da Prata, quando, aps ter participado da rebelio de 1924 e da Coluna Prestes, tentava voltar ao Brasil, ainda clandestinamente, para acertar com representantes da Aliana Liberal detalhes de sua participao no movimento de 1930.
O quarto jazigo intil teria acolhido o corpo de Fernando, morto em Monte Castelo. O cadver, insepulto por mais de dois meses, foi removido para o cemitrio de Pistoia.
Entremeadas a essas mortes, esto a do pai de Virgnia, o mdico Dr. Gama, vtima da gripe de 1918, e a da mulher de Carlos, Emlia (angelo musicante de Fra Anglico), morta de eclampsia ao dar luz Fernando. Essa morte suscitou o carter taciturno do vivo, futuro rebelde integrante da coluna revolucionria que marchou 25.000 quilmetros pelo interior do Brasil.
A ocupao do mausolu pelos cadveres dos entes queridos mortos no mar ou alm-mar serviria como abrandamento dor de Virgnia. Mas nem a essa compensao ela teve direito.
Linguagem e ausncia
Tambm no tm valor compensatrio as palavras e imagens, que no abrandam o sofrimento. Assim, permanece vazio, como o interior do mausolu intil, o mago do discurso, que, por mais engenhoso e elaborado, insuficiente para traduzir a dor. Tal insuficincia sentida da maneira mais intensa quando o referente a perda. Nesse caso, a ausncia que constitui o mago da linguagem provoca o sentimento do inenarrvel.
Como evocao imagtica desse vazio, temos a recorrncia dos jazigos inteis ao longo do
-
texto. Em se tratando de narrativa ficcional, a expressividade da imagem se adensa como resultado da dinmica da desgraa, que faz do mausolu vazio um smbolo da irreparabilidade da perda. Embora os acontecimentos expostos acima e a prpria imagem dos jazigos inteis comportem o risco de certa banalizao dramtica, a sequncia episdica e a figurao potica so vitalizadas pela dinmica da estrutura conflagrada, para usar a expresso de Adonias Filho.
Assim como a imagem do mausolu intil, a composio maior da narrativa atua como ndice de uma falta. Combinando acontecimentos histricos, personagens mitolgico-trgicas e smbolos poticos, a estrutura ficcional do romance que ora focalizamos resultado esttico da impossibilidade de transposio total da realidade para o discurso. O que mostrado chama a ateno para o que no tem como ser narrado: a solido, a dor aguda e o sentimento permanente de irreparabilidade ligado morte de seres amados. O silncio o contraponto estrutural das imagens e do discurso que as inter-relaciona.
Concluso
Considerando-se, portanto, o efeito exercido pela conjuno de imagens e sequncia narrativa, percebe-se que, em O Albatroz, a organizao ficcional sinaliza a impossibilidade de narrar o que vivido como sucesso acelerada de choques. A prpria tcnica de apresentao dos episdios, dos cenrios e das personagens revela a conscincia autoral de que o discurso no suficiente para apreender e compensar a extenso e a intensidade da dor proveniente de um encadeamento de traumas. Assim, o equilbrio interno da estrutura ficcional signo dos limites do dizer, sempre confrontado com a irrupo de catstrofes, que unifica passado e presente na sucesso acelerada de runas, para usar a imagem formulada por Walter Benjamin. Muito mais que um escritor de belas letras, erudito ou elitista, Jos Geraldo Vieira, autenticamente moderno, adentrou o cerne de seu tempo histrico, o tempo do progresso como destruio. Para isso, valeu-se de recursos narrativos como a fragmentao, a justaposio, a montagem cinematogrfica, reunindo destroos para configurar, tanto quanto possvel, o sentimento de impotncia perante o absurdo.
ABSTRACT
In this paper, we analyze The Albatross, Jos Geraldo Vieira's novel, aiming to demonstrate how the fictional elaboration of war and of other occurrences related to great historical panoramas provides a specific perception of human suffering taken to extremes. In this case, the specificity of fictional discourse is based on its signaling the inenarrable core of the traumas exposed, which, paradoxically, reveal their absence at the very moment of their presentation, given the impossibility of apprehending grief through words or images.
KEYWORDS: Jos Geraldo Vieira. War. History. Fiction. Grief. Discourse. REFERNCIAS ADONIAS FILHO. Jos Geraldo Vieira. In: _____. O romance brasileiro de 30. Rio de Janeiro: Edies Bloch, 1969. p. 117-124.
-
BOSI, Alfredo. Histria concisa da literatura brasileira. 38. ed. So Paulo: Cultrix, 2001.