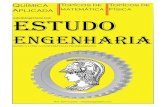O SEMESTRE EM REVISTA -...
Transcript of O SEMESTRE EM REVISTA -...
O SEMESTRE EM REVISTA
Realização
Atividades e resultados do período entre 1º de junho e 30 de novembro de 2014
No âmbito do
Câmara Técnica de Monitoramento das Condicionantes - PDRSX
2 3
Este documento traz um resumo do 1º Relatório Semestral do projeto
Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo Monte para a Câmara Técnica
do Monitoramento (CTM) do PDRS Xingu, de 15 de dezembro de 2014, bem
como dos boletins mensais produzidos para a comunicação do projeto.
O conteúdo completo pode ser encontrado em indicadoresdebelomonte.com.br.
Expediente
Coordenação Geral: Mario Monzoni
Redação e edição: Carolina Derivi e Daniela Gomes Pinto
Fotografia: Kena Chaves
Diagramação e revisão: Walkyria Garotti/Neuronia Design
Produção editorial: Bel Brunharo
O que é o projeto
Descobrindo o método
As matrizes
Uma narrativa de indicadores
Educação
Coleta preliminar
Saneamento
Mapa dos caminhos
Fale conosco
Sumário
4
8
12
38
42
46
4 5
O que é o projeto
O projeto Indicadores de Belo Monte dedica-se a monitorar o cumprimento de um conjunto de condicionantes do licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, bem como a eficácia de políticas públicas e ações que recaem sobre essas medidas
e a efetividade do desenvolvimento na região que recebe o empreendimento. O monitoramento se dá sob os temas educação, saúde, saneamento básico, reassentamentos agrários, controle da malária e fiscalização ambiental. E para as seguintes questões indígenas: saúde, educação, proteção das terras indígenas, regularização fundiária e comitês de participação social.
Para atender aos objetivos, o projeto prevê a construção de matrizes de indicadores temáticas e posterior coleta de dados, atreladas à identificação de sinergias com políticas públicas e ações governamentais que apontem caminhos para superar gargalos e desafios do processo. Ao longo do trabalho, as informações levantadas e as análises produzidas são disponibilizadas em publicações periódicas e devem culminar em uma ferramenta permanente de monitoramento, na forma de um sistema on-line, para ampla e contínua disseminação dos resultados para uso e apropriação pela sociedade.
A iniciativa trata o acesso à informação como instrumento de fortalecimento da cidadania e deve contribuir para ampliar a participação da sociedade local na construção de seus rumos. Aí reside a importância do monitoramento do desenvolvimento local, especialmente no contexto de inserção de grandes obras e das intensas transformações vividas no território. As questões que emergem desse trabalho também dizem respeito ao debate sobre o licenciamento ambiental na Amazônia e a busca de lições aprendidas, seja para o Xingu, seja para outros locais em circunstâncias semelhantes.
“Nenhum rio é apenas um curso de água, esgotável sob o prisma da hidrologia. Um rio é uma entidade vasta e múltipla (...).
Habituados a olhar as coisas como engenhos, esquecemos que estamos perante a um organismo que nasce,
respira e vive de trocas com a vizinhança.”
Mia Couto, E Se Obama Fosse Africano
Entre o licenciamento ambiental e o desenvolvimento local, uma aposta no acesso à informação como fortalecimento da cidadania
CondiCionantes monitoradas
Licença Prévia:
2.28 - Referente à regularização fundiária, saúde e educação indígenas
Licença de Instalação:
2.10 - Referente a saneamento básico
2. 11, 2.12 e 2.13 - Referentes a equipamentos de saúde e educação
2.20 - Referente à articulação com FUNAI para questões indígenas, Ministério da Saúde para controle da malária, e INCRA e ITERPA para assentamentos agrários e regularização fundiária
2.21 - Referente à fiscalização ambiental
6 7
Equipe e identidade O levantamento de dados oficiais secundários representa um esforço relevante do processo de pesquisa, mas é no trabalho de campo que o Indicadores de Belo Monte encontra sua principal matéria-prima. É convicção deste projeto que o conhecimento sobre impactos, entraves, o que dá certo e o que não dá, já está na região do Xingu. É produzido e assimilado pelos atores locais. Ao aprender com eles, nossa contribuição será, acima de tudo, a de organizar a informação.
Para tanto, cinco pesquisadores residentes em Altamira - Graziela Azevedo, Eric Macedo, Kena Chaves e Felipe Castro, sob a coordenação de Leticia Arthuzo – realizam ampla consulta a lideranças,
gestores, especialistas e cidadãos atuantes na questão de Belo Monte. É assim que são formulados os indicadores, para que os elementos da pesquisa de fato reflitam as preocupações e prioridades das partes interessadas, bem como as experiências do dia a dia no território.
Daniela Gomes Pinto e Marcos Dal Fabbro atuam entre Brasília e Altamira, coordenando os trabalhos e buscando integração entre políticas públicas e os processos de licenciamento em curso. Carolina Derivi, circulando entre Brasília, São Paulo e Altamira, assegura que as principais mensagens sejam comunicadas e que os aprendizados sejam úteis a todos os atores envolvidos. Além disso, os consultores-pesquisadores Fernando Abrucio e Isabelle Vidal apoiam a discussão em temas cruciais, como educação e questões indígenas.
A coordenação-geral – Mario Monzoni e Paulo Branco – e parte da equipe do GVCes acompanham regularmente o processo por meio de um Comitê Interno. E, mais importante, a Câmara Técnica de Monitoramento reúne-se com a equipe da FGV mensalmente para se certificar dos rumos dos trabalhos, apontar saídas para desafios de percurso, tomar decisões conjuntas e ajustar rumos, se necessário.
Atividades realizadas
A maior parte dos esforços no período ficou concentrada na elaboração das matrizes de indicadores para cada um dos temas. Foram quase 60 reuniões e mais de 120 documentos analisados para se chegar aos quadros que organizam quais os elementos mais importantes a serem observados. Esse processo representou também a consolidação da metodologia, que investiga o cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental combinado à eficácia de políticas públicas e ações governamentais, tendo em vista objetivos de desenvolvimento no longo prazo.
O projeto Indicadores de Belo Monte também coletou os primeiros dados sobre qualidade do ensino, com foco especial na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. Os indicadores mostram um quadro de piora nos quesitos reprovação e abandono, entre outras conclusões. Além disso, formulamos uma análise aprofundada sobre os desafios da universalização do saneamento básico na cidade de Altamira, componente da condicionante 2.10 da Licença de Instalação (LI), que traz os detalhes da situação atual, referências da legislação e do licenciamento ambiental, experiências correlatas em outras partes do país e recomendações para encaminhamentos práticos.e
Instituições envolvidas O projeto é realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio de seu Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVCes) e financiado e supervisionado pela Câmara Técnica de Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo Monte (CTM) do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX). O trabalho teve início em junho de 2014 e compreende 18 meses de execução, com término previsto para novembro de 2015.
Formação LoCaL
Seis estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) recebem capacitação como assistentes de pesquisa quanto à metodologia do Indicadores de Belo Monte e são orientados em projetos idealizados e executados por eles.
Dessa forma, mesmo quando a FGV não estiver mais presente, a região seguirá contando com capital humano capaz de dar continuidade ao monitoramento do desenvolvimento local e às reflexões que esse processo inspira.
Do primeiro grupo de estudantes, envolvido de setembro de 2014 a fevereiro de 2015, participam (da esquerda para a direita) Claudiane Farias de Araújo, Marta Feitosa Nunes Rios, Tais Silva de Jesus, Elisanne Carvalho Viterbino, Sidney Fortunato da Silva Junior e Tarcizio Max Borges Soares.
8 9
Para além da mera checagem é preciso estudar os processos por trás do cumprimento das condicionantes, como os diferentes atores se relacionam e quais são os resultados socioambientais de longo prazo
S e “os métodos são as verdadeiras riquezas”, é preciso lembrar que antes da torrente cativante das respostas existe valor intrínseco num jeito particular de fazer perguntas. No contexto do projeto Indicadores de Belo Monte, esse jeito particular traz, antes de
tudo, a inovação de se olhar para as condicionantes do licenciamento ambiental no contexto do desenvolvimento local. Em verdade, pergunta-se: de que forma esses processos estão relacionados? Como as ações e dinâmicas decorrentes do empreendimento afetam as comunidades locais e são por elas absorvidas?
A riqueza está em reconhecer que, para as aspirações sociais de desenvolvimento e de vida digna, o licenciamento – ou a obra em si – não é panaceia. É parte de um todo. Mesmo as ações específicas determinadas pelo órgão licenciador precisam de uma série de outros arranjos, exteriores a ele, para funcionarem a contento.
É por isso que as matrizes de indicadores propostas vão além de uma mera lista de checagem do cumprimento de condicionantes. Atenta-se especialmente para os processos de execução. As articulações necessárias, o controle social, a imperiosa atenção às demandas locais e peculiaridades do contexto amazônico são elementos fundamentais. A maneira como as ações foram levadas a cabo evidencia eventuais gargalos, dá pistas sobre o amadurecimento institucional e participativo na região e, principalmente, impacta a sustentabilidade dos projetos, ou seja, o longo prazo.
Mas o licenciamento, em que pese encerrar uma missão bastante específica, portanto limitada, não é, na realidade, estanque. Assim, a metodologia expande o olhar para os insumos necessários para garantir eficácia das políticas e ações incidentes no território, de forma a garantir resultados efetivos rumo ao desenvolvimento territorial com justiça social, respeito às pessoas e ao meio ambiente.
É como se cada uma das matrizes – um conjunto de indicadores, métricas e análises – contasse uma história, com uma trama em comum. É a história de uma condicionante (ou grupo de condicionantes), como se originou (impactos), como foi ou está sendo implementada (processos), como se relaciona com outras ações e políticas públicas que incidem sobre ela (insumos) e, por fim, um panorama de objetivos sociais derradeiros (resultados).
As matrizes de indicadores falam de futuro, porque ao longo do tempo se poderá monitorar de que forma o que vem acontecendo influencia ou não o desenvolvimento da região. E falam de memória, porque mesmo encerrados os ritos mais agudos do licenciamento será possível recuperar as dinâmicas ocorridas e o que se aprende para novos processos, aqui ou em outras regiões do Brasil.
Descobrindo o método
10 11
Mapa dos caminhos Embora exista uma legislação e toda uma coalisão para construir ações socioambientais que lidem com os impactos de grandes obras, a verdade é que se conhece muito pouco sobre como fazer isso. Não se trata apenas de conhecimento técnico-acadêmico. É um conhecimento que depende muito de entender e de envolver a comunidade local. Por mais bem formulados que sejam planos e ações, é na execução que os entraves aparecem, especialmente quando há mais de uma instituição envolvida.
É por isso que uma das dimensões fundamentais desse monitoramento é a análise de articulação e sinergias de políticas públicas e ações governamentais, com a proposta de Mapas dos Caminhos.
Os mapas têm origem em dados coletados na pesquisa que se mostram especialmente frutíferos, relevantes ou urgentes no contexto dinâmicos do território que recebe Belo Monte. Trata-se de uma leitura sobre a execução de determinadas ações que amplia a compreensão sobre os entraves para atingir uma qualidade satisfatória no longo prazo. Os mapas lançam luz, em especial, para potencialidades de cooperação entre diferentes níveis de governo, o empreendedor e a sociedade civil. A mesma lógica, ao revés, poderá ser aplicada para identificar as virtudes processuais de ações notoriamente bem-sucedidas.
O objetivo é, sobretudo, instrumentalizar os espaços de governança existentes na região, a começar pela própria Câmara Técnica de Monitoramento do PDRSX, para uma ação coordenada, proativa e incisiva sobre os principais entraves no caminho de desenvolvimento a partir da chegada do empreendimento.
O primeiro mapa dos caminhos, enviado à CTM em novembro de 2014, diz respeito ao saneamento básico (mais na página 20). O segundo, previsto para fevereiro de 2015, será sobre reassentamentos agrários. Os temas qualidade da educação, proteção territorial indígena, saúde e controle da malária, entre outros, também já têm suas análises previstas.
12 13
A lógica por trás dos indicadores foi desenvolvida a partir das perguntas norteadoras propostas pela CTM para a realização do trabalho. Sobre as condicionantes selecionadas, deseja-se saber: “foi feito?”, “funciona bem?” e “contribui para a satisfação social da
sociedade?”. Essa simplificação do escopo ajuda a construir a narrativa proposta pelos indicadores. Assim, para responder a essas perguntas, as matrizes foram compostas por diferentes elementos:
FLuxo esquemátiCo da Construção da matriz de indiCadores
A seguir, apresentamos as matrizes temáticas na versão inicial. O processo de consulta e amadurecimento de indicadores e métricas, entretanto, deve prosseguir ao longo de 2015.
• A definição do tema e da condicionante associada;
• O levantamento dos impactos associados;
• O mapeamento dos processos (“foi feito?”, “como?”) que demonstra o cumprimento;
• O mapeamento dos insumos (“funciona bem?”) que demonstra a eficácia; e
• O mapeamento dos resultados (“satisfaz as necessidades?”) que demostra a efetividade e satisfação social.
Impacto:Aumento da
demanda sobre equipamentos
sociais(migrantes)
Condicionante 2.12.
“Implantar X equipamentos de educação” EDUCAÇÃO
Eficácia Efetividade Satisfação Social
Foi feito? Funciona bem? Satisfaz às necessidades?
Articulação e Sinergias com Políticas Públicas
Processos
Mapa dos Caminhos
Cumprimento condicionantes
Metas/Pactos da sociedade
As matrizesUma narrativa de indicadores
Foi feito? Funciona bem? Atende às necessidades sociais?
14 15
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
TERRITÓRIO
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA
Demanda sobre equipamentos de educação
2.11/ 2.12/ 2.13 Equipamentos de
educação: análise de suficiência de vagas, disponibilização de
equipamentos e ações antecipatórias
adicionais
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO Suficiência de equipamentos de
educação
% de obras entregues e % de obras entregues em uso, do total de obras
planejadas
AID: Altamira, Vitória do
Xingu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e
Anapu
AC
ESSO
À E
DU
CA
ÇÃ
O
Matrículas por grau de ensino
Número de matrículas por grau de ensino / população em idade escolar
QU
ALI
DA
DE
DO
EN
SIN
O
Qualidade do ensino
Taxa de evasão, taxa de abandono por grau de ensino
Municípios do PDRSX
(11 municípios)
Evasão escolar no ensino médio
Déficit / superávit de vagas escolares por grau de ensino Número de matriculados / vagas em creches Defasagem idade / série
Trânsito (transporte escolar) Manutenção das instalações Avaliação periódica sobre os equipamentos implementados
Adequação de alunos por turma Número de alunos / turma Taxa de reprovação por grau de ensino
Rotatividade de professores Capacidade institucional Capital humano, processos tecnológicos, existência de estruturas de planejamento
Transporte escolar
Número de alunos atendidos por transporte escolar, por tipo de transporte
Acesso à educação superior (número de matrículas)
Aumento da oferta de ensino superior
PRA
ZOS
Cumprimento de prazos
% de obras entregues de acordo com o cronograma Pontualidade / atrasos em relação as aulas Desempenho na Provinha Brasil e
Enem, IDEB
Sobrecarga na gestão da Administração Pública
Número de meses com déficit de vagas desde a LI, por grau de ensino
Número e qualidade dos veículos de transporte escolar (ônibus, vans, bicicletas, bajaras, etc.)
Taxa de alfabetização por faixa etária, taxa de analfabetismo funcional
Êxodo rural / inchaço urbano
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Participação das prefeituras/ estado na seleção das localidades,
definições sobre as obras e em ajustes ao longo da
implementação
Avaliação da eficácia das ações em relação aos objetivos, acordos, encontros, reuniões, periodicidade
PRO
FESS
ORE
S
Rotatividade de professores
% de professores efetivos sobre o quadro geral de professores IDHM Educação
Articulação com diferentes atores para implementação Caracterização do arranjo institucional Número de contratações e desligamentos por semestre
PART
ICIP
AÇ
ÃO
SO
CIA
L
Participação social / gestão escolar
democrática
Número de APMs e conselhos escolares
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Qualidade das instalações Avaliação pela prefeitura sobre a qualidade das obras entregues Qualificação de
professores
Número de capacitações ofertadas por ano Número de PPPs elaboradas / total de escolas
CON
TRO
LE S
OC
IAL Localização das escolas Avaliação sobre a cobertura de
atendimento das escolas Número de professores por nível de formação
Participação social na implementação dos
equipamentos de educação
Canais de acesso à informação sobre a implementação dos equipamentos de
educação
INFR
AES
TRU
TURA
ESC
OLA
R
Merenda escolar
Quantidade média de refeições servidas na merenda por alunos/dia
Avaliação sobre o envolvimento de espaços de participação na
implementação dos equipamentos de educação
Produtores locais com DAP
Avaliação nutricional da merenda
Infraestrutura das escolas
Número de escolas por grau de ensino, rural e urbano
Número de bibliotecas, quadras, água, energia, computador, internet, instalação sanitária
EDU
CA
ÇÃ
O
RURA
L
Educação no campo/rural
Número de CEFAs (Casas e Escolas Familiares), CFRs (Casas Familiares Rurais) e Escola Técnica do Campo
(ETECAMPO); número de matrículas por tipo de escola
Educação para povos tradicionais
EDU
CA
ÇÃ
O T
ÉCN
ICA
E
PRO
FISS
ION
ALI
ZAN
TE
Educação técnica e profissionalizante
Número de vagas em Pronatec, escolas técnicas e profissionalizantes
Número de matriculados em cursos técnicos e profissionalizantes, por curso
ALF
ABE
TIZA
ÇÃ
O
Alfabetização
Taxa de alfabetização na idade certa
Número de professores capacitados em alfabetização
Matrículas em Educação de Jovens e Adultos (EJA)
EducaçãoA matriz do tema “Educação” traz luz a indicadores de processos no cumprimento das condicionantes, especificamente em relação às necessárias articulações com entes federativos e órgãos envolvidos na definição de infraestrutura escolar. Também distingue os insumos necessários para uma escola “funcionar bem”, tais como professores, alunos,
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
transporte e merenda. Destacam-se, na matriz, dois temas a serem aprofundados no monitoramento: a rotatividade dos professores, que aparentemente vem prejudicando a qualidade do ensino em algumas escolas, e o necessário olhar para a heterogeneidade dos grupos sociais existentes na região, tais como ribeirinhos e extrativistas, e a existência de políticas adaptadas para esses contextos.
16 17
Merece destaque o indicador “Unidades e veículos de apoio à saúde”, que aponta para a falta de estruturas elementares que compõem a cadeia de atendimento médico, tais como laboratórios e ambulâncias. Aqui também surge a necessidade de se avaliar as políticas customizadas, com a disponibilização de ambulâncias e atendimento de emergência em lugares de mais difícil acesso. Da mesma forma, a aferição de “Recursos públicos para a saúde” promete distinguir uma das questões mais relevantes para essa área na região, já que será preciso comparar a chegada de recursos a partir do cômputo populacional oficial – que dá base aos repasses federais – com estimativas extraoficiais do significativo afluxo populacional recebido pela região no período intercensitário.
Por fim, cumpre ressaltar os indicadores e métricas que tiveram origem no trabalho de interlocução em campo, ou foram sugeridos pela própria CTM, tais como “drogas e álcool” e “gravidez precoce”, que evocam a dimensão de vulnerabilidade social no contexto de Belo Monte, bem como “Entradas no hospital decorrentes de acidentes de trânsito”, que busca investigar o presumível contorno epidêmico desse fenômeno e consequente pressão sobre a gestão da saúde na região, especialmente Altamira.
Saúde
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
TERRITÓRIO
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA
Demanda sobre equipamentos de saúde
2.11/ 2.12/ 2.13 Equipamentos
de saúde: análise de suficiência,
disponibilização de equipamentos e
ações antecipatórias adicionais
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Suficiência de equipamentos de saúde
% de obras entregues e % de obras entregues em uso, do total de obras planejadas
AID: Altamira, Vitória do
Xingu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e
Anapu
REC
URS
OS
HU
MA
NO
S E
INFR
AES
TRU
TURA
DE
SAÚ
DE Unidades e veículos
de apoio à saúde
Número de estabelecimentos de saúde (hospitais, UBS, centros de
diagnóstico, etc.)
DES
ENV
OLV
IMEN
TO S
OC
IAL
Principais doenças
Ocorrência das principais doenças
Municípios do PDRSX
(11 municípios)
Subdimensionamento de repasses públicos Quantidade de leitos/1.000 habitantes Número de veículos de apoio à
saúde
Ocorrência de doenças relacionadas à água (febre tifóide, diarreia, hepatite, leptospirose,
dengue)
Sobrecarga na gestão da Administração Pública
Manutenção de equipamentos de saúde
Avaliação períodica sobre os equipamentos implementados
Profissionais de saúde
Número de profissionais de saúde por categoria e especialidades Incidência de malária Taxa de incidência de malária
Impactos na saúde da população Capacidade institucional Capital humano, processos tecnológicos,
existência de estruturas de planejamentoNúmero de médicos/1.000
habitantes
Qualidade do atendimento em
saúdeHumanização da saúde
PRA
ZOS
Cumprimento de prazos
% de obras entregues de acordo com o cronograma
Qualificação de profissionais de saúde
Capacitação para profissionais de saúde
SAÚ
DE
DA
MU
LHER
Assistência à mulher
Beneficiadas em Programas de Saúde da Mulher
Número de meses com déficit de leitos desde a Licença de Instalação
AC
ESSO
À S
AÚ
DE
Assistência à população
Número de procedimentos ambulatoriais e hospitalares
Entradas no hospital de mulheres em trabalho de parto, por faixa etária
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Participação das prefeituras na seleção das localidades, definições sobre as obras e ajustes ao longo
da implementação
Avaliação da eficácia das ações em relação aos objetivos, acordos, encontros, reuniões,
periodicidade
Proporção da população atendida pelos PSF e PACS (urbana, rural e
RESEX)
Cobertura de pré-natal
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal
Articulação com diferentes atores para a implementação Caracterização do arranjo institucional
Entradas no hospital decorrentes de acidentes de trânsito, por tipo
de veículo
SAÚ
DE
DA
CRI
AN
ÇA
Mortalidade
Taxa de mortalidade por doença diarreica em menores de 5 anos
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Qualidade das instalações Avaliação pelas prefeituras sobre a qualidade das obras entregues
Atendimento para a saúde mental
Número de atendimentos de apoio psicossocial Taxa de mortalidade infantil
CON
TRO
LE S
OC
IAL
Transparência Canais de acesso à informação sobre a implementação dos equipamentos de saúde
Número de pacientes em tratamento de drogas e álcool
EXPE
CTA
TIVA
D
E V
IDA
Expectativa de vida Esperança de vida ao nascer
Participação social na implementação dos equipamentos
de saúde
Avaliação sobre o envolvimento de espaços de participação social na implementação dos
equipamentos de saúde
EDU
CA
ÇÃ
O
EM S
AÚ
DE
Educação em saúde Campanhas de educação em saúde
FIN
AN
ÇA
S PÚ
BLIC
AS
Finanças públicas em saúde Recursos públicos para saúde
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
18 19
A questão da malária impõe um universo de análise bastante específico. Nota-se pela presença de um único indicador de efetividade na matriz: a incidência da doença. Mas a cooperação entre os governos federal, estadual e municipal e o empreendedor é de grande interesse para este projeto por representar um exemplo de articulação bem-sucedida. Segundo relatos colhidos na região, as ações de prevenção e controle não só foram capazes de evitar o estouro da doença que geralmente acompanha novos
Malária
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
TERRITÓRIO
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA
Aumento do fluxo migratório
2.20 (...) e) MS/SVS: executar o Plano de Ação para Controle da Malária – PACM
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Execução do PACM
Contextualização e características do PACM; acompanhamento da sua implementação pelos indicadores de
ações para controle da malária
AID (Altamira, Vitória do Xingu,
Brasil Novo, Senador José Porfírio e
Anapu) e Pacajá + Terras Indígenas desses municípios
AÇÕ
ES P
ARA
CO
NTR
OLE
DA
MA
LÁRI
A
Unidades e veículos de apoio para diagnóstico
e tratamento da malária
Número de estabelecimentos e veículos para vigilância
epidemiológica
SAÚ
DE
DA
PO
PULA
ÇÃ
O
Incidência de malária
Taxa de incidência de malária
Municípios do PDRSX
(11 municípios)
Alteração na qualidade da água
PRA
ZOS
Cumprimento de prazos Linha do tempo de implementação do PACM
Percentual de unidades de saúde e de emergência 24 horas com
diagnóstico e tratamento da maláriaNúmero absoluto de óbitos por malária
Demanda sobre equipamentos de
saúde
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Articulação com diferentes atores para a
implementação
Caracterização do arranjo institucional para implementação do PACM
Profissionais de saúde para controle da
malária
Número de profissionais de saúde atuantes no controle da malária Mapa da malária georreferenciado
Impactos na saúde da população
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS Atendimento às
recomendações do Programa Nacional de Controle da Malária
(PNCM)
Avaliação sobre o atendimento às recomendações do PNCM
Profissionais de saúde capacitados para controle da malária, por ano
CON
TRO
LE
SOC
IAL Transparência Canais de acesso a informação sobre a
execução do PACMTratamento da malária
Percentual de tratamentos iniciados em até 24 horas a partir da coleta do
sangue para exame
Envolvimento de espaços de participação na
execução do PACM
Avaliação sobre o envolvimento de espaços de participação na na execução
do PACM
Número de visitas domiciliares para monitoramento do tratamento
Prevenção da malária
Campanhas de educação em saude sobre malária
Número de operações para controle de vetores
ÁG
UA
DE
QU
ALI
DA
DE
Qualidade da água para usos múltiplos
Qual. água meio urbano e rios/igarapés: DBO, DQO, turbidez,
coliformes fecais, cianobactérias, nos pontos de coleta de análise pela NE
DES
MAT
AM
ENTO
Desmatamento Taxa de desmatamento
FIN
AN
ÇA
S PÚ
BLIC
AS
Finanças públicas em saúde
Recursos públicos para ações de controle da malária
desmatamentos e afluxos populacionais como logrou uma queda dos casos. É de grande valia estudar e compreender os arranjos institucionais que resultaram nesse êxito, até mesmo com a intenção de inspirar outras áreas. Entretanto, uma preocupação que ainda se mantém é sobre a continuidade das ações após a concessão da Licença de Operação (LO).
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
20 21
A exemplo do que se fez em “Saúde”, a pressão sobre as instituições no que tange à gestão do sistema é especialmente sensível, por isso mereceu um subtema específico na coluna de “insumos”. s e
Alguns elementos despontam como particularizados para a região do PDRSX. É o caso do “Tipo de instalação sanitária na área rural”, já que essa é a característica territorial prevalecente nos municípios e costuma fugir ao monitoramento de sistemas de saneamento, tipicamente voltados para as áreas urbanas.
Já se presume, contudo, que os indicadores de saneamento – que incluem métricas de qualidade da água, consumo, destinação final de lixo e esgoto, entre outros – serão de difícil coleta, considerando-se que há pouca disponibilidade de dados secundários. Será preciso coletar os dados primariamente em cada uma das prefeituras. E a experiência da equipe indica que dificilmente as informações estarão sistematizadas e disponíveis.
Saneamento Básico
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
TERRITÓRIO
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA
Alteração na qualidade da água
2.10 Que faz referência à
implantação do saneamento básico,
segundo cronograma incorporado na
Licença de Instalação
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Infraestrutura de saneamento básico
% de obras entregues e em uso, do total de obras planejadas (aterro sanitário, drenagem
urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário, remediação do lixão)
ADA: Altamira, Vitória do
Xingu, Belo Monte e Belo
Monte do Pontal
ÁG
UA Acesso à água e
tratamento
Abastecimento público de água na área urbana (água consumida vs. água
tratada, número de ligações, população atendida)
ÁG
UA
DE
QU
ALI
DA
DE
DES
ENV
OLV
IMEN
TO
SOC
IAL
Qualidade da água para usos múltiplos
Qual. água meio urbano e rios/igarapés: DBO, DQO, turbidez, coliformes fecais, cianobactérias, nos pontos de coleta
de análise pela NE
Municípios do PDRSX
(11 municípios)
Riscos aos usos múltiplos do Rio
XinguCapacidade institucional Capital humano, processos tecnológicos,
existência de estruturas de planejamento
Acesso à água nas comunidades rurais (rede, microssistema, poço,
cacimba, outros)
SAÚ
DE
DA
PO
PULA
ÇÃ
O Principais doençasOcorrência de doenças relacionadas à água
(febre tifóide, diarreia, hepatite, leptospirose, dengue)
Impactos na saúde da população
PRA
ZOS
Cumprimento de prazos % de obras entregues de acordo com cronograma
RED
E D
E ES
GO
TO Cobertura e instalação
sanitária
Domicílios com rede de esgoto na área urbana Incidência de malária Taxa de incidência de malária
Solução para enchentes anuais
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Participação das prefeituras em definições sobre as
obras e em ajustes ao longo da implementação
Avaliação da eficácia das ações em relação aos objetivos, acordos, encontros, reuniões,
periodicidade
Tipo de instalação sanitária na área rural
SAÚ
DE
DA
C
RIA
NÇ
A
Mortalidade Mortalidade infantil
Sobrecarga na gestão da Administração
Pública
Articulação com diferentes atores para a
implementaçãoCaracterização do arranjo institucional Tratamento da
rede de esgotoVolume de esgoto tratado
na área urbana
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Qualidade das instalações
Avaliação do processo de implementação do saneamento básico (eventuais distúrbios,
horário das obras, trânsito, etc.)
LIXO
Produção, coleta e
destinação do lixo
Quantidade de lixo produzido na área urbana, por fonte e destinação; destinação final do lixo domiciliar
Avaliação pela prefeitura da qualidade das obras entregues Frequência da coleta do lixo
CON
TRO
LE S
OC
IAL
Transparência Canais de acesso à informação sobre a implementação da infraestrutura
DRE
NA
GEM
U
RBA
NA Prejuízos
causados por enchentes
Danos materiais, relacionados à saúde, outros
Participação social na implementação do saneamento básico
Avaliação sobre o envolvimento de espaços de participação social na implementação do
saneamento básico
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
22
As condicionantes 2.28 da Licença Prévia e 2.20 da Licença de Instalação foram agrupadas em seis matrizes temáticas: saúde, educação, regularização fundiária, plano de proteção das terras indígenas – e dois espaços de participação social: o comitê gestor indígena do Plano Básico Ambiental Componente Indígena (PBA-CI) e o comitê indígena de monitoramento do trecho de vazão reduzida da Volta Grande do Xingu.
Esse é o universo em que a metodologia aparece com mais adaptações. Uma diferença evidente é que o território é dado pelos indígenas envolvidos ou atingidos nos diferentes processos. Em alguns casos, o território segue o conjunto de terras implicadas, em outros, inclui ainda os indígenas moradores da cidade de Altamira e ribeirinhos.
Respeitando-se o preceito de autodeterminação dos povos, em todas as colunas de “resultado” busca-se contemplar a percepção dos próprios indígenas sobre a adequação dos processos, bem como sobre ameaças e invasões a suas terras.
O uso de indicadores para monitoramento de questões indígenas é desafiador. A problemática está em dar sentido para métricas gerais aplicadas a um contexto de extrema diversidade, considerados os tipos de organização social e o grau de contato com a sociedade não indígena.
A aplicação de indicadores, portanto, representa uma aposta: a de que é possível organizar um mapa de pensamento com elementos fundamentais das políticas, sem prejuízo da representação de uma realidade marcadamente heterogênea.
Questões Indígenas
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIO
SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA
11 Terras Indígenas
+ AI Juruna do km 17 + índios
residentes na cidade
de Altamira e índios
ribeirinhos
Conflito de gerações
2.28 Programas e condições do Parecer Técnico nº21 - FUNAI: 1.3. Elaboração de proposta de atendimento à educação
escolar para as comunidades
impactadas, em conjunto com a
Secretaria Estadual de Educação do
Pará e MEC.(...) 1.5. Programa de atendimento à educação escolar
elaborado e operante
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Programa de educação escolar
indígena
Análise sobre elaboração do Plano de ação do TEE Médio Xingu
ALU
NO
S
Matrículas em escolas indígenas
Número de matrículas (por etnia e por aldeia, fundamental,
médio, EJA)
PRO
JETO
S PE
DA
GÓ
GIC
OS
Projetos Político
Pedagógicos
Projetos Político Pedagógicos elaborados
QU
ALI
DA
DE
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
Satisfação com a
educação escolar
Percepção indígena sobre qualidade da educação
(adequação do ensino, material, equipamentos, etc)
Desestruturação das cadeias de transmissão
de conhecimento tradicional
Avaliação sobre implementação do Plano de ação do TEE Médio Xingu e
relação com o PBA-CI
Número de indígenas em idade escolar não matriculados
Formação indígena para participação na elaboração
dos PPPs
Percepção indígena sobre incorporação de demandas ao
programa e sobre cumprimento de prazos
Violência nas cidades - receio de mudança
para cidade para acesso a anos finais do fundamental e médio
Apoio técnico e financeiro (MEC) para execução do Plano de Ações do
TEEMX Acesso ao ensino superior
Número de indígenas matriculados em universidades
de Altamira
Participação indígena na elaboração dos PPPs
Percepção sobre participação na formulação da proposta e no
acompanhamento
Valorização cultural dos povos indígenas
PRA
ZOS
Cumprimento de prazos
Avaliação sobre cumprimento de prazos estipulados
Universidades com processo seletivo diferenciado para
indígenas em Altamira
Adequação dos PPPs
Materiais didáticos diferenciados disponíveis
(por etnia) e envolvimento indígena na elaboração
ART
ICU
LAÇ
ÃO Articulação
entre atores envolvidos no atendimento à
educação escolar indígena
Avaliação sobre articulação entre instituições (Semeds, Seduc, MEC,
Funai, povos indígenas, PBA-CI, PDRSX)
PRO
FISS
ION
AIS
Profissionais atuantes na educação
escolar indígena
Número de professores / número de aldeias e relação
professor/aluno
Construção de práticas pedagógicas próprias (por
etnia)
Número de seminários do TEE (e outros espaços/oficinas)
Número de professores indígenas (por povo, anos
iniciais, finais, médio)
Definição de estruturas de funcionamento das escolas
(por etnia)
Adequação entre cronogramas do Plano de Ação do TEE Médio Xingu e
Plano Operativo do PBA-CI
Outros profissionais (diretor, coordenador, secretários,
vigia, barqueiro, merendeira, servente)
Calendários escolares ajustados aos calendários
étnicos
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Território Etnoeducacional
Adequação do programa à política dos TEE
Periodicidade de visitas pedagógicas
Metodologias e processos de avaliação específicos
(por etnia)
CON
TRO
LE S
OC
IAL
Participação social
Espaços de participação social (Comissão Gestora do TEE, Comitê
Gestor PBA-CI)
Modelo de contratação dos professores indígenas (criação
da categoria “professores indígenas” no magistério, com
plano de cargos e salários)
Currículos diferenciados (por etnia)
Participação dos indígenas na construção da proposta Qualificação
de professores
Professores indígenas formados (magistério indígena, formação continuada e ensino superior)
e número de bolsas disponíveis
ESCO
LAS
Estrutura das escolas indígenas
Escolas indígenas regulamentadas no Médio
Xingu
Formação de indígenas para participação na construção da proposta
Capacitação de professores não indígenas (por TI, anos
iniciais, finais, médio)
Número de escolas construídas e reformadas
TRA
NSP
ORT
E
Acesso dos insumos às
aldeias
Transporte de professores, equipes técnicas, material e
merenda
Modelo de novas escolas e participação indígena na
definição
Transporte escolar
indígena
Situação do transporte escolar indígena no Médio Xingu
Merenda escolar
Aldeias que produzem a própria merenda e regulamentação para
aquisição da produção local
Produtos que compõem a merenda
CA
PAC
IDA
DE
INST
ITU
CIO
NA
L
OrçamentoRubrica específica no
orçamento para educação indígena no município
Recursos humanos
Número de profissionais na gestão da educação escolar
indígena (SEMEDs)
Qualificação de profissionais na gestão da educação escolar indígena
(SEMEDs)
EDUCAçãO INDíGENA
24 25
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIO
SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA
11 Terras Indígenas +
Juruna do km 17 + índios residentes na cidade
de Altamira e índios
ribeirinhos
Aumento do fluxo migratório, com
aumento de endemias e da demanda sobre
serviços públicos
2.28 Programas e condições do Parecer Técnico nº 21 - FUNAI: Reestruturação
do atendimento à saúde indígena pelo
DSEI na região de Altamira; Programa de atendimento à
saúde...
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Reestruturação do DSEI
ALU
NO
SPR
OFI
SSIO
NA
IS
Assistência nos postos de saúde
Número de atendimentos por aldeia
PRO
FISS
ION
AIS
Profissionais em atuação no DSEI
Número de profissionais por formação
SAÚ
DE
DA
PO
PULA
ÇÃ
O IN
DÍG
ENA
Doenças e fatores de
risco
Incidência de DST, AIDS
Exposicão a uso abusivo de álcool e
entorpecentes PRA
ZOS
Cumprimento de prazos
Promoção do uso adequado de medicamentos e ações
de prevenção
Campanhas de educação em saúde
Capacitação dos profissionais do
DSEINúmero de capacitações Incidência de tuberculose, hanseníase
Contaminação de peixes por metais
pesados decorrente da atividade garimpeira
ART
ICU
LAÇ
ÃO Articulação entre
atores envolvidos na reestruturação do
atendimento à saúde indígena pelo DSEI
(SESAI-MS, DSEI, PBA-CI, Secretarias municipais e estadual de saúde, Funai) Ações de controle de pragas
Agentes Indígenas
de Saúde e Saneamento
Número de Agentes Indígenas de Saúde
Incidência de malária, dengue, esquistossomose e leishmaniose
Problemas provenientes da
eutrofização com provável domínio de cianobactérias (algas
azuis)
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Política Nacional de Atendimento à Saúde dos
Povos Indígenas
Adequação à Política Nacional de Atendimento à Saúde dos Povos
IndígenasMedicina tradicional
Ações de fortalecimento da medicina tradicional
Número de Agentes Indígenas de Saneamento
Incidência de doenças diarreicas e parasitores intestinais
Aumento da demanda por assistência à saúde
nas Tis
CON
TRO
LE S
OC
IAL
Espaços de participação social
Conselho Distrital de Saúde Indígena
Percepção sobre a manutenção e
fortalecimento da medicina tradicional indígena
SAN
EAM
ENTO
Saneamento básico
Tipo de esgotamento sanitário por aldeia
Incidência de uso abusivo de ácool, entorpecentes e remédios
Desestruturação das cadeias de transmissão
de conhecimento tradicional
Participação indígena no CONDISI
ASS
ISTÊ
NC
IA N
A C
IDA
DE
E PÓ
LOS
BASE
Atendimento médico à população indígena
Número de atendimentos da CASAI, por tipo
Tipo de acesso e qualidade da água consumida nas
aldeias
Incidência e/ou morbidade por tipo de doença: diabetes, hipertensão, cardíacas
(segurança alimentar) pulmonares (vulnerabilidade), doenças mentais
Número de atendimento em pólos base
Destinação final de resíduos sólidos
Mortalidade infantil Taxa de mortalidade infantil
Número de leitos garantidos em hospitais
INFR
AES
TRU
TURA
Núcleo de vigilância em
saúde
Implantação do Núcleo de vigilância em saúde
Expectativa de vida Esperança de vida ao nascer
Número de encaminhamentos a
hospitaisPólos base Implantação de pólos base
Qualidade do atendimento
à saúde indígena
Percepção sobre qualidade do serviço de atendimento à saúde indígena
Postos de saúdeNúmero de postos de saúde por aldeia, reformados e novos
SAúDE INDíGENA
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
26 27
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIO
SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA
Terras indígenas afetadas pela
UHE Belo Monte em processo de
regularização fundiária (TI
Apyterewa, TI Arara da VGX, TI Cachoeira Seca, TI Paquiçamba, Juruna km17)
Aumento da pressão sobre os territórios
indígenas e seus recursos
Condicionante 2.28:1.1. Ação
conjunta entre a Polícia Federal, Funai,
Ibama, Incra, AGU e Força Nacional para viabilizar as seguintes ações de regularização
fundiária das terras indígenas:
1.1.1. Demarcação física das Tis Arara da Volta Grande e
Cachoeira Seca;1.1.2. Atualizar levantamento
fundiário e iniciar desintrusão da TI
Apyterewa;1.1.3. Apresentar
solução para os ocupantes não indígenas
cadastrados como não sendo de boa fé;
1.1.4. Apoiar arrecadação
de áreas para o reassentamento
dos ocupantes não indígenas de boa fé.
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Regularização fundiária
Estágio do processo de regularização, por TI
DES
INTR
USÃ
O
Ocupantes não-indígenas nas Tis
Número de não-indígenas nas TIs
PLEN
A P
OSS
E D
A T
ERRA
Uso e ocupação
Percepção sobre uso e ocupação do território
Acirramento dos conflitos interétnicos
PRA
ZOS
Prazos estabelecidos
Tempo do processo de regularização e análise dos processos administrativos
Número de ocupantes considerados de má-fé, por TI Ameaças Percepção sobre ameaças
Expectativa dos indígenas
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Articulação entre atores envolvidos
PF, Funai, Ibama, Incra, AGU e Força Nacional - âmbito do GEPAC
Número de ocupantes considerados de boa-fé, por TI
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Direito originário ao território
Análise dos impasses e avanços na garantia do direito indígena ao
território
Número de famílias cadastradas, indenizadas e reassentadas
CON
TRO
LE
SOC
IAL
Participação indígena no processo de regularização
fundiária
Ações com participação indígena
PRO
CES
SOS
Ações judiciais e contraditórios
Ações judiciais de questionamento do processo
demarcatório, por TI
Contraditórios
REGULARIzAçãO FUNDIáRIA INDíGENA
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
28 29
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA
Ocupação desordenada do entorno das TIs
2.20: Atender ao disposto no Ofício
no. 126/PRES-FUNAI: (...) Implementação
do Plano de Proteção das TIs
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Construção e implementação de UPTs
Postos de vigilância
REC
URS
OS
HU
MA
NO
S
Recursos humanos envolvidos na proteção
das Tis
Número de profissionais envolvidos no programa de proteção territorial
PRES
SÕES
SO
BRE
Tis
DesmatamentoDinâmica do desmatamento por TI
11 Terras Indígenas + AI
Juruna do km17 e Ituna-Itatá
Invasões das TIs Bases operacionais Número de indígenas envolvidos no programa de proteção territorial
Dinâmica do desmatamento no entorno das Tis
Risco de aumento da atividade garimpeira Contratação de agentes
GES
TÃO
TE
RRIT
ORI
AL
Gestão territorial das TIs
Povos que passaram por processo de planejamento de gestão ambiental e
territorial (quando desejado)
Ameaças
Percepção indígena sobre invasões em seus territórios, por tipo (garimpo, extração seletiva
de madeira, etc)
Aumento da pressão sobre os recursos
naturais Ações de controleAções de extrusão
Protagonismo indígena na construção de Plano de Gestão Territorial e Ambiental (quando desejado)
Número de denúncias
Ações de fiscalização
FUN
AI
Fortalecimento institucional
Número de servidores da Funai (contratados e concursados)
Número de ações na justiça x ações resolvidas
Ações de prevenção
Capacitação de agentes e indígenas para proteção territorial e ambiental
Previsão orçamentária da Funai para ações de proteção territorial Pontos vulneráveis por TI
Aviventação de limites e instalação de placas
ENTO
RNO
DA
S Ti
s
Integração com proteção do mosaico da
Terra do Meio
Participação indígena na gestão do mosaico (reuniões conselhos)
PRO
TEÇ
ÃO
DA
S Ti
s
Fortalecimento político e organizacional
dos indígenas para proteção das Tis
Iniciativas indígenas de defesa territorial
Monitoramento territorial (rotas) Assentos indígenas em conselhos de UCs
Expedições indígena de vigilância e controle territorial
Ações de informação
Plano de comunicação das UPTs fixas e móveis
Faixa de proteção etnoambiental
Adensamento populacional do entorno
Apropriação de instrumentos de gestão e controle territorial
Monitoramento por imagens de satélite Ordenamento territorial no entorno Número de aldeias e reocupação
tradicional do território
Gerenciamento de banco de dados das UPTs
Regularização de reservas legais no entorno
PRA
ZOS
Prazos estabelecidos
Análise do processo e cumprimento de prazos
Planos de manejo das atividades no entorno
(Comparação com cronograma da obra)
Projetos de recuperação de áreas degradadas no entorno de Tis
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Articulação entre atores envolvidos no atendimento
à fiscalização de TIs
Número de ações conjuntas e descrição das ações
Acordos para conservação da faixa de gestão compartilhada
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
PNGATI Adequação do Plano de Proteção à PNGATI
CON
TRO
LE
SOC
IAL
Participação indígena nas etapas de implementação Ações com participação indígena
PROTEçãO àS TERRAS INDíGENAS
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
30 31
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA
Participação indígena no acompanhamento das
ações do PBA Componente Indígena
Condicionante 2.20: Em relação aos órgãos envolvidos no licenciamento
ambiental, observar as seguintes orientações;
a) Funai: atender ao disposto no Ofício
no 126/PRES – FUNAI (Anexo III)
- Formação de um Comitê Gestor
Indígena para as ações referentes
aos programas de compensação do AHE Belo Monte.
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Implementação do CGI
Ata de formação e regimento interno elaborado
PRO
TAG
ON
ISM
O IN
DÍG
ENA
Protagonismo indígena no Comitê
Propostas construídas por indígenas
EMPO
DER
AM
ENTO
IND
ÍGEN
A
Efetividade do Comitê
Percepção sobre a efetividade do comitê (diálogo entre indígenas e instituições envolvidas no PBA-CI,
percepção sobre caráter deliberativo do Comitê, contribuições dos mais
velhos e mulheres)
11 Terras Indígenas + AI Juruna do km
17 + índios residentes
na cidade de Altamira e índios
ribeirinhos
Número de reuniões/ano + número de presentes, por etnia (representatividade)
Participação na elaboração do Plano Anual
Articulação política regional entre indígenas
Percepção de melhorias na articulação entre aldeias e entre TIs
Composição dos cargos por mandato (cargo/etnia ou
instituição/mandato)
Capacidade dos atores do PBA de mobilização e pactuação de
ações com as comunidades
Influência indígena na construção de políticas
públicas específicas
Assentos de indígenas do Médio Xingu em espaços de decisão
Número de reuniões dos subcomitêsPR
AZO
S
Prazos estabelecidos Avaliação sobre cumprimento de prazos
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Articulação entre atores envolvidos
Instituições participantes do Comitê (membros e convidados) por reunião
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Mediação Mediação de reuniões do comitê e subcomitês
Autodeterminação dos povos nos assuntos
tratados pelo Comitê
Análise de atas para levantamento das principais questões
Encaminhamento das questões levantadas
CON
TRO
LE S
OC
IAL Transparência Canais de acesso a informações sobre o
andamento e pautas do comitê
Difusão de informações nas comunidades
Registro e repasse de informações nas comunidades
COMITê GESTOR INDíGENA DO PBA-CI
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
32 33
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA
11 Terras Indígenas + AI Juruna do km 17 + índios residentes na cidade de
Altamira e índios ribeirinhos
Condicionante 2.20: Em relação aos órgãos envolvidos no licenciamento
ambiental, observar as seguintes orientações;
a) Funai: atender ao disposto no Ofício
no 126/PRES – FUNAI (Anexo III)
- Criação de um comitê indígena para controle e
monitoramento da vazão que inclua mecanismos de
acompanhamento – preferencialmente nas terras indígenas, além de treinamento e capacitação, com ampla participação das comunidades.
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Implementação do Comitê de monitoramento da
vazão reduzida da VGX
Ata de formação e regimento interno elaborado
TRA
NSF
ORM
AÇÕ
ES N
A V
GX
Acompanhamento das transformações ambientais na VGX
Número de Indígenas capacitados para o
monitoramento do TVR
MO
NIT
ORA
MEN
TO P
ART
ICIP
ATIV
O
Efetividade do monitoramento
Percepção indígena sobre a efetividade do comitê
Tis Paquiçamba, Arara da VGX
(e TITB)
Número de reuniões/ano + número de presentes, por etnia (representatividade)
Troca de informações com monitoramentos independentes
do TVR
Percepção indígena sobre as transformações ambientais
Representatividade nos cargos do ComitêAcompanhamento da
viabilidade do hidrograma de consenso
Influência do monitoramento indígena do TVR sobre tomadas de
decisão
PRA
ZOS
Prazos estabelecidos Avaliação sobre cumprimento de prazos Monitoramento das condições de navegabilidade
Repasse adequado de dados obtidos no monitoramento
participativo indígena
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Articulação entre atores envolvidos
Instituições participantes do Comitê (membros e convidados) por reunião
Análise de monitoramento participativo da ictiofauna,
quelônios e flora
Fluxo de informações entre PBA geral e PBA-CI
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Mediação Mediação de reuniões do Comitê
Autodeterminação dos povos nos assuntos
tratados pelo Comitê
Análise de atas para levantamento das principais questões
Encaminhamento das questões levantadas
CON
TRO
LE S
OC
IAL
Transparência Canais de acesso a informações sobre o andamento e pautas do comitê
Difusão de informações nas comunidades
Registro e repasse de informações nas comunidades
COMITê INDíGENA DE MONITORAMENTO DA VAzãO
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
34 35
Historicamente, a realocação de pessoas atingidas por grandes obras é motivo de notória controvérsia. Entendemos que esse conjunto de indicadores oferece um valioso ponto de partida para se analisar a questão em profundidade, permitindo trilhar os caminhos que conduziram as famílias a uma nova condição, bem como a sistematização de aprendizados significativos para a região do Xingu e outras em que grandes empreendimentos venham a se instalar.
Nota-se pela abrangência dos indicadores e métricas na coluna de “processos”, com destaque para o subtema “implementação”, que a estrutura fundiária e as possibilidades de negociação denotam um cenário de intrincada complexidade. O território, neste caso, é dado pelo grupo de pessoas
diretamente atingidas. Já que é impossível monitorar os rumos de todos os realocados, o recorte se volta para os processos que culminaram em indenizações ou reassentamento de famílias.
Já nas colunas de “insumos” e “resultados” a análise se amplia para os municípios do PDRSX. O que se deseja investigar é se as dinâmicas e os impactos decorrentes do empreendimento reverberaram no território, bem como a interferência nos aspectos fundamentais para o bem-estar humano e na própria forma de ocupação do espaço, nas suas dimensões econômica, social e ambiental. Registre-se que o domínio pleno sobre a terra é questão de tamanha relevância no contexto específico da região amazônica que, na matriz, foi alçada ao mesmo patamar dos eixos que compõem o tripé do desenvolvimento sustentável.
Reassentamentos Agrários
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
TERRITÓRIO
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA
Transferência compulsória das populações
CONDICIONANTE 2.20 - Em relação aos
órgãos envolvidos no licenciamento
ambiental, observar as seguintes
orientações: (...) INCRA e ITERPA:
apresentar manifestação
quanto ao prosseguimento do processo de licenciamento ambiental, no que tange à
conclusão das trativas referentes
aos assentamentos agrários
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Caracterização social e fundiária
Número de imóveis rurais cadastrados e situação fundiária por área interferida
Famílias interferidas na
zona rural CON
DIÇ
ÕES
PA
RA M
AN
UTE
NÇ
ÃO
DA
S FA
MÍL
IAS
NO
CA
MPO
Acesso ao crédito e à assistência técnica
rural
Número de famílias atendidas por programas de financiamento às
atividades produtivas, por município
DES
ENV
OLV
IMEN
TO S
OC
IAL
Perfil das famílias na zona rural
População rural dos municípios (faixa etária e gênero)
Municípios do PDRSX
(11 municípios)
Perda de referências socioespaciais
Número de famílias cadastradas e respectiva categoria social dos ocupantes e proprietários, por área interferida
Número de famílias atendidas por projetos de assistência técnica, por
município
Renda média das famílias na zona rural dos municípios
Comprometimento das relações econômicas e
sociais
Aquisição de terras
Número de indenizações por tipo e categoria social Mobilidade Vias em condições de trafegabilidade na zona rural
Atividades de subsistência e outras formas de complementação da renda familiar
Perda de terras agricultáveis Valores médios pagos pelo hectare por área interferida
Saneamento básico
Destinação final de resíduos sólidos Violência no campo Conflitos no uso e ocupação da terra
Perda de atividades produtivas Valores médios pagos por benfeitorias por área interferida Tipo de acesso/abastecimento de
água potávelViolação de direitos
trabalhistasNúmero de casos de violação de direitos
trabalhistas
Expectativa de desapropriação gerada na
populaçãoNúmero de processos judicializados por área interferida Tipo de esgotamento sanitário
CON
SERV
AÇ
ÃO
AM
BIEN
TAL
Cadastro ambiental rural
Número de produtores/imóveis que realizaram CAR
Especulação Imobiliária
Realocação das famílias
Famílias inseridas no PNRA - Articulação INCRA/Norte Energia
Acesso à saúde e à educação
Número de CEFAs (Casas e Escolas Familiares), CFRs (Casas Familiares
Rurais) e Escola técnica do campo – ETECAMPO; número de matrículas
por tipo de escola
Pagamentos por serviços ambientais
Iniciativas de pagamento por serviços ambientais
Número de famílias reassentadas (individualmente e em projetos coletivos)
Número de escolas na zona rural por município Desmatamento Taxa de desmatamento (série histórica)
Área dos novos imóveis rurais destinados às famílias (compra direta e lotes para reassentamento)
Proporção da população atendida pelos PSF e PACS na zona rural
DES
ENV
OLV
IMEN
TO E
CON
ÔM
ICO
Produção agropecuária
Número de associações e cooperativas de produtores rurais/pescadores
PRA
ZOS
Prazos atendidos Prazos estabelecidos e status do cumprimento Número de estabelecimentos de saúde na zona rural
Área plantada por tipo de lavoura, quantidade produzida e valor da produção
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Arranjos institucionais constituídos
Caracterização dos arranjos institucionais formalizados Produção de origem animal por tipo
Percepção sobre a eficácia das parcerias desenvolvidas Comercialização da produção
Formas de escoamento da produção
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Qualidade das terras Classificação das terras adquiridas Canais de comercialização
Localização do novo imóvel ou projeto de
assentamento
Percepção quanto à satisfação com a localização do novo imóvel rural ou lote
DO
MÍN
IO S
OBR
E A
TER
RA Regularização fundiária Número de imóveis titulados
CON
TRO
LE
SOC
IAL
Espaços de acompanhamento e
negociação
Caracterização dos espaços de acompanhamento e negociação
Transparência Canais de acesso à informação sobre a realocação na área rural
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
36 37
A condicionante 2.21 está inserida no âmbito mais amplo dos planos de segurança pública previstos no Plano Básico Ambiental (PBA), mas o escopo do projeto aponta para equipamentos voltados à fiscalização ambiental.
Na coluna “insumos”, os indicadores voltados para fiscalização e infraestrutura são complementados por uma visão integrada de política ambiental, o que inclui projetos de conservação e uso sustentável de fauna e flora, bem como os “acordos de pesca”. Tais arranjos intracomunitários, com anuência dos órgãos oficiais, costumam ser muito efetivos como modelo de autogestão da fiscalização.
O desmatamento é, sem dúvida, o indicador que mais chama atenção no contexto de instalação de grandes obras, tipicamente influenciado pelo aquecimento econômico e pela pavimentação de estradas. Mas a coluna “resultados” busca dar conta de uma variedade de indicadores pertinentes à saúde ambiental dos territórios, tanto do ponto de vista biológico (“Qualidade da água para usos múltiplos” e “Espécies indicadores de qualidade ambiental”) quanto da legalidade dos arranjos produtivos e da propriedade privada (“Produção de madeira” e “Cadastro ambiental rural”).
Fiscalização Ambiental
IMPACTOS E EXPECTATIVAS
CONDICIONANTE ASSOCIADA
PROCESSOSINDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES
TERRITÓRIO
INSUMOSINDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES
RESULTADOSINDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIOSUB
TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA SUB TEMA INDICADOR MÉTRICA
Sobrecarga na gestão da Administração Pública
Condicionante 2.21: Dar continuidade às ações de apoio
à fiscalização ambiental, a exemplo
daquelas definidas nos Acordos de
Cooperação Técnica com o IBAMA e com
o Estado do Pará
Foco do TdR: (i) promoção de ações de
fortalecimento de fiscalização
ambiental na região da usina hidrelétrica
de Belo Monte e (ii) ações de
fortalecimento da segurança pública,
prevê a implantação de um Centro
Integrado de Defesa do Meio Ambiente
em Altamira.
IMPL
EMEN
TAÇ
ÃO
Fortalecimento da fiscalização ambiental
Ações de fortalecimento da fiscalização
AID: Altamira, Vitória do Xingu, Brasil
Novo, Senador José Porfírio e Anapu
FISC
ALI
ZAÇ
ÃO
AM
BIEN
TAL
Operações de fiscalização ambiental
Número de operações, vistorias, multas, notificações (Sec. Municipal; Sec. Estadual e
IBAMA)
CON
SERV
AÇ
ÃO
AM
BIEN
TAL
Desmatamento Taxa de desmatamento
Municípios do PDRSX
(11 municípios)
Antropização elevada; desmatamento intenso;
queimadas; extração ilegal e pesca predatória
Unidades de apoio à fiscalização (caracterização do Centro de
Altamira: localização, função e acompanhamento das atividades; e
bases de fiscalização do IBAMA)
Número de autuações por desmatamento e queimadas
ilegaisProdução de
madeira
Quantidade e valor da produção na extração vegetal
Melhoria na fiscalização ambiental
PRA
ZOS Número de apreensões de
animais silvestres (porte ou comércio ilegal)
Produtores certificados para comercialização de madeira legal e
volume produzido/ano
Perda de biodiversidade
ART
ICU
LAÇ
ÃO
Articulação com/entre municípios e estado para fiscalização ambiental da
região
Avaliação dos arranjos institucionais, (acordos, convênios)
Supressão vegetal
Volume de madeira suprimida (pela UHE Belo Monte)
Cadastro Ambiental Rural
Número de produtores/imóveis que realizaram CAR
CRI
TÉRI
OS
E D
EMA
ND
AS
Volume de madeira ilegal apreendida e destinação
Qualidade da água para usos múltiplos
Qual. água meio urbano e rios/igarapés: DBO, DQO, turbidez,
coliformes fecais, cianobactérias, nos pontos de coleta de análise pela NE
CON
TRO
LE S
OC
IAL Transparência Canais de acesso à informação sobre
as ações de fiscalização Acordos de pesca Número e região dos acordos de pesca Biodiversidade Presença/ausência de espécies que
indicam qualidade ambiental
Envolvimento de espaços de participação
na implementação/ acompanhamento das ações de fiscalização
REC
URS
OS
HU
MA
NO
S
E IN
FRA
ESTR
UTU
RARecursos humanos
e equipamentos nas Secretarias
Municipais de Meio Ambiente
Número de funcionários
Número de veículos de apoio
PRO
GRA
MA
S E
PRO
JETO
S D
E CO
NSE
RVA
ÇÃ
O
Programas de conservação e uso
sustentável da fauna e flora
Número de programas/projetos (e descrição)
Matrizes em construção, com ajustes diários pelos atores
locais e especialistas; versão final:
agosto de 2015.
38 39
A s taxas de reprovação no Ensino Fundamental aumentaram consideravelmente na região em que se instalou a hidrelétrica de Belo Monte, e as taxas de abandono apresentam piora em alguns municípios, segundo dados do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Os cinco municípios na área de influência direta (AID), que vinham diminuindo a reprovação desde 2007, acumulam agora um crescimento de 40,5% entre 2011 e 2013. A AID é composta por Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.
É uma piora acentuada, mesmo no contexto paraense, que tradicionalmente apresenta indicadores negativos para a educação. No entanto, o aumento total do estado para o mesmo período é bem menor, de 7,7%. O crescimento mais significativo, no período 2011-2013, foi conferido em Anapu (125,7%) seguido por Altamira (81,7%), a principal cidade da AID.
Um quadro adverso no Ensino Fundamental também chama atenção se levado em conta o cenário brasileiro. Influências demográficas, tais como o envelhecimento populacional e programas sociais como o Bolsa Família, que atrelam o benefício ao rendimento escolar das crianças, favorecem a melhora dos indicadores. De fato, o saldo nacional no mesmo período é um recuo de 14,3% nas taxas de reprovação.
Sintomaticamente, a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) regrediu 0,3 ponto no mesmo período para os anos iniciais e 0,4 para os anos finais na AID. Um dos indicadores que compõem o IDEB é a aprovação.
O que poderia explicar o destino de tantos alunos que não conseguem passar de ano? Ainda é preciso aprofundar a coleta de dados e pretendemos realizar pesquisa com grupos focais, o que significa ouvir os próprios jovens da região para buscar entender quais dinâmicas influenciam o cenário. Desestruturação familiar e rotatividade de professores – que, atraídos por melhores oportunidades, deixam o magistério – são algumas das hipóteses levantadas pelos atores locais.
Independentemente das causas, um cenário negativo quanto a indicadores tão importantes mostra-se incompatível com um território que recebe uma obra desse porte e vultosos investimentos associados. “Uma dinâmica econômica aquecida requer capital humano para que seja possível absorver os impactos positivos. A convivência desses dois elementos – uma obra de grande porte e indicadores de educação preocupantes – pode inviabilizar as potenciais oportunidades trazidas pelo empreendimento”, diz o professor Fernando Abrucio, que orienta as pesquisas em Educação do projeto.
EducaçãoColeta preliminarTaxas de reprovação, abandono escolar e notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) mostram-se incompatíveis com um território que recebe vultosos investimentos
40 41
Abandono escolar Reprovação e abandono são indicadores que se influenciam mutuamente. O mau resultado pode desestimular a continuidade dos estudos, assim como o aluno que passa muito tempo afastado tende a ter mais dificuldade de recuperar o rendimento escolar, quando retorna. Além disso, no Brasil de maneira geral, há casos em que o estudante já não se envolve mais com a escola – o que configuraria abandono – mas segue matriculado e ao final do ano é reprovado. A análise mais recomendável, portanto, considera esses indicadores em conjunto.
Os dados oficiais de abandono no Ensino Fundamental para os municípios da AID, segundo o INEP, apontam diminuição de 7,1% entre 2011 e 2013, um resultado positivo. No entanto, Altamira e Senador José Porfírio, que vinham melhorando suas marcas desde 2007, voltaram a apresentar uma tendência de crescimento de 2011 a 2013, em 57% e 34,6%, respectivamente. Apesar disso, a taxa em Altamira ainda é inferior à do Pará, da Região Norte e à média nacional. Já Senador José Porfírio apresenta uma taxa em 2013 quase três vezes maior que a do Pará, crescimento puxado sobretudo pelo abandono no meio rural.
Ensino Médio A taxa de reprovação no Ensino Médio para o conjunto da AID apresenta uma piora mais modesta, de 3,4% entre 2011 e 2013. Entretanto, ao adicionarmos o ano de 2010 como partida, o crescimento da reprovação salta para 73,5%.
O abandono foi de 10,6% no período 2011-2013. A taxa mais recente (20,5%) é maior que a do estado do Pará (17,9%) e da Região Norte (11,9%) e mais que o dobro da marca nacional (8,8%). Tanto o Pará, quanto a Região Norte e o Brasil vêm reduzindo os índices de abandono no Ensino Médio desde 2008.
Essa faixa etária é especialmente sensível à concorrência do trabalho, em detrimento dos estudos. É possível que o aquecimento econômico experimentado pela região, com aumento das ofertas de emprego e renda para jovens, esteja associado ao abandono do Ensino Médio.
O agravamento do desempenho do território em educação representa perdas para o desenvolvimento de capital humano. Com isso, a tendência é aumentar a dependência em relação às oportunidades econômicas que a instalação de Belo Monte representa. Essas oportunidades, contudo, são cíclicas e a falta de perspectiva de longo prazo tem potencial de aumentar a desigualdade e outros problemas sociais. no
LinHas Cruzadas
Uma das etapas mais importantes do processo de pesquisa do Indicadores de Belo Monte é a de complementar dados levantados em documentos oficiais com as percepções das pessoas que vivem e atuam na região.
Foi o que aconteceu com o assunto da suficiência de vagas para o Ensino Fundamental nos municípios da área de Influências Direta (AID) de Belo Monte. Por força das condicionantes 2.11, 2.12 e 2.13 da Licença de Instalação (LI), o empreendedor deve construir equipamentos escolares de modo a evitar a falta de vagas em todos os níveis de ensino.
Segundo os relatórios semestrais da Norte Energia, apesar de um recorrente déficit no Ensino Infantil – o serviço de educação menos universalizado do Brasil – o superávit para o Ensino Fundamental é mais que confortável em toda a AID. Altamira, por exemplo, chega a registrar 2.646 vagas ociosas em maio de 2014.
Entretanto, relatos preliminares colhidos nas Secretarias de Educação de Altamira, Brasil Novo, Anapu e Vitória do Xingu sugerem um inchaço de alunos nas áreas urbanas, enquanto escolas do meio rural estariam esvaziadas. Assim, mesmo que a oferta geral seja suficiente, o gargalo estaria na distribuição de vagas pelo território. O caso de Vitória do Xingu corrobora a tese, já que 11 novas escolas, todas na área rural, estão sem uso.
Para confirmar essa hipótese, seria preciso filtrar os dados conforme o que é urbano e o que é rural e fomentar uma discussão sobre as análises de suficiência realizadas, previstas pela condicionante para acontecerem semestralmente. Maior e contínua integração e articulação entre empreendedor, poder público e sociedade local pode ajudar a evitar eventuais erros de planejamento e desperdício de recursos e, acima de tudo, colaborar para um serviço público de qualidade.
A análise completa e detalhada sobre esses e outros dados de educação para a região do Xingu pode ser acessada em indicadoresdebelomonte.com.br/biblioteca.
42 43
A primeira edição do Mapa dos Caminhos mergulha no dilema sobre as responsabilidades em torno das ligações à rede de água e esgoto em Altamira, mas chama atenção para ausência de ações estruturantes referentes ao planejamento, à gestão e à transparência quanto aos
encaminhamentos que impactam diretamente a vida das pessoas.
A condicionante 2.10 da Licença de Instalação (LI) da UHE Belo Monte estabelece que o empreendedor deve oferecer a infraestrutura de modo a garantir 100% de saneamento básico em Altamira e Vitória do Xingu.
A conclusão das obras para a rede de água e esgoto em Altamira segue em fase de finalização e testes, mas permanece um impasse sobre quem deve financiar e executar as ligações domiciliares. O Projeto Básico Ambiental (PBA), que define as ações socioambientais do empreendimento, deixa margem à interpretação. O documento de referência diz que cabe ao empreendedor “implementar” o sistema e ao poder público municipal compete a “complementação” e a “operação”. Há quem diga que as conexões com os usuários estariam no âmbito da “complementação”, já outros entendem que “implementar” o sistema é entregá-lo completo, portanto com as ligações incluídas.
A incerteza é preocupante, já que dessa última etapa depende a efetividade de todo o esforço empreendido até aqui. Mas a questão está inserida numa tarefa maior que é a gestão do sistema de saneamento.
É no campo da gestão que se define como prestar os serviços, como operacionalizar os equipamentos, quais competências e recursos humanos se precisa, quais os custos e capacidade de novos investimentos, política tarifária, entre outros. Todos esses elementos são interdependentes. Se a responsabilidade sobre as ligações recair sobre o poder público, por exemplo, é diante de um consistente plano de gestão que se poderá traçar a melhor forma de viabilizá-las, sobretudo nas localidades de baixa renda.
Se, ao contrário, o serviço for executado ou custeado pelo empreendedor, a inexistência de um desenho de gestão privaria a população do acesso a informações fundamentais. Para autorizar a obra dentro de sua própria casa ou local de trabalho é muito provável que o cidadão demande esclarecimentos mínimos, tais como: quem será o responsável pela prestação do serviço? Quais são os parâmetros de qualidade? Quais despesas incidirão sobre o imóvel?
Até o momento não se tem definido quem será o operador do sistema. Data de 2011 um Convênio de Cooperação Federativa entre o município de Altamira e o governo do estado, que daria à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) a competência para prestar o serviço. Entretanto, A Lei de Saneamento estabelece que a cooperação precisa de um desdobramento, na forma de contrato. Este, por sua vez, só tem validade se acompanhado de plano de saneamento básico, estudo técnico-econômico, plano de investimento, normas de regulação, entre outros requisitos. Em Altamira, todas essas são tarefas ainda por fazer.
SaneamentoMapa dos caminhos
Com infraestrutura que garantiria acesso universal ao saneamento básico, Altamira ainda carece de planejamento e participação social
44 45
A possível exceção é o Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pela Norte Energia e entregue à prefeitura em abril de 2014. Segundo a municipalidade, entretanto, o documento diz respeito apenas aos serviços de água e esgoto e um plano integrado de saneamento – que inclui drenagem urbana e resíduos sólidos – ainda estaria sendo formulado pelo próprio poder público. Na prática, a possibilidade de a prefeitura assumir diretamente a prestação do serviço ou delegá-lo a outro operador, mesmo que privado, não está descartada.
Para o projeto Indicadores de Belo Monte, as questões relativas à gestão representam um dos mais importantes desafios nesta fase em que Altamira estaria prestes a universalizar o acesso ao saneamento básico.
Por que saneamento é tão importante?
Os impactos prognosticados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o saneamento básico tratam de riscos de cheias e enchentes, da demanda sob a gestão pública, da qualidade da água para usos múltiplos do rio Xingu e da saúde da população. Com a quase totalidade da população valendo-se de poços rasos e fossas negras (sem revestimento), o afluxo populacional provocado pelo empreendimento agrava ainda mais os riscos preexistentes de contaminação.
O acesso ao saneamento adequado está diretamente ligado às chances de desenvolvimento, à autonomia e à dignidade das pessoas. Para as sociedades, o comprometimento das condições sanitárias representa gastos evitáveis para a saúde pública e perda de produtividade na economia.
O que podemos aprender com outras experiências? A cidade de Paraty (RJ) e os estados de São Paulo e Espírito Santo, ainda que em territórios e realidades diferentes, têm em comum o desafio de promover adesão a novas redes de água e esgoto e todos eles apresentam estratégias específicas voltadas para o público de baixa renda.
Em São Paulo, uma parceria entre o governo do estado e a companhia estadual de saneamento oferece a gratuidade das obras domiciliares nas áreas mais carentes. Em Paraty, a tarifa social, que oferece abatimentos na conta de água para esse mesmo público de modo permanente, foi combinada a descontos para toda a população ao longo dos primeiros três anos.
O caso do Espírito Santo chama atenção pelo expressivo investimento em comunicação e relacionamento, o que permitiu envolver lideranças locais e identificar os impedimentos específicos para a ligação voluntária da população à rede de saneamento básico em diferentes áreas.
Uma pesquisa bibliográfica também relevou que falta de participação e esclarecimento é um dos principais – e mais subestimados – entraves para a ampliação dos sistemas de saneamento básico em todo o Brasil.
É o cidadão quem decidirá ligar-se ou não à rede, conforme aquilo que lhe faça mais sentido. Usuários do sistema também têm seus motivos, saberes e modos de vida, os quais nem sempre estarão alinhados com o que se planeja para o território no nível das instituições. Promover a discussão sobre os benefícios do saneamento, e com isso entender o contexto sociocultural em que a novidade se insere, é uma estratégia que merece especial atenção.
Como avançar? Na qualidade de observador desse processo, o projeto Indicadores de Belo Monte propôs o seguinte encaminhamento à Câmara Técnica de Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo Monte, com potencial facilitação da FGV, se pertinente:
1. Realizar diálogo com a coordenação do Comitê Gestor do PDRSX na perspectiva de pautar o tema saneamento básico com vistas às demais câmaras técnicas que possam participar do processo, bem como com o IBAMA;
2. Realizar reunião com a Prefeitura Municipal de Altamira, em especial com o prefeito municipal e secretário de Planejamento, ampliando o diálogo sobre o saneamento no município de Altamira;
3. A partir desses diálogos, propor aos principais atores desse processo (prefeitura de Altamira, Norte Energia e governo do Estado do Pará) a realização de mesa técnica com a finalidade de debater os rumos da gestão do saneamento básico no município;
4. Posteriormente, propõe-se que os mesmos atores realizem seminário ou outra atividade pública na perspectiva de colher contribuições da sociedade, colaborando assim com a inauguração de um ambiente de participação social e de construção coletiva.
A versão completa do “Mapa dos Caminhos” com a análise detalhada sobre a situação em Altamira e encaminhamentos propostos pode ser acessada em indicadoresdebelomonte.com.br/biblioteca.
46
Em Altamira: Rua dos Missionários 3184 Esplanada do Xingu – CEP 68372-030 Tel: (93) 9209-1980/ (93) 9231-9401
Em São Paulo: Rua Itararé, 123 Bela Vista – CEP 01308-030 Tel: (11) 3284-0754 / (11) 94143-8030
indicadoresdebelomonte.com.br
Fale conosco