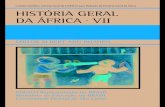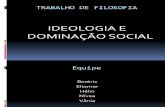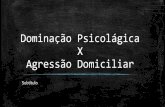O trabalho sob a égide do capital - Gestão Escolar · capitalismo, para garantir o processo de...
Transcript of O trabalho sob a égide do capital - Gestão Escolar · capitalismo, para garantir o processo de...
1
O trabalho sob a égide do capital
Autor: Roberto Leme Batista
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Stieltjes - UEM
PROBLEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO
1. Das origens do capital
Em “a assim chamada acumulação primitiva”, capítulo XXIV de O Capital, Marx trava
um debate com os economistas clássicos que afirmavam que a origem da acumulação de riquezas
de forma individual se constituía em um mérito dos capitalistas. Segundo esta concepção a
riqueza, ou seja, o capital acumulado pela burguesia era o resultado do trabalho e esforço
individual, cuja avareza e espírito poupador investiu e acumulou paulatinamente. Os economistas
afirmavam que a classe proletária ao contrário dos capitalistas não era dada ao trabalho, levava
uma vida desregrada, não fazia economia das ―riquezas‖, esbanjava e desperdiçava tudo, por isso,
não conseguia juntar nada em suas mãos.
Marx se contrapõe a esta concepção dos economistas afirmando que os métodos de
acumulação de riqueza nas mãos da burguesia, não foram nada idílicos. Segundo Marx o
pressuposto dos economistas políticos, ao supor que ―...em tempos muito remotos, havia, por um
lado, uma elite laboriosa e sobretudo parcimoniosa, e, por outro, vagabundos dissipando tudo o
que tinham e mais nada...‖1 aproxima-se da visão teológica de mundo, da ―história‖ em que Adão
foi induzido por Eva a comer a maçã, introduzindo no mundo, o pecado. No entanto, o pecado
original descrito pela Bíblia assinala que todos os homens foram condenados a ter que comer o
pão com o suor de seus rostos, sendo que na idílica história dos economistas, uma classe social
não tem necessidade de derramar seu suor porque recebeu de herança de seus antepassados
laboriosos, parcimoniosos, etc., a riqueza. Enquanto outra classe, herdeira dos vagabundos, tem
que vender no mercado sua força de trabalho, ou seja, sua própria pele. Marx assinala que alguns
poucos que há muito pararam de trabalhar continuam a ver suas riquezas crescer continuamente,
enquanto a grande massa de trabalhadores pobres, apesar de exercerem trabalho árduo, nada
possuem, senão a si mesmos. Por isso, Marx afirma que o processo de acumulação de riquezas
em mãos individuais não ocorreu de forma idílica, mas pelo contrário por meio da conquista, da
subjugação, do latrocínio, ou seja, a violência do capital desempenhou o papel principal.
1 MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Vol. II, p. 251.
2
Segundo Marx, o modo de produção capitalista desenvolveu um mecanismo de separação
dos trabalhadores e da propriedade das condições da realização do trabalho, ou seja, separou
radicalmente os trabalhadores dos meios de produção. Ao se desenvolver, o capitalismo, não
apenas mantém esta separação, mas a reproduz em escala sempre crescente. O capitalismo além
de separar os trabalhadores das condições de trabalho, transforma também os meios de
subsistência e de produção em capital e, os trabalhadores diretos em trabalhadores assalariados.
Para se efetivar como classe que comanda o processo de produção capitalista a burguesia
teve a necessidade de expropriar dos trabalhadores as condições de trabalho, ou seja, os meios de
produção. Desde que começou a se desenvolver, a, mais ou menos, 5 séculos, o capitalismo se
constitui em um sistema dinâmico de transformação radical nas relações de trabalho.
O capital se constitui em um ―sistema‖ (in)controlável, dirigido por capitalistas privados
que organizam e conduzem o processo de produção voltados para a expansão, a acumulação e a
reprodução de suas riquezas.
O capital possui uma determinação lógica para acumular e dinamismo avassalador para se
expandir e valorizar. Mészáros afirma que o capital é ―em última análise, uma forma
incontrolável de controle sociometabólico‖.2 Neste sentido, o filósofo húngaro irá afirmar que
“... Como um modo de controle sociometabólico, o capital, por necessidade, sempre retém seu
primado sobre o pessoal por meio do qual seu corpo jurídico pode se manifestar de formas
diferentes nos diferentes momentos da história‖.3
Os capitalistas, ao desenvolverem as condições que lhes garantissem o processo de
valorização e expansão do capital, submeteram toda a sociedade a um controle social metabólico
e totalizador, impondo-se através de uma estrutura única de comando, apropriada à lógica
expansionista.
O capitalismo possui uma lógica de expansão e reprodução em escala crescente, cuja
vontade individual de acumular sempre mais capital é a força propulsora que move tal modo de
produção. Este processo efetiva-se como um meio em que a burguesia extrai dos trabalhadores
um excedente de trabalho não pago, sob a forma de mais valia que é apropriada pela classe
proprietária (burguesia), sob a forma de capital.
O capitalismo conseguiu historicamente impor sua estrutura de organização da produção,
exercendo de forma articulada a combinação de três elementos fundamentais para a valorização
do capital, quais sejam: a capacidade impulsora da força de trabalho, o objeto sobre o qual ela
2 MÉSZÁROS, I. Para além do capital: Rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, Campinas: Editora
da Unicamp, 2002, p. 96 3 Ibid., p. 98.
3
age, ou seja, a matéria-prima e os meios de trabalho com quais ela atua que são os instrumentos,
as ferramentas, os elementos auxiliares no processo de trabalho.4
Esta forma de combinar e articular os elementos de controle é inerente à lógica de
valorização do capital. O problema da valorização do capital é determinante em todas as
transformações candentes na forma de organização do trabalho empreendida historicamente pelo
capitalismo, para garantir o processo de valorização e a continuidade do controle
sociometabólico, sem o qual haveria uma interrupção da valorização, ou seja, cessaria a extração
de mais-valia.
Para garantir a valorização e a reprodução do capital os capitalistas tiveram que
desenvolver formas diferentes de controle e disciplina do trabalho e métodos para racionalizar o
processo de produção.
O capital se valoriza através da extração de mais-valia, ou seja, pela apropriação de
trabalho excedente, não pago aos trabalhadores. Portanto, para garantir a expansão do processo
de valorização do capital é necessário intensificar o ritmo de trabalho, reduzindo o tempo de
trabalho necessário para se produzir determinado efeito útil.
O processo de valorização do capital é uma constante mutação de ―valores em processo‖,
que se resume na fórmula dinheiro-mercadoria-dinheiro. A valorização do capital no processo de
produção é garantida pela força de trabalho (trabalho vivo) que cria uma certa elasticidade,
alargando continuamente a produção e reprodução do capital.
Portanto, fica evidente que o processo de produção capitalista é essencialmente produção
de mais-valia, um meio de valorizar o valor já avançado do capital através da sucção e
incorporação de trabalho vivo, efetivando-se dessa forma o domínio do trabalho passado
(trabalho morto) sobre o trabalho presente, das ―coisas‖ sobre o homem. Nesta perspectiva, Marx
afirmou que ―...A dominação do capitalista sobre o operário é, por conseguinte, a dominação da
coisa sobre o homem, a do trabalho morto sobre o trabalho vivo, a do produto sobre o
produtor(...)”.5
Para garantir o processo permanente de expansão e valorização do capital os capitalistas
precisam desenvolver formas para aumentar a produtividade do trabalho. Ao obter melhorias na
produtividade, o capitalista individual consegue reduzir automaticamente a despesa com força de
trabalho, pois reduz a quantidade de trabalho necessário por unidade de capital investido. Este
fato coloca o produto desse capitalista num valor abaixo do valor social de produção, deixando-o
em vantagem em relação a seus concorrentes, pois o tempo de trabalho embutido no produto é
menor que o de seus concorrentes.
4 Ibid., p. 44. 5 MARX, K. O Capital, Capítulo VI, Inédito, Editora Moraes, São Paulo, SP, 1985. p. 55. Os grifos são meus.
4
Existem vários fatores que influenciam diretamente na elevação da produtividade do
trabalho, contribuindo para o processo de racionalização e valorização do capital, quais sejam:
promover melhorias nos instrumentos, ou seja, nos elementos auxiliares no processo de trabalho,
através do desenvolvimento tecnológico; provocar alterações visando intensificar a divisão social
do trabalho, intervindo na concepção e na organização do processo de trabalho; desenvolver
formas para garantir o fluxo contínuo no processo de produção, eliminando as interrupções e as
porosidades do trabalho, ao mesmo tempo em que intensifica o seu ritmo; investir na capacitação
e especialização da força de trabalho; garantir a qualidade dos objetos de trabalho, isto é, da
matéria-prima; garantir o controle, a disciplina e a vigilância sobre o trabalho.
No processo de desenvolvimento tecnológico e suas conseqüentes inovações o capital
supera as condições técnicas e impõe o ritmo de trabalho de acordo com as necessidades da
valorização, pois conforme afirma Marx, nesse processo ―os meios de produção transformaram-
se imediatamente em meios para a absorção de trabalho alheio. Não é mais o trabalhador quem
emprega os meios de produção, mas os meios de produção quem emprega o trabalhador‖.6
Portanto, doravante são os meios de produção que consomem o trabalhador, e não o inverso. O
capital para se valorizar não pode ser prisioneiro das condições herdadas, já existentes
historicamente e prisioneiro da extensão e prolongamento da jornada de trabalho. Cito Marx: Tem de revolucionar as condições técnicas e sociais do processo de trabalho, portanto o próprio modo de
produção , a fim de aumentar a força produtiva do trabalho, mediante o aumento da força produtiva do
trabalho reduzir o valor da força de trabalho, e assim encurtar parte da jornada de trabalho necessária para
a reprodução deste valor.7
Dá-se assim a passagem da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa. Portanto, o
aumento na produtividade do trabalho configura-se na intensificação da produção de mais-valia.
Afinal, com o aumento da produtividade do trabalho, o trabalhador consegue produzir em menos
tempo a sua subsistência, ou seja, o necessário para reproduzir a sua força de trabalho. Este
processo permite ao capitalista reter mais trabalho excedente, não pago ao trabalhador,
aumentando a valorização do seu capital.
Portanto, o desenvolvimento tecnológico permite aos capitalistas utilizarem cada vez
menos força de trabalho - trabalho vivo - que sustenta a produção de mais-valia, isto é, a
valorização do capital, pois aumenta a quantidade de trabalho passado - trabalho morto - em
forma de meios de produção à disposição dos capitalistas. A força de trabalho, o trabalho vivo, a
parte subjetiva do processo de produção, aquela que intervém diretamente na produção, que cria,
mantém e agrega valor é substituída pelo trabalho objetivado, morto, realizado no passado, que
intervém indiretamente na produção.
6 MARX, K. O capital, op cit, 1988. p. 244. 7 Op cit, p. 251.
5
É no processo de produção de mercadorias que o capital se expande e se valoriza. Na
mercadoria se expressam dois valores: o valor de uso e o valor de troca. O processo de produção
de mercadorias é a unidade imediata do processo de trabalho e do processo de valorização do
capital. As grandezas de valor do capital não devem ser apenas conservadas, elas precisam
crescer e para isso têm que sofrer um incremento de mais-valia. Enquanto na mercadoria o valor
de uso é apenas ―um objeto com propriedades determinadas‖, na força de trabalho, que atua
produtivamente, é ―transformação de coisas‖, isto é, transformação de valores de uso, o trabalho
vivo através dos instrumentos de produção opera a transformação dos objetos de trabalho
(matéria prima), acrescentando-lhe valores novos.
Vimos que o processo de produção capitalista se constitui na unidade imediata do
processo de trabalho e do processo de valorização do capital. Portanto, a mercadoria - unidade
imediata do valor de uso e do valor de troca - é o resultado imediato do processo de produção.
Marx adverte, no entanto, que o processo de trabalho não é mais do que um meio de valorização
do capital, enquanto que o processo de valorização é fundamentalmente produção de mais-valia,
ou seja, a objetivação de trabalho não pago.
Portanto, processo de trabalho e processo de valorização, são univocamente inseparáveis,
pois se trabalha uma única vez, para criar um produto que seja útil, que tenha valor de uso,
transformando assim os objetos de trabalho em produtos, ao mesmo tempo, em que acrescenta
valor novo, produzindo mais-valia, como forma de valorização do capital.
É no processo de produção de mercadorias que se manifesta a divisão social de trabalho,
pois de um lado se coloca a capacidade de trabalho - os trabalhadores - e de outro as condições
objetivas de trabalho, os meios de produção que geram as condições para a execução do trabalho.
Já vimos anteriormente que as condições objetivas da produção - os meios de produção -
constituem-se em monopólio dos capitalistas e que os trabalhadores se obrigam a vender a estes
a sua força de trabalho para garantir a sua sobrevivência.
A capacidade física e mental dos trabalhadores - a força de trabalho - se manifesta na
produção orientada para um fim determinado, qual seja, a valorização do capital através da
transformação dos objetos de trabalho - matéria-prima - em produtos, em mercadorias. Temos
então, que a força de trabalho é a condição subjetiva da produção, pois, sem ela não há
valorização do capital.
Conforme nos esclarece Marx afirmando que:
Uma parte do valor de uso com que o capital se apresenta no interior do processo de produção é a própria
capacidade viva de trabalho, mas uma capacidade de trabalho de especificidade determinada,
correspondente ao particular valor de uso dos meios de produção, e é uma capacidade de trabalho
impulsora, uma força de trabalho que, ao manifestar-se, se orienta para um fim, que converte os meios de
produção em momentos objetivos da sua atividade, fazendo-os passar por conseguinte da forma original
6
do seu valor de uso para a nova forma do produto. Daqui que os próprios valores de uso experimentem no
interior do processo de produção um verdadeiro processo de transformação.8
A força de trabalho, a parte variável do capital entra no processo de produção tendo que
consumir produtivamente a parte constante que são os objetos de trabalho, as matéria-primas e os
meios de trabalho que são as máquinas e os equipamentos, isto é, os elementos auxiliares na
produção. Ao mover e fazer funcionar os meios de trabalho produtivamente, a força de trabalho
transforma os objetos de trabalho em produtos, em mercadorias, mantendo o antigo valor, criando
e acrescentando um valor novo garantindo a expansão e a valorização do capital. Neste processo
a força de trabalho consome os objetos e os meios de trabalho, sendo que estes últimos sofrem
desgastes, fazendo-os aparecerem no final do processo de trabalho com um acréscimo de valor,
um valor novo que não pertence ao trabalhador, mas ao capitalista.
Para que tal processo se concretize, o trabalho tem que ser organizado para operar de
forma ordenada, controlada e vigiada com vistas a um fim determinado, ―... que a transformação
dos meios de produção se realize de maneira adequada; que o valor de uso que se tem em vista
como finalidade surja realmente como resultado e que o faça de forma conseguida...‖9
Este processo, segundo Marx, se impõe pela vigilância, disciplina e controle dos
capitalistas sobre os trabalhadores e, são as formas como ele se manifesta historicamente que
vamos analisar nos próximos capítulos.
INVESTIGAÇÃO DISCIPLINAR
1. Da Cooperação Simples à Grande Indústria
1.1. A cooperação simples
Com o capitalismo, desenvolveu-se a cooperação no processo de trabalho, a manufatura
que superou a produção artesanal com base no ofício, e posteriormente a grande indústria com
8 MARX, K. O Capital, Capítulo VI, Inédito, Editora Moraes, São Paulo, SP, 1985. p. 45. 9 Ibid., p. 51.
7
base na maquinaria, um grande salto das forças produtivas, conforme bem demonstrou Marx na
famosa ―tríade‖ de O Capital, onde discute as transformações no mundo do trabalho
empreendidas pelo capital e o desenvolvimento das forças produtivas decorrentes do avanço
tecnológico, tais como a intensificação da divisão social do trabalho, desenvolvimento técnico e
mudança no perfil da classe operária.
O modo de produção capitalista possui uma dinâmica de transformação do processo de
trabalho que, com o desenvolvimento da cooperação e da manufatura leva a uma superação do
trabalho artesanal, que era a base de produção da sociedade feudal.
O desenvolvimento do capitalismo possibilitou um processo de dominação e controle do
capital sobre o trabalho. Os instrumentos de trabalho tornaram-se armas necessárias no processo
de acumulação do capital. Na produção artesanal, e até na cooperação manufatureira, estes
instrumentos eram ferramentas manuseadas pelos trabalhadores, mas com o advento da grande
indústria fundada na maquinaria, foram incorporados à máquina, da qual os trabalhadores serão
apenas apêndices.
Para Marx o processo de produção capitalista impulsionou o desenvolvimento das forças
produtivas, a partir do momento em que a acumulação de riqueza permitiu ao capitalista,
proprietário particular dos meios de produção, reunir trabalhadores sob o mesmo teto, sob seu
comando para produzir, fazendo com que o próprio processo de trabalho consiga fornecer
produtos numa escala maior que antes.
Portanto, a origem da disciplina e do controle exercida pelo capital sobre o trabalho está
na concentração da produção. Também, o pressuposto da gerência capitalista está em reunir os
trabalhadores sob o mesmo teto e o mesmo comando.
O capitalismo, ao desenvolver a cooperação, ao reunir e unir os trabalhadores no processo
de trabalho, superando a produção individual das corporações artesanais, revolucionou o processo
de trabalho. A união de muitos trabalhadores para executar tarefas de produção, que antes
ocupavam poucos trabalhadores, fez com que os meios de produção fossem utilizados em
comum, de forma simultânea ou alternada.
Marx considera que a cooperação torna relevante o desvelamento das aparências das
relações sociais do modo de produção capitalista, que revelam suas contradições, fazendo com
que a organização do processo de trabalho seja autônomo e independente dos trabalhadores que
cooperam entre si no processo produtivo. Nesta perspectiva, afirma que no espírito da produção
capitalista ―(...) as condições de trabalho se colocam em face do trabalhador de forma autônoma,
8
o economizá-las apresenta-se também como uma operação particular, que em nada lhe interessa e
que por isso se separa dos métodos que elevam sua produtividade pessoal.‖10
A cooperação foi o meio encontrado pelo capital para, a partir da organização do processo
de trabalho, estimular e aumentar a produtividade do trabalho; caracteriza-se, portanto, como a
forma que os capitalistas organizaram a produção, na fase inicial do capitalismo. Por isso, Marx
a define como sendo ―a forma de trabalho em que muitos trabalham planejadamente lado a lado e
conjuntamente, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas
conexos, chama-se cooperação.‖11
Ao agir simultaneamente, no processo de trabalho, o trabalhador coletivo cria um
resultado muito superior do que a simples ―soma mecânica de trabalhadores individuais‖. A
cooperação, neste caso, desenvolve uma potência a partir da fusão e articulação de muitas forças
em uma única força comum.
A cooperação faz com que o simples contato e a convivência social dos trabalhadores, no
processo de trabalho decorrentes ―da fusão de muitas forças numa força global‖, desenvolva nos
trabalhadores individuais uma certa emulação, ou seja, o estímulo e o ânimo para o trabalho
aumentando assim suas capacidades produtivas. O trabalho articulado e combinado decorrentes
da cooperação faz com que um determinado número de trabalhadores juntos, em jornada
simultânea, produzam mais do que o mesmo número de trabalhadores isoladamente.
O trabalho combinado, simultâneo, faz com que desenvolva uma economia de tempo, pois
o transporte de objetos, por exemplo, sendo feito pelo trabalhador coletivo através da cooperação,
seja mais rápido do que se fosse feito isoladamente pelo trabalhador individual.
Portanto, a cooperação faz com que a maioria dos operários que trabalham juntos se
completem no processo produtivo, apesar da complexidade que envolve o processo de trabalho
na cooperação, é a junção dos trabalhadores que permite a divisão das operações e a sua execução
simultânea, possibilitando assim a economia de tempo.
A organização do processo de trabalho em forma de cooperação, permitiu a extensão do
espaço de realização do trabalho. Este foi o caso em que o objeto de trabalho, tais como ferrovias,
estradas etc. exigia em razão de sua configuração. Por outro lado, a cooperação permitiu ao
capital aumentar a produtividade do trabalho através da junção de trabalhadores em espaços
limitados e reduzidos para produzir. A cooperação possibilitou também a concentração dos meios
de produção e a eliminação de custos no processo de produção.
A cooperação, ao desenvolver o trabalho combinado, fez com que a jornada de trabalho
produzisse maiores quantidades de valor de uso em comparação com as jornadas isoladas e
10 Ibid., p. 259. 11 Ibid.
9
individuais. Este aumento da produtividade conquistado pelas mudanças no processo de trabalho
permitiu a diminuição do tempo necessário para se produzir determinado efeito útil.
Marx, ao analisar o resultado alcançado pela força produtiva do trabalho combinado,
mostra as diversas formas pelas quais a cooperação revolucionou o mundo da produção. Todos os
efeitos úteis provocados pelo trabalho combinado no aumento da produtividade do trabalho são
decorrências da força produtiva do trabalho social. ―(...) em todas as circunstâncias a força
produtiva específica da jornada de trabalho combinada é força produtiva social do trabalho ou
força produtiva do trabalho social. Ela decorre da própria cooperação...‖12
A cooperação engendrou o trabalhador coletivo, cuja capacidade produtiva revolucionou
o mundo da produção, pois ao ter que trabalhar juntamente com outros trabalhadores de forma
planejada, o trabalhador individual desfez-se de suas próprias limitações, superando-as e
desenvolvendo a capacidade e a força do trabalhador coletivo.
Portanto, para cooperar entre si, os trabalhadores precisam estar juntos, reunidos no
mesmo espaço, e isto só se tornou possível porque o capitalista compra as forças individuais de
trabalho e as coloca para cooperarem, desenvolvendo assim o trabalho combinado.
De tal forma que a cooperação dos trabalhadores no processo de trabalho só se tornou em
conseqüência direta da concentração e acumulação de capital por capitalistas individuais que
passaram a investir na produção, contratando a força de trabalho, individualmente, e colocando o
indivíduo ex-proprietário da força de trabalho para cooperar com outros, no processo produtivo.
Conforme observa Marx, afirmando que:
...A concentração de grandes quantidades de meios de produção em mãos de capitalistas individuais é,
portanto, a condição material para a cooperação de trabalhadores assalariados, e a extensão da cooperação,
ou a escala da produção, depende do grau dessa concentração.‖13
A acumulação mínima de capital nas mãos de capitalistas individuais foi a condição para
que a massa de trabalho excedente, não pago aos trabalhadores possibilitasse a libertação do
pequeno empregador do trabalho manual e estabelecesse o capital como relação social, pois o
pequeno patrão foi transformado num capitalista. Desta forma, o processo de trabalho artesanal,
que funda-se na produção individual e isolada foi sendo desmontado pelo capital e transformado
num processo social combinado.
O desenvolvimento da cooperação que possibilitou ao capitalista libertar-se do trabalho
manual, possibilitou também este transferir a função de supervisionar o trabalho dos
trabalhadores sob seu comando ―a uma espécie particular de assalariados‖. A forma capitalista de
12 Ibid., p. 262. 13 Ibid.
10
produzir é despótica porque possui uma duplicidade: o trabalho que dirige é por um lado processo
social de trabalho para elaboração de um produto, por outro é simplesmente um processo de
valorização do capital.
O comando do capital sobre o trabalho, que a princípio parecia se dar em razão do
trabalhador não produzir para si, mas para o capitalista a quem vendia sua força de trabalho, à
medida que os trabalhadores assalariados foram obrigados a desenvolver o trabalho de forma
combinada, em um processo cooperativo foi se convertendo numa exigência para os próprios
capitalistas.
Marx parte da premissa que todo trabalho coletivo em grande escala exige direção, ou
seja, comando. Sendo que no modo de produção capitalista é função do proprietário de capital
dirigir a organização da produção, à medida que subordina o trabalho, tornando-o cooperativo, o
capital vai impondo sua forma de produzir para se auto-reproduzir. Portanto, o comando supremo
no processo de produção é do capitalista, que segundo Marx não é capitalista porque é dirigente
industrial, ele comanda porque é capitalista, ou seja, proprietário dos meios de produção. Marx
afirma que ―... Essa função de dirigir, superintender e mediar torna-se função do capital, tão logo
o trabalho a ele subordinado torna-se cooperativo. Como função específica do capital, a função
de dirigir assume características específicas.‖14
Quando o assunto é controle do capital sobre o trabalho, não podemos dispensar a
contribuição de Braverman, segundo o qual, o problema da gerência capitalista sobre o trabalho
surgiu assim que os trabalhadores, por ele chamados de produtores, foram reunidos no mesmo
espaço para produzirem. ―(...) tão logo os produtores foram reunidos, surgiu o problema da
gerência em forma rudimentar. Em primeiro lugar, surgiram funções de gerência pelo próprio
exercício do trabalho cooperativo.(...)‖15
O capitalista dirige o processo de produção porque é proprietário do capital, isto é, dos
meios de produção. No modo de produção capitalista tudo se torna propriedade do capital,
inclusive do tempo dos trabalhadores, que a este vende sua força de trabalho para garantir sua
subsistência. Braverman afirma que ―o capitalista assumiu essas funções como gerente em
virtude de sua propriedade do capital. Nas relações capitalistas de troca, o tempo dos
trabalhadores era propriedade dele tanto quanto a matéria-prima fornecida e os produtos saídos de
sua oficina.(...)‖16
Nos primórdios da organização da produção sob o comando do capital ocorria uma
degradação do trabalho proveniente da subcontratação, principalmente no sistema domiciliar. Isto
14
Ibid., p. 263. 15 BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista: A Degradação do Trabalho no Século XX. Rio de
Janeiro: Zahar, 1981, p. 61. 16 Ibid., p. 62.
11
ocorria porque a princípio os capitalistas desconsideravam a diferença entre força de trabalho e o
trabalho que dela poderia ser obtido, assim, compravam em vez da força de trabalho, o trabalho já
acabado em forma de produtos, sendo que isto gerava a subcontratação e o trabalho domiciliar.
Naquela forma de organização da produção, havia sempre a figura do subcontratador e de agentes
em comissão que empreitavam os trabalhos para serem executados por terceiros. Existiam casos
em que trabalhadores qualificados empregavam seus próprios ajudantes, auxiliando o capital na
exploração do trabalho de crianças. Os capatazes, além de supervisionar a produção para os
capitalistas, muitas vezes arrendavam máquinas e pagavam salários para que outros as operassem
para si. A terceirização do trabalho não é tão moderna como acreditam os doutrinadores da pós-
modernidade.17
Assim, nos esclarece Braverman, afirmando que:
As primeiras fases do capitalismo industrial foram assinaladas por um continuado esforço por parte do
capitalista para desconsiderar a diferença entre a força de trabalho e o trabalho que pode ser obtido dela, e
para comprar trabalho do mesmo modo como ele adquiria matérias-primas: como uma determinada
quantidade de trabalho, completa e incorporada no produto. Este empenho assumiu a forma de uma
grande variedade de sistemas de subcontratação e ‘desligamento’. Era encontrado sob a forma de
trabalho domiciliar na tecelagem, fabricação de roupas, objetos de metal (pregos e cutelaria), relojoaria,
chapéus, indústrias de lã e couro. No caso, o capitalista distribuía os materiais na base de empreitada aos
trabalhadores, para manufatura em suas casas, por meio de subcontratadores e agentes em comissão. (...)
O sistema persistiu inclusive nas primeiras fábricas. Nas fábricas de fios de algodão, fiandeiros
qualificados eram encarregados da maquinaria e recrutavam seus próprios ajudantes, em geral crianças,
dentre familiares e conhecidos. Os capatazes às vezes juntavam às funções de supervisão a prática de tomar a seus cuidados umas poucas máquinas e pagar salário a quem as operasse....18
Entretanto, o sistema de produção através do sistema domiciliar foi uma fase de transição,
num momento em que o capital ainda não havia assumido a função de direção da produção no
capitalismo industrial, nem o controle sobre o processo de trabalho. O sistema de produção
domiciliar era incompatível com o desenvolvimento da forma de produzir capitalista que se
tornava totalizadora, razão pela qual sobrevive apenas em casos especiais.
A subcontratação e a produção domiciliar geravam irregularidades, perdas de material e
lentidão da produção. Estes sistemas eram limitados pois não conseguiam transformar e superar a
organização artesanal da produção. A prática capitalista de comprar trabalho acabado e não a
força de trabalho, possibilitava a subcontratação e o trabalho domiciliar, deixando fora do alcance
dos capitalistas um enorme potencial de trabalho humano que não conseguiam controlar e
disciplinar. Na prática, esta forma de organização da produção se constituía em entrave para a
expansão e valorização do capital.
17
Apesar do processo descrito por Braverman não ser a mesma coisa da terceirização contemporânea, mostra-nos
que a subcontratação da força de trabalho é um recurso utilizado pelos capitalistas desde as primeiras fases do
desenvolvimento industrial. 18 Ibid., p. 62-63, os grifos são meus.
12
Analisando o controle exercido sobre turmas grandes de trabalhadores, muito anterior ao
modo de produção capitalista, nos exércitos e nos trabalhos desenvolvidos por escravos,
Braverman constata que ―a administração exigida em tais situações permanecia elementar‖:
... O capitalista, porém, lidando com o trabalho assalariado, que representa um custo para toda hora não
produtiva, numa seqüência de tecnologia rapidamente revolucionadora, e espicaçado pela necessidade de
exibir um excedente e acumular capital, ensejou uma arte inteiramente nova de administrar, que mesmo
em suas primitivas manifestações era muito mais completa, autoconsciente, esmerada e calculista do que
qualquer coisa anterior.‖19
A gerência primitiva do capital agiu através de formas rígidas, despóticas e coercitivas
para criar uma força de trabalho livre, que se habituasse às tarefas e se mantivesse sob o comando
e controle do capital durante dias e anos. A princípio, não havia uma teoria e prática desenvolvida
da gerência, isso tornou-se necessário porque o capital havia ―criado novas relações sociais de
produção‖ que colocava os capitalistas diante de problemas novos e diferentes em relação as
formas anteriores de organização da produção e do trabalho.
Com o desenvolvimento da cooperação, à medida que o trabalho já está subordinado ao
capital, também o controle capitalista sobre o trabalhador e o processo de trabalho já estão dados,
ou seja, a necessidade do controle do capital sobre o trabalho se dá com o desenvolvimento do
trabalho coletivo. A direção e a organização do trabalho sob o capital é função do capitalista. O
motivo básico pelo qual o capitalista organiza, reorganiza, ordena e reordena o processo de
trabalho é a autovalorização de seu capital, ou seja, a maior expropriação possível de mais-valia.
Portanto, a autovalorização do capital pressupõe a maior exploração possível da força de
trabalho. O capital só se reproduz por meio da expropriação de trabalho alheio. Para tanto, busca-
se desenvolver meios de racionalização do trabalho visando tal reprodução.
A organização do processo de trabalho, portanto, obedece a vontade do capitalista e sua
necessidade de acumulação e reprodução de capital. Isso não ocorre sem resistência dos
trabalhadores à exploração capitalista, o que obriga os capitalistas a pressionarem contra essa
resistência. A organização do processo de trabalho está inserida no contexto da luta antagônica
entre as classes que contrapõe os explorados contra os exploradores. São os interesses
antagônicos entre capitalistas e trabalhadores que condicionam e limitam a exploração do capital
sobre o trabalho.
A cooperação impulsionou o desenvolvimento das forças produtivas, mas esta não
pertence aos trabalhadores que a desenvolvem, por meio da execução do trabalho de forma
cooperativa e combinada, pelo contrário, pertence ao capitalista. O processo de trabalho
19 Ibid., p. 66.
13
combinado, cooperativo, só se tornou possível porque o capitalista contrata individualmente
trabalhadores que para sobreviver precisam vender suas forças de trabalho.
O capitalista contrata o trabalhador para executar tarefas de forma coletiva, mas compra a
sua força de trabalho individualmente. Não interessa ao capital se o trabalho é social, coletivo,
combinado e cooperativo. Ele, o proprietário do capital, contrata e paga a força de trabalho
individualmente, mas coloca os trabalhadores para trabalharem coletivamente, ou seja, para
cooperarem no processo produtivo, no entanto, não paga aos trabalhadores pelo trabalho
executado de forma combinada, pagando-lhes apenas o suficiente para repor sua força de
trabalho individual e de sua família, garantindo assim a reprodução futura do capital.
A cooperação sendo uma forma específica de trabalho desenvolvida pelo modo de
produção capitalista, pressupõe portanto o capitalismo, sendo que ela é ao mesmo tempo o ponto
de partida de tal modo de produção. Para Marx a cooperação nada mais é que:
... a primeira modificação que o processo de trabalho real experimenta pela sua subordinação ao capital.
Essa modificação se dá naturalmente. Seu pressuposto, ocupação simultânea de um número relativamente
grande de assalariados no mesmo processo de trabalho, constitui o ponto de partida da produção
capitalista. Este coincide com a existência do próprio capital. Se o modo de produção capitalista se
apresenta, portanto, por um lado, como uma necessidade histórica para a transformação do processo de
trabalho em um processo social, então, por outro lado, essa forma social do processo de trabalho
apresenta-se como um método, empregado pelo capital, para mediante o aumento da sua força produtiva
explorá-lo mais lucrativamente.20
1.2. Manufatura e Divisão do Trabalho
Segundo Marx, na manufatura, o processo de produção nada mais é que uma
decomposição da ―atividade artesanal em suas diversas operações parciais‖. Seja a atividade
manufatureira composta ou simples, sua execução ―dependente da força, habilidade, rapidez e
segurança do trabalhador individual no manejo de seu instrumento‖, o processo de trabalho
continua sendo artesanal. Os trabalhadores são a base fundamental desse processo de produção,
pois é o trabalho parcial, subdividido, de cada um, feito artesanalmente, que garante que o
produto percorra todas as fases da produção numa cadeia de trabalhadores parcelados. Sendo que,
o trabalhador é apropriado na produção para executar função parcial, vendo sua força de trabalho
ser ―transformada por toda vida em órgão dessa função parcial‖. Conforme se depreende da
citação a seguir, Marx entende que a divisão do trabalho na manufatura ―é uma espécie particular
da cooperação‖, sendo que ―algumas de suas vantagens‖ decorrem da ―natureza geral‖ da
cooperação ―e não dessa forma particular de cooperação.‖ Por isso, afirma que:
20 MARX, Karl. op. cit., p. 265-266.
14
Para o entendimento correto da divisão do trabalho na manufatura é essencial atentar para os seguintes
pontos: antes de mais nada, a análise do processo de produção em suas fases particulares coincide
inteiramente com a decomposição de uma atividade artesanal em suas diversas operações parciais.
Composta ou simples, a execução continua artesanal e portanto dependente da força, habilidade, rapidez e
segurança do trabalhador individual no manejo de seu instrumento. (...) Precisamente por continuar sendo
a habilidade manual a base do processo de produção é que cada trabalhador é apropriado exclusivamente
para uma função parcial e sua força de trabalho é transformada por toda vida em órgão dessa função
parcial. Finalmente, essa divisão do trabalho é uma espécie particular da cooperação e algumas de suas
vantagens decorrem da natureza geral e não dessa forma particular da cooperação.21
Para Marx, a manufatura produz a virtuosidade do trabalhador detalhista, porque
consegue na oficina reproduzir, desenvolver e impulsionar ao extremo ―a diferenciação
naturalmente desenvolvida dos ofícios,‖ que ela (a manufatura) já encontrou desenvolvida na
sociedade. O trabalho parcial é desenvolvido ao seu limite pela manufatura.
A vantagem da atividade executada pelo trabalhador parcial da manufatura em relação ao
trabalho executado pelo artesão, é que o artesão tinha que executar todas as operações na
produção de um determinado produto, tinha que se movimentar muito para executar o seu
trabalho, além de ter que trocar constantemente de instrumento de trabalho. Com isso, ele perdia
muito tempo, e criava ―poros em sua jornada de trabalho‖. Já o trabalhador parcial se vê obrigado
a executar o dia inteiro a mesma operação, o mesmo movimento, fazendo com que os poros
diminuam ou desapareçam. Essa forma de trabalho faz com que aumente a produtividade do
trabalho graças ao ―dispêndio crescente da força de trabalho em dado espaço de tempo.‖ O
excesso de energia dispendida pelo artesão ao manusear os instrumentos e ter que se mover de
um lado para outro, é compensado pelo trabalhador parcial ao atingir maior perduração da
velocidade normal do seu trabalho.
A produtividade na divisão manufatureira do trabalho não dependia apenas do trabalhador
e de sua virtuosidade, mas fundamentalmente da perfeição de seus instrumentos de trabalho.
No entanto, o trabalhador parcial, ao assumir as tarefas decompostas e dissociadas,
subdivididas e parceladas na produção manufatureira, acaba desenvolvendo ―a forma mais
adequada possível‖ para a execução do trabalho, facilitando a sua atividade e exigindo novos
instrumentos de trabalho.
Essa mudança de forma possui sentido na ―experiência das dificuldades específicas
ocasionadas pela forma inalterada‖. Os primeiros trabalhadores parciais receberam as mesmas
ferramentas de trabalho que eram antes utilizadas pelos artesãos, portanto, ferramentas que
prestavam para diversas atividades ao mesmo tempo. Como tinham que executar uma mesma
21 Ibid., p. 268-269.
15
atividade permanentemente, desenvolveram novas formas de intervir na produção e
consequentemente a necessidade de novas ferramentas especializadas para o trabalho, para uso
particular, fixo e exclusivo em determinadas atividades, condizentes com o trabalho parcial.
Ao desenvolver a ferramenta especializada, melhorando, diversificando e adaptando ―às
funções exclusivas particulares dos trabalhadores parciais‖, o período manufatureiro criou as
condições materiais para o surgimento e desenvolvimento da maquinaria, que ―consiste numa
combinação de instrumentos simples‖.22
Na produção manufatureira o trabalhador parcial exerce uma importância vital, pois de
sua virtuosidade depende a continuidade da cadeia produtiva. A produção de um dado produto é
feito em seqüência, ou seja, um trabalhador tem que dar continuidade ao trabalho do outro, ―o
resultado do trabalho de um constitui o ponto de partida para o trabalho do outro‖.23
É a
experiência do trabalhador parcial que permite prever e fixar o tempo necessário para ―alcançar o
efeito útil ambicionado em cada processo parcial‖, sendo possível basear-se o resultado a ser
obtido pelo mecanismo global da manufatura. Somente através desta organização que permite aos
―diferentes processos de trabalho, que se complementam mutuamente‖ prosseguir a produção no
mesmo espaço, ao mesmo tempo sem necessidade de interrupção. Este mecanismo gera uma
dependência do processo produtivo em relação aos trabalhos desenvolvidos pelos indivíduos, e ao
mesmo tempo dos trabalhadores entre si, obrigando ―cada indivíduo a empregar só o tempo
necessário à sua função‖. É esta dependência que ao prender o indivíduo em sua função faz com
que a produção manufatureira consiga superar as formas de trabalho anterior. Conforme nos
esclarece Marx, observando que:
... É claro que essa dependência direta dos trabalhos e portanto dos trabalhadores entre si obriga cada
indivíduo a empregar só o tempo necessário à sua função, produzindo-se assim uma continuidade,
uniformidade, regularidade, ordenamento e nomeadamente também intensidade de trabalho totalmente
diferentes das vigentes no ofício independente ou mesmo na cooperação simples....24
Marx observa que o período manufatureiro tinha conscientemente como princípio
diminuir o tempo de trabalho necessário para a produção de mercadorias, e que o mesmo
chegou, embora esporadicamente a desenvolver a utilização de máquinas para a execução de
processos simples.
Segundo Marx o ―trabalhador coletivo, combinação de muitos trabalhadores parciais‖, é a
maquinaria específica do período manufatureiro. Analisando a complexidade da produção
22 Ibid., p. 270-271. 23 Ibid., p. 273. 24 Ibid.
16
manufatureira com suas diversas operações a executar, exigindo do trabalhador ora força, ora
habilidade, outrora atenção mental, Marx assinala que o mesmo indivíduo não possui todas estas
qualidades no mesmo grau. Por isso, na manufatura faz-se a separação, autonomização e
isolamento das diferentes operações, separando, classificando e agrupando os trabalhadores de
acordo com suas qualidades dominantes. É sobre as peculiaridades naturais dos trabalhadores que
se estabelece a divisão do trabalho, entretanto, com a introdução da manufatura, desenvolve-se
força-de-trabalho, apta para funções específicas unilaterais. Ao desenvolver o trabalho
combinado, cooperativo, a manufatura consegue ter no trabalhador coletivo ―todas as
propriedades produtivas no mesmo grau de virtuosidade‖ conseguindo utilizar todos os seus
órgãos, individuais ou de grupos de trabalhadores, de forma exclusiva em suas funções
específicas. A manufatura consegue fazer com que o limite e a imperfeição do trabalhador parcial
torne-se uma perfeição como trabalhador coletivo. O trabalhador parcial, enquanto exerce uma
função unilateral transforma esta função em seu órgão natural, já em conexão com o mecanismo
global de produção é levado a operar como se fosse um componente de máquina. De tal forma
que:
As diferentes operações que são executadas alternadamente pelo produtor de uma mercadoria e que se
entrelaçam no conjunto de seu processo de trabalho apresentam-lhe exigências diferentes. Numa ele tem
de desenvolver mais força, em outra mais habilidade, numa terceira mais atenção mental etc., e o mesmo
indivíduo não possui essas qualidades no mesmo grau. Depois da separação, autonomização e isolamento
das diferentes operações, os trabalhadores são separados, classificados e agrupados segundo suas
qualidades dominantes. (...) O trabalhador coletivo possui agora todas as propriedades produtivas no
mesmo grau de virtuosidade e ao mesmo tempo as despende da maneira mais econômica, empregando
todos os seus órgãos, individualizadas em trabalhadores ou grupos de trabalhadores determinados,
exclusivamente para suas funções específicas. A unilateralidade e mesmo imperfeição do trabalhador
parcial tornam-se sua perfeição como membro do trabalhador coletivo. O hábito de exercer uma função
unilateral transforma-o em seu órgão natural e de atuação segura, enquanto a conexão do mecanismo global o obriga a operar com regularidade de um componente de máquina.25
O processo de produção sob a manufatura, fundada na cooperação e no trabalho
combinado, portanto coletivo, ao fazer com que os trabalhadores tenham que exercer funções
simples e complexas, baixa e elevada, exige grau de formação diferenciada dos trabalhadores
individuais, sendo que, isto faz variar também o valor da força de trabalho. A manufatura
desenvolve uma hierarquia das forças de trabalho ao criar a escala de salários. A produção
manufatureira apropria-se e anexa o trabalhador parcial por toda a sua vida a uma função
unilateral, obrigando-o a adaptar-se ―as diferentes operações daquela hierarquia (...) às
habilidades naturais adquiridas.‖
25 Ibid., p. 275-276.
17
O período manufatureiro criou os chamados trabalhadores não qualificados, aqueles cujos
despreparos para a produção eram descartados pelo artesanato. A manufatura, ao mesmo tempo
que desenvolve ao extremo toda a especialidade unilateral do trabalhador parcial, sua capacidade
total de trabalho, fazendo-o dominar a arte de produzir, transformando-o em um ser virtuoso,
também começa ―a fazer da falta de todo desenvolvimento uma especialidade‖, ou seja, a utilizar
a força de trabalho não qualificada.
A manufatura cria ao lado da separação hierárquica uma separação entre trabalhadores
qualificados e não qualificados. Para o trabalhador não qualificado a aprendizagem não tem
custo, ao passo que para o trabalhador qualificado há uma redução de custo em comparação com
o trabalhador artesanal, em razão da simplificação da função. Por outro lado, a manufatura
provoca uma desvalorização da força de trabalho em relação ao trabalho artesanal. A
desvalorização da força de trabalho é também um meio de valorização do capital, pois aumenta o
trabalho excedente não pago ao trabalhador.
O comando capitalista sobre um grupo considerável de trabalhadores foi a condição para a
existência e desenvolvimento da cooperação e da manufatura. A divisão manufatureira do
trabalho fez aumentar o número de trabalhadores empregados, pois desenvolveu ainda mais a
divisão do trabalho. A base técnica da manufatura impulsionou a concentração de capital em
mãos de capitalistas individuais, determinando a transformação dos meios sociais de subsistência
e de produção em capital. Para tanto:
Um número relativamente grande de trabalhadores sob o comando de um mesmo capital constitui o ponto
de partida naturalmente desenvolvido tanto da cooperação em geral, quanto da manufatura.
Reciprocamente, a divisão manufatureira do trabalho desenvolve o crescimento do número de
trabalhadores empregados numa necessidade técnica. O mínimo de trabalhadores, que um capitalista
individual tem de empregar, é-lhe agora prescrito pela divisão do trabalho estabelecida. (...) O incremento
progressivo do volume mínimo de capital em mãos de capitalistas individuais ou a transformação
crescente dos meios sociais de subsistência e dos meios de produção em capital é portanto uma lei que
decorre do caráter técnico da manufatura.26
Tal qual na cooperação simples, na manufatura é o corpo de trabalho em ação a forma de
existência do capital, pois os trabalhadores parciais movimentam um mecanismo social de
produção que pertence ao capitalista. A força produtiva do trabalho fundada na combinação dos
trabalhadores parciais, acaba aparecendo como força produtiva do capital, pois a manufatura
submete ao comando e disciplina do capital o trabalhador que antes exercia suas atividades
artesanais de forma autônoma, criando uma graduação hierárquica entre os trabalhadores. Ao
26 Ibid., p. 282.
18
contrário da cooperação simples que não alterava a forma individual de trabalho, a manufatura
apropria-se da força de trabalho individualmente, transformando radicalmente o modo de
produzir.
A manufatura, ao transformar o trabalhador em executor parcial de uma determinada
atividade, aleija-o convertendo-o numa anomalia, fomentando artificialmente sua habilidade.
Ela divide não só os trabalhos parciais específicos entre os indivíduos, senão o ―próprio indivíduo
é dividido no motor automático de um trabalho parcial‖. Marx observa que a manufatura faz com
que o trabalhador, que a princípio vende sua força de trabalho para o capital por não ter os meios
materiais para a produção de mercadorias, tenha necessariamente que vender sua força de
trabalho individual ao capital, pois é a condição ―sine qua non‖ para poder cumprir seu serviço. A
força de trabalho só funciona depois de vendida ao capitalista, na oficina deste. As
transformações técnicas e do processo de trabalho na manufatura deformam o trabalhador,
tornando-o um incapacitado, fazendo desaparecer ―a qualidade natural para fazer algo
autônomo‖, pois desaparecem as habilidades artesanais do trabalhador individual. O trabalhador
torna-se um apêndice da oficina capitalista e só consegue desenvolver uma atividade produtiva
como acessório desta.
A manufatura apropria-se dos conhecimentos, compreensão e vontade que o camponês ou
artesão autônomo desenvolviam, mesmo que em escala pequena, que agora são exigidos pela
oficina de trabalho em seu conjunto. Marx observa também que ―as potências intelectuais da
produção ampliam sua escala por um lado, porque desaparecem por muitos lados.‖ Aquilo que os
trabalhadores parciais perdem em habilidades é concentrado e incorporado ao capital com que se
defrontam. A divisão manufatureira do trabalho opõe, aos trabalhadores, as forças intelectuais da
produção, fazendo desta uma propriedade alheia e um poder que os domina, pois torna-se poder
do capital. O trabalhador é pago para produzir, não para pensar. Marx revela que o processo de
dissociação entre ―elaboração‖ e ―execução‖ começou com a cooperação simples, onde o
capitalista já representava ―a unidade e a vontade do corpo social de trabalho‖, diante dos
trabalhadores individuais. Esse processo intensificou-se, mutilando ainda mais o trabalhador,
convertendo-o, na manufatura, em trabalhador parcial e completando com a grande indústria que
separou ―do trabalho a ciência, como potência autônoma da produção e a força de servir ao
capital.‖ Conforme se depreende da afirmação de Marx:
Os conhecimentos, a compreensão e a vontade, que o camponês ou artesão autônomo desenvolve mesmo
que em pequena escala, como o selvagem exercita toda arte da guerra como astúcia pessoal, agora passam
a ser exigidos apenas pela oficina em seu conjunto. As potências intelectuais da produção ampliam sua
escala por um lado, porque desaparecem por muitos lados. O que os trabalhadores parciais perdem,
19
concentra-se no capital com que se defrontam. É um produto da divisão manufatureira do trabalho opor-
lhes as forças intelectuais do processo material de produção como propriedade alheia e poder que os
domina. Esse processo de dissociação começa na cooperação simples, em que o capitalista representa em
face dos trabalhadores individuais a unidade e a vontade do corpo social de trabalho. O processo
desenvolve-se na manufatura, que mutila o trabalhador, convertendo-o em trabalhador parcial, ele se
completa na grande indústria, que separa do trabalho a ciência como potência autônoma de produção e a
força a servir ao capital.27
Algumas deformações da divisão do trabalho no período manufatureiro são inseparáveis
da divisão geral do trabalho na sociedade, ou seja, a manufatura reproduzia a divisão do trabalho
já existente na sociedade com base nas corporações de ofício. No entanto, o período
manufatureiro levou muito mais longe essa divisão social dos ramos de trabalho. Foi a divisão
manufatureira que forneceu o material e deu o impulso para o desenvolvimento da patologia
industrial. Marx afirma que, neste sentido:
Certa deformação física e espiritual é inseparável mesmo da divisão do trabalho em geral na sociedade.
Mas como o período manufatureiro leva muito mais longe essa divisão social dos ramos de trabalho e, por
outro lado, apenas com a divisão peculiar alcança o indivíduo em suas raízes vitais, é ele o primeiro a
fornecer o material e dar o impulso para a patologia industrial.28
A divisão manufatureira do trabalho desenvolveu uma nova força produtiva social do
trabalho a partir da análise da atividade artesanal de trabalho, da especificação dos instrumentos
de trabalho, da formação dos trabalhadores especiais, isto é, de trabalhadores parciais, do
desenvolvimento de um mecanismo global de produção que agrupa e combina o trabalho desses
trabalhadores. Esta mesma divisão do trabalho social engendrou uma graduação qualitativa e uma
proporcionalidade quantitativa de processos sociais de produção. Sendo a divisão manufatureira
do trabalho uma forma de produção social específica do capitalismo, desenvolvida sob as bases
deste modo social de produção, seu desenvolvimento não poderia se dar de outra forma. Segundo
Marx, esta divisão social de trabalho não é outra coisa, senão um método especial de produzir
mais-valia relativa, ou seja, de aumentar a alto-valorização do capital à custa de maior quantidade
de trabalho excedente tirado dos trabalhadores. A reprodução do capital pressupõe a exploração
contínua de trabalho excedente que é convertido em capital como forma de garantir a expansão
da reprodução capitalista. Esta divisão social do trabalho não só desenvolve a força produtiva
social do trabalho só para o capitalista, alijando o trabalhador deste desenvolvimento, como
desenvolve esta força produtiva através da mutilação do trabalhador individual que é
transformado em um trabalhador parcial. A divisão manufatureira do trabalho cria novas
27 Ibid., p. 283-284. 28 Ibid., p. 285.
20
condições de dominação do capital sobre o trabalho. Esta divisão do trabalho embora apareça
como progresso histórico, pois é um avanço em relação ao trabalho artesanal, por isso mesmo,
um processo necessário, é, na realidade, um meio civilizado e refinado de exploração social.
Razão pela qual:
A divisão manufatureira do trabalho cria, por meio da análise da atividade artesanal, da especificação dos
instrumentos de trabalho, da formação dos trabalhadores especiais, de sua agrupação e combinação em um
mecanismo global, a graduação qualitativa e a proporcionalidade quantitativa de processos sociais de
produção, portanto determinada organização do trabalho social, e desenvolve com isso, ao mesmo tempo,
nova força produtiva social do trabalho. Como forma especificamente capitalista do processo de produção
social - e sob as bases preexistentes ela não podia desenvolver-se de outra forma, a não ser na capitalista -
é apenas um método especial de produzir mais-valia relativa ou aumentar a autovalorização do capital - o
que se denomina riqueza social, Wealth of Nations etc. - à custa dos trabalhadores. Ela desenvolve a força
produtiva social do trabalho não só para o capitalista, em vez de para o trabalhador, mas também por meio
da mutilação do trabalhador individual. Produz novas condições de dominação do capital sobre o trabalho.
Ainda que apareça de um lado como progresso histórico e momento necessário do processo de formação econômica da sociedade, por outro ela surge como um meio de exploração civilizada e refinada.29
A divisão manufatureira do trabalho chocou-se com diversos obstáculos para poder
realizar as suas tendências. Ela criou ao lado da graduação hierárquica dos trabalhadores uma
divisão entre trabalhadores qualificados e não qualificados, sendo a quantidade dos últimos
limitada pela influência dos primeiros. Os hábitos e a resistência dos trabalhadores masculinos
levaram os capitalistas no período manufatureiro a ajustar ―as operações especiais aos diversos
graus de maturidade, força e desenvolvimento dos seus órgãos vivos de trabalho‖, incrementando
a exploração de mulheres e crianças no processo produtivo. A decomposição da atividade
artesanal reduziu os custos de formação, logo, reduziu também o valor do trabalhador parcial, no
entanto, o trabalho de detalhe mais difícil exigia um tempo mais longo de aprendizagem, sem
contar que os trabalhadores procuravam preservar esta necessidade mesmo onde isto fosse
supérfluo. A base da manufatura foi a atividade artesanal cujo mecanismo global era
extremamente dependente dos trabalhadores, o que obrigava o capital a ter que lutar
constantemente contra a insubordinação destes. Assim sendo, Marx afirma que:
Durante o período manufatureiro propriamente dito, isto é, o período em que a manufatura era a forma
dominante do modo de produção capitalista, a plena realização de suas tendências se choca com
obstáculos de diversas naturezas. Embora, como vimos, ela criasse ao lado da graduação hierárquica dos
trabalhadores uma divisão simples entre trabalhadores qualificados e não qualificados, o número dos
últimos fica muito limitado em virtude da influência predominante dos primeiros. Embora ajustasse as
operações especiais aos diversos graus de maturidade, força e desenvolvimento dos seus órgãos vivos de
trabalho e portanto induzindo a exploração produtiva de mulheres e crianças, essa tendência malogra
geralmente devido aos hábitos e à resistência dos trabalhadores masculinos. Embora a decomposição da
29 Ibid., p. 286.
21
atividade artesanal reduzisse os custos de formação e portanto o valor do trabalhador, continua necessário
para o trabalho de detalhe mais difícil um tempo mais longo de aprendizagem e mesmo onde este tornava
supérfluo, os trabalhadores procuravam zelosamente preservá-lo. (...) Uma vez que a habilidade artesanal
continua a ser a base da manufatura e que o mecanismo global que nela funciona não possui nenhum
esqueleto objetivo independente dos próprios trabalhadores, o capital luta constantemente com a
insubordinação dos trabalhadores.30
A manufatura não se apossa de toda extensão da produção social, nem mesmo
revoluciona-a em profundidade. Embora economicamente esteja acima do artesanato urbano e da
indústria doméstica rural, ao atingir certo grau de desenvolvimento, entra em contradição com as
necessidades de produção que ela mesmo criou, em conseqüência de sua estreita base técnica. A
manufatura desenvolveu a oficina para produção dos instrumentos de trabalho, que já produzia
aparelhos mecânicos complicados que se começava a aplicar na produção.
Ao mesmo tempo, a manufatura nem podia apossar-se da produção social em toda a sua extensão, nem
revolucioná-la em sua profundidade. Como obra de arte econômica ela eleva-se qual ápice sobre a ampla
base do artesanato urbano e da indústria doméstica rural. Sua própria base técnica estreita, ao atingir certo
grau de desenvolvimento, entrou em contradição com as necessidades de produção que ela mesmo criou. Uma de suas obras mais completas foi a oficina para a produção dos próprios instrumentos de trabalho, nomeadamente também dos aparelhos mecânicos mais complicados que já começavam a ser aplicados.31
As oficinas que a princípio produziram instrumentos de trabalho acabaram por produzir
máquinas. As máquinas superaram o trabalho artesanal e passaram a regular a produção social.
Isso suplantou a anexação do trabalhador a uma função parcial, por toda a vida e fez cair as
barreiras que aquela anexação por motivos técnicos impunham ao domínio do capital sobre o
trabalho.
Esse produto da divisão manufatureira do trabalho produziu, por sua vez máquinas. Elas superam a
atividade artesanal como princípio regulador da produção social. Assim, por um lado, é removido o
motivo técnico da anexação do trabalhador a uma função parcial, por toda a vida. Por outro lado, caem as
barreiras que o mesmo princípio impunha ao domínio do capital.32
No entanto, as máquinas só surgiram no final do século XVIII. Veremos, no próximo
item, que a ela foram agrupadas as ferramentas antes controladas pelos trabalhadores. Até o
surgimento da máquina, os instrumentos de trabalho foram durante milênios utilizadas de forma
manual como meio de os homens produzirem a vida material.
30 Ibid., p. 287-288. 31 Ibid., p. 288. 32 Ibid., p. 289.
22
1.3. Maquinaria e Grande Indústria
A base técnica desenvolvida pela divisão social do trabalho manufatureira, cujas oficinas
produziam instrumentos de trabalho para os trabalhadores, foram levadas a produzirem máquinas,
revolucionando assim o processo de produção. Esta revolução conduziu o capitalismo a uma fase
mais avançada da organização da produção, ou seja a Grande Indústria, fundada na maquinaria. A
partir desse momento, o processo de produção capitalista efetiva a separação entre o trabalhador e
o instrumento de trabalho. Os instrumentos de trabalho que na produção artesanal e
manufatureira eram manuseados e controlados pelos trabalhadores foram anexados à máquina.
Marx nos afirma que:
Se examinarmos, agora, mais de perto a máquina-ferramenta ou máquina de trabalho propriamente dita,
então reaparecem, grosso modo, ainda que freqüentemente sob forma muito modificada, os aparelhos e
ferramentas com que o artesão e o trabalhador de manufatura trabalham, não como ferramentas do
homem, porém agora como ferramentas de um mecanismo ou ferramentas mecânicas. Ou a máquina toda
é uma edição mecânica mais ou menos modificada do antigo instrumento artesanal, como no caso do tear
mecânico, ou os órgãos ativos implantados na armação da máquina de trabalho são velhos conhecidos,
como fusos na máquina de fiar, agulhas no tear de confeccionar meias, lâminas de serra na máquina de
serrar, facas na máquina de picar etc. (...)33
Este processo de transferência das ferramentas - que antes eram manuseadas e controladas
pelos trabalhadores no processo de produção - para a máquina, faz parte da lógica do sistema
capitalista cuja busca permanente de expansão e reprodução do capital conduziu necessariamente
à superação do limite humano que se constituía naquele momento em um entrave para o
desenvolvimento do trabalho social. A maquinaria veio para revolucionar as forças produtivas,
aumentando a produtividade do trabalho, que passou a produzir com a menor quantidade de
trabalho um volume maior de mercadorias. A tendência histórica do capital é revolucionar a sua
composição técnica, como forma de se expandir e se reproduzir. Portanto, a revolução
introduzida pela maquinaria se insere nessa tendência histórica, pois alterou substancialmente a
composição técnica do capital ao tirar dos trabalhadores os instrumentos de trabalho, superando
as limitações da organização manufatureira do trabalho que tal qual o sistema de produção
artesanal ainda mantinha as ferramentas do ofício como base da produção. A revolução
introduzida pela maquinaria acabou por conduzir à produção de máquinas que produziam
máquinas, consubstanciando ainda mais o desenvolvimento das forças produtivas sob o comando
do capital. Marx observa que:
33 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Vol. II, p. 6-7.
23
Quando a própria ferramenta é transferida do homem para um mecanismo, surge uma máquina no lugar de
uma mera ferramenta. A diferença salta logo à vista, mesmo que o ser humano continue sendo o primeiro
motor. O número de instrumentos de trabalho com que ele pode operar ao mesmo tempo é limitado pelo
número de seus instrumentos naturais de produção, seus próprios órgãos corpóreos.34
Marx enfatiza que a virtuosidade do trabalhador parcial também foi transferida para a
máquina juntamente com a ferramenta. Este processo superou o fundamento técnico da divisão
manufatureira do trabalho, pois a máquina emancipa a eficácia da ferramenta do limite natural da
força de trabalho humana. Se antes a organização do processo de trabalho baseava-se no trabalho
coletivo dos trabalhadores parciais, agora a organização passa a se basear no sistema de
máquinas, limitando a atuação do trabalhador que passa a ter que apenas acompanhar o trabalho
da máquina. Neste sentido, ocorre um processo de substituição da força de trabalho humana pela
maquinaria, ou seja, substitui-se o trabalho vivo pelo trabalho morto.
Com a introdução da maquinaria os trabalhadores não trabalham mais de forma
articulada, pois são distribuídos entre as máquinas que ficam enfileiradas dentro das fábricas. Os
trabalhadores passam a ter que executar entre si apenas cooperação simples, pois o trabalho
articulado, complexo, é feito pelo sistema de máquinas conduzidas por máquinas-ferramentas.
Surge, então, a figura do operário principal que com a ajuda de poucos auxiliares substitui o
grupo que na manufatura executava o trabalho cooperativo, de forma combinada e articulada.
Marx define a nova composição da classe trabalhadora gestada pela maquinaria da seguinte
forma:
A distinção essencial é entre trabalhadores que efetivamente estão ocupados com as máquinas-ferramentas
(adicionam-se a estes alguns trabalhadores para vigiar ou então alimentar a máquina-motriz) e meros
ajudantes (quase exclusivamente crianças) desses trabalhadores de máquinas. Entre os ajudantes incluem-
se mais ou menos todos os feeders (que apenas suprem as máquinas com material de trabalho). Ao lado
dessas classes principais, surge um pessoal numericamente insignificante que se ocupa com o controle do
conjunto da maquinaria e com sua constante reparação, como engenheiros, mecânicos, marceneiros etc. É
uma classe mais elevada de trabalhadores, em parte com formação científica, em parte artesanal, externa ao círculo de operários de fábrica e só agregada a eles. Essa divisão de trabalho é puramente técnica.35
Portanto, a maquinaria se constituiu em um instrumento para o capital aumentar a
produtividade do trabalho, ou seja, para elevar a extração de mais valia. Ao desenvolver a
máquina ferramenta que opera simultaneamente com diversas ferramentas, o capital conseguiu se
livrar do limite humano que emperrava o ritmo da produção, emancipando-se da ―...
34 Ibid., p. 7. 35 Ibid., p. 40.
24
barreira orgânica que restringe a ferramenta manual de um trabalhador...‖.36
Com isto, o capital
consegue aumentar o ritmo, a produtividade e o volume de trabalho excedente não pago aos
trabalhadores.
Na maquinaria, a cooperação, base do trabalho parcial na manufatura, passa a ser
exercida, não mais pelos trabalhadores, mas por um sistema de máquinas que permite a execução
da produção de forma combinada pelas máquinas. Na manufatura, os trabalhadores manuseavam
as ferramentas e executavam parcialmente, individualmente ou em grupos os processos de
produção. O processo de trabalho era organizado de tal forma que os trabalhadores eram
adequados ao processo, mas o processo tinha que ser antes adaptado aos trabalhadores. A
maquinaria suprimiu este princípio que norteou a produção manufatureira, pois com a
mecanização, o processo de produção passou a ser pensado de forma objetiva por meio das
análises de suas fases constitutivas. Observando este processo, Marx afirma que:
A partir do momento em que a máquina de trabalho executa todos os movimentos necessários ao
processamento da matéria prima sem ajuda humana, precisando apenas de assistência humana, temos um
sistema de maquinaria automático, capaz de ser continuamente aperfeiçoado em seus detalhes..37
A transição da manufatura para o período da grande indústria fundada na maquinaria
possibilitou ao capital substituir a força de trabalho humana por forças naturais, bem como
substituir na organização da produção o empirismo pelas ciências da natureza. O trabalhador
parcial e suas ferramentas foram substituídos pela força do motor, pelo sistema de transmissão e
pela máquina. A maquinaria ao revolucionar os meios de trabalho possibilitou a dispensa de todo
trabalho individual, pois funda-se no trabalho coletivo, sendo a cooperação no processo de
trabalho uma necessidade inerente à sua própria natureza.
A organização da produção fundada na grande indústria tornou dispensável a força de
trabalho com base na musculação, tornando possível a exploração de mulheres e crianças. Isto
aumentou o número de assalariados e propiciou ao capital reduzir o valor da força de trabalho
masculina.
A reprodução da força de trabalho, como garantia de expansão e reprodução do próprio
capital, antes da revolução introduzida pela maquinaria, supunha que o valor da força de trabalho
tinha que ser o suficiente para a manutenção do trabalhador e de sua família. Com a maquinaria
surgiu a oportunidade de se explorar o trabalho de mulheres e crianças, enfim, de toda a família
do trabalhador, aumentando a quantidade da força de trabalho explorada ao mesmo tempo que se
reduzia o salário do homem. Sobre esta questão, Marx afirma que:
36 Ibid., p. 7. 37 Ibid., p. 12.
25
A compra de uma família parcelada, por exemplo, em 4 forças de trabalho, custa, talvez mais do que
anteriormente a compra da força de trabalho do cabeça da família, mas, em compensação, surgem 4
jornadas de trabalho no lugar de uma, e o preço delas cai proporcionalmente ao excedente de mais-
trabalho dos quatro em relação ao mais-trabalho de um.38
A maquinaria se constituiu em um mecanismo de alienação do trabalhador, fazendo-o
perder o conhecimento sobre o processo de trabalho ao roubar-lhe o controle sobre as
ferramentas. O trabalhador que na produção manufatureira detinha o conhecimento sobre o
trabalho, pois dominava e manuseava os instrumentos de trabalho perdeu o posto de protagonista
no processo de trabalho, tornando-se um mero coadjuvante, em um apêndice da máquina.
Conforme observa Marx afirmando que:
Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta; na fábrica, ele serve a máquina. Lá, é
dele que parte o movimento do meio de trabalho; aqui ele precisa acompanhar o movimento. Na
manufatura, os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, há um mecanismo
morto, independente deles, ao qual são incorporados como um apêndice vivo.39
O capital ao desenvolver o sistema de máquinas conseguiu se apropriar de parte do
conhecimento hereditário que os trabalhadores tinham sobre o processo de trabalho. Ao se
apropriar de parte do conhecimento e anexá-lo à máquina por meio das ferramentas o capital
desenvolveu um sistema de controle e subordinação dos trabalhadores aos interesses do capital. A
partir de então, o ritmo de trabalho passa a ser ditado pela máquina, cujos movimentos exigem
que o trabalhador tenha um acompanhamento atento e rigoroso do trabalho.
A maquinaria superou também o pressuposto anterior, em que na relação de troca entre o
trabalhador e o capitalista, aquele vendia ao outro sua força de trabalho, já que se confrontavam
como pessoas livres, o primeiro como possuidor de força de trabalho e o outro como possuidor de
dinheiro, ou seja, de capital. À medida que o capitalista passou - com o advento da maquinaria -
a poder comprar a força de trabalho de mulheres e de crianças, o trabalhador que antes vendia sua
força de trabalho, sentiu-se desvalorizado e se obrigou a vender a própria família. Além do que,
a maquinaria, ao possibilitar a exploração do trabalho de mulheres e de crianças, permitiu aos
capitalistas quebrarem a resistência do trabalhador masculino adulto. Conforme afirma Marx
―Com a adição preponderante de crianças e mulheres ao pessoal de trabalho combinado, a
maquinaria quebra finalmente a resistência que o trabalhador masculino ainda opunha na
manufatura ao despotismo do capital‖.40
38 Ibid., p. 21. 39 Ibid., p. 41. 40 Ibid., p. 26.
26
A tendência histórica de transformação da composição técnica do capital se dá visando
elevar a produtividade do trabalho, portanto, para aumentar a produção de mais-valia. O sistema
desenvolvido de máquinas está inserido nesta tendência histórica, sendo, portanto, um meio
encontrado pelos capitalistas para aumentar a produção de mais valia. Ao elevar a produtividade
do trabalho, a maquinaria encurtou o tempo necessário para a produção de mercadoria mas,
segundo Marx, em vez de reduzir a jornada de trabalho a maquinaria se constituiu no:
...mais poderoso meio de prolongar a jornada de trabalho para além de qualquer limite natural. Ela cria,
por um lado, novas condições que capacitam o capital a dar livre vazão a essa sua tendência constante e,
por outro lado, novos motivos para aguçar seu apetite voraz por trabalho alheio.41
A maquinaria ao permitir ao capital explorar a força de trabalho de contingentes
inacessíveis, como é o caso das mulheres e das crianças e ao mesmo tempo dispensar os
trabalhadores deslocados do processo de produção pelas máquinas, criou um contingente de
trabalhadores desempregados que se obrigavam a aceitar as condições miseráveis de trabalho
impostas pelo capital. Segundo observa Marx:
Daí o notável fenômeno na história da indústria moderna de que a máquina joga por todos os limites
morais e naturais da jornada de trabalho. Daí o paradoxo econômico de que o meio mais poderoso para
encurtar a jornada de trabalho se torna o meio infalível de transformar todo o tempo de vida do trabalhador
e de sua família em tempo de trabalho disponível para a valorização do capital.42
Não se trata de uma posição reacionária, que não admite que a máquina possa substituir o
trabalho humano, executando as tarefas árduas e difíceis do trabalho em lugar do homem.
Trata-se de uma posição que ao mesmo tempo que reconhece a importância da máquina, portanto
da automação do trabalho, questiona a forma repugnante de exploração capitalista na divisão do
trabalho imposta pela maquinaria.
A maquinaria alterou substancialmente a composição do capital, aumentando a
produtividade do trabalho. Os meios de produção com base na maquinaria são, portanto,
superiores à massa da força de trabalho humana. A parte constante do capital, ou seja, máquinas e
equipamentos, aumentaram mais que sua parte variável, ou seja, a força de trabalho. Os
capitalistas conseguiram desta forma impor um processo de valorização do capital com base num
novo patamar de composição técnica que lhes permitiu intensificar o ritmo de acumulação.
41 Ibid., p. 26-27. 42 Ibid., p. 30.
27
REFERÊNCIAS
BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista: A degradação do trabalho no século
XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
MARX, K. O Capital, Capítulo VI, Inédito, Editora Moraes, São Paulo, SP, 1985.
________. O Capital: Crítica da Economia Política, Volumes I e II, Coleção ―Os
Economistas‖, 3ª edição, Nova Cultural, São Paulo, SP, 1988.
MÉSZAROS, I. Para além do capital: Rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo,
Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
O objeto em questão transita pelas diferentes áreas das Ciências Humans, ou seja, as relações
capital x trabalho, o controle, a extração de mais-valia, atende o objetivo dos conteúdos
estruturantes da História e aproxima-se da Geografia, principalmente da Sociologia. Além do que
pode ser útil também a diferentes áreas da educação educação profissional.
Cito as Diretrizes Curriculares para o Ensino de História na Educação Básica em Revisão que em seu item
3.3.1 trata das relações de trabalho, afirmando que:
"Articulados aos demais conteúdos estruturantes, reconhecer as contradições decada época, os impasses sociais da
atualidade, e dispor-se a analisá-los, a partir desuas causas, permite entender como as relações de trabalho foram
construídas noprocesso histórico e como determinam a condição de vida do conjunto da população" (p. 35).
disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/diretrizes/pdf/t_historia.pdf
Nas diretrizes Curriculares de sociologia temos no ítem 2.1.1. a concepção sociológica de Karl
Marx e nos conteúdos estruturantes e específicos o ítem 3.3 trata ddo trabalho, produção e classes
sociais.
Já os conteúdos estruturantes da geografia em seu item 3.1 trata da dimensão econômica da
produção do/no espaço.
Portanto, ao tratar da questão do controle do captial sobre o trabalho em seu desenvolvimento
histórico, este trabalho apresenta um importante contribuição à rede pública de Ensino do Estado
do Paraná, que pode ser melhorado com a contribuição de professores das diferentes áreas.
Contextualização
28
Vivemos em uma sociedade cuja base das relações sociais se funda no trabalho
assalariado sob a égide do capital. A relação de assalariamento estabelece a existência de duas
classes sociais fundamentais que são: de um lado a classe dos capitalistas (burguesia) que é
proprietária das condições objetivas de trabalho, os meios de produção, e de outro, a classe dos
trabalhadores (proletariado) não proprietários, que excluídos dos meios de produção, portanto das
condições de trabalho para garantir a subsistência, necessitam vender sua capacidade de trabalho
para sobreviver.
As condições objetivas no processo de produção são os objetos de trabalho e os meios de
trabalho, isto é, as matérias-primas e os instrumentos, ou seja, as ferramentas de trabalho, que são
os elementos auxiliares do trabalhador. A condição subjetiva no processo de produção é
constituída pela força de trabalho que na perspectiva da valorização dos capitalistas deve ser
organizada, disciplinada, vigiada e controlada para que execute corretamente o seu papel que é
manter o valor inicial, acrescentar e agregar valores novos ao capital investido. Ou seja, a força
de trabalho deve garantir a valorização e a expansão do capital.
Este trabalho tem como objetivo apreender como o capital conseguiu desenvolver
historicamente as diversas formas de controle, disciplina e vigilância sobre o trabalho. Para tanto,
procuramos entender as origens do capital, seu desenvolvimento até se constituir em um sistema
hegemônico que expropriou dos trabalhadores as condições de trabalho, transformando-os em
simples vendedores de força de trabalho.
São as formas como este processo se manifesta historicamente que serão estudadas neste
trabalho. Por isso mesmo, nossa análise será histórica e os dados secundários, ou seja, já
existentes em bibliografia especializada.
Portanto, pretendemos particularmente entender como as formas de controle, disciplina e
vigilância se manifestam em diferentes momentos históricos na organização do processo de
produção, desdobrando em transformações na organização do processo de trabalho.
Nesse sentido fazemos uma breve análise sobre o processo de formação do capital,
buscando situá-lo em suas origens históricas. Empreendemos uma análise sobre a cooperação
simples, veremos, então, que o capital na fase de transição do trabalho artesanal para a produção
efetivamente capitalista não alterou a sua base técnica de produção e o conteúdo do processo de
trabalho. Ao desenvolver a manufatura o capital conseguiu superar as contradições e os limites
existentes nas relações de produção , transformando gradativamente as formas de organização do
trabalho que até então se fundava na cooperação simples que havia se desenvolvido com o
capitalismo nascente. Ao desenvolver a manufatura o capital rompe com o trabalhador
especialista da cooperação simples ao engendrar o trabalho parcelar, decompondo as tarefas que
antes era feita por um único artífice em várias parcelas.
29
Analisamos ainda a transição da manufatura para o período da grande indústria, movida pela
maquinaria que substitui os trabalhadores no processo produtivo. Ou seja, os trabalhadores foram
substituídos pelos instrumentos de trabalho, pelo sistema de máquinas.
Sítios
Projeto Tela Crítica
http://www.telacritica.org/
Comentários
Este sítio apresenta o Projeto Tela Crítica, importante instrumento pedagógico através da análise
temática de filmes "través da análise da forma e do sentido do filme, procura-se apreender
sugestões heurísticas interessantes capazes de propiciar uma consciência crítica da sociedade
global". Traz ainda informações sobre o projeto Cinema como Experiencia Critica, mostra
Cinetrabalho, colóquios, seminários e outros eventos.
Rede de Estudos do Trabalho
http://estudosdotrabalho.org
A Rede de estudos do trabalho constitui-se da filiação de importantes grupos de pesquisa sobre o
trabalho, em diferentes áreas do conhecimento, sob a Coordenação do prof. Dr. Giovanni Alves, e
da qual também sou membro pesquisado e coordenador da seção trabalho e educação.
"A RET constituiu-se a partir do crescimento dos Seminários do Trabalho, realizados na UNESP
- Campus de marilia, no decorrer da década de 2000. Os Seminários do Trabalho surgiram como
evento organizado pelo Grupo de Pesquisa ―Estudos da Globalziação‖, Projeto NEG – Núcleo de
Estudos da Globalização, com apoio do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais. O I
Seminário do Trabalho ocorreu em 2001. No seu inicio, como evento anual, oSeminário de
Trabalho teve crescimento paulatino nos anos seguintes. A proposta de reunir pesquisadores da
área de trabalho das mais diversas disciplinas das ciências humanas, buscando compartilhar uma
perspectiva critica, dando espaço para a discussão da conjuntura social e política do País e do
mundo, em diálogo aberto com movimentos sociais e Governo, demonstrou ser uma fórmula de
sucesso. Até 2004, os Seminários do Trabalho foram realizados anualmente. A partir de 2004, os
30
Seminários do Trabalho passaram a contar com o apoio do Projeto Tela Crítica, articulando
ci6encia social critica e cinema.
A idéia da RET surgiu no III Seminário do Trabalho, em 2003, a partir da necessidade de
articular uma rede virtual de colaboração entre os pesquisadores criticos da área de trabalho. Ela
surge articulando alguns eventos organizados, de forma independente, por professores-
pesquisadores da área de trabalho. Como destaque, de inicio, colocamos o Seminario O Trabalho
Em Debate – USP-Ribeirão Preto (SP), Seminários Mundos do Trabalho na UEL - Londrina (PR)
e Seminários de Historia-FAFIPA, em Paranavaí (PR). Depois passa a incorporar, em 2006, a
Jornada do Trabalho, da UNESP/Presidente Prudente (SP). Além de buscar articular eventos, a
RET buscou articular, de modo virtual, pesquisadores de várias instituições de ensino superior e
pesquisa do País.
No III Seminário do Trabalho, em 2003, surgiu a proposta da RET, como projeto de integração
virtual de perspectivas, divulgando na Internet, atividades desenvolvidas pelos Grupos de
Pesquisa e Núcleo de Estudos dos parceiros. Sua estruturação material tem sido lenta, gradual,
mas constante. Teve seu lançamento oficial em 2004 no IV Seminário do Trabalho. Em 2006,
com o V Seminário do Trabalho, agora evento binual, e de corte internacional, busca se
consolidar mais ainda, tornando claro sua proposta e programa.
Dentro dos seus limites, a RET busca ocupar espaços de interlocução, perseguindo o
desenvolvimento do espírito de equipe no corpo de pesquisadores que se vinculam a uma
proposta critica e interdisciplinar. A RET adota um modelo não-hierárquico de gestão, possuindo
um coordenador-geral cuja única função é facilitar, de forma intensa, os contatos necessários para
garantir o diálogo pleno e constante entre os vários grupos de pesquisa e os núcleos de estudos e
acima de tudo, divulgar a produção docente e discente destes núcleos de estudos e grupos de
pesquisa associados".
Revista Pegada Eletrônica
http://www4.fct.unesp.br/ceget/pegada.htm
31
Importante revista do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGET), da UNESP -
Presidente Prudente, coordenado pelo prof. Dr. Antonio Thomaz Júnior. Esta revista eletrônica
constitui-se numa "base referencial para o exercício efetivo da interlocução com os
pesquisadores, trabalhadores,lideranças dos movimentos sociais populares, dirigentes sindicais e
demais interessados na temática do trabalho".
Segundo o prof. Antonio Thomaz Jr. esta revista expressa o compromisso do CEGET com a
crítica da dinamica da sociedade de classes sob o capitalismo atual, onde as contradições atuais
revelam a necessidade de emancipação. Nesse sentido, "as atenções voltadas para a complexa
trama societária que intensifica a hetegoneizaçao e a precarização do trabalho nesta viragem do
século XXI, as pesquisas e, por via de conseqüência, os textos e ensaios serão reveladores não
somente das mudanças no regime de acumulação do capital e dos novos modos de regulação
social e político. Segundo interpretações de estudiosos sobre o assunto, esse processo se expressa
com a vigência da produção destrutiva do capital (Mészáros), da acumulação flexível (Harvey),
da mundialização do capital (Chesnais), e o prenuncio das condições para a emancipação social
para além do capital (Bihr). Estar-se-á focando também as implicações no âmbito da
subjetividade do trabalho e os reflexos para as instâncias organizativas do movimento operário e
sindical, bem como os conteúdos e os referenciais político-ideológicos que embasam o
(des)pertencimento de classe" (Pegada eletrônica, n. 1, Apresentação).
Sons e vídeos
Áudio-CD/MP3
32
Título da Música: Construção
Intérprete: José Miguel Wisnik - Luiz Tatit
Compositor: Chico Buarque
Título do CD: Songbook Chico Buarque 7 - Vários
Nome da Gravadora: Trama
Ano: 1999
Disponível em (endereço web):
http://www.videolar.com/ProdutoCD.asp?ProductID=011220&cod_sub_media=3894&WT.srch=1
Comentários:
Esta música de Chico Buarque pode ser considerada uma obra prima. Possui extremo rigor
literário e musical, ao mesmo tempo que apresenta elementos sociológicos e históricos. A letra da
música apresenta elementos para reflexões acerca da realidade cotidiana do trabalho na contrução
civil, é um importante instrumento para discutir a realidade do trabalho, considerando a
exploração (extração de mais-valia), expoliação, alienação, estranhamento, reificação.
Texto
34
Disponível em: http://vagalume.uol.com.br/chico-buarque/construcao.html acesso em
fevereiro de 2008
Ver também um vídeo muito interessante acessando:
http://vagalume.uol.com.br/chico-buarque/videos/lbIjZXBGs-A-construcao-chico-
buarque.html
Vídeo
Título: O operário em construção
Direção: Taiguara
Duração (hh:mm): 05:19
Local da Publicação: You Tube
Ano: 2007
Comentários:
O cantor Taiguara interpreta de forma magistral "O operário em costrução" de Vinícius de
Moraes. O poema transforma-se em música. A letra poética de Vinícius constrói toda uma
alegoria a partir da epígrafe e vai desenvendo por todo o poema uma exaltação da
emancipação humana, uma superação da alienação pela formação da consciência. O sujeito,
no caso o operário vai deixando de ser objeto e transformando-se em sujeito real, concreto e
consciente da sua própria história.
Há ao longo do poema um libertar-se das amarras da alienação produzida pela fetichização da
realidade social. A consciência é uma internalização do sujeito e não uma realidade imposta
de fora. A consciência é resultado da relação do sujeito com o mundo objetivo. Vinícius
desenvolve de forma magistral uma reflexão que conduz "o operário" de individual num
primeiro momento, em estágio de alienação, a sujeito social à medida que vai tomando
consciência do mundo real em que está inserido.
Portanto, este poema é extremamente útil para se discutir a questão da exploração, da
alienação, do fetichismo criado pelo controle do capital sobre o trabalho.
A produção musical de Taiguara está divida em "O operário em construção 1" - duração 5:19,
disponível em http://vagalume.uol.com.br/coisa-e-tal/videos/nYUqvm8tIdk-taiguara-o-
operario-em-construcao-1-vinicius-de-moraes.html e "O operário em construção 2" - duração
7:19, disponível em
35
http://vagalume.uol.com.br/dois-a-um/videos/ChIAWMkYWSU-taiguara-o-operario-em-
construcao-2-vinicius-de-moraes.html
Texto
O Operário em Construção
Vinicius de Moraes
“E o Diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o Diabo: — Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero; portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: — Vai-te, Satanás; porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás.”
(Lucas, Cap. V, versículos 5-8)
36
Era ele que erguia casas Onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas Ele subia com as casas Que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia De sua grande missão: Não sabia, por exemplo Que a casa de um homem é um templo Um templo sem religião Como tampouco sabia Que a casa que ele fazia Sendo a sua liberdade
Era a sua escravidão.
De fato, como podia Um operário em construção Compreender por que um
tijolo Valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava Com pá, cimento e esquadria Quanto ao pão, ele o comia... Mas fosse comer tijolo! E assim o operário ia Com suor e com cimento Erguendo uma casa aqui Adiante um apartamento Além uma igreja, à frente Um quartel e uma prisão: Prisão de que sofreria Não fosse, eventualmente
Um operário em construção.
Mas ele desconhecia Esse fato extraordinário: Que o operário faz a coisa E a coisa faz o operário. De forma que, certo dia À mesa, ao cortar o pão O operário foi tomado De uma súbita emoção Ao constatar assombrado Que tudo naquela mesa — Garrafa, prato, facão — Era ele quem os fazia Ele, um humilde operário, Um operário em construção. Olhou em torno: gamela Banco, enxerga, caldeirão Vidro, parede, janela
Casa, cidade, nação! Tudo, tudo o que existia Era ele quem o fazia Ele, um humilde operário Um operário que sabia
Exercer a profissão.
Ah, homens de pensamento Não sabereis nunca o quanto Aquele humilde operário Soube naquele momento! Naquela casa vazia Que ele mesmo levantara Um mundo novo nascia De que sequer suspeitava. O operário emocionado Olhou sua própria mão Sua rude mão de operário De operário em construção E olhando bem para ela Teve um segundo a impressão De que não havia no mundo
Coisa que fosse mais bela.
Foi dentro da compreensão Desse instante solitário Que, tal sua construção Cresceu também o operário Cresceu em alto e profundo Em largo e no coração E como tudo que cresce Ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia — Exercer a profissão — O operário adquiriu Uma nova dimensão:
A dimensão da poesia.
E um fato novo se viu Que a todos admirava: O que o operário dizia Outro operário escutava. E foi assim que o operário Do edifício em construção Que sempre dizia sim Começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas A que não dava atenção: Notou que sua marmita Era o prato do patrão Que sua cerveja preta Era o uísque do patrão
Que seu macacão de zuarte Era o terno do patrão Que o casebre onde morava Era a mansão do patrão Que seus dois pés andarilhos Eram as rodas do patrão Que a dureza do seu dia Era a noite do patrão Que sua imensa fadiga Era amiga do patrão. E o
operário disse: Não! E o operário fez-se forte
Na sua resolução.
Como era de se esperar As bocas da delação Começaram a dizer coisas Aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria Nenhuma preocupação. - ―Convençam-no‖ do
contrário - Disse ele
sobre o operário
E ao dizer isso sorria.
Dia seguinte, o operário Ao sair da construção
Viu-se súbito cercado
Dos homens da delação
E sofreu, por destinado Sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido Teve seu braço quebrado Mas quando foi perguntado O operário disse: Não! Em vão sofrera o operário Sua primeira agressão Muitas outras se seguiram Muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível Ao edifício em construção Seu trabalho prosseguia E todo o seu sofrimento Misturava-se ao cimento
Da construção que crescia.
Sentindo que a violência Não dobraria o operário Um dia tentou o patrão
37
Dobrá-lo de modo vário. De sorte que o foi levando Ao alto da construção E num momento de tempo Mostrou-lhe toda a região E apontando-a ao operário Fez-lhe esta declaração: — Dar-te-ei todo esse poder E a sua satisfação Porque a mim me foi entregue E dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer Dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês Será teu se me adorares E, ainda mais, se abandonares O que te faz dizer não. Disse, e fitou o operário Que olhava e que refletia Mas o que via o operário O patrão nunca veria. O operário via as casas E dentro das estruturas Via coisas, objetos Produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia O lucro de seu patrão E em cada coisa que via Misteriosamente havia A marca de sua mão.
E o operário disse: Não!
— Loucura! — Gritou o
patrão Não vês o que te dou eu? — Mentira! — disse o
operário
Não podes dar-me o que é meu.
E um grande silêncio fez-se Dentro do seu coração Um silêncio de martírios Um silêncio de prisão Um silêncio povoado De pedidos de perdão Um silêncio apavorado Como o medo em solidão Um silêncio de torturas E gritos de maldição Um silêncio de fraturas A se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz
De todos os seus irmãos Os seus irmãos que morreram Por outros que viverão. Uma esperança sincera Cresceu no seu coração E dentro da tarde mansa Agigantou-se a razão De um homem pobre e
esquecido Razão porém que fizera Em operário construído O operário em
construção.
38
Disponível em
http://www.espacoacademico.com.br/024/24poesia_vm.htm
Revista Espaço Acadêmico - Ano III - Nº 24 - ISSN 1519.6186
Áudio-CD/MP3
Título da Música: Vida de Operário
Intérprete: Pato Fu
Disponível em (endereço web):
http://vagalume.uol.com.br/patife-band/vida-de-operario.html
Comentários:
A música "vida de operário", interpretada pela Banda Pato Fu, traz em sua letra uma
reflexão sobre a exploração e a alienação no processo de trabalho. O problema do
controle, do relógio, do cartão ponto, do transporte são explicitados na mússica como
causa da agonia operária. Além do que, a música refere-se também ao operário que é
consumido pela máquina gerando assim o lucro do patrão.
Texto:
Vida de operário
Pato Fu
Composição: Excomungados
Disponível em:
http://vagalume.uol.com.br/pato-fu/vida-de-operario.html
Acesso em fevereiro de 2008.
39
Imagens
Comentários e outras sugestões de Imagens:
As imagens acima expressam o processo evolutivo e cumulativo alcançados pelo
homem por meio das inovações tecnológicas. A primeira imagem conduz-nos a um
processo intermediário na História da Tecnologia, contexto em que os instrumentos
dependiam da força da tração animal.
Enquanto que a segunda imagem revela uma superioridade tecnológica quando
comparada à primeira, pois pode ser movida por energia à base do motor de combustão,
elétrica etc.
A terceira imagem revela-nos a capacidade humana de melhorar os instrumentos através
da melhoria da técnica e das inovações tecnológicas.
O processo de desenvolvimento das forças produtivas em geral pressupõe inovações
tecnológicas, conseqüentemente melhorias da técnica e incorporação da ciência ao
mundo produtivo.
OUTRAS IMAGENS:
Muitas imagens interessantes podem ser encontradas em cd-roms do Projeto Tela
Crítica. Trata-se de uma série de análises de filmes clássicos do cinema mundial.
Especificamente, recomendo três cd’s de filmes que abordam a problemática do
trabalho, ou seja:
1. Metropólis, de Fritz Lang - Versão 1.0 - 62 slides
2. Tempos Modernos, de Charles Chaplin - Versão 2.0 - 77 slides
3. A Nós A Liberdade, de René Clair - Versão 2.0 - 61 slides
Portanto, nesses três cd’s temos um conjunto de 200 imagens, além de toda uma
discussão crítica do processo de modernização capitalista e sua conseqüente exploração
sobre o trabalho, a partir da análise dos filmes.
40
Os cd’s podem ser adquiridos através do sítio http://telacritica.org, onde é possível
também o acesso a sinopses de dezenas de filmes.
PROPOSTA DE ATIVIDADES
Análise do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin
Analisar com os alunos o filme Tempos Modernos. O filme deve ser apresentado após
um conjunto de reflexões sobre a realidade do trabalho na sociedade capitalista, que
permita a apreensão sobre o significado do controle, da alienação, da exploração e do
sofrimento diante do cotidiano do mundo do trabalho que aparecem na narrativa do
filma.
Após o filme os alunos devem ser motivados a vasculhar a realidade do trabalho através
da observação da realidade em que vivem, apreendendo questões como a do controle do
tempo, jornada de trabalho, riscos à saúde, desemprego, salário, aposentadoria etc.
Também pode se estimular a busca de notícias em jornais e revistas sobre as condições
de precarização do trabalho de diferentes categorias profissionais. Para esta atividade é
importante a organização de um painel.
Sugestões de leitura:
Sugestões de leitura:
Sobrenome: Batista
Nome: Roberto Leme
Título do livro: Desafios do trabalho: capital e luta de classes no século XXI
Edição: 2
Local de Publicação: Londrina – PR
Editora: Práxis
Comentários:
Este livro organizado por Roberto Leme Batista e Renan Araújo é uma tentativa de
mapear alguns desafios do trabalho, através de reflexões de diversos pesquisadores que
apontam resultados de investigações de diveroso temas. A nalise a conjuntura do
capitalismo mundial e no Brasil. Este livro é importante para a apreensão concreta dos
fenômenos do mundo do trabalho. O livro se propõe a fazer uma ampla apresentação
dos desafios do trabalho, tratando de temas amplos e diversos - cotidiano, educação,
41
qualificação profissional, sindicalismo, estratégias organizacionais, precarização do
estatuto salarial, exploração intensiva e extensiva da força de trabalho. Enfim, o livro
oferece uma abordagem crítica e interdisciplinar do mundo do trabalho, procurando
resgatar suas contradições objetivas e seus desafios concretos nessa atual.
Destaques
Título: Revista Eletrônica da RET
Fonte: http://estudosdotrabalho.org
Texto:
Revista Eletrônica da Rede de Estudos do Trabalho, publicação on-line destinada à
divulgação de jovens pesquisadores da área do trabalho em uma perspectiva
interdisciplinar.
Notícias:
Sobrenome: Alves
Nome: Giovanni
Título da notícia/artigo: Diversos
Nome da Revista: Observatório da Precarização do Trabalho
Disponível em (endereço WEB): http://trabalhoopt.blogspot.com/
Comentários:
O Observatório da Precarização do Trabalho, organizado pelo Prof. Dr. Giovanni Alves,
reúne centenas de notícias sobre a realidade do trabalho no Brasil a partir de 2002. Este
Observatório reúne notícias de diferentes órgão da imprensa sobre o mundo do trabalho.
Paraná
Título: Trabalho e capital no Paraná
Texto:
O Paraná há muito tempo faz parte do sistema do capital. O processo de
desenvolvimento do Estado desde sua formação na metade do século XIX, com a
produção, industrialização e exportação da erva mate e do café e atualmente com
diversificação da agricultura esteve sempre voltado para o mercado mundial.