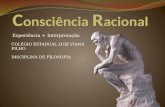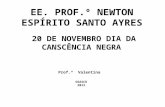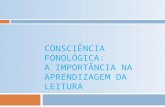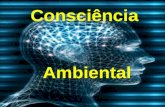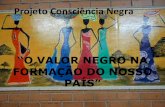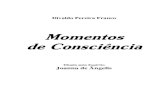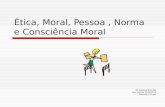OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
Click here to load reader
-
Upload
jesiel-oliveira -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 1/16
A DUPLA CONSCIÊNCIA TROPICAL NA ANGOLA COLONIAL: LEITURAS
DE YAKA
Jesiel Ferreira de Oliveira Filho - UFS1
De um lado humanos, do outro, humanos
Todos armados então são desumanos
Falam que a briga não nos leva a nada
O mar não tem cabelo, quem se afoga nada
Não dá pra exigir de quem não come nada Aqui o seu diploma não vale de nada
Nós não somos nada
Nós não temos nada
Branco camarada, largue a espada
[MV BILL, “Uma declaração de guerra”]
Aceitando-se como colonizador, o colonialista aceita igualmente, mesmo quetenha decidido ignorá-lo, o que este papel implica de condenável, aos olhos dos
outros e aos seus. Esta decisão não lhe concede de forma alguma uma feliz e de-finitiva tranqüilidade de espírito. Pelo contrário, o esforço que fará para superaresta ambiguidade fornecer-nos-á uma das chaves da sua compreensão.
[Albert MEMMI, Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador ]
Seja a nível pedagógico ou vivencial, a leitura brasileira das literaturas africanas em
língua portuguesa gera um trabalho de reflexão e de tradução de valores culturais cujos
resultados se mostram dos mais produtivos, quando se busca ampliar nossa compreen-
são acerca do peso exercido pela experiência colonial na definição de estruturas nacio-
nais como a miscigenação, bem como de traços culturais característicos como a plasti-
cidade, a malandragem e o racismo dissimulado. Nos textos africanos, discursos e sujei-
tos se inscrevem de acordo com regras de significação que podem deslocar ou reverter
os efeitos normatizadores da razão e do texto ocidental e colonial. O estudo das narrati-
vas da “África Portuguesa” mostra-se, assim, especialmente útil para releituras diferen-
ciais dos imaginários sincréticos gerados pelas transculturações afro-luso-brasileiras,
1 Universidade Federal de Sergipe, professor-adjunto.
526
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 2/16
principalmente para a revisão analítica das estranhas ambivalências que caracterizam as
sociedades tropicais, formadas pelo cruzamento de gentes e de civilizações bem mais
heterogêneas do que recordam e propalam os mitos amalgamadores da mestiçagem.
Retomado por um trabalho crítico que problematiza limites, tendências e alternativas
para a modernização e para a integração globalizada do Brasil, esses estudos comparati-
vos contribuem para a formação de sensibilidades e saberes enriquecidos de fundamen-
tação histórico-cultural tanto para a identificação de forças reprodutoras das hierarquias
coloniais, quanto para lastrear perspectivas éticas, políticas e estéticas interessadas em
reconstruir paradigmas tropicais pela revalorização das matrizes africanas.
O método reverberativo de leitura que aqui proponho considera o imaginário angolano
como um espelho estratégico para visibilizar as contradições naturalizadas que entrete-
cem a assimétrica realidade brasileira, tornando mais explícitos os processos silenciosos
que impõem a esta modelos étnicos “branqueados” e desafricanizados. A partir de seus
estudos sobre as especificidades demográficas e políticas da mestiçagem na margem
angolana do império português, o historiador Luiz de Alencastro sublinha que “em úl-
tima instância, há mulatos no Brasil e não há mulatos em Angola porque aqui havia a
opressão sistêmica do escravismo colonial, e lá não”1. É importante ressaltar, nesta ob-
servação, a indicação de uma violência originária que se articula estruturalmente ao
incremento das práticas miscigenadoras luso-brasileiras — a principal das quais, cum-
pre lembrar, era o estupro sistemático das escravas negras. Até que ponto a tradição
instituída por esses e tantos outros abusos autorizados pela exploração racista não está
no cerne daquilo que, na atualidade brasileira, denominamos de “cultura da violência”?
Se nos colocamos atentos aos índices diversificados que apontam para a estratificação
racial do direito à vida — tal como denuncia a pesquisa Índice de Homicídios na Ado-
lescência (IHA), promovida pela Unicef e recentemente divulgada2 —, uma releitura dafamosa metáfora do “cadinho de raças” termina por concluir que a maturação histórica
dessa imagem, ao invés de consumar as possibilidades transmutadoras que a livre com-
binação dos corpos e valores tropicais pode ensejar, tem materializado antes as suas
conotações destrutivas, expressas nas violentas disparidades que transpassam nosso
mundo de cordialidades relativas, mundo no qual a partilha de intimidades e de emo-
ções novelescas não se confunde com a partilha equitativa de direitos básicos. No cerne
desse escandaloso, ainda que largamente secundarizado, descompasso entre as forçascriativas acionadas por nossas vivências mestiças e a mesquinhez de nossas estruturas
527
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 3/16
sociais, parecem atuar decisivamente mecanismos heteronomizadores, ou processos alie-
nantes, que atualizam significações instituintes do racismo colonial3.
Sobrecarregados não somente por traumas genésicos como pelas variadas formas de
expressá-los e significá-los, os mitos, saberes e discursos sobre a mestiçagem brasileira
reclamam um olhar crítico sempre atento para os dualismos que os estruturam. Gerando
signos plurifacetados, que podem ser variadamente apropriados e recombinados, nos
imaginários mestiços digladiam-se impulsos de purificação e de transformação, de repe-
tição e de diferença, cujas resultantes sócio-culturais, conforme será discutido neste
ensaio, favorecem menos os equilíbrios “interpenetrativos” defendidos por Gilberto
Freyre4, do que a proliferação daquelas “ambivalências socializadas”5 nas quais, para
Roger Bastide, se condensavam os impasses acerca do lugar do negro na construção
nacional. O que fica em causa, nessa categoria, são os processos psicossociais através
dos quais são “acomodadas”, em molduras interpretativas variáveis, experiências e per-
cepções contraditórias acerca dos problemas, ou diferenças, que compõem a realidade
multicromática e pluricultural em que vivemos, acomodação sempre hesitante entre a
confirmação pragmática e a recusa simbólica dessa realidade. Manobrada como defesa
da integridade de uma “essência” identitária eurocêntrica, ou como suporte para a ma-
nutenção de um certo esquema de poderes e de privilégios “meritocráticos”, a elabora-
ção argumentativa e psíquica dessa recusa, assim como a culturalização da mesma, ex-
primem o papel substantivo que a visão-de-mundo escravagista continua a desempenhar
na reprodução do imaginário social brasileiro. Assim, a alienação racista que perpassa
sujeitos e convívios mistos suscita experiências interpessoais parasitárias ou altamente
conflitivas, marcadas por formas diversas de mistificação mútua e por indeléveis vazios
de sentido. Em seus estudos sobre o preconceito racial no Brasil, Florestan Fernandes
resume a sequência antitética de posturas pela qual se dá a produção cotidiana dessesvazios, ou daquilo que Fernandes denominava de “moral reativa” do branco brasileiro:
Sem nenhuma espécie de farisaísmo consciente, tende-se a uma acomodaçãocontraditória. O “preconceito de cor” é condenado sem reservas, como seconstituísse um mal em si mesmo, mais degradante para quem o pratica doque para quem seja sua vítima. A liberdade de preservar os antigos ajusta-mentos discriminatórios e preconceituosos, porém, é tida como intocável,desde que se mantenha o decoro e suas manifestações possam ser encobertasou dissimuladas. (...) O branco entrega-se a um comportamento vacilante,dúbio e substancialmente tortuoso.6
528
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 4/16
Tão importante quanto o problema moral colocado por essas vacilações são os proble-
mas culturais aos quais elas remetem. Sobretudo nas vertentes institucionais do discurso
identitário brasileiro, observa-se que tais dubeidades tendem a impingir às matrizes ne-
gras um caráter difuso, complementarista, por vezes situado na fronteira entre a marca e
a sequela, entre o que não pode ser negado nem ser positivado. Para além das suas mo-
tivações sócio-econômicas, na lógica oscilante do “preconceito de ter preconceito” é
preciso reconhecer a atualização do confronto histórico entre as dinâmicas assimiladoras
e transfiguradoras que se entrecruzam nas mestiçagens tropicais, dinâmicas étnicas e
éticas que exercem funções ideológicas básicas na definição dos projetos e prioridades
da nação brasileira. A recomposição das performances tortuosas da razão morena, inde-
cisa entre as polaridades tradicionais e a abertura transculturadora, põe em evidência as
expressões micropolíticas de um questionamento identitário de amplitude coletiva,
questionamento cuja indefinição persistente, tantas vezes festejada nos cultos da “cordi-
alidade”, da “geléia geral”, do “vale tudo” e afins, pode ser mais criticamente compre-
endida como resultante daquelas “motivações psicossociais dissociativas”7 que, segundo
Florestan Fernandes, paralisam os processos de mudança nas sociedades do capitalismo
dependente, na medida em que inviabilizam alianças estratégicas entre os grupos sociais
e étnicorraciais que compõem a nação. Nos termos de Homi Bhabha, trata-se de eviden-
ciar sistemas de “crença múltipla e contraditória”8 que, partindo dos pressupostos sim-
bólicos da reificação colonial, se atualizam nas sociedades pós-coloniais como códigos
e linguagens racializadores, exercidos, nas palavras do antropólogo português Miguel
Vale de Almeida, tanto como “um regime de constrangimentos quanto [como] uma prá-
tica de convivialidade e uma estilística da conivência”9.
Significando tanto integração quanto diluição, tanto combinação quanto hierarquia, a
mestiçagem legitima um princípio discriminatório cuja instrumentalização política podeter efeitos devastadores. Também os estudos do sociólogo angolano Mário Pinto de An-
drade apontam para as correlações existentes entre a implementação das práticas assimi-
lacionistas e a intensificação de processos que levavam à “desestruturação social” dos
sujeitos e das comunidades nativas de Angola. Equacionando fatores como os critérios
seletivos aplicados aos candidatos a colonos e a hierarquização branqueadora de traços
fenotípicos e culturais, Andrade sumariza a estratégia global que incorporava as pontes
somáticas e culturais geradas pela mestiçagem ao maquinismo da exploração colonialis-ta:
529
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 5/16
Ao longo das fases da implantação do sistema de dominação, o poder políticocentral estabeleceu a relação entre a qualidade e a origem dos seus actores eos quantitativos demográficos disponíveis para o modus operandis no espaçoda conquista ou da ocupação efectiva.
Portugal foi pautando a utilização dos seus próprios recursos humanos e aconsequente posição monopolizadora das colónias ao ritmo de seus actos deevangelizar, assegurar a administração civil e “pacificar” o indígena rebelde.Triplo objectivo que só poderia ser alcançado graças ao concurso de uma ca-mada social intermediária e subalterna cuja mobilidade vertical obedecia amotivações adaptadas à conjuntura temporal e às exigências locais.10
Constituída através de uma complexa engenharia simbólica que correlaciona e distingue
vários níveis de subalternidade, isto é, os diferentes grupos inferiorizados pelo poder
metropolitano (incluindo aí os colonos europeus), fazendo-os competir entre si por es-
cassas possibilidades de promoção, ou mesmo pelo acesso a condições elementares desubsistência, a camada intermédia funciona menos como um anteparo do que como uma
interface versátil, e calibradamente heterogênea, na qual é dinamizada a reprodução
ideológica do conformismo, do oportunismo e das ansiedades racistas. Na literatura
angolana encontramos figurações notáveis desses agentes intermédios, seja na obra de
autores fundadores da nacionalidade, como Uaenhenga Xitu e Manuel dos Santos Lima,
seja nas escritas mais recentes de José Agualusa e João Melo, entre outros. É interessan-
te assinalar que a tematização da mestiçagem é mais assídua na ficção angolana do quena brasileira, aspecto tanto mais sugestivo quando consideramos que, na margem afri-
cana, os mulatos jamais se alçaram a um estatuto de representatividade nacional equiva-
lente ao do moreno, embora estejam inseridos estrategicamente nos esquemas que arti-
culam raça e poder em Angola11. Para o tema deste artigo, merece destaque o tipo de
mestiçagem invisível, mas não menos conflituosa, que foi trabalhada no romance Yaka,
de Pepetela. Neste texto elabora-se um perturbante “auto-retrato do colonizador”, para-
fraseando Alberto Memmi, que desloca as abordagens tradicionais da literatura colonia-
lista portuguesa, centradas na imagem do “branco bom”, receptivo ao convívio com os
negros e empenhado na “civilização” dos nativos. Pelo protagonista de Yaka, o branco
nascido em Angola Alexandre Semedo12, inscrevem-se imagens paradigmáticas dos
estados de confusão mental, moral e cultural suscitados nesses sujeitos híbridos, en-
quanto transitam e se esquivam entre os impasses da miscigenação racista. Reverbera-
das no contexto brasileiro, essas imagens fornecem aportes substantivos para dois temas
centrais de nosso debate étnicorracial contemporâneo: a posição cultural e política dos
“brancos pobres” no âmbito das sociedades morenas, e o papel desempenhado por esse
530
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 6/16
segmento na legitimação das violências dirigidas contra os membros “escuros” e africa-
nizados dessas sociedades. Neste romance angolano, adquirem contornos precisos as
práticas e significações através das quais se articulam autoritariamente, nas relações
entre brancos e negros, intimidade e tutelagem, sincretismo e alienação, engendrando os
equilíbrios assimétricos entre identificação e exploração que também caracterizam as
relações interétnicas no Brasil. Tais configurações esdrúxulas de valores e posturas, por
vezes cultivadas como o necessário “jogo-de-cintura” para o convívio real com as ina-
ceitáveis diferenças, compõem uma ética social distorcida que possibilita o racismo dis-
simulado e seus profundos efeitos discriminatórios. É pelo exame dessas distorções que,
a meu ver, se tornam efetivamente nítidas as situações de “alucinação coletiva”13 que,
segundo a antropóloga Yvonne Maggie, famosa militante contra as cotas raciais, afeta-
riam aos críticos da suposta democracia racial brasileira, incapazes de compreender as
sutilezas de nossos convívios universalistas. Pelo texto de Yaka emerge um negativo da
“paz mestiça” que põe em relevo as mistificações, recalques e cumplicidades através
das quais esta paz insanamente se sustenta.
Criado até a juventude numa casa que estabelecia mediações diversas entre brancos,
mestiços e negros angolanos, o escritor Pepetela confessa que cedo se deu conta de que
a diversidade de “raças culturais” era um dado fundamental para a reflexão sobre a terra
em que nascera e sobre as relações mantidas entre as variadas gentes que a habitavam14.
Protagonista de uma trajetória histórica que abrange desde estudos universitários na
metrópole até posições de comando na guerrilha anti-colonial, lhe possibilitando conta-
tos próximos com as múltiplas identidades que se conciliavam e se confrontavam na
derradeira crise do império português, na segunda metade do século XX, Pepetela res-
salta que seu trabalho de escrita procura atentar para defasagens cotidianas e instituídas
entre discurso e ação, defasagens que, depois de sua experiência como dirigente no go-verno angolano — foi vice-ministro da Educação de 1975 a 1982 —, se tornaram cada
vez mais perceptíveis e inquietantes15. Publicada em 1985, Yaka é uma obra recheada de
imagens fortes de tais disjunções. Através do título o autor convoca um significante
fundador da memória cultural angolana, pelo qual se nomeia uma antiga sociedade
guerreira, também conhecida por “jaga”, surgida no século XVI em simultâneo à chega-
da dos europeus, e composta por indivíduos provenientes de variados grupos étnicos
bantos, geralmente incorporados à força. Nesse atribulado processo de emergência iden-titária, delineia-se aquilo que Pepetela chama de “cazumbi [ou ‘espírito’] antecipado da
531
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 7/16
nacionalidade”16. Ao longo dos séculos, esse espírito constituiu relações complexas de
aliança e de confrontação ao colonialismo, forjando as identidades e os antagonismos
que configuram o imaginário angolano. No âmbito do romance, Yaka também nomeia
uma misteriosa estátua, cujas interações com Alexandre Semedo representam processos
ambíguos de assimilação do colono português ao espaço africano, ou os conflitos pesso-
ais e culturais que caracterizam situações de “dupla consciência”, nos termos de Paul
Gilroy17, experimentados pelos agentes coloniais em Angola. Constituído como interlo-
cução imaginária desde a infância de Alexandre e, posteriormente, como fonte para um
diário memorialista, o diálogo com a estátua Yaka também aciona o princípio narrativo
do romance, mobilizado através de vozes e perspectivas que se confundem na produção
discursiva de uma intersubjetividade híbrida, correspondente a uma sensibilidade luso-
angolana questionadora, mas bloqueada para o estabelecimento de um intercâmbio ple-
no entre suas faces cindidas. Num momento de introspecção, reflete Alexandre:
Pena? Era de pena o olhar da estátua? Não. Mas era ambíguo, como todoolhar de estátua. Era certamente zombeteiro esse olhar ela tivera sempre. Mashá também uma zombaria humana, que ultrapassa o escárnio e atinge a com-preensão. Tu falas para mim, Yaka, há oitenta anos que falas para mim, soueu que não te entendo. Não é uma questão de língua, há algo mais que blo-queia a compreensão.18
Incapaz de superar as barreiras que filtram a comunicação com seu alter-ego africano,
Alexandre atinge a velhice aprisionado numa espécie de autismo, que consuma um lon-
go percurso de indefinições, postergações e outras modalidades de recusa em assumir as
consequências políticas dos hibridismos que compunham sua personalidade. Pequeno
comerciante residente em Benguela, espaço exemplar da mestiçagem angolana, Ale-
xandre está situado nas margens sociais do dispositivo que assegura a supremacia bran-
ca nesse território, posição que tanto lhe estimula convívios diretos com representantes
da população negra nativa, quanto lhe dá acesso a uma compreensão imanente dos me-
canismos predatórios que viabilizam a empresa colonial. A compactuação com tais me-
canismos não apaga, entretanto, a percepção acerca dos laços de profunda dependência
que, ao mesmo tempo, entretecem os povos separados pelo racismo. A oscilação entre
essas duas verdades, e a crise de sentido pessoal que ela suscita, registra-se detalhada-
mente numa cena que focaliza a juventude de Alexandre, quando a sua família recém-
formada encontra-se ameaçada pelo acirramento da violência racial:
532
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 8/16
— Merda! Não se pode viver sempre com medo. Temos de acabar com eles.(...) Donana [a esposa] perguntou então a Alexandre:— Todos, Alexandre?— Todos! Enquanto houver negros viveremos no medo. Estou-me cagandose se revoltam porque lhes roubam as terras boas para o café. Estou-me ca-gando se se revoltam contra o imposto de ter uma cubata ou contra o imposto
de nascimento. Estou-me cagando se acham injusto pagar o ar que respiram.Estou-me cagando se a terra antes era deles. Não quero é viver mais no medo.E deixa de me olhar assim, Yaka, também me estou cagando para ti e para oque penses de mim.[prossegue Alexandre]— O problema é que não nos devíamos ter metido no barco, um barco que
não dá para todos e onde havia gente antes. Bom. Agora já estamos, não po-demos sair. É matar ou morrer. Que sejam os outros a saltar do barco.— Mas se matam todos, quem vai trabalhar? [pergunta Donana]Alexandre sentou. Se virou para o centro da sala.— Pára de me criticar, Yaka, não me chateies. (...) Ela vê tudo. Julgas quenão percebo? E está a falar. E a acusar-me, de quê não sei. Pela primeira vezcompreendo o que ela está a querer dizer.19
Identitariamente ameaçador e materialmente indispensável, o sujeito negro configura-se
como ponto focal de afetos contraditórios. Aceitar ou recusar a presença africana de-
marca possibilidades antagônicas, seja quanto às formas de organização sócio-
econômica do território colonizado, seja no âmbito das trocas culturais que perpassam
os sistemas assimiladores da mestiçagem. Dentre os companheiros de infância de Ale-
xandre, reunidos num grupo que se dedica à “caça aos pássaros e lutas com os bandos
dos outros bairros”
20
, destaca-se o Tuca, único negro aceito no grupo de crianças bran-cas. O corpo desse menino mostra-se bastante apropriado para encarnar com maior rea-
lismo, em brincadeiras de guerra, o líder rebelde angolano Mutu-ya-Kevela, brincadei-
ras que por vezes culminam em estupros coletivos de meninas negras sequestradas nas
vizinhanças. Evitando participar dessas sessões de violência sexual e questionando a sua
legitimidade, Tuca faz aflorar os preconceitos que reiteram uma posição passiva para os
negros naquela sociedade: “O que interessa é nós gozarmos. Ela não conta”21, afirma
peremptório Alexandre após mais uma violação, prática que não deve, porém, ser esten-
dida às mulheres brancas, como todos enfatizam para Tuca. Aprendendo ele cedo essas
regras básicas da dominação, a cumplicidade se torna uma posição natural, o que o leva
a novos engajamentos nas lutas que sustentam o poderio português, sem com isso obter
enfim um estatuto de assimilação desvinculado das marcações raciais:
Alexandre olhou com inveja para o Tuca, o antigo Mutu-ya-Kevela. Tuca nãogostava de brincadeiras violentas e agora era tenente de guerra preta. De cer-teza por ter a quarta classe. (...) Tuca estava à civil e não tinha nenhum ar de
militar: o mesmo negro tímido, sempre pronto a se encolher se adivinhavaperigo. (...)
533
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 9/16
Também seria capaz de matar o Tuca, o negro amigo dos brancos? De qual-quer modo, enquanto houver negros viveremos no medo, pensou Alexan-dre.22
A colaboração prestada por Tuca no trabalho de extermínio dos nativos torna-o uma
arma valiosa da guerra colonialista, mas suas confidências acerca das raízes do conflito
continuam a expor, perante Alexandre, a terrível realidade da escravidão persistente e da
desumanização dos africanos, fatores que alimentam o circuito interminável de brutali-
dade com que o desejo colonial se lança expropriativamente sobre terras férteis e sobre
sujeitos racializados23. Cooptado e conivente, Tuca só obtém de recompensa uma so-
brevivência agreste, cujo balanço final, conforme o faz Alexandre, realça as assimetrias
dinamizadas pela discriminação racial:
A lembrança da revolta do Seles trouxe a Alexandre a lembrança do Tuca.Anos e anos sem o ver. E depois Tuca voltou para Benguela, para morrer naterra. Acabado, chupado pelos anos de trabalho no Huambo e Moxico. (...)— Trabalhaste sempre com o mesmo patrão? — perguntou Alexandre.— Sempre.— Tens então uma reforma.— Não, não tenho reforma. Fui guardando algum dinheiro para a velhice.Mas repara, não me queixo. Estou agradecido ao meu patrão, tratou-me sem-pre bem. — Quase de igual para igual, não é?Tuca ficou perturbado com o ar irónico de Alexandre Semedo.24
Dividida entre benesses precárias e a percepção das muitas tensões derivadas dos meca-
nismos racializantes, da dupla consciência de Alexandre desdobram-se níveis conflituo-
sos de inserção e de rejeição, alimentando um outro tipo de rebeldia que oscila entre
explosões paranóicas e fantasias utópicas. O apagamento radical que deseja para os afri-
canos coexiste com projeções que apontam para outras alianças contra a opressão co-
mum, conforme se condensa na fantasia recorrente com o imperador Maximiliano que,
desde a infância, o assalta nos momentos críticos da guerra racial angolana. Encarnandoum herói ariano, montado num imponente cavalo branco, que conduz tribos negras re-
voltadas contra os exércitos portugueses, a imagem do imperador representa um impul-
so para hibridizações alternativas, voltadas para a realização histórica de uma outra re-
lação interracial que pudesse confrontar os sentidos mistificadores que impossibilitam a
pacificação de Angola: “Alexandre era menino e se lembrava dos alemães a comandar
os cuamatos no Vau de Pembe e mais o imperador Maximiliano e o seu cavalo branco a
galopar na chana do Cunene contra os canhões da cruz de Cristo”25. Essas oscilações,
entretanto, alcançam um ponto disruptor no fim trágico do filho Aquiles, personagem
534
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 10/16
que reproduz “tudo o que de mau”26 tinha Alexandre. Orgulhoso de seu caráter violento
e da musculatura cultivada através da ingestão cotidiana de sangue de boi, Aquiles con-
densa uma imagem de poder regida pela alternância típica do dominador escravagista,
entre a indolência, o sensualismo e a brutalidade:
O trabalho chato dele era esse de estar sentado à sombra duma acácia e, devez em quando, lembrar de xingar os negros para fazerem a empreitada. Sa-cudir as moscas que o incomodavam, insectos de merda, sempre a se pega-rem no suor dele, e pensar na vida. Nesta vida de merda de branco numa terrade pretos. Não conhecia outra, no entanto. O que valia era a Glória, boa nacama, o bar, o futebol e as caçadas.27
Desdenhoso do valor da instrução formal e de qualquer refinamento intelectual, o filho
guerreiro de Alexandre constrói sua visão do mundo colonial em que está inserido deacordo com um maniqueísmo de tonalidades afetivas que, parecendo indiferente aos
critérios racializantes, assimila os agentes que acatem a tutela despótica por ele exerci-
da, sem que isso implique em superação real das marcações epidérmicas:
Aquiles tinha a percepção que não deixava as pessoas indiferentes. Os conhe-cidos, e eram certamente todos os habitantes da cidade, se dividiam clara-mente em amigos e inimigos. Não havia meios-termos. Os amigos sabiam,ele nunca arranjava maka com eles e eles também não. O resto eram inimigose para esses só a linguagem da força contava. (...) A cor não contava. Um dosseus maiores amigos era o Damião, esse negro estreito, grande avançado-centro do Sporting. Muitas vezes teve de intervir para defender o Damião dealgum defesa sarrafeiro. Damião para ele não era negro, era um amigo. Ne-gros eram esses trabalhadores matumbos e mangonheiros a quem era precisosurrar para trabalharem. Negro era o Alves, jogador do Benfica e o Jacinto,
jogador do Portugal. E já partira o focinho a um sacrista branco que insultouo Damião de seu negro de merda e negra era masé a mãe do sacrista que, porsinal, até era louro.28
Entretanto, quando os pastores cuvale29, tentando assegurar a soberania sobre seus reba-
nhos sagrados, reacendem as rebeliões contra o colonialismo, as facetas mais duras do
espírito ambivalente de Aquiles assumem o primeiro plano: “Vamos à caça, mas se en-
contrarmos algum mucubal vou capá-lo. Podem já começar a chamar-me o mata-
cafres”30. No desenrolar dessa caçada, a confrontação entre valores nativos e coloniais
também faz emergir um olhar contrastivo sobre o desejo predatório que mobiliza o co-
lono. O abate impiedoso de seu filho Tyenda pelo bando de Aquiles faz o cuvale Vilon-
da recordar a luta corajosa dos angolanos contra forças irracionais, alegoria que contra-
põe às hierarquias e aos métodos do poder racializante os seus vieses bestializados:
535
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 11/16
A onça perseguia o vitelo que conseguiu chegar à manada. Vilonda viu a on-ça correr na anhara quase sem capim e depois estacar à sua frente, a uns dezmetros. O animal se agachou e fitou-o. (...) Se abraçou à fera, rolaram nochão com o ímpeto do salto da onça. Vilonda conseguiu evitar que os dentesdela lhe entrassem no pescoço e, abraçando-a com a mão esquerda, puxou dopunhal com a direita. Sentiu no corpo colado ao dela as convulsões que
acompanhavam as punhaladas, uma a uma, na coluna vertebral do bicho. Atéque ela se imobilizou e muito tempo ficou deitado abraçado à onça morta, asentir o cheiro dela de carne comida, o sangue dos dois se confundindo naterra seca e quente. (...)A cena de quinze anos atrás veio com os homens armados que apareceram láembaixo do lado direito.31
Reproblematizando as significações através das quais as ideologias racistas pretendem,
como propõe o filósofo Étienne Balibar, estabelecer “a diferença entre a humanidade e a
animalidade”32, a imaginação de Vilonda proporciona mais um contraplano em que se
traduzem sentidos diferenciais para as premissas “historiosóficas”33 do conflito racial,tal como intui Alexandre ao relembrar, entre as páginas do diário com que dialoga com
a estátua Yaka, o episódio que lhe custara a vida do filho Aquiles, morto por Vilonda
em retaliação:
Folheou o caderno. A última frase escrita anos atrás: “No segredo da adagacuvale está a mensagem duma cultura para outra; não forçosamente antago-nismo, por ser uma arma; mas mensagem duma diferença nascida no passadodos homens que a fizeram e usaram”. Hoje não percebia completamente o
sentido do que escreveu.34
Em suas significações primárias, o segredo do punhal demarca para Alexandre mais um
momento de ruptura com os modelos identitários que lhe servem de referência: “Uma
ideia fixa perseguia-o, matei o Aquiles, matei o meu filho. Eduquei-o dessa maneira, de
ser superior porque branco”35. Na medida em que envelhece, Alexandre procura reori-
entar esses valores num exercício reflexivo que crescentemente assimila significantes
africanos, encontrando porém um limite na resilência das regras sociais pautadas pelo
racismo mestiçador. Apoiando diretamente a integração à família do mulato-escuro
Chico, um neto bastardo, o patriarca dispõe-se a desafiar os preconceitos que se levan-
tam contra a iniciativa como se encarnasse outra vez o Imperador Maximiliano, contan-
do para isso somente com a solidariedade da neta Chucha, ela mesma representação de
uma mulher que procura a liberação sexual. Já envolvida intimamente com os primos
Dionísio e Jaime, ao aproximar-se de Chico a neta deflagra em Dionísio intensos ciú-
mês, cuja legitimação explicita as barreiras epidérmicas que bloqueiam a consumação
dos ideais de Alexandre, como assinala este desabafo do amante ressentido:
536
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 12/16

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 13/16
convencer de que o Moma não foi ele (...) foi o mulato Guilherme que deu as coronha-
das, eu estava de lado, que eles acreditassem porque sempre fora bom angolano” 39. Di-
vidindo sentidos entre o que proclama e o que sonha, a questão para Xandinho centrava-
se em acusar o sistema colonial, que teria obrigado a ele e a outros colonos “a fazer ac-
tos que humanamente lhes repugnavam”40. Moralmente flexível para o auto-julgamento,
parece-lhe fácil desumanizar um outro que, tal como ele entende a postura dos militan-
tes do MPLA, se contraponha diretamente aos poderes coloniais: tomado pela paranóia
de que a vitória deste movimento no processo independentista levaria a um massacre
dos brancos, Xandinho reprojeta os estereótipos que definem os limites da identificação
e da possibilidade de composição de uma comunidade: “E os piores são esses brancos
deles, como esse Bombó, no Leste comia criancinhas brancas todos os dias” 41. Para o
avô Alexandre, o novo tipo de aliança nacional que emerge gera significações ambí-
guas, entrelaçando aspirações antigas com as desilusões da velhice: “lembrou da ima-
gem do Imperador Maximiliano (...). Seria louro esse tal Bombó e teria um cavalo bran-
co? Evidente que não, disparate! Realmente devo estar a ficar gagá, volto à infância”42.
Incapaz de decidir-se entre as identificações que hibridizam seu ego, será pela voz juve-
nil e engajada de Joel que alguns enigmas básicos da vida de Alexandre enfim se des-
lindam: “A estátua representa um colono avô. (...) Ridicularizados. Veja o nariz. Burros
e ambiciosos”43. Este derradeiro espelhamento, entretanto, não se limita a inverter, pela
denúncia da prepotência colonial, as hierarquias culturais instituídas: ainda pela voz de
Joel, Alexandre capta enfim a mensagem da estátua Yaka na qual se traduz um caminho
histórico alternativo a exclusões e massacres para a construção da nacionalidade ango-
lana:
— Aqui vamos todos entender-nos, avô. Já estamos a lutar juntos, homens deraças diferentes. Será o primeiro caso em África, dizem os camaradas.
— É preciso ultrapassar muita coisa, o peso da História. Essa estátua não falapara todos, ainda é só para raros eleitos como tu. Não te iludas.— É este ou não o caminho, avô?— Claro que é. Quando nasci, deixaram-me cair no chão. E comi a terra. Éisso, acho que não é feitiço nenhum. E se for...44
As ambivalências do racismo moreno servem diretamente àquilo que Homi Bhabha
sintetiza como o “papel facilitador da contradição e da heterogeneidade na construção
das práticas autoritárias e de suas fixações estratégicas”45. O roteiro de acomodações e
de perdas, de vivências conjugadas da apatia e da angústia, traçado pelo indeciso Ale-xandre Semedo reapresenta o problema que me parece fundamental na lógica assimila-
538
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 14/16
cionista e branqueadora do racismo “cordial”: a repressão ao negro ou a diluição dos
referentes africanos nunca pacificaram as sociedades tropicais, levando-as antes a uma
situação de desequilíbrio inercial, de naturalização da guerra cotidiana derivada dos
descompassos entre vivências mestiças e ordenações sociais racistas, entre a liberdade
sincrética e a repressão eurocêntrica com que articulamos nossos valores de referência.
É nesses deslocamentos cognitivos, exercidos tanto pelo “estou-me cagando” de Ale-
xandre quanto pela recusa intelectual do caráter racializado da realidade brasileira, bem
como da necessidade de confrontar decisivamente as instituições que dão suporte a esse
caráter, que se atualizam as genuínas “alucinações coletivas” a serem denunciadas e
desmontadas pela luta anti-racista.
REFERÊNCIAS
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes. Formação do Brasil no AtlânticoSul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
ALMEIDA, Miguel Vale de. Um mar da cor da terra. Raça, cultura e política da identi-dade. Oeiras: Celta, 2000.
ANDRADE, Mário Pinto de. Origens do nacionalismo africano. Continuidade e rupturanos movimentos unitários emergentes da luta contra a dominação colonial portuguesa:1911-1961. Lisboa: Dom Quixote, 1997.
BALIBAR, Étienne, WALLERSTEIN, Immanuel. Raza, nacion y clase. Ma-drid: Iepala, 1991.
BASTIDE, Roger. Mémoire collective et sociologie du bricolage. In: L'Année
Sociologique, vol.21, 1970.
BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de LimaReis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
BITTENCOURT, Marcelo. Dos jornais às armas. Trajectórias da contestação angola-
na. Lisboa: Vega, 1999.
CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. 2.ed. Tradução deGuy Reynaud. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Difel, 1972.
539
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 15/16
FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. 4.ed. Rio de Ja-neiro: Zahar, 1981.
FREYRE, Gilberto. Novo mundo nos trópicos. Tradução de Olívio Montenegro (cap. I aIV, VI e VIII) e de Luiz de Miranda Corrêa (cap. V, VII, IX e X). Prefácio de Wilson
Martins. 2.ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000.
GILROY, Paul. O Atlântico negro. Modernidade e dupla consciência. Trad. Cid KnipelMoreira e Patrícia Farias (Prefácio à edição brasileira). 1.ed. São Paulo: Editora 34; Riode Janeiro: Universidade Cândido Mendes, Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001.
HENRIQUES, Isabel Castro. Os pilares da diferença. Relações Portugal-África. Sécu-los XV-XX. Coimbra; Lisboa: Caleidoscópio; Centro de História da Universidade deLisboa, 2004.
LABAN, Michel. Angola. Encontro com escritores. v.2. Porto: Fundação Eng. Antóniode Almeida , s./d.
MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador . Lisboa:Mondar, 1974.
PEPETELA. Yaka. Lisboa: D. Quixote, 1985.
NOTAS
1 ALENCASTRO, 2000, p. 353.2 Conferir a pesquisa Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), promovida pela Unicef no Brasil, naqual se indica que um adolescente negro tem três vezes mais chances de morrer assassinado do que umbranco. Mais informações disponíveis em http://www.unicef.org.br/.3 Informa o Dicionário Houaiss que a palavra “heteronomia”, na filosofia de Kant, significa “sujeição davontade humana a impulsos passionais, inclinações afetivas ou quaisquer outras determinações que nãopertençam ao âmbito da legislação estabelecida pela consciência moral de maneira livre e autônoma”.Distendida conceitualmente, nos âmbitos da psicanálise e do marxismo, para designar formas articuladasde partição do ego e de controle ideológico (cf. CASTORIADIS, 1982, p. 123), a heteronomia especificaregimes de verdade regulados pela restrição ou denegação da autonomia dos sujeitos, situações cuja pro-
dução micropolítica interessa a este artigo explorar e discutir.4 Conferir FREYRE, 2000, p. 172.5 Conferir BASTIDE, 1970, p. 65-108.6 FERNANDES, 1972, p. 24.7 FERNANDES, 1981, p.117.8 BHABHA, 1998, p.174.9 ALMEIDA, 2000, p. 232.10 ANDRADE, 1997, p. 34.11 Conferir BITTENCOURT, 1999.12 Nascimento que, do ponto de vista das codificações oficiais do Estado autoridades coloniaiscolonialportuguês, mostrava-se claramente atento às mais sutis gradações de cor: “Minha mãe e eu éramos bran-cos de segunda, por termos nascido em Angola. Mesmo no meu primeiro bilhete de identidade vinha: raça— branco de segunda.” (PEPETELA, 1985, p. 36).13
Conferir “País, que não se pensava dividido, está sendo dividido”. Entrevista a José Meirelles Passos.In: O Globo, 31/05/2009. Disponível em: <http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=63797>.14 Conferirl LABAN, s./d., p. 813.
540
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7

8/12/2019 OLIVEIRA.filhO_Dupla Consciência Yaka
http://slidepdf.com/reader/full/oliveirafilhodupla-consciencia-yaka 16/16
15 Idem, p. 800-806.16 PEPETELA, 1985, p. 14.17 Em sua acepção fundadora, elaborada por W.E.B. DuBois, a noção de double counsciousness refere-seaos dilemas identitários dos negros norte-americanos, sobretudo no que dizia respeito ao pertencimentodestes à nação estadusinense. A perspectiva com que trabalho neste artigo, porém, retoma esse operador
de leitura na sua dimensão mais generalista, investindo no seu valor descritivo e interpretativo capaz depôr em evidência o que Gilroy denomina de “tempero etnopsiquiátrico específico da vida social colonial esemicolonial”. Dimensão proposta pelo trabalho teórico realizado por outro importante filósofo afro-americano, Richard Wright, que reformula as idéias de DuBois de acordo com uma episteme nietzschea-na, tendo em vista produzir uma nova teoria da modernidade e dos sujeitos modernos. Conferir GILROY,1999, 304-328.18 PEPETELA, 1985, p. 370.19 Idem, p. 137-138.20 Idem, p. 68.21 Idem, ibidem.22 Idem, p. 143-144.23 “Muitos abusos. As boas matas de café foram todas apanhadas pelos colonos. Qualquer pretexto servia.Expulsavam a população para as terras piores. E faziam escravos. Digo-te, havia escravos nas roças. (...)
O Sô Agripino, conheces? Não imagina o que ele fazia aos trabalhadores. O chicote funcionava todo odia, por tudo e por nada. E mandava crucificar gente. Cru-ci-fi-car!” (Idem, p. 157-158).24 Idem, p. 258.25 Idem, p. 108.26 Idem, p. 234.27 Idem, p. 68.28 Idem, p. 187-188.29 Grupo étnico angolano, também designado por “mucubais”.30 Idem, p. 217.31 Idem., p. 227.32 BALIBAR, 1991, p.92. Tradução minha.33 “Teoricamente, o racismo é uma filosofia da história, melhor ainda, uma historiosofia, que converte ahistória em função de um ‘segredo’ escondido e revelado aos homens sobre sua natureza, seu nascimento.
É uma filosofia que faz visível a causa invisível, do destino das sociedades e dos povos, cujo desconheci-mento é expoente de uma degeneração ou do poder histórico do mal”. (Idem, p.89)34 PEPETELA, 1985, p. 278.35 Idem, p. 248.36 Idem, p. 310.37 Idem, p. 377.38 Idem, p. 379.39 Idem, p. 359.40 Idem, ibidem.41 Idem, p. 338. Explicitando o caráter reflexivo das projeções paranóicas de Xandinho, Isabel CastroHenriques indica as correlações ideológicas que convertem a desumanização dos africanos numa máscarapara as arbitrariedades do poder colonial: “A promoção do africano a antropófago marca o imaginárioeuropeu do século XIX e sobretudo do século XX colonial: a África é povoada por ‘pretos primitivos e
antropófagos’. A acção civilizadora europeia torna-se indispensável. A violência colonial encontra a suamais veemente legitimação na antropofagia africana”. (HENRIQUES, 2004, p. 241)42 PEPETELA, 1985, p. 338.43 Idem, p. 387.44 Idem, p. 388.45 BHABHA, 1998, p. 123.
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP ISBN: 978-85-60667-69-7