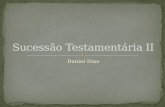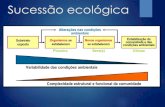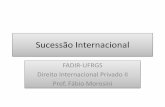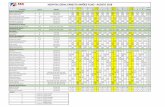OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE NA … · ... de uma Sequência Didática (SD) para o ......
Transcript of OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE NA … · ... de uma Sequência Didática (SD) para o ......
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSENA PERSPECTIVA DO PROFESSOR PDE
Produções Didático-Pedagógicas
Versão Online ISBN 978-85-8015-079-7Cadernos PDE
II
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ – SEED PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR TURMA 2014/2015
PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Título: Sequência Didática para o gênero discursivo Conto Literário
Autor: Edilson José Krupek
Disciplina/Área Língua Portuguesa
Escola de implementação do Projeto e sua localização
Colégio Estadual do Paraná – CEP Av. João Gualberto, 250 – Curitiba-PR
Município da Escola Curitiba
Núcleo Regional de Educação Curitiba
Professor Orientador Dra. Karine Marielly Rocha da Cunha
Resumo O projeto compreende a elaboração de uma Sequência Didática (SD) para o gênero discursivo Conto Literário, englobando conteúdos presentes na Proposta Pedagógica Curricular (PPC) para o 1.º ano do Ensino Médio do Colégio no qual ele será implementado. A SD contemplará as práticas discursivas da leitura, oralidade e escrita, bem como a prática didática de análise linguística, a partir da abordagem dos elementos que caracterizam todo gênero, que são o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Também objetiva introduzir os estudantes que ingressam no Ensino Médio na análise de textos literários, prática imprescindível nesse nível de ensino. A fundamentação deste trabalho está pautada principalmente pela teoria dos gêneros, partindo dos pressupostos de Bakhtin/Volochínov – teóricos que fundamentam as Diretrizes Curriculares Orientadoras para o ensino de Língua Portuguesa na rede pública do Paraná –, e dos precursores da metodologia das Sequências Didáticas para o ensino dos gêneros, Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz.
Palavras-chave Sequência Didática; Gêneros discursivos; Conto literário.
Formato do Material Unidade Didática
Público Estudantes do 1.º ano do Ensino Médio
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ – SEED
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR
Edilson José Krupek
SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O GÊNERO DISCURSIVO CONTO LITERÁRIO
UFPR CURITIBA
2014
Edilson José Krupek
SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O GÊNERO DISCURSIVO CONTO LITERÁRIO
Produção Didático-Pedagógica apresentada ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED, em parceria com a UFPR. Área de conhecimento: Língua Portuguesa. Orientadora: Profa. Dra. Karine Marielly Rocha da Cunha.
UFPR CURITIBA
2014
SUMÁRIO
Apresentação.......................................................................................................... 05
Oficina 1 – Primeiros contatos com o gênero......................................................... 09
Oficina 2 – Mais contos para ler e um para escrever............................................. 16
Oficina 3 – Um gênero democrático....................................................................... 23
Oficina 4 – Uma “radiografia” dos contos............................................................... 29
Oficina 5 – Conto: abrigo de muitos falares........................................................... 35
Oficina 6 – Recursos expressivos para a literariedade.......................................... 41
Oficina 7 – O uso (ou não) do recurso descritivo................................................... 46
Oficina 8 – Uma produção a muitas mãos............................................................. 50
Oficina 9 – A retomada da produção inicial........................................................... 53
Oficina 10 – A reestruturação dos textos............................................................... 55
Oficina 11 – O contínuo aprimoramento................................................................ 60
Atividade final – Os contos vão a público............................................................... 64
Referências............................................................................................................. 65
5
Esta unidade didática, produzida para o Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná no ano de
2014, contém uma Sequência Didática (SD) para o gênero discursivo Conto
Literário, englobando conteúdos presentes na Proposta Pedagógica Curricular
(PPC)1 do 1.º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Paraná, para quem a
proposta de intervenção foi concebida.
Tal proposta parte do pressuposto de que os gêneros discursivos são os
conteúdos básicos para o ensino de Língua Portuguesa, conforme definem as DCE-
PR – Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a Rede
Estadual de Ensino do Paraná (PARANÁ, 2008), e é a partir deles que devem ser
desenvolvidas atividades de leitura, oralidade, escrita e análise linguística. Quanto à
metodologia selecionada, optou-se pela Sequência Didática (SD) por julgá-la viável
à exploração ampla e contextualizada dos recursos discursivos, linguísticos, textuais
e estilísticos do gênero focalizado. Já a definição pelo conto literário se deu por
considerá-lo propício para atrair público do 1.º ano do Ensino Médio aos objetivos da
disciplina nessa modalidade de ensino: promover a leitura e o estudo da literatura –
englobando a história, teoria e crítica literária –, ampliar o conhecimento linguístico e
estético dos estudantes e formar leitores e produtores de textos.
O formato do material segue o esquema proposto por Dolz & Schneuwly
(2004) para a metodologia da SD, a qual pode ser definida como “uma sucessão
planejada de atividades progressivas e articuladas entre si, guiadas por um tema,
um objetivo geral ou uma produção” (MACHADO, 1997). O esquema parte de uma
“apresentação da situação” aos estudantes, na qual eles devem tomar ciência do
processo pelo qual passarão no decorrer do trabalho com o gênero em foco. Após
um primeiro contato com exemplares desse gênero, eles efetuarão uma “primeira
produção”, que é imprescindível porque, como numa avaliação diagnóstica, ela vai
evidenciar os conhecimentos já adquiridos e as maiores dificuldades a serem
1 Disponível em: http://www.cep.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
Apresentação
6
tratadas, possibilitando o ajuste das atividades que virão a seguir. Além disso, a
primeira produção servirá também para a avaliação de todo o processo, quando
confrontada com a “produção final”, reelaborada a partir de todos os conhecimentos
adquiridos na exploração do gênero. Essa exploração se dará por meio de
“módulos” – os quais, neste material didático, chamaremos de “oficinas” –
desenvolvidos por meio da abordagem dos elementos constitutivos do gênero
relacionados às condições de sua produção, sua estrutura composicional, seu estilo
e seu conteúdo temático. Nesta SD, dada a complexidade do gênero selecionado, e
da grande quantidade de conteúdos a serem explorados e de atividades de leitura e
escrita demandadas, foram previstas 11 oficinas, além de uma atividade final
compreendendo a divulgação dos contos a serem produzidos. O tempo de cada
oficina vai variar de acordo com o ritmo da turma e da necessidade que se instaurar
em cada etapa, no entanto o planejamento prevê que todo o processo se dê no
primeiro trimestre letivo, considerando-se quatro aulas semanais.
Os contos selecionados para as atividades da SD compõem a coletânea Os
cem melhores contos brasileiros do século, obra organizada por Moriconi (2009). A
escolha dessa obra deve-se, primeiro, pelo fato dela concentrar uma quantidade
representativa de contos brasileiros do século XX e, segundo, por ser esta uma obra
que compõe o acervo das bibliotecas das escolas públicas paranaenses, sendo
assim de fácil acesso aos estudantes e principalmente aos professores que
desejarem utilizar-se deste material didático.
Na construção do material, alguns desafios se fizeram prementes. Em
primeiro lugar, apesar de haver a preocupação de se utilizar dos pontos positivos da
metodologia em favor do trabalho de ampliação do conhecimento linguístico dos
estudantes, o objetivo maior seria o de torná-los bons leitores de textos literários.
Assim, seria mister atenuar os efeitos da “didatização” do gênero, uma vez que
esse, mesmo sendo um objeto da comunicação interpessoal, quando adentra a
escola é também um objeto de ensino, como apontam Dolz & Schneuwly (2004).
Tentar inserir o conto literário numa “camisa de força”, aliás, seria até incoerente,
pois conforme análise de Bosi (1974), esse gênero é proteiforme, assumindo formas
de surpreendente variedade (de tons, temas, formatos de composição e
significados). Essa variedade, portanto, será explorada e valorizada neste trabalho
e, acreditamos, se configurará também como uma significativa e atraente
7
possibilidade de aguçar nos estudantes o esmero pela escrita autoral e pela reflexão
sobre sua produção escrita, prática extremamente necessária no Ensino Médio.
Em segundo lugar, seria preciso comprovar a pertinência de se promover a
prática da escrita desse gênero na escola, frente à discordância relacionada ao
discurso poético existente entre alguns estudiosos do ensino de gêneros, os quais
defendem que cabe à instituição escolar somente produzir bons leitores e não
escritores literários. Quanto a isso, neste material defende-se, concordando com
Garcia (2010), que não podemos privar os estudantes de exercitarem, além da
leitura, também a elaboração de textos poéticos e literários, porém sem condicionar
a avaliação dos estudantes à presença ou não de literariedade em suas produções.
Por fim, seria necessário contemplar na SD, de forma contextualizada e
significativa, alguns conteúdos estipulados na proposta pedagógica curricular do 1.º
ano do nível médio da escola que receberá a intervenção pedagógica, relacionados
às práticas discursivas da leitura, oralidade e escrita, bem como a prática
pedagógica da análise linguística, a partir da abordagem dos elementos que
caracterizam, segundo Bakhtin/Volochínov (1992, 2006), todo gênero discursivo: o
conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Para tanto, deveriam ser
formuladas atividades que não tomassem o gênero como objeto para o mero estudo
da estrutura da língua, mas para a análise dos elementos que o compõem e reflexão
sobre suas funções na promoção dos efeitos de sentido depreendidos.
Ao considerar esses desafios, esta SD concebe a leitura como um ato
dialógico, interlocutivo, e que está imbricado no contexto social, histórico, político,
econômico e ideológico em que cada leitor está inserido e cada evento enunciativo é
produzido. Assim, as atividades de leitura propostas respeitam o caráter individual
dessa prática discursiva, valorizando a experiência, os conhecimentos prévios e as
vozes que constituem cada leitor. Por meio da exposição constante ao gênero, da
discussão sobre as impressões suscitadas em cada unidade, da identificação dos
recursos linguísticos e estéticos utilizados pelos seus autores e do debate acerca
dos efeitos de sentido propiciados, espera-se que os estudantes ampliem
gradativamente seus conhecimentos linguísticos e discursivos e seu gosto pela
leitura literária, ampliando assim seus horizontes de expectativas.
Atentando para as especificidades da linguagem literária, o encaminhamento
dado à leitura, compreensão e interpretação dos textos apoia-se nos pressupostos
teóricos da “Estética da Recepção”, desenvolvida por Hans Robert Jauss (1994), e
8
da “Teoria do Efeito” de Wolfgang Iser (1996), indicadas na DCE-PR (PARANÁ,
2008) como parâmetros para o ensino de literatura na rede pública estadual. Ao
apresentar cada conto aos estudantes serão levantadas, coletivamente, as pistas
que os direcionam para uma leitura coerente. Quanto às lacunas/vazios que os
textos apresentarem, serão preenchidos, de forma colaborativa, considerando-se o
conhecimento de mundo, as experiências de vida, as ideologias, crenças e valores
de cada indivíduo. Tal encaminhamento atribuirá um papel ativo a cada leitor
aprendiz, estimulando seu posicionamento crítico e responsivo frente aos textos em
análise e aos colegas da turma.
A prática da oralidade se fará presente em atividades de debate e seminário,
nas quais a adequação da linguagem será observada. Além disso, a classificação
bakhtiniana entre gêneros primários e secundários será explorada por meio da
comparação entre contos de tradição oral e contos literários. Com isso, deverão ficar
evidentes as diferenças entre tais gêneros referentes às construções sintáticas
(estilística), a escolha vocabular, o uso das figuras de linguagem e o foco narrativo,
ou seja, características que tornam o conto literário escrito mais complexo.
Tal entendimento, aliado à apreensão do gênero via prática da leitura, deverá
subsidiar os estudantes para a escrita de seus próprios contos literários, ou, se não
literários, ao menos próximos a esse estilo. Quanto a essa produção textual, aliás,
seu maior objetivo será fazer com que entendam que sua escrita é uma forma de
intervenção no mundo, de realização de ações/reações por meio da linguagem. Mais
ainda, que compreendam que o domínio da língua e a capacidade de produzir textos
com qualidade estética não são dons inatos, mas competências que podem ser
adquiridas de forma contínua e processual.
Nas atividades de análise linguística, planejadas principalmente para os
momentos de reestruturação e reescrita dos textos produzidos, a gramática
normativa será abordada como material de consulta para sistematização das
análises acerca dos usos de determinados elementos linguísticos, identificados nos
textos dos estudantes. Para além deles, determinados conteúdos, presentes nos
contos literários abordados na SD, também foram previamente selecionados para a
elaboração deste material – acentuação gráfica, pontuação, paragrafação,
ortografia, variedades linguísticas, elementos de coesão e referenciação –, uma vez
que compõem a Proposta Pedagógica Curricular do estabelecimento escolar em que
o projeto será implementado.
9
Objetivos
Conhecer o projeto e seu cronograma de desenvolvimento.
Estabelecer contato com o gênero, por meio da leitura de
três contos literários.
Material
Exemplar do livro Os cem melhores contos brasileiros do
século, de Italo Moriconi.
Contos: O homem nu, de Fernando Sabino; Uma vela para
Dario, de Dalton Trevisan; Zap, de Moacyr Scliar.
Imagens e informações biográficas dos autores dos contos,
para apresentação em projetor ou TV multimídia.
Para que o trabalho a ser desenvolvido obtenha o êxito esperado – o
aprendizado do gênero e de seus elementos linguísticos, discursivos e textuais, bem
como a ampliação da experiência nas práticas de leitura literária, oralidade e escrita
– é necessário que os estudantes tomem ciência do caminho que percorrerão e
quais objetivos estarão em foco. Desse modo, é importante que a primeira atividade
do projeto seja a sua exposição ao grupo, seguida de uma conversa – em tom de
“contrato didático” –, de modo que as dúvidas sejam sanadas e que todos assumam
suas responsabilidades no percurso da sequência didática (SD). Nesse diálogo, é
importante:
Comunicar que o trabalho terá duração de aproximadamente um
trimestre.
Oficina 1Primeiros contatos
com o gênero
1ª etapa: o contrato didático
10
Elencar os conteúdos que serão abordados na SD, relacionados às
práticas de leitura (literatura), oralidade, escrita e análise linguística;
Esclarecer que o projeto está de acordo com a Proposta Pedagógica
Curricular do estabelecimento escolar, portanto o currículo estabelecido
para o 1.º ano não será alterado.
Argumentar que a ênfase na análise de textos literários do gênero conto
beneficiará o grupo em sua introdução ao estudo mais aprofundado da
literatura, o qual permeará todo o Ensino Médio.
Apresentar a obra Os cem melhores contos
brasileiros do século, da qual serão retirados os
contos a serem analisados, ressaltando que esta
antologia de Italo Moriconi2 – crítico literário e
professor universitário conceituado – é digna de
consideração, mas pode ser contestada, uma vez
que cada leitor experiente é capaz de realizar sua
própria seleção.
Fonte: Página da Ed. Objetiva3
Ressaltar que o exercício de escrita de contos objetiva que a turma
aprimore-se nessa prática discursiva e experiencie a produção de textos
com utilização da linguagem literária, porém tal proposta não pretende
formar autores literários tampouco pautará sua avaliação na qualidade
literária das produções.
Explicar que a metodologia a ser utilizada será a de oficinas, cada qual
com objetivos específicos, e que a avaliação será processual (também
chamada de formativa ou contínua), ou seja, a aprendizagem de cada
estudante será medida a partir de um diagnóstico inicial e de sua
participação nas atividades realizadas em sala de aula (análises de
contos, rodas de conversa, debates, produção escrita inicial e final,
atividades de reestruturação e reescrita, apresentações orais, trabalhos
individuais ou em equipe).
2 Informações mais detalhadas podem ser apresentadas sobre o organizador, que é autor teórico e literário e professor da UFRJ. Em http://veja.abril.com.br/010801/p_140.html (acesso em set. 2014), Italo é apresentado como um “intelectual pop”, que gosta de rock, faz poemas homoeróticos e ganhou projeção organizando antologias (de contos, crônicas e poemas) que são um sucesso de vendagem. 3 http://www.objetiva.com.br/livro_ficha.php?id=117, acesso em set. 2014.
11
Para iniciar a SD, serão apresentados três contos para leitura individual, na
seguinte ordem: 1) O homem nu, de Fernando sabino; 2) Uma vela para Dario, de
Dalton Trevisan; 3) Zap, de Moacyr Scliar.
Os estudantes devem ser orientados a ler o primeiro texto e anotar em seus
cadernos, em poucas palavras, as impressões que tiveram da história. Deve-se
alertá-los de que não se trata de uma interpretação ou resumo do texto, como
provavelmente estão acostumados a fazer, mas sim de um registro do(s)
sentimento(s) que aquela leitura lhes aguçou. A seguir, eles devem ser convidados a
ler seus registros, mas somente ler, sem explicações posteriores. Tal método
objetiva identificar a recepção do texto, a significação alcançada a partir dos
sentidos que cada leitor depreendeu dele, sua percepção estética que revela,
consequentemente, seu horizonte de expectativas4. Não há necessidade, porém, de
que todos leiam, pois é importante deixá-los à vontade neste primeiro momento.
Esse exercício se repetirá com os outros dois contos e, no transcorrer das
leituras das impressões, é importante registrá-las na lousa, para posterior discussão.
Mesmo as declarações incoerentes, provenientes de leituras equivocadas, ou ainda
generalizantes, devem ser acatadas neste momento. Abaixo, um exemplo das
possíveis ocorrências:
O homem
nu
Angústia, constrangimento, vergonha ou desespero ao
colocar-se na situação do personagem que ficou “preso”
fora de casa sem roupa alguma.
Dó do homem, pela humilhação que ele sofreu.
Alegria, prazer decorrente do humor causado pela cena
patética descrita.
Satisfação pelo castigo que sofreu o homem, uma vez que
ele queria enganar o cobrador da prestação da televisão.
4 Termo utilizado pela linha teórica da “Estética da Recepção”, desenvolvida por Hans Robert Jauss (1994) e apresentada, juntamente com a “Teoria do Efeito” de Wolfgang Iser (1996), na DCE-PR (PARANÁ, 2008), como fundamentação para o ensino de literatura na rede pública estadual.
2ª etapa: as primeiras leituras
12
Uma vela
para Dario
Compaixão pelo personagem Dario, que não foi socorrido
adequadamente num momento de necessidade.
Raiva, repugnância, indignação pela atitude egoísta e
desumana das pessoas que furtaram objetos de um
moribundo que estava sem condições de se defender.
Tristeza, decepção, desilusão por constatar em alguns
contextos pessoas são tratadas como coisas.
Descrédito ao ser humano, que é insensível e age por
interesses.
Zap
Afeição, empatia pelo personagem central, promovida pela
coincidência de faixa etária e de ideias entre ele e o leitor.
Familiaridade com a situação descrita: a prática de zapear.
Tristeza, lástima pela situação de abandono em que vive o
menino, sem a referência de um pai.
Espanto, pela frieza com que o filho desconsidera seu pai
depois de vê-lo na TV.
Emoção, pela situação inusitada do reencontro.
Compreensão e aceitação da atitude de desprezo do filho
para com seu pai, devido ao abandono do primeiro pelo
segundo logo após seu nascimento.
A seguir, promove-se a leitura em voz alta – pelo professor ou por estudantes
voluntários – e uma discussão coletiva sobre as possibilidades de leitura de cada
conto, a partir das impressões apontadas. Nesse momento, a interpretação estará
em foco, e o professor não pode assumir uma posição de detentor de uma suposta
“leitura correta” dos textos. Seu papel será o de mediador da discussão, na qual lhe
compete induzir o grupo à localização de informações explícitas e implícitas,
provocá-lo a expor suas opiniões e dúvidas e questioná-lo sobre questões que
colaborem para o entendimento dos contos. Em caso de leituras equivocadas,
caberá a ele também requerer do leitor as pistas que o levaram àquela conclusão
para, depois de identificar qual foi seu caminho interpretativo, levá-lo a reconhecer
seu equívoco.
13
No momento das discussões, faz-se necessário abordar o contexto de
produção dos contos e apresentar seus autores, pois há que se considerar, nas
análises, que O homem nu e Uma vela para Dario são da década de 60 do século
XX, enquanto que Zap é da década de 90 do mesmo século. Os hábitos e
pensamentos de cada época dessas, bem como o uso da linguagem e o acesso aos
meios culturais e tecnológicos, eram diferentes deste tempo atual e isso, muitas
vezes, incide nos efeitos de sentido pretendidos nas obras literárias.
Para finalizar esta etapa, é interessante realizar uma enquete para identificar
qual dos três contos o grupo gostou mais, e por quais motivos se deu a escolha. O
registro dessas informações é importante, pois elas poderão ser recuperadas em
futuras discussões e nos momentos de escrita e reescrita de contos.
Evidentemente, os estudantes ainda não terão experiência de leitura
suficiente para elaborarem um conceito aprofundado do conto literário – e nem se
3ª etapa: hora de conceituar o gênero
Importante:
As informações biográficas de Fernando Sabino, Dalton Trevisan e Moacyr
Scliar – bem como as de outros autores que serão abordados nas próximas
oficinas – devem ser apresentadas de forma dinâmica e ilustrada, objetivando
aguçar o interesse dos estudantes para a leitura de suas produções literárias.
Pode-se usar a TV ou um projetor multimídia para apresentar imagens desses
autores e de suas obras, ou ainda vídeos curtos que podem ser selecionados no
site de compartilhamento de vídeos Youtube. Também é imprescindível que o
professor exponha sua experiência de leitura desses autores, o que se configura
numa ótima estratégia para seduzir o grupo para a busca de obras memoráveis
desses consagrados romancistas e contistas, como: O encontro marcado e O
grande mentecapto, de Sabino; Max e os felinos e A mulher que escreveu a
Bíblia, de Scliar; O vampiro de Curitiba e A Polaquinha, de Dalton Trevisan.
14
espera isso, pois a metodologia das sequências didáticas prevê que a apropriação
do gênero em foco se dê por meio de sua exploração abrangente, numa sucessão
de atividades progressivas e articuladas entre si –, porém já poderão apontar alguns
de seus elementos e compreender minimamente sua estrutura e seus objetivos.
Assim, os estudantes devem ser indagados a apontar, a partir de seus
conhecimentos prévios e das conclusões a que chegaram pela leitura dos três
contos apresentados nesta oficina, como definem um conto literário. Os
apontamentos devem ser registrados na lousa a fim de que, ao final, construa-se no
coletivo um conceito. Ao professor cabe o papel de organizador do texto, mas é
claro que ele também pode oferecer subsídios para sua elaboração, caso esses não
sejam suficientemente oferecidos pelos estudantes. Em suma, o conceito deve
apontar os seguintes elementos:
Conto
literário
É uma narrativa curta, com poucos personagens.
É ficcional, não tem compromisso com a verdade; pode valer-
se da imaginação e da fantasia, mas nada impede que sua
construção baseie-se também uma situação real.
Pode abordar qualquer tema, assunto e cenário; quanto à
temática, há uma variedade na forma de sua abordagem:
ação, suspense, terror, humor, reflexão subjetiva, lirismo etc.
O enredo não é complexo, a história é focada num conflito
básico ou eixo temático.
São publicados principalmente em livros, mas também
aparecem em revistas e em veículos do no meio eletrônico
(blogs, sites de literatura).
Não é direcionado a um público específico, mas a todas as
pessoas que gostam de literatura.
Normalmente, há um desfecho surpreendente, emocionante,
inesperado ou poético.
A linguagem pode ser tanto rebuscada quanto simples e
direta, porém percebe-se que é elaborada, “garimpada” pelo
autor para que produza os efeitos de sentido pretendidos.
15
Não é objetivo deste momento que o conceito fique completo. A apreensão e
assimilação do gênero se dará no processo de desenvolvimento da SD. Nas oficinas
posteriores, serão realizadas novas análises e estudados mais profundamente
elementos específicos do gênero – como os elementos da narrativa – que farão com
que o grupo amplie gradativamente este conceito inicial.
Importante:
No momento em que a linguagem dos contos estiver em discussão, torna-
se premente uma abordagem do professor sobre literatura e suas concepções –
produção cultural de uma sociedade; forma de conhecimento de uma cultura; arte
que revela a vida dos homens; meio de expressão verbal; modo de comunicação,
tipo de discurso; modalidade de texto –, bem como de suas funções para a
sociedade – psicológica, formadora e social, conforme classificação de Antonio
Candido (1972) – e de sua relevância para a formação de estudantes do Ensino
Médio, uma vez que a turma está ingressando num estudo mais sistematizado
dessa arte.
16
Objetivos
Ampliar a discussão acerca das características do gênero,
por meio da leitura de novos contos.
Identificar o conteúdo temático nos contos, bem como as
estratégias do autor para sua apresentação, as quais
diferenciam esse gênero de uma narração objetiva de fatos.
Perceber as diferenças entre narrativas orais e escritas.
Produzir a primeira escrita de um conto.
Material
Contos: Negrinha, de Monteiro Lobato; Um cinturão, de
Graciliano Ramos; Felicidade clandestina, de Clarice
Lispector; Conto de verão nº 2: Bandeira Branca, de Luis
Fernando Verissimo.
Imagens e informações biográficas dos autores dos contos,
para apresentação em projetor ou TV multimídia.
Gravador de voz.
Antes de disponibilizar aos estudantes os contos Negrinha, de Monteiro
Lobato e Um cinturão, de Graciliano Ramos, deve-se promover um bate-papo com a
turma sobre o tema violência doméstica infantil. Para essa atividade, sugerem-se os
seguintes passos:
1. Perguntar o que entendem por violência doméstica infantil.
2. Questionar quais formas de tratamento a uma criança que julgam
enquadra-se nesse crime.
Oficina 2Mais contos para ler
e um para escrever
1ª etapa: leitura de dois contos com mesmo tema
17
3. Pedir que relatem casos de que tiveram conhecimento, seja por meio
de sua própria vivência ou porque souberam por meio da mídia.
4. Mostrar ao menos um exemplo de violência doméstica infantil que
repercutiu na imprensa recentemente, juntamente com resultados de
pesquisas que apontam os índices desse crime no Brasil e a análise do
impacto dessa prática na formação das crianças. Tais informações
podem ser encontradas na matéria jornalística Os impactos da
violência doméstica infantil, de Lívia Machado, disponível em
http://delas.ig.com.br/filhos/os-impactos-da-violencia-domestica-
infantil/n1237628538965.html (acesso em set. 2014).
Essa atividade fornecerá tanto informações prévias sobre o tema abordado
nos dois contos a serem analisados quanto subsídios para uma discussão posterior
acerca da abordagem de questões da realidade em textos literários e seus objetivos
(que estão longe de ser doutrinários, moralistas, didáticos ou de utilidade pública).
O procedimento de leitura para cada conto será o mesmo realizado na oficina
anterior: leitura individual → registro e socialização das impressões → leitura em voz
alta → aferição da compreensão dos textos → contato com informações sobre o
autor e o contexto de produção do conto → interpretação via discussão coletiva.
Em linha gerais, pretende-se que os leitores apontem – respondendo a
provocações do professor, se necessário – as semelhanças quanto ao tema
presente nos dois contos e as diferenças de contexto em que se encontravam os
personagens que sofreram agressão. Tais conclusões permitem que se desvenda
ou subentenda-se as intenções do autor, bem como compreenda-se suas escolhas
na construção de sua narrativa, as quais lhe conferem qualidade literária,
diferenciando-a de uma mera exposição sequencial e objetiva de fatos. Assim, os
apontamentos básicos devem estar próximos aos constantes no quadro abaixo:
Negrinha Um cinturão
Relata os maus tratos de uma
senhora dispensados a uma
indefesa menina negra, filha de
uma ex-escrava sua já falecida.
Narra a surra que um pai aplica
em seu filho, por julgar que ele
seja o responsável pelo sumiço
de um objeto.
18
Negrinha Um cinturão
A antagonista dona Inácia é
caracterizada como uma pessoa
hipócrita, insensível, racista.
Dona Inácia é apresentada por
um narrador que está “de fora”
da história e faz uso da ironia e
do deboche para caracterizá-la.
A algoz de Negrinha é sádica; a
maltrata por prazer e para aliviar
sua raiva ou irritação.
O contexto histórico é o do
período seguinte ao da libertação
da escravidão no Brasil, no qual
o açoite de negros era
considerado normal. Dona Inácia
continua com a prática porque
ainda considera os negros como
seres inferiores.
O percurso narrativo da história
leva o leitor a compadecer-se de
Negrinha, a emocionar-se com
sua inocência e fragilidade, bem
como a construir uma imagem
sarcástica de dona Inácia e
repudiar suas ações.
Por meio da história de uma
criança torturada e impedida de
viver sua infância, há a denúncia
da violência aos negros mesmo
após o término da escravidão e,
de forma mais ampla, a
desumanidade em geral.
O antagonista é o pai do menino,
exposto ao leitor como
autoritário, intolerante, injusto.
O pai é apresentado pelo filho
(narrador-personagem) que o
teme, numa situação de violência
que lhe causa dor e revolta.
O algoz do menino/narrador
utiliza-se da violência como meio
para educar e “fazer justiça”.
Aqui o contexto histórico não
pode ser comprovado com
elementos textuais, mas pode
ser subentendido a partir de
dados do autor e da época em
que ele escreveu, na qual era
comum e aceitável socialmente
que pais batessem em seus
filhos.
O percurso narrativo deste conto
leva o leitor a sentir a angústia, o
temor, o desespero do narrador
indefeso frente a um premente
ataque de seu pai, bem como a
revoltar-se com a atitude injusta
do antagonista.
Por meio da narração de uma
punição iníqua, aplicada por um
dominador ao seu dependente, a
moral impressa por este conto é
a de que a justiça pode ser falha
e traumatizante.
19
Até o momento, espera-se que os estudantes já tenham compreendido, ainda
que de forma generalizada, a estrutura composicional e a função social do gênero. A
etapa anterior desta oficina também deve os ter feito concluir que o autor de um
conto não narra simples e diretamente um fato, mas o faz de forma arquitetada, com
intenções predefinidas para produzir determinados efeitos de sentido que
provoquem no leitor determinadas reações (medo, alegria, raiva, indignação, riso,
emoção). Nesse trabalho, ele garimpa vocábulos e expressões, expõe ou deixa
subentendidas certas informações, fornece pistas que conduzem o leitor ao
entendimento da história, escolhe o ritmo que dará à sua narrativa... enfim, produz
literatura!
2ª etapa: narrativas escritas X narrativas orais
Importante:
Assim como na oficina anterior, nesta as informações biográficas de
Monteiro Lobato e Graciliano Ramos também devem ser apresentadas de modo
a valorizar a produção literária desses célebres autores e aguçar nos
estudantes a vontade de apreciá-la.
Trechos da adaptação para o cinema de Vidas Secas podem ser um bom
recurso para ilustrar a fala do professor sobre esse autor da 2ª fase do
modernismo brasileiro que tão bem retratou o homem do sertão nordestino.
Já o criador do Sítio do Picapau Amarelo poderá até dispensar maiores
apresentações, devido a sua vasta produção de obras infantis, popularizadas
ainda mais pela televisão. No entanto, não se pode deixar de comentar a
polêmica que se criou em torno de Monteiro Lobato nos últimos tempos, oriunda
de denúncias de racismo em algumas de suas obras, inclusive no conto
Negrinha, objeto de estudo nesta oficina. Sobre essa questão, cabe pontuar ao
grupo a importância de se considerar, no momento da leitura de qualquer obra
literária, o contexto (histórico, social, político, ideológico) de sua produção.
20
Agora, eles realizarão uma atividade que reforçará essa conclusão e os fará
confirmar a excelência do texto literário escrito em relação às narrativas orais (ou
aos textos escritos que apenas reproduzem fatos narrados oralmente). Nessa
conclusão, é claro que não devem conferir inferioridade à linguagem falada, mas
entender que existem formas diferentes de uso da língua, cada qual cumprindo –
adequadamente – a propósitos específicos. O objetivo maior é fazê-los identificar e
valorizar a linguagem literária e esmerar-se na produção de seus próprios contos.
A atividade consiste em dividir a turma em dois grupos. O primeiro lerá
silenciosamente o conto Felicidade clandestina, de Clarice Lispector; o segundo,
Conto de verão nº 2: Bandeira Branca, de Luis Fernando Verissimo. É importante
também dar a cada grupo um tempo posterior à leitura para que troquem impressões
sobre suas histórias, pois isso fará com que a compreensão do texto seja mais
homogênea.
A seguir, cada grupo deve eleger um de seus membros para contar oralmente
a história ao outro, porém sem o apoio do texto impresso. Sua apresentação será
registrada por meio de um gravador de voz para posterior análise.
Após ouvir a nova história, cada grupo terá acesso ao conto original.
Concede-se então mais um tempo para a leitura individual, discussão entre o grupo
para otimizar a compreensão do texto e análise das diferenças entre as duas formas
de apresentação da narrativa – a oral e a escrita.
Por fim, num grande círculo, os grupos devem expor suas conclusões. Nesse
momento, a gravação das apresentações deve ser exibida ao menos uma vez para
confirmação dos apontamentos e exemplificações. A interpretação dos contos
focalizados também é objetivo deste momento, cabendo ao professor lançar
questionamentos.
Na lousa, o professor ou um aluno voluntário deve registrar as diferenças
apontadas. O quadro final deve ser registrado por todos em seus cadernos, o qual
deverá conter, dentre outras, essencialmente as informações abaixo:
Narrativa oral Narrativa literária escrita
A ênfase maior está no enredo,
na sequência das ações da
história.
O foco pode recair em outros
elementos da narrativa.
21
Narrativa oral Narrativa literária escrita
Privilegia o pensamento
concreto, a clareza na exposição
de fatos e ideias.
O contador pode privilegiar
elementos da história de modo a
conduzir o leitor para uma visão
específica dos personagens e do
cenário.
O contador pode exprimir
passagens ou informações que
julga irrelevantes, mas que
podem comprometer a
compreensão ou alterar a
interpretação dos ouvintes.
A exposição de alguns trechos
pode ser fragmentada,
redundante ou imprecisa.
O contador pode inserir na
história sua interpretação
pessoal.
A linguagem utilizada pode ser
informal; as construções são
mais simples; não há
normatização e é comum o uso
de marcadores conversacionais.
Quem conta uma história, a
reconstrói mentalmente. Por isso,
para externá-la, normalmente
utiliza-se de pausas, retomadas,
reformulações.
Privilegia o pensamento abstrato,
a linguagem simbólica.
Os personagens e o cenário são
descritos mais detalhadamente; o
leitor tem mais subsídios para
construir mentalmente esses
elementos e inferir suas funções
no enredo.
O escritor dá ao leitor acesso a
todas as informações de modo
que ele possa retomar o texto
para buscar pistas que o
auxiliarão na compreensão e
interpretação da história.
Há precisão e completude na
exposição dos elementos da
história.
Cabe ao leitor, utilizando seu
conhecimento de mundo, atribuir
sentidos ao texto.
A linguagem é precisa,
normatizada; as construções são
bem elaboradas, complexas; se
houver rompimento, será
intencional.
O escritor planeja saltos,
antecipações, retrospectivas,
rupturas do tempo e do espaço
em que se desenvolvem as
ações, deixando ao leitor a tarefa
de estabelecer conexões.
22
No início desta SD, ao firmar o contrato didático, os estudantes ficaram
cientes do processo pelo qual passariam quanto à prática da escrita. Desde lá,
inclusive, eles já poderiam pensar num possível enredo para seu primeiro conto.
Agora, a partir das atividades de leitura, análises e discussões já realizadas
com sete contos representativos da literatura brasileira – sem contar com a
experiência anterior de cada leitor – eles serão conclamados a escrever seu primeiro
texto, recorrendo à bagagem linguística e ao conhecimento do gênero que possuem.
Não deve haver nenhum direcionamento para a escrita, uma vez que esses
textos serão como “projetos”, “esboços” de contos que serão aprimorados no
decorrer do processo. Além disso, servirão de diagnóstico inicial do conhecimento
detido pelos estudantes e de parâmetro para a avaliação do aprendizado obtido na
SD, ao final do seu percurso. Por isso, o professor deve guardar com ele uma cópia
dos textos iniciais.
É importante que a turma tenha um tempo em sala de aula para a produção.
Caso alguém necessite, porém, pode concluí-la em casa. Esses contos iniciais
poderão ser socializados entre a turma, para que já se identifiquem os estilos
individuais, porém não se pretende uma análise detalhada neste momento. O
professor, no entanto, dará uma devolutiva individual, apontando já os pontos
positivos e as fragilidades sobre as quais os autores devem atentar.
3ª etapa: hora de escrever o primeiro conto
Importante:
Além das informações biográficas, os estilos literários tão marcantes de
Clarice Lispector e Luis Fernando Veríssimo precisam ser expostos no momento
da discussão de seus contos, até porque são muito diferentes: ela apresenta
excelentes exemplos de prosa intimista, introspectiva, e do uso do fluxo da
consciência; ele, fenômeno editorial contemporâneo, de uso do humor
inteligente e da linguagem coloquial e elegante. Isso também auxiliará os
estudantes na compreensão e apreensão dos elementos que caracterizam
textos literários.
23
Objetivos
Compreender que o conto literário é um gênero plástico,
proteiforme, que abriga uma diversidade de “modos de
dizer”.
Reconhecer o tom dado pelo autor em cada texto, a serviço
da produção dos significados pretendidos.
Material
Contos: O vitral e A partida, de Osman Lins; A máquina
extraviada, de José J. Veiga; O arquivo, de Victor Giudice;
Guri, de Cíntia Moscovich; contos abordados nas oficinas
anteriores.
Para ampliar um pouco mais o repertório de contos lidos e analisados pela
turma, e assim adquirir mais subsídios para o alcance dos objetivos desta oficina, a
turma será dividida em cinco equipes, cabendo ao professor definir o método de
divisão mais apropriado e a ordem para a apresentação posterior dos trabalhos.
Cada equipe receberá um dos contos elencados acima, e terá um prazo predefinido
para efetuar suas análises, pesquisas, organização do material de apoio e ensaio de
sua apresentação no seminário, o qual deverá seguir o roteiro abaixo.
1. Apresentação do texto integral do conto à turma, seja por meio da
leitura tradicional, leitura dramatizada, gravação em áudio etc.
2. Exposição de informações biográficas e bibliográficas sobre o(a)
autor(a) e contextualização da obra.
Oficina 3Um gênero
democrático
1ª etapa: análise de contos em equipe
24
3. Apontamento das impressões iniciais de cada leitor e da interpretação
(ou interpretações) que a equipe deu após suas discussões e
pesquisas.
4. Indicação (ainda que empírica) de elementos que revelam o estilo
do(a) autor(a) e o tom que ele deu a seu texto, ou seja, as emoções
que intentou provocar nos leitores.
É intenção deste trabalho que, antes mesmo de aprofundar-se no estudo dos
elementos da narrativa, o estudante perceba que o conto literário não se prende a
um formato padrão nem está condicionado a temáticas e objetivos similares. Bosi
(1974), ao falar da situação e formas do conto contemporâneo, explica isso melhor
do que ninguém. Aliás, o trecho abaixo será utilizado para fomentar uma discussão
que levará a um exercício posterior.
2ª etapa: em pauta, as formas e os tons dos contos
Importante:
Apesar de ser um gênero oral bastante utilizado na escola, principalmente
como instrumento de avaliação, é importante retomar com os estudantes quais
são os objetivos do seminário, os procedimentos para sua realização
(planejamento, pesquisas, estudo do material elaborado/selecionado, ensaios
prévios), os recursos audiovisuais que podem enriquecer a apresentação, a
postura que se espera de cada apresentador e a linguagem que se deve utilizar.
O conto cumpre a seu modo o destino da ficção contemporânea. Posto entre as exigências da narração realista, os apelos da fantasia e as seduções do jogo verbal, ele tem assumido formas de surpreendente variedade. Ora, é o quase-documento folclórico, ora a quase-crônica da vida urbana, ora o quase-drama do cotidiano burguês, ora o quase-poema do imaginário às soltas, ora, enfim, grafia brilhante e preciosa voltada às festas da linguagem.
(...) Proteiforme, o conto não só consegue abraçar a temática toda do romance, como põe em jogo os princípios da composição que regem a escrita moderna em busca do texto sintético e do convívio de tons, gêneros e significados. (Bosi, 1974, p. 7)
25
Trata-se o exercício de fazer com que os estudantes recuperem, das análises
anteriores, a temática abordada nos contos, características relevantes quanto ao seu
formato, o tom impresso pelo(a) autor(a) e os efeitos que causam – ou pretendem
causar – nos leitores. As conclusões, que devem minimamente ser próximas às
apresentadas no quadro abaixo, devem ser registradas na lousa pelo professor, e
nos cadernos pelos estudantes.
O homem
nu
Narração objetiva de um fato inusitado e cômico, de uma situação
ridícula provocada por um homem que, tentando fugir de um
problema, caiu em outro maior ainda. Apesar de sobressair-se o
tom humorístico, há também o reflexivo, uma vez que existe uma
moral subjacente na história.
Uma vela
para Dario
Narração extremamente concisa que expõe a agonia e morte de um
cidadão comum e a falta de compaixão e solidariedade das
pessoas frente a essa situação, considerando-a natural e, mais,
aproveitando-se dela para obter pequenas vantagens. Nesta
história atemporal, podem ser identificados os tons de denúncia (a
desumanidade), de reflexão (a coisificação do homem) e mesmo de
sensibilização (a esperança, simbolizada pelo menino de cor que
acende uma vela ao morto).
Zap
Narrativa ágil, condizente com a rápida e repetida mudança de
canal de televisão executada pelo personagem principal. A
dinamicidade e a descrição das imagens que surgem na TV dá um
tom de humor à narrativa, porém o aparecimento do pai do
telespectador no aparelho, seguido do desfecho insólito da história,
desencadeia no leitor ampla reflexão sobre as relações humanas e
familiares na contemporaneidade, além de outras questões, como o
poder da mídia, a insensibilidade, a racionalidade e a fugacidade
que caracterizam a pós-modernidade.
Negrinha
Por meio do comovente sofrimento da órfã, há uma denúncia dos
maus tratos dispensados aos negros mesmo após o término do
regime escravocrata. Impera, no entanto, o tom irônico de Lobato
na apresentação desta história de crueldade e de abuso de poder.
26
Um
cinturão
Narrativa confessional de um fato breve, porém violento e
traumático, vivido pelo narrador na sua infância. Induz o leitor a
partilhar do medo e da dor que o menino sente, bem como da sua
raiva pela injustiça cometida por seu pai. O tom reflexivo se impõe
quando, a partir dessas reações, o leitor é levado a fazer uma
analogia entre a punição indevida do narrador – e sem direito a
defesa – com a forma como a justiça se pratica na sociedade.
Felicidade
clandestina
Há um tom lírico na forma como a narradora expõe seu fascínio
pelo livro/objeto de desejo, sua paciência e obstinação para obtê-lo
emprestado e sua extrema felicidade ao consegui-lo. Mas muitas
reflexões também são suscitadas acerca de atitudes de crianças
que são condenadas nos adultos: a inveja, o egoísmo, a maldade a
vingança e o preconceito gerado pelos padrões de beleza
estabelecidos pela sociedade.
Conto de
verão nº 2:
Bandeira
Branca
O tom humorístico é uma característica forte do autor deste conto.
E a forma como ele se dá é genial: o leitor é envolvido numa
possível história de amor entre um casal que encontrava-se
somente em bailes de carnaval, desde sua infância. No entanto,
suas expectativas são quebradas no desfecho da história, e o mito
do “amor eterno” é desconstruído: depois de 15 anos, o reencontro
do casal se dá por acaso, num aeroporto, e é constrangedor e
frustrante.
O vitral
Um fato normal – a personagem Matilde deseja tirar um retrato com
seu marido para registrar a uma data especial: 20 anos de
casamento – serve de pano de fundo para esta narrativa intimista
que apresenta um dilema psicológico da esposa: reter, guardar
aquele momento de felicidade. Com lirismo, o narrador seduz o
leitor e promove reflexões existenciais.
A partida
Repleto de lirismo, sensibiliza o leitor com o conflito interno de um
jovem que está prestes a conseguir a liberdade que tanto almeja e,
ao mesmo tempo, angustia-se por toda a madrugada anterior à sua
partida ao prever o sofrimento que consumirá sua avó com seu ato.
Aborda os dilemas da transição da adolescência para a maturidade.
27
A máquina
extraviada
O conto é intrigante por gerar um suspense que não se resolve. O
tom é reflexivo, mas muitos podem julgá-lo também como irônico.
Uma máquina que ninguém sabe de quem é e para que serve, a
qual causa curiosidades inicialmente mas depois integra-se à
paisagem local e à vida das pessoas, metaforicamente critica a
tendência dos seres humanos para a alienação, para a aceitação e
até defesa de certas condições que lhe são impostas.
O arquivo
Aparentemente de tom humorístico, o conto promove uma inversão
na ordem natural dos acontecimentos e dos valores considerados
pela sociedade capitalista, mostrando a ascensão de um
funcionário durante toda sua carreira, mas de forma decrescente.
Seu caráter reflexivo é inegável: o trabalho escraviza e aliena o
homem, transformando-o em objeto.
Guri
Com lirismo e esmero nas descrições, esta narrativa expõe de
forma nua e crua a realidade social de crianças pobres, tão
diferente do universo fantasioso que geralmente se imagina para
essa fase da vida. Remete às condições básicas de cidadania ainda
negadas a uma grande parcela da população, além de práticas
vergonhosas tão presentes em nosso país, como a exclusão social,
o abandono e a exploração,
Os estudantes farão agora um primeiro exercício de análise de seus contos
iniciais. Essa retomada não prevê uma reescrita – isso se dará mais adiante –, mas
é importante que os autores guardem suas anotações – como num diário de bordo –
para valerem-se delas nas próximas etapas do processo de escrita do gênero. O
professor também poderá requerê-las e considerá-las na avaliação do processo.
O rol de questões a serem respondidas é o seguinte:
3ª etapa: voltando o olhar para o próprio conto
28
1. Como você definiu o tema do seu conto? Baseou-se numa história
conhecida ou vivenciada? Ou imaginou um fato que julgou ser curioso,
inusitado, divertido, intrigante?
2. Você definiu o tom de seu conto antes de começar a escrevê-lo?
Pensou antecipadamente nos objetivos que pretendia com ele (fazer
rir, chorar, sensibilizar-se com alguma questão)?
3. Dentre as possibilidades de apresentação de histórias (humorísticas,
trágicas, líricas, de suspense, etc.), qual foi sua opção? O que o(a)
motivou a essa escolha (seu gosto pessoal, sua experiência de leitura,
os modelos analisados em sala de aula)?
4. Depois das atividades realizadas nesta terceira oficina, como você
avalia seu conto? Ele cumpriu com os objetivos pretendidos por você
inicialmente? Ou pode ser melhorado?
5. Que mudanças você faria para melhorar sua produção, se tivesse que
reescrevê-la agora? E quais estratégias utilizaria para isso?
Importante:
Uma roda de conversa para socializar as análises é relevante neste
momento. Ela pode estimular os estudantes a garimparem elementos que
enriquecerão seus textos, além de favorecer a troca de sugestões e unir a turma,
por meio da interação, em torno dos objetivos da SD.
29
Objetivos
Realizar um estudo mais sistematizado da estrutura
composicional do gênero.
Refletir sobre as possibilidades de construção de um conto,
a partir da articulação dos elementos narrativos.
Material
Contos: Nos olhos do intruso, de Rubens Figueiredo; As
mãos de meu filho, de Erico Verissimo; contos abordados
nas oficinas anteriores.
O estudo dos elementos da narrativa feito a partir de definições e
exemplificado com fragmentos de textos literários, além de amplo e complexo, pode
ser pouco produtivo. É importante que os conceitos sejam compreendidos a partir da
identificação da recorrência de tais elementos num corpus representativo do gênero.
Desse modo, os estudantes deverão recorrer aos contos já trabalhados para que
concretizem o aprendizado desse conteúdo, bem como concluam que há uma gama
de possibilidades para o autor formatar cada conto, as quais impedem qualquer
generalização de sua estrutura composicional.
Antes de focalizar cada elemento, porém, os estudantes devem ter uma visão
geral do que vão estudar. Para isso, devem receber uma cópia impressa do quadro
abaixo5, que apresenta os elementos da narrativa de forma esquematizada.
5 O quadro esquemático dos elementos da narrativa foi construído a partir de pesquisa comparativa em três conceituados manuais didáticos para o ensino de literatura, que são os de Abaurre (2008), Cereja (2013) e Rodella (2005).
Oficina 4Uma "radiografia"
dos contos
1ª etapa: apresentação geral dos elementos da narrativa
30
Elemento Conceito Classificação ou subdivisão
Foco
narrativo
Perspectiva a partir da qual a
história será contada. E o
narrador é a voz criada pelo
autor para contá-la.
Quanto ao foco narrativo:
Na primeira pessoa
Na terceira pessoa
Quanto ao narrador:
Narrador-protagonista
Narrador-testemunha
Narrador-onisciente
Narrador-observador
Personagens
Seres ficcionais criados pelo
autor para vivenciar os
acontecimentos narrados.
Devem ser verossímeis, caso
contrário o leitor não
acreditará na história.
Quanto aos papéis:
Protagonista (herói ou
anti-herói)
Antagonista
Secundários
Quanto à caracterização:
Planos (tipo ou caricatura)
Redondos
Enredo
Sequência ou conjunto de
acontecimentos que ocorre
num determinado espaço e
tempo. Resulta da articulação
de todos os outros elementos.
Situação inicial
(introdução)
Conflito
Clímax
Desfecho
Tempo
Compreende o período em
que a narrativa acontece
(podendo ser ele de
segundos, dias, horas,
décadas) e a época (atual,
antiga, futura).
Tempo cronológico (linear
ou não-linear)
Tempo psicológico
(transcorre pela vontade,
memória ou imaginação
do narrador)
Espaço
Lugar onde interagem os
personagens, onde se passa
a ação. Tanto serve de
cenário quanto determina a
vida dos personagens.
Espaço físico (geográfico)
Espaço interior
(psicológico)
Espaço social (ambiente)
31
Os próprios estudantes deverão indicar dois dos doze contos já abordados na
SD para o trabalho de identificação coletiva dos elementos da narrativa. Durante a
identificação de cada um deles, o professor deve expor também outros exemplos.
Além disso, pode solicitar que os estudantes suponham ocorrências diferentes em
cada conto, a fim de que eles compreendam cada item de sua
classificação/subdivisão. O desenvolvimento desse conteúdo em sala de aula
deverá ser registrado por todos em seus cadernos, bem como o registro dos
resultados das análises dos contos, pois servirão de subsídio para futuras análises.
Abaixo, um exemplo de síntese de uma análise coletiva.
Elemento Conto: Zap, de Moacyr Scliar
Foco
narrativo
Quanto ao foco narrativo: na primeira pessoa.
Quanto ao narrador: narrador-protagonista.
Personagens
Quanto aos papéis: o protagonista (herói) é um
adolescente de 13 anos; o antagonista é seu pai, que o
abandonou há anos e agora reaparece num programa de
TV; há somente um personagem secundário, que é a mãe
sofredora do menino.
Quanto à caracterização, os três personagens são planos,
já que são identificados por poucos atributos; em
classificação mais pormenorizada, são tipos: o filho
adolescente viciado em TV, a mãe batalhadora que cria um
filho sozinha e o roqueiro decadente.
Enredo
A situação inicial compreende a declaração do menino de
que passa os dias “zapeando” em frente à TV,
desconsiderando a implicância da mãe, que é uma
sofredora que foi abandonada por seu pai, tendo de criá-lo
sozinha. Como telespectador, ele não se prende a
programa nenhum.
2ª etapa: vamos por partes...
32
Enredo
O conflito é gerado quando o menino reconhece o pai em
um programa local de pouca audiência e a entrevistadora
lhe questiona sobre seu filho.
O clímax se dá quando a apresentadora pergunta ao
roqueiro se seu filho também gosta de rock. Nesse
momento, o menino percebe que seu pai o encara. Porém,
sem saber a resposta, insensivelmente o roqueiro não
responde à apresentadora e começa a dedilhar as cordas
da sua guitarra.
O desfecho se dá pela reação do narrador: ele não se
exaspera, e sim troca de canal; no lugar do antiquado pai
surge “uma bela e sorridente jovem que está – à exceção
do pequeno relógio que usa no pulso – nua,
completamente nua.”
Tempo
O tempo cronológico é predominante, já que a ação se
passa em poucos minutos, entre um “zap” e outro do
adolescente. É importante registrar também que o autor
valeu-se neste conto do recurso do flashback: o narrador
voltou ao passado para explicar a desestruturação de sua
família.
Espaço
Toda a ação se passa na casa do narrador, mais
especificamente no cômodo onde encontra-se a TV. O
ambiente em que a ação se dá é o de uma família
contemporânea, porém desestruturada, pobre e desprovida
de perspectivas, que vive em ritmo veloz e fugaz e
evidencia a alienação frente a um símbolo da
modernidade: a televisão.
Ao final desse trabalho, a turma se dividirá em dez grupos, cada qual
responsável pela análise de um dos dez contos restantes. O tempo de uma aula
será suficiente para essa atividade. A seguir, o esquema com as conclusões de cada
grupo deverá ser exposto para que todos apreciem, discutam, tirem suas dúvidas e
efetuem seu registro no caderno.
33
É inegável a importância do clímax e do desfecho nos contos. Provavelmente,
os estudantes não apresentarão dificuldades na identificação dessas duas partes do
enredo. Isso porque o clímax, ponto culminante do conflito, quase sempre provoca
uma reação sentimental no leitor (surpresa, apreensão, medo, curiosidade),
ampliando sua vontade de chegar rápido à resolução do conflito, ou seja, ao final da
história.
Sendo assim, torna-se produtiva para a aprendizagem a realização de uma
atividade de criação de um clímax e um desfecho para uma história já existente.
Para essa proposta, deve ser utilizado o conto Nos olhos do intruso, de Rubens
Figueiredo. Tal escolha se deve porque, ao apresentar uma história surreal,
intrigante e enigmática, o conto propicia mais possibilidades verossímeis para sua
conclusão.
Dos 21 parágrafos do conto, devem ser suprimidos os sete finais. Os
estudantes devem receber cópia da primeira parte e, após leitura e comentários
breves com finalidade de otimizar a compreensão, dedicar-se à produção de um final
para a história.
Para a socialização das produções, deve-se organizar as cadeiras em círculo,
ou ainda utilizar outro espaço da escola, preferencialmente ao ar livre. Para iniciar o
trabalho, o contexto de produção do conto, bem como dados sobre seu autor, deve
ser exposto. Após as apresentações, professor e colegas de turma devem avaliar o
clímax e o desfecho escrito por cada estudante, apontando se ele está coerente com
o início da história e se mantém o tom e a linguagem utilizados por Rubens
Figueiredo.
3ª etapa: "de carona" em conto alheio
Importante:
Uma votação entre os estudantes pode ser realizada para eleger o melhor
final escrito, e seu autor premiado com um livro de contos. Nesse caso, o final
original só deve ser revelado após a escolha, para evitar que as ideias mais
próximas das do autor sejam mais valorizadas.
34
Além de considerar, no processo avaliativo, todas as atividades já realizadas
pelos estudantes, faz-se necessário também um exercício individual de identificação
dos elementos da narrativa. Para tal, será utilizado As mãos de meu filho, de Erico
Verissimo. Cada estudante receberá do professor uma devolutiva com parecer e
orientações para a recuperação de seu déficit de aprendizagem, se preciso.
Após o exercício avaliativo, o conto deverá ser discutido no coletivo,
eliminando possíveis dúvidas quanto à sua compreensão e ampliando as
possibilidades de interpretação. A vasta e cativante produção literária do gaúcho que
concebeu O tempo e o vento também deve ser apresentada e indicada para futuras
leituras da turma.
Além da genialidade do autor na criação dos personagens e do enredo, esse
conto – que, partindo da narração de um concerto que consagraria o talento do
pianista Gilberto, recupera toda sua história, calcada em dificuldades financeiras e
problemas de relação familiar, evocando sentimentos de frustração, vergonha,
realização e reconhecimento – é rico em elementos simbólicos, cuja importância na
narrativa literária deve ser ressaltada aos estudantes.
4ª etapa: aferição da aprendizagem individual
Importante:
O conto As mãos de meu filho foi adaptado pela Rede Record de Televisão
em 2010, com direção de Adolfo Rosenthal. O telefilme está disponível no site de
compartilhamento de vídeos Youtube e pode ser utilizado como a representação
de “uma leitura” da história, construída com o auxílio de recursos audiovisuais. No
entanto, cabe ressaltar aos estudantes que os sentidos depreendidos e as
sensações provocadas em cada pessoa podem variar muito no contato com cada
forma de apresentação da comovente história de Gilberto, D. Margarida e
Inocêncio. Afinal, são linguagens diferentes (a literária e a cinematográfica).
Desse modo, paralelamente às discussões acerca do enredo do conto, é
importante realizar um levantamento das diferenças entre as linguagens,
enfatizando-se que qualquer adaptação jamais poderá substituir a leitura da obra
original.
35
Objetivos
Identificar a variação linguística presente nos contos.
Compreender a função da reprodução de variantes
linguísticas nos textos literários.
Reconhecer os tipos de discurso empregados pelo autor
para a demarcação das vozes dos personagens na narrativa.
Material
Contos: Contrabandista, de João Simões Lopes Neto;
Gaetaninho, de Alcântara Machado; Sem enfeite nenhum, de
Adélia Prado.
Informações biográficas dos autores dos contos e imagens
ilustrativas do contexto histórico e social representado nas
histórias, para apresentação em projetor ou TV multimídia.
No início da aula, os estudantes devem ter um tempo para a leitura dos três
contos elencados acima. A seguir devem ser convidados a apresentar,
espontaneamente, suas impressões sobre as histórias. Antes, porém, de uma
análise mais aprofundada sobre cada história – e apontamento dos elementos da
narrativa, pois a partir da oficina anterior certamente os estudantes estarão mais
propensos a identificá-los –, é preciso questioná-los se observaram alguma
diferença marcante em cada um, relacionada à linguagem. Espera-se que a
conclusão do grupo, ainda que estimulada pelo professor, seja próxima à
apresentada no quadro abaixo:
Oficina 5Conto: abrigo de
todos os falares
1ª etapa: uma linguagem estranha no conto
36
Contrabandista
Há muitas palavras e expressões que remetem ao modo
de falar e à cultura dos gaúchos, como: fez cancha nos
banhados; conhecia as querências; gaúcho quebralhão,
e despilchado; roncavam cordeonas.
É possível perceber na forma como o narrador expõe os
fatos o ritmo do falar da população nativa do Rio Grande
do Sul, principalmente da região dos Pampas.
Há palavras grafadas de forma diferente da atual, como
cousa em vez de coisa.
Há também registros que não estão de acordo com a
norma padrão da língua, embora sejam usados na fala,
como pra em vez de para, vancê em vez de você,
vésp’ra em vez de véspera.
Gaetaninho
Há a mistura de palavras/expressões italianas no
português, revelando um contexto de imigração.
Exemplos: Subito, palestrino e Ahi, Mari! (expressões
italianas); Êta salame de mestre! (mistura de italiano
com português).
A linguagem é objetiva concisa e popular, a história
parece estar sendo contada oralmente.
Há registros que não estão de acordo com a norma
padrão da língua, como pra e pro.
Sem enfeite
nenhum
Contada em primeira pessoa, imita a narrativa oral, por
isso há abreviações de palavras, inversões e omissões
típicas da fala, porém inaceitáveis na escrita segundo as
normas da gramática normativa, como em: A senhora tá
triste, mãe?; Era a mulher mais difícil a mãe.
O registro dos diálogos da mãe reproduz exatamente
seu modo de falar, com abreviações, omissões das
vogais finais de algumas palavras e uso indevido de
pronomes: relogim; pulseirinha de crom’; vestido de
bolér; cê põe muita força no lápis; que Deus perdoe ela.
37
Com isso, aborda-se o conteúdo da variação linguística, que terá como
fundamentação teórica Savioli & Fiorin (1999). Para esses autores, as línguas
variam de região para região, de grupo social para grupo social, de situação para
situação e de uma época para outra.
Variantes
Diatópicas
Estão relacionadas às diferenças de uma região para outra,
por meio de expressões lexicais próprias. Os contos
Contrabandista e Gaetaninho são bons exemplos disso, pois
apresentam a variante popular gaúcha (muito utilizada por
João Simões Lopes Neto em seus contos) e a variante de
imigrantes italianos que fixaram-se em alguns Bairros de São
Paulo, como Brás, Bexiga e Barra Funda (os quais dão nome,
inclusive, ao livro de contos de Alcântara Machado que é sua
obra mais famosa).
Variantes
diastráticas
Referem-se às mudanças de um grupo social para outro e
podem ser identificadas por jargões ou gírias que identificam
grupos distintos, como a dos roqueiros, dos advogados, dos
surfistas, dos grupos marginalizados etc. Outros fatores de
natureza social que estão relacionados a esta classificação
são a classe social, a idade e o sexo. Como exemplo temos
Zap, de Moacyr Scliar, que traz no título uma gíria
representativa da linguagem dos adolescentes.
Variantes
Diacrônicas
Revelam as diferenças de uma época para outra, por meio de
termos e construções que caíram em desuso ou alteraram-se.
Negrinha, de Monteiro Lobato, e Contrabandista, de João
Simões Lopes Neto, escritos nas primeiras décadas do século
XX, trazem algumas palavras que caíram em desuso e
sofreram alteração ortográfica. Além disso, se compararmos
esses contos com Guri, de Cíntia Moscovich e Conto de
verão n.º 2: Bandeira Branca, de Luis Fernando Veríssimo,
ambos escritos na década de 90 do mesmo século,
perceberemos nítidas diferenças de linguagem, tanto lexicais
quanto sintáticas e semânticas.
38
Variantes
Diafásicas
São variações de uma situação de comunicação para outra,
as quais exigem níveis diferentes de formalidade da
linguagem. Um exemplo disso está na linguagem utilizada
pela narradora de Sem enfeite nenhum, de Adélia Prado, que
é informal, muito próxima da usada na oralidade entre
pessoas íntimas, em ambiente familiar.
Ao final do estudo desse conteúdo, os estudantes devem compreender que o
uso das variantes linguísticas nos textos literários é uma decisão do autor e seu uso
não é aleatório, ele serve para promover determinados efeitos de sentido
intencionais, como, por exemplo, reproduzir fielmente a voz de personagens ou de
narradores-protagonistas ou narradores-testemunhas. Se não houver um objetivo
específico, as subversões à língua configuram-se como inadequações e
desqualificam o texto.
Para aproveitar a discussão sobre a inserção das vozes dos personagens no
texto, optou-se por abordar somente agora – e não no momento do estudo dos
elementos da narrativa – os tipos de discurso possíveis num texto literário.
2ª etapa: Vozes marcadas e vozes mostradas no texto
Importante:
Durante o processo de compreensão dos contos abordados nesta oficina,
os dados biográficos seus autores, bem como as imagens que contextualizam
sua vida, obra e estilo individual, têm a função e auxiliar na compreensão do uso
das variantes linguísticas em seus textos.
Há também vídeos disponibilizados no site de compartilhamento Youtube
que podem facilitar a compreensão dos estudantes sobre os tipos de variação
linguística, por apresentarem uma grande variedade de exemplos.
39
Os estudantes devem, a partir dos conceitos abaixo – também extraídos de
Savioli & Fiorin (1999) – e de alguns exemplos, identificar nos contos estudados as
vozes mostradas e demarcadas – por meio do uso dos discursos direto e indireto – e
as vozes mostradas e não demarcadas – pela utilização do discurso indireto livre.
Discurso
Direto
Modo de citação do discurso alheio em que o narrador indica
a fala do outro e, em seguida, reproduz literalmente sua fala.
Para isso, pode valer-se ou não de verbos do dizer (disse,
falou, respondeu, etc.), antes ou depois da fala. A exposição
pode se dar em nova linha, com o uso de travessão, ou na
continuidade do discurso do narrador, usando-se, via de
regra, aspas ou a formatação em itálico. Exemplos:
“Ao acordar, disse para a mulher: - Escuta, minha filha: hoje é dia de pagar a prestação da
televisão, vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum.
- Explique isso ao homem – ponderou a mulher.” (Fernando Sabino, O homem nu)
“Encontraram-se de novo 15 anos depois. Aliás, neste
carnaval. Por acaso, num aeroporto. Ela desembarcando, a caminho do interior, para visitar a mãe. Ele embarcando para encontrar os filhos no Rio. Ela disse “quase não reconheci você sem fantasias”. Ele custou a reconhecê-la.”
(Luis Fernando Verissimo, Conto de Verão nº 2: Bandeira Branca)
Discurso
Indireto
O narrador não dá a palavra ao personagem, mas comunica,
com suas palavras, o que ele disse. Exemplos:
“(...) O senhor gordo repete que Dario sentou-se na
calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado.
A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina.”
(Dalton Trevisan, Uma vela pra Dario) “No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo.”
(Clarice Lispector, Felicidade clandestina)
40
Discurso
Indireto
Livre
Mistura os procedimentos dos discursos direto e indireto,
fazendo com que a voz do personagem se mescle à do
narrador. Assim, os pensamentos do personagem vão
surgindo, mas não são relatados pelo narrador nem falados
pelos personagens. Exemplos:
“A afirmativa podia ser uma censura, mas foi como um
descobrimento que Matilde a aceitou. Seu coração bateu forte, ela sentiu-se capaz de rir muito, de extensas caminhadas, e lamentou que o marido, circunspecto, mudo, estivesse alheio à sua exultação. Guardaria, assim, através dos anos, uma alegria solitária, da qual Antônio estaria ausente.
Mas quem poderia assegurar, refletiu, que ele era, não um participante de seu júbilo, mas a causa mesmo de tudo o que naquele instante sentia: e que, sem ele, o mundo e suas belezas não teriam sentido?”
(Osman Lins, O vitral)
“Na sombra do camarote, Inocêncio sente que ele não
pode, não deve participar daquela glória. Foi um mau marido. Um péssimo pai. Viveu na vagabundagem, enquanto a mulher se matava no trabalho. Ah! Mas como ele queria bem o rapaz, como ele respeitava a mulher! Às vezes, quando voltava para a casa, via o filho dormindo. Tinha um ar tão confiado, tão tranquilo, tão puro, que lhe vinha a vontade de chorar. Jurava que nunca mais tornaria a beber, prometia a si mesmo emendar-se.”
(Erico Verissimo, As mãos de meu filho)
Também é essencial que verifiquem a coexistência, num mesmo conto – e às
vezes num mesmo parágrafo – de dois ou mesmo dos três tipos de discurso. Por
fim, devem indicar suas opiniões acerca dos objetivos pretendidos pelo autor em
cada narrativa que definem sua escolha pelo tipo do discurso a ser utilizado.
41
Objetivos
Identificar a linguagem figurada em contos literários e
compreender sua função.
Elaborar pesquisa acerca da classificação das figuras de
linguagem.
Material
Contos abordados nas oficinas anteriores.
Fontes de pesquisa sobre o conteúdo “figuras de linguagem”,
como gramáticas e livros didáticos.
Na segunda oficina desta SD, os estudantes já refletiram um pouco sobre as
estratégias dos autores na apresentação do conteúdo temático dos contos. Agora,
propõe-se um estudo mais aprofundado de um elemento do estilo primordial do
gênero: a utilização da linguagem figurada.
Deve-se propor, primeiramente, que os estudantes expliquem oralmente o
sentido das palavras e expressões destacadas nos fragmentos abaixo, no contexto
de cada narrativa. Para isso, eles devem estar de posse dos contos já estudados.
1. “(...) voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas
mãos nervosas o embrulho de pão.” (O homem nu, parágrafo 10, linhas
2 e 3).
2. “Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada
dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no
céu.” (Negrinha, parágrafo 3, linhas 1 e 2).
Oficina 6Recursos expressivos
para a literariedade
1ª etapa: reconhecimento da linguagem figurada
42
3. “(...) e o seu duro coração afinal bambeou. E pela primeira vez na vida
foi mulher. Apiedou-se.” (Negrinha, parágrafo 65, linhas 2 e 3)
4. “Onde estava o cinturão? A pergunta repisada ficou-me na lembrança:
parece que foi pregada a martelo.” (Um cinturão, parágrafo 10, linhas 1
e 2)
5. “Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos
achatadas.” (Felicidade clandestina, parágrafo 1, linhas 2 e 3)
6. “Como alguém que vomitara a alma e nunca a teria de volta.” (Conto
de verão nº 2: Bandeira Branca, parágrafo 21, linha 2)
7. “Ela apertou o braço do marido e sorriu, a sentir que um júbilo quase
angustioso jorrava de seu íntimo.” (O vitral, parágrafo 27, linhas 1 e 2)
8. “A tosse passou, emudeceram as molas; ficaram só os grilos e os
relógios.” (A partida, parágrafo 11, linhas 4 e 5)
9. “(...) desejava algo para apagar o fogo que arranhava o corpo por
dentro.” (Guri, parágrafo 4, linha 16 e 17)
10. “Talvez fosse a dança de tantos rostos a meu redor...” (Nos olhos do
intruso, parágrafo 3, linhas 3 e 4)
11. “A luz circular do refletor envolve o pianista e o piano, que neste
instante formam um só corpo, um monstro todo feito de nervos
sonoros.” (As mãos de meu filho, parágrafo 1, linhas 4 a 6)
12. “Se numa mesa de primeira ganhava uma ponchada de balastracas,
reunia a gurizada da casa, fazia – pi! pi! pi! pi! – como pra galinhas e
semeava as moedas, rindo-se do formigueiro que a miuçalha formava,
catando as pratas no terreiro.” (Contrabandista, parágrafo 6)
Ao final desse exercício, é preciso que compreendam que o texto literário
desencadeia mais de um plano de leitura, e que em cada plano de análise, as
figuras podem desencadear outra interpretação. Nele podem aparecer figuras de
linguagem (ou de estilo) que remetem a algo presente no mundo natural, porém são
utilizadas como recursos para dar expressividade ao discurso, conferindo-lhe mais
força, intensidade, beleza. Também é necessário que concluam que há construções
figurativas que causam estranheza, dada a combinação de figuras diferentes e
improváveis, e que isso trata-se também de uma estratégia do autor para chamar a
atenção do leitor.
43
O estudo da classificação das figuras de linguagem deve se dar por meio de
pesquisa, em sala de aula ou na biblioteca da escola, a partir de materiais
disponíveis no estabelecimento, como gramáticas normativas e livros didáticos do
Ensino Médio. Caso seja possível utilizar o laboratório de informática, pode-se
propor uma busca em sites educacionais conceituados da internet. Ao final da
pesquisa, supervisionada pelo professor, os estudantes devem ter o registro da
definição de comparação, metáfora, ironia, metonímia, personificação ou
prosopopeia, antítese, sinestesia, hipérbole, catacrese e eufemismo, bem como de
alguns exemplos. Tais registros devem subsidiar a resolução de um desafio que
será proposto a seguir: encontrar nos contos já lidos e analisados as figuras de
linguagem indicadas abaixo:
Figura de
linguagem / conto
Resposta
Três ironias em
Negrinha
“A excelente dona Inácia era mestra na arte de
judiar de crianças.” (Parágrafo 18, linha 1)
““Qualquer coisinha”: uma mucama assada no forno
porque se engraçou dela o senhor.” (Parágrafo 18,
linha 5)
“Certo dezembro vieram passar as férias com Santa
Inácia duas sobrinhas suas.” (Parágrafo 41, linha 1)
Uma metáfora em
Negrinha
“(...) duas sobrinhas suas, nascidas e criadas em
ninho de plumas.” (Parágrafo 41, linhas 2 e 3)
Uma metonímia em
Negrinha
“O 13 de Maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas
não lhe tirou da alma a gana.” (Parágrafo 19, linha
1)
Uma sinestesia em
Negrinha
“O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do
mundo – estas palavras, as primeiras que ela ouviu,
doces, na vida.” (Parágrafo 67, linhas 1 e 2)
2ª etapa: classificação das figuras de linguagem
44
Figura de
linguagem / conto
Resposta
Uma metáfora em
Um cinturão
“(...) meu pai acordando, levantando-se de mau
humor, batendo com os chinelos no chão, a cara
enferrujada.” (Parágrafo 3, linhas 3 e 4)
Duas metáforas em
Felicidade
clandestina
“Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha
delicada.” (Parágrafo 14, linha 8)
“Não era mais uma menina com seu livro: era uma
mulher com seu amante.” (Parágrafo 16, linhas 1 e
2)
Uma comparação em
A máquina extraviada
“Duas vezes por semana ele aplica caol nas partes
de metal dourado, esfrega, sua, descansa, esfrega
de novo – e a máquina fica faiscando como joia.”
“(Parágrafo 8, linhas 5 a 7)
Uma metonímia em
Nos olhos do intruso
Vi as pessoas entrando e saindo pelas portarias
dos prédios, contemplava a fila de cabeças voltadas
para mim.” (Parágrafo 12, linhas 3 e 4)
Uma sinestesia em
Nos olhos do intruso
“Uma música de órgão descia gelada das
paredes...” (Parágrafo 14, linha 3)
Uma personificação
em Nos olhos do
intruso
“Forcei minhas pernas a caminhar e vi a calçada
fugindo para trás sob meus passos.” (Parágrafo 21,
linhas 1 e 2)
Uma hipérbole em
Guri
“Agora, o guri sentia na boca uma corrente salgada,
um mar de ardimento e secura, o risco do fósforo
perpetuando-se na garganta.” (Parágrafo 4, linhas
17 a 19)
Duas personificações
em As mãos de meu
filho
“O pianista sofre com Beethoven, o piano
estremece, a luz mesma que os envolve parece
participar daquela mágoa profunda.” (Parágrafo 5,
linhas 1 e 2)
“De súbito os sons do piano morrem.” (Parágrafo
16, linha 1)
45
Figura de
linguagem / conto
Resposta
Uma hipérbole em As
mãos de meu filho
“Mas, de repente, as águas represadas rompem
todas as barreiras, levam por diante a cortina
vaporosa e ilusória, e num estrondo se espraiam
numa melodia agitada de desespero.” (Parágrafo 6,
linhas 8 a 10)
Uma catacrese em
As mãos de meu filho
“D. Margarida olha com o rabo dos olhos para o
marido.” (Parágrafo 13, linha 1)
Duas metonímias em
As mãos de meu filho
“Era por isso que a Singer funcionava dia e noite.”
(Parágrafo 22, linha 5)
“No terceiro, bebeu o dinheiro da única conta que
conseguiu cobrar.” (Parágrafo 27, linhas 3 e 4)
Um eufemismo em
Gaetaninho
“- Sabe o Gaetaninho?
- Que é que tem?
- Amassou o bonde!” (Parágrafos 32 a 34)
Uma metáfora em
Sem enfeite nenhum
“Quando comecei a empinar as blusas com o
estufadinho dos peitos, o pai chegou para almoçar,
estudando terreno.” (Parágrafo 3, linhas 1e 2)
Durante a correção coletiva do exercício, é fundamental questionar os
estudantes sobre os efeitos provocados pela utilização das figuras de linguagem nos
textos. Também é pertinente que reflitam sobre os sentidos do texto e efeitos nos
leitores que seriam promovidos caso o autor não optasse pelo uso desse recurso
expressivo, mas sim apresentasse suas ideias usando a literalidade.
Devem ser alertados, por fim, que em breve reescreverão seu conto e que,
para tanto, já vão pensando na pertinência do uso de algumas dessas figuras em
suas histórias.
46
Objetivos
Identificar a presença da descrição em contos.
Compreender a função do uso (ou não) do recurso descritivo
para a produção de efeitos de sentido nos textos literários.
Material
Contos: As cores, de Orígenes Lessa; Gato gato gato, de
Otto Lara Resende.
Informações biográficas e imagens dos autores dos contos,
para apresentação em projetor ou TV multimídia.
Os estudantes devem receber o conto As cores, de Orígenes Lessa, para
leitura inicial. A seguir, promove-se uma conversa acerca das impressões dos
leitores. O professor apresenta então informações sobre o autor e questionamentos
que visem ampliar a compreensão e interpretação da história. Certamente, o conto
suscitará uma ampla discussão sobre dois temas de grande importância para a
sociedade atual: o tratamento dispensado aos portadores de deficiência visual e o
preconceito racial.
A seguir, introduz-se o conteúdo objetivado nesta oficina, a partir das
seguintes provocações:
1. Maria Alice, protagonista da história, é desprovida da visão. Como ela
constrói o conceito e a imagem mental das pessoas, dos objetos e das
cores?
2. E como nós construímos a imagem mental das personagens, dos
cenários e do ambiente presentes em cada conto que lemos?
Oficina 7O uso (ou não) do
recurso descritivo
1ª etapa: a criação do "mundo" do conto
47
3. Citem algumas passagens do conto que dão subsídios para que
construamos o cenário em que vive Maria Alice, como, por exemplo,
em “(...) casa grande de vários quartos e salas onde se movia
livremente (...) casa cheia de ecos de um mundo não seu”. (Parágrafo
1, linhas 5 a 7).
4. Agora citem passagens em que o autor descreve as associações que
Maria Alice estabelece, valendo-se dos outros sentidos que possui,
para compreender o significado de algumas coisas, como o das cores
no trecho “O branco era como barulho de água em torneira aberta. Cor-
de-rosa se confundia com valsa. Verde, aprendera a identificá-lo com
cheiro de árvore. Cinza, com maciez de veludo. Azul, com serenidade.
Diziam que o céu era azul.” (Parágrafo 22, linhas 4 a 7).
Tal exercício objetiva que os estudantes identifiquem sequências descritivas
no gênero e compreendam sua importância na construção de uma narrativa. Depois
dele, é importante que os estudantes registrem um conceito de descrição, como o
apresentado abaixo:
Descrição
Para os Professores Savioli e Fiorin (1999), descrição é o tipo de texto em
que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma
situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo. Ele não relata,
como no texto narrativo, as transformações de estado que vão ocorrendo
progressivamente com pessoas ou coisas, mas as propriedades ou aspectos
desses elementos num certo estado, considerado como se estivesse parado no
tempo. Assim, não há relação de anterioridade ou posteridade entre seus
enunciados.
A descrição não é um gênero discursivo; numa situação comunicativa, ela
não se dá desprovida de um contexto. Trata-se, pois, de um recurso a ser utilizado
em diferentes textos, principalmente nos da ordem do narrar, como romances,
contos, crônicas e lendas. Mas a descrição nas narrativas, ao transmitir ao leitor
imagens criadas por um autor, nem sempre é imparcial, objetiva. Sendo a
representação daquilo que é percebido por alguém por meio de seus sentidos, ela
não está isenta de juízos de valor.
48
É indispensável que se conclua, rememorando os contos já lidos, que a
descrição é utilizada em maior ou menor grau, ou ainda nem utilizada, dependendo
do estilo de cada autor. Dalton Trevisan, Victor Giudice e Alcântara Machado, por
exemplo, não caracterizam seus personagens, nem física nem psicologicamente, em
Uma vela para Dario, O arquivo e Gaetaninho, respectivamente; fica a cargo do
leitor construir uma imagem mental de seus personagens. Já Monteiro Lobato,
Clarice Lispector e Erico Verissimo, nos seus respectivos contos Negrinha,
Felicidade clandestina e As mãos de meu filho, utilizam-se bastante de sequências
descritivas na caracterização de seus personagens.
Neste momento os estudantes receberão para leitura Gato gato gato, conto
de Otto Lara Resende. Primeiramente deve-se deixá-los livres para absorverem a
história e demonstrarem suas impressões. É bem provável que alguns apontem que
a narrativa é lenta, com poucas ações e muitas descrições, além de conter repetição
“excessiva” de alguns termos e construções sintáticas diferentes das que estão
acostumados.
Para a segunda leitura, a orientação será para que observem principalmente
as descrições e avaliem seu uso, bem como das repetições e do jogo textual que
revela um estilo de escrita incomum nesse autor. Isso para que concluam sobre os
objetivos do escritor com esse texto, sobre quais efeitos ele intentou produzir.
Ao final da discussão, que deve contemplar a compreensão e interpretação
do texto – a abordagem da perversidade de uma criança precisa ser entendida,
também, como uma forma de subversão literária à lógica das histórias infantis – e o
contato com informações sobre o autor e sua obra, os estudantes precisam ter
chegado, com a colaboração do professor, às seguintes conclusões:
1. A exagerada adjetivação privilegia no conto as emoções dos
personagens em detrimento dos fatos narrados.
2. O jogo textual e os recursos poéticos (linguagem figurada) utilizados
promovem no leitor a criação de imagens sensoriais intrigantes.
2ª etapa: Para não cair no enfado
49
3. A repetição neste caso é um recurso da linguagem ficcional
sabiamente utilizado pelo autor, causando no leitor uma sensação de
transe, de hipnose no transcorrer da narrativa.
Importante:
Cabe, no estudo da descrição em textos literários, relacionar esse recurso
com o da linguagem figurada, aprofundado na oficina anterior. A partir da análise
de fragmentos como os apresentados abaixo, os estudantes podem exercitar a
produção de sequências descritivas valendo-se das figuras de linguagem.
“Luminoso sol a pino e o imenso céu azul, calado, sobre o quintal.”
(Parágrafo 2, linha 1)
“As orelhas acústicas. O rabo desmanchado, mas alerta como um leme.
O pequeno focinho úmido embutido na cara séria e grave. A tona dos
olhos reverberando como laguinhos ao sol.” (Parágrafo 6, linhas2 a 5)
“Na imensa prisão do céu azul, flutuam distantes as manchas pretas dos
urubus. O bailado das asas soltas ao sabor dos ventos das alturas.”
(Parágrafo 15, linhas 4 e 5)
50
Objetivo
Produzir coletivamente um conto, contemplando todos os
seus elementos composicionais (formais e estilísticos).
Material Computador portátil e projetor multimídia.
Produzir um texto coletivamente pode tornar-se uma atividade conflituosa e
frustrante, por isso é necessário que todos sejam alertados de que o exercício
objetiva a reflexão acerca dos elementos que compõem um conto e lhe conferem
literariedade. Uma espécie de revisão de todos os pormenores do gênero estudados
até agora, por meio de sua aplicação na prática da escrita.
Devido à extensão do texto, não é possível que a produção seja registrada na
lousa. Será necessário um microcomputador, no qual alguns estudantes podem
revezar-se para a digitação do texto, e um projetor multimídia, que proporcione a
visualização do texto por toda a turma, pois é essencial que todos acompanhem o
progresso da construção - as inserções, as alterações – e assim possam contribuir
de forma mais ativa.
De forma democrática, os estudantes primeiramente elaborarão um
“esqueleto” do conto, definindo seus elementos fundamentais, dos quais dependerão
as escolhas linguísticas posteriores. A ordem para a montagem desse esquema será
a seguinte:
Oficina 8Uma produção a
muitas mãos
1ª etapa: a arte da negociação
51
1. Que tom terá a história narrada? Humorístico, reflexivo (de exposição
de alguma ideia), lírico (emocional), de ação/aventura, trágico, de
drama psicológico?
2. Qual será seu enredo? Basicamente, como será a apresentação inicial,
qual será o conflito, o clímax e o desfecho da história?
3. Quem serão os personagens (protagonista(s), antagonista(s) e
secundários)? Como se chamarão? O protagonista será herói ou anti-
herói?
4. Qual o perfil dos personagens, tanto físico quanto emocional? Obs.:
Mesmo que no conto tais informações não apareçam, é importante que
os escritores caracterizem os personagens, pois isso auxiliará na
garantia da verossimilhança da história.
5. Em que tempo (atual, passado, futuro) a história se passará? Haverá a
demarcação de um tempo específico?
6. Em que espaço(s) a história se passará? Será um local real ou
imaginado? Como se compõem o(s) cenário(s) em que as ações
acontecerão?
7. Qual será o foco narrativo? Que tipo de narrador contará a história?
8. As vozes dos personagens serão reproduzidas? Se sim, utilizando
qual/quais tipo(s) de discurso?
Os estudantes, dispostos num círculo e sensibilizados para que respeitem os
turnos de fala, iniciarão a escritura do conto. Primeiramente, será elaborado no
mínimo um parágrafo para cada parte componente do enredo, de forma concisa. A
partir daí, será preciso ouvir as sugestões de todos e optar, democraticamente,
pelas melhores opções. Aos poucos, é preciso também lançar desafios para que
valham-se da linguagem figurada, utilizando as figuras de linguagem na descrição
das ações, dos personagens, cenários e ambientes. Se for propício, também podem
inserir alguma variante linguística no discurso direto de algum personagem ou
mesmo na voz do narrador, caso tratar-se de um narrador-protagonista.
2ª etapa: mãos na massa!
52
Num primeiro momento, é natural que algumas inserções no texto o tornem
contraditório e/ou redundante, inconsistente ou sem fluência. Os problemas ligados
ao estilo do texto, relacionados a aspectos discursivos (gerenciamento das vozes,
tipos de discurso), textuais (coesão, coerência, organização do texto) e linguísticos
(escolha do registro, escolha da variante linguística adequada, convenções da
escrita) devem ser mantidos a princípio, compondo um corpus que servirá para
prática posterior da análise linguística.
Terminada a “parte bruta”, com todo o desenrolar da história apresentado,
será a hora de definir o título do conto e partir para os “acabamentos”, trabalho esse
que será dividido em duas frentes de trabalho:
Na primeira, serão tomados os problemas linguísticos, textuais e
discursivos relacionados à dimensão do estilo do gênero. O professor
focalizará um problema detectado no conto de cada vez (seja ele de
ortografia, pontuação, concordância, regência, uso de conectores,
colocação pronominal, referenciação, organização espacial etc.),
identificando-o em todas as suas ocorrências e fazendo com que a turma
promova a correção.
Na segunda, serão focalizados os recursos linguísticos próprios da prosa
literária presentes (ou ausentes) no texto, e avaliados quanto à sua
pertinência e contribuição na produção dos efeitos estéticos pretendidos.
Importante:
No processo de produção coletiva, serão utilizados exemplos de
construções linguísticas sintáticas e estilísticas colhidas dos contos abordados
nas oficinas anteriores, bem como serão retomados exemplos de uso dos
elementos da narrativa, dos tipos de discurso, do recurso descritivo, das figuras
de linguagem e da variação linguística.
Finalizado, o conto ficará reservado para divulgação no evento de
apresentação dos resultados alcançados no projeto, ao final da SD.
53
Objetivo Reescrever ou recriar o conto inicial.
Material
Produção inicial dos estudantes; materiais de apoio à
reescrita para consulta, como gramáticas normativas e
dicionários.
Os estudantes serão estimulados a refletir agora sobre toda a trajetória
percorrida na SD: os contos lidos e analisados; as diversas abordagens de temas e
de tons que apresentaram; os estilos dos autores; os recursos linguísticos que
conferiram a cada texto o papel de exemplar único e admirável do gênero.
A partir dessas reflexões, cada um volverá seu olhar para seu texto inicial,
esboçado quando tinham ainda menor experiência de leitura do gênero, e farão uma
avaliação de sua produção. E, a partir dela, planejarão a reescrita de seu texto,
definindo alterações, supressões e acréscimos que se fizerem prementes.
Uma possibilidade específica desta SD que aborda um gênero literário em
prosa, a qual poderá ocorrer e deverá ser respeitada neste trabalho, é o desejo do
estudante de alterar o tema e/ou tom de seu conto. Tal mudança é passível de ser
suscitada naqueles que não conheciam minimamente o gênero, ou naqueles que
tenham sido influenciados pelos temas e estilos dos autores dos contos trabalhados
em sala de aula.
Para a definição das alterações a serem promovidas no texto, cada estudante
poderá apoiar-se no roteiro de questões apresentado abaixo.
Oficina 9A retomada da
produção inicial
1ª etapa: um novo olhar sobre seu texto
54
O título de seu conto é interessante, incomum, instigante ao leitor? Ele
está relacionado a algo representativo da história que narra?
Você acredita que seu texto possui literariedade, que ele ultrapassa a
simples exposição de fatos?
Você considera que sua narrativa promoverá algum efeito emotivo nos
leitores (riso, comoção, compaixão, indignação, surpresa etc.)?
Você identifica no texto um trabalho mais apurado de composição, um
exercício autoral de escolhas lexicais e sintáticas, de arranjos da
linguagem que tornam o texto esteticamente mais belo, mais
expressivo?
Seu texto possui a estrutura de um conto? Ele contém os elementos
próprios de uma narrativa? Ele fornece ao leitor as informações
necessárias para a produção dos efeitos de sentidos que você
pretendeu para ele?
Quanto à linguagem utilizada, há coerência no uso que você fez dela
para revelar ou respeitar seu estilo individual?
Tais questionamentos incidem sobre as condições de produção do gênero, a
adequação à sua estrutura composicional, ao seu conteúdo temático e a aspectos
discursivos e textuais do texto. Isso porque considera-se que é importante que a
reescrita se detenha no conteúdo e no formato do conto. Já os aspectos linguísticos
do estilo serão explorados posteriormente, em atividades de reestruturação e
revisão textual.
Identificadas as necessidades de mudanças nos textos, os estudantes devem
exercitar a reescrita. É essencial que boa parte desse trabalho seja realizado em
sala de aula mesmo, para que possam valer-se do apoio do professor. Trata-se esse
de um momento propício para uma avaliação complementar da aprendizagem
adquirida, bem como para a identificação dos eventuais problemas individuais e
coletivos, os quais deverão ser retomados na sequência da SD.
2ª etapa: o solitário exercício autoral
55
Objetivos
Refletir sobre aspectos linguísticos por meio da observação
e análise da linguagem utilizada nos textos produzidos.
Promover nos contos adequações morfológicas, sintáticas,
semânticas e estilísticas em função dos efeitos discursivos
pretendidos.
Material
Produção inicial dos estudantes; materiais de apoio à
reestruturação para consulta, como gramáticas normativas e
dicionários.
Microcomputador com projetor multimídia.
Após o trabalho de reescrita, o professor deverá analisar os textos sob duas
óticas: na primeira ele avaliará a adequação do texto ao gênero, sua qualidade
enquanto narrativa e seu nível de aproximação à esfera literária, para elaborar uma
devolutiva individual com sugestões de aprimoramentos; na segunda, fará um
levantamento das maiores ocorrências de inadequações quanto ao registro
linguístico e à organização textual, as quais serão matéria para a prática coletiva da
análise linguística. Essa prática será o foco desta oficina.
Com a autorização dos autores, serão projetadas na parede no mínimo duas
e no máximo quatro produções, na forma digitalizada, porém mantendo-se fidelidade
ao texto manuscrito. Os estudantes precisam estar cientes de que não se tratam de
“melhores” ou “piores” textos, mas sim de uma amostra representativa que os farão
refletir sobre determinados usos da língua e estudar mais sistematicamente alguns
Oficina 10A reestruturação
dos textos
1ª etapa: análise coletiva das "ocorrências linguísticas"
56
tópicos gramaticais que ampliarão seus conhecimentos linguísticos e auxiliarão na
melhoria de suas produções. O objetivo maior será o de que, a partir de exemplos
de usos devidos e indevidos, cada autor verifique em seu texto a ocorrência ou não
daquele fato linguístico e assimile a forma adequada de representá-lo.
Na análise dos textos, todas as inadequações serão discutidas. Além disso,
construções mais apropriadas (à língua e ao gênero) devem ser apontadas e, se for
de interesse do autor, podem ser acatadas. Caberá a um voluntário, posicionado
frente ao microcomputador, utilizar de recursos do editor de texto (tachar, sublinhar,
negritar, alterar a cor etc.), convencionados pelo grupo, para destacar os problemas
encontrados (desvios da norma relacionados ao plano gramatical e ao plano
gráfico), bem como as alterações realizadas. Assim, ao final do processo será
possível perceber todas as alterações efetuadas que atribuíram ao texto coerência,
coesão e adequação à modalidade escrita formal. Na comparação entre as duas
versões, espera-se que os estudantes confirmem a importância da reestruturação
dos textos.
Todas as questões linguísticas presentes nos textos – não somente naqueles
tomados para análise coletiva, mas em todos os produzidos pela turma – que
requererem comentários ou exigirem alterações precisam ser abordadas, porém
algumas delas serão mais exploradas, a partir de um estudo sistematizado a partir
dos pressupostos da gramática normativa e da gramática de usos do português. A
definição dos conteúdos relacionados à estrutura da língua que deverão ser mais
aprofundados se dará por meio do levantamento realizado pelo professor nas
análises dos contos iniciais e dos contos reescritos pela turma.
Cabe salientar que a gramática normativa, a gramática de usos do
português e os manuais didáticos serão abordados na sala de aula como materiais
de consulta. A abordagem de tópicos gramaticais se dará de forma contextualizada,
partindo de exemplos retirados das produções dos estudantes. Essa prática é mais
condizente com a concepção interacionista da linguagem, pois substitui o enfoque
no trabalho que prioriza a metalinguagem pelo trabalho produtivo de correção e
autocorreção de textos produzidos na escola.
Nesta SD, atendendo também à necessidade de contemplar alguns
conteúdos definidos na Proposta Pedagógica Curricular do estabelecimento para o
qual o projeto foi concebido, pretende-se focalizar principalmente os conteúdos do
quadro abaixo (em maior ou menor grau, dependendo da avaliação das produções).
57
Conteúdo Encaminhamentos metodológicos
Acentuação
gráfica
Valendo-se de consultas a gramáticas normativas e ao
livro didático utilizado pela turma, os estudantes deverão
encontrar nas regras gerais de acentuação gráfica a
explicação para os usos indevidos encontrados em seus
textos.
Pontuação Após o término da reestruturação coletiva, na qual
certamente serão verificadas ocorrências de mau uso da
pontuação, deverá ser realizada uma retomada conceitual
de todos os sinais de pontuação com apresentação de
exemplos colhidos dos demais contos da turma. Além
disso, devem ser apresentadas situações em que a
pontuação indevida pode alterar o sentido do texto.
Paragrafação Amparados na experiência de leitura de narrativas
adquirida nos contos literários trabalhados anteriormente,
os estudantes deverão ser levados pelo professor a refletir
sobre a organização espacial que deram aos seus textos e
conferir se estabeleceram um padrão para apresentar as
vozes das personagens, efetuando a seguir as devidas
adequações, se necessário.
Ortografia
como
convenção
Para o trabalho com este conteúdo, pretende-se que os
estudantes tomem ciência de que a norma ortográfica do
português não pode ser aprendida por meio de exercícios
tradicionais, mas sim que há nessa norma regularidades
que precisam ser compreendidas e irregularidades que
precisam ser memorizadas. Além disso, devem ser
estimulados à consulta ao dicionário e à leitura frequente,
pois o contato com a língua escrita é o melhor meio de
apreensão da ortografia. Os desvios ortográficos
encontrados em todas as produções deverão ser expostos
para análise, a fim de que todos reflitam sobre eles e
assimilem a forma adequada de seu registro.
58
Conteúdo Encaminhamentos metodológicos
Variedades
linguísticas
Este conteúdo já foi amplamente trabalhado na oficina 5.
Agora, o trabalho será o de conferir se a inserção de
variantes nos contos produzidos é intencional ou
equivocada. Também devem ser identificadas e
suprimidas as marcas da oralidade na escrita.
Ambiguidade Os casos de ambiguidade encontrados nos textos devem
ser trazidos para que a turma identifique sua causa –
colocação inadequada de palavras, uso indevido de
pronomes possessivos, uso de forma indistinta entre o
pronome relativo e a conjunção integrante ou uso indevido
de formas nominais – e sugira novo arranjo textual que os
eliminem.
Elementos de
coesão
A partir de exemplos de ocorrências em suas produções, o
grupo deve elaborar coletivamente – valendo-se de
pesquisas em gramáticas e sites educacionais – uma
relação de conectivos que possam ser utilizados para
exprimir determinadas ideias e relações entre elementos
textuais, como condição, adição, tempo, dúvida, certeza,
finalidade, surpresa, causa e consequência, oposição,
restrição e conclusão. De posse dessa lista, podem
promover algumas substituições em seus textos, caso
julguem que sejam pertinentes, inclusive para evitar
repetições de conectores.
Referenciação A partir de exemplos dos contos consagrados, os
elementos anafóricos e catafóricos e sua importância para
a organização textual devem ser estudados. A partir daí,
será necessário que se tragam para análise construções
dos contos do grupo que apresentem repetições e
prolixidades que causam danos à unidade e fluência do
texto, e que sejam propostas e testadas formas de
referenciação que os tornem mais claros.
59
A partir da ampla análise linguística promovida no desenvolvimento desses
conteúdos linguísticos, deve-se propor agora aos estudantes que, individualmente,
apliquem seus novos conhecimentos na organização de seus textos. É salutar que
eles entendam que se na oficina 9 foram orientados a lançar um olhar mais criterioso
sobre o conteúdo da sua narrativa, agora devem dirigir ao texto um olhar mais
técnico para seu formato de apresentação e sua adequação às normas
convencionadas para a escrita.
2ª etapa: um olhar mais técnico sobre seu texto
60
Objetivo Aprimorar os contos produzidos, por meio de um quadro de
avaliação para o gênero.
Material
Produção final dos estudantes; cópias do quadro de
avaliação para o gênero; materiais de apoio à revisão, como
gramáticas normativas e dicionários.
Neste momento os estudantes devem receber uma devolutiva do professor
contendo sua avaliação acerca dos progressos alcançados entre o texto inicial e a
reescrita, com comentários valorizando seus avanços e enfatizando os aspectos
apreendidos no percurso da SD e ainda algumas sugestões referentes ao conteúdo
temático do texto, à organização sequencial da apresentação das ações, ao arranjo
dos elementos da narrativa no conto e ao uso dos recursos literários. Com esse
parecer de um leitor mais experiente, os estudantes devem ter um tempo para
refletir sobre sua produção e realizar as alterações que julgarem necessárias.
Apesar de aparentar que esta prática será repetitiva, é essencial que os
estudantes realizem também uma avaliação final de seus textos a partir de um
Oficina 11O contínuo
aprimoramento
1ª etapa: algumas dicas de um leitor mais experiente
2ª etapa: hora do checklist
61
quadro de avaliação do gênero. Tal prática os fará recapitular os conteúdos
abordados no processo da SD e consolidar seu aprendizado. Antes, porém, será
produtivo que cada estudante avalie o conto de um colega, como exercício. Nesse
trabalho, cada elemento da dupla deverá efetuar sua análise e a apresentar ao seu
parceiro, expondo justificativas para a sua avaliação e alternativas para sanar as
necessidades de aprimoramentos apontadas. A seguir, cada um retoma seu quadro
de avaliação e dirige seu olhar, agora mais abrangente, sobre seu próprio texto.
Quadro de Avaliação – Gênero Conto Literário
Critérios
Adequado Requer
aprimoramento
1. Adequação do título
1.1. O título é instigante? É coerente com a
narrativa? Remete ao principal ponto abordado no
conto (seja uma ação ou um sentimento)?
2. Adequação às condições de produção
2.1. O texto configura-se como uma narrativa
singular?
2.2. O texto difere de uma simples exposição
objetiva de fatos?
2.3. O texto difere de uma narrativa oral?
2.4. O conto possui um “tom” demarcado, seja ele
humorístico, reflexivo, lírico, de aventura, de
suspense, trágico, de drama psicológico etc.?
2.5. O texto atinge o objetivo de todo texto literário,
qual seja o de sensibilizar o leitor para algum
aspecto humano, social ou psicológico?
3. Adequação ao conteúdo temático
3.1. A história narrada possui coerência? Ainda
que seja ficcional, ela é verossímil?
3.2. A abordagem do tema selecionado na história
não tem caráter moralista ou didático?
62
3.3. Os elementos da narrativa estão interligados
de forma a configurar a produção como uma
unidade de sentido, coesa e não fragmentada?
3.4. Se o tempo da história for determinado, ele é
representado de forma correta?
4. Adequação à estrutura composicional
4.1. O texto caracteriza-se por ser uma narrativa
curta, com poucos personagens?
4.2. Os personagens são plausíveis? Eles foram
bem construídos e representados na história?
4.3. O enredo não é complexo, ou seja, é focado
somente num conflito ou num eixo temático?
4.4. As partes que compõem o enredo estão bem
apresentadas e desenvolvidas (apresentação
inicial, conflito, clímax e desfecho)?
4.5. O foco narrativo escolhido é utilizado
adequadamente?
5. Adequação ao estilo
5.1. Se a caracterização das personagens e dos
cenários valer-se do recurso da descrição, ela é
pertinente e contribui para os objetivos do conto?
5.2. A representação das vozes dos personagens
por meio do discurso direto, indireto ou indireto
livre (se houver) é feita de forma apropriada?
5.3. Os recursos linguísticos utilizados colaboram
para a definição do tom desejado para a história?
5.4. Se houve utilização de variantes linguísticas,
elas foram adequadamente abordadas para a
produção dos sentidos pretendidos?
5.5. Foram utilizadas figuras de linguagem? Se
sim, elas caracterizam-se como um recurso
estético que confere literariedade ao texto?
63
5.6. O texto respeita as convenções da escrita, em
especial relacionadas aos conteúdos que
estudamos na Oficina 10 (pontuação, acentuação,
paragrafação, ortografia, ambiguidade, uso de
elementos de coesão e de referenciação)?
5.7. Em caso de rompimento das convenções da
escrita, ele se deu em favor da produção de
sentidos no conto e da literariedade?
5.8. O texto evidencia, de alguma forma, que seu
autor apropriou-se do gênero de forma pessoal ou
original?
O último item do quadro está relacionado ao estilo individual do autor. Nesse
ponto, é preciso orientar os estudantes na identificação de possíveis “jeitos próprios
de escrever” ou da apropriação do estilo de algum dos autores lidos durante a SD.
Tal apropriação não deve ser censurada, uma vez que o grupo está adentrando na
prática da leitura e da análise mais aprofundada de textos literários e é normal que
sua identificação com algum dos autores os influencie no momento da escrita.
Essa avaliação final, aliada aos comentários do colega de dupla que analisou
seu conto, deve requerer de cada estudante um novo exercício de aprimoramento.
Tal exercício, executado em sala de aula, deve ser supervisionado pelo professor. É
relevante que todos compreendam, no entanto, que um texto literário só pode ser
dado por finalizado no momento em que seu autor o publica. Caso contrário, ele
sempre daria margem para alterações, complementações, aprimoramentos, uma vez
que o escritor, assim como todas as pessoas, constantemente vai ampliando sua
experiência de vida e de leitura e assim, a cada retomada de sua produção escrita,
seu olhar seria diferente.
3ª etapa: uma conclusão, ainda que "provisória"
64
Objetivos Socializar os contos produzidos.
Avaliar o processo vivenciado na sequência didática.
Material Contos produzidos, reunidos em formato de coletânea.
Os contos finalizados – e revisados pelo professor – devem ser organizados
em formato de coletânea. O grupo deverá decidir democraticamente sobre a
organização da obra, definindo a capa, o texto de apresentação e a ordem de
apresentação dos textos. Caso não seja possível editar o livro em uma gráfica, ele
deve ser confeccionado de forma artesanal, garantindo uma cópia a cada autor,
além de exemplares para a biblioteca escolar.
Também a cerimônia de lançamento deve ser organizada em conjunto e
envolver os membros da turma em suas ações: quem fará o cerimonial de abertura,
se haverá alguma apresentação artística (dramatização de algum dos contos
analisados ou produzidos, por exemplo), qual será a ordem e a forma de
apresentações dos contos e dos relatos sobre o projeto e como se dará a entrega
dos exemplares aos autores da obra.
Os depoimentos dos estudantes (orais e/ou escritos) acerca do processo
vivenciado na SD e do aprendizado alcançado servirão, juntamente com suas
produções, como os principais elementos para a avaliação do projeto.
Já a publicação dos contos, a cerimônia de lançamento e a disponibilização
de exemplares da coletânea na biblioteca escolar serão essenciais para conferir a
autoria dos textos aos estudantes e valorizar seu trabalho. Além disso, farão com
que as produções cumpram com sua função social, que é a de ir a público.
Atividade
final Os contos vão a
público
65
ABAURRE, Maria Luiza M. [et.al.]. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. _____ (V. N. Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem. 12. ed. São Paulo, Hucitec, 2006. BOSI, Alfredo. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix, 1974. CANDIDO, Antonio. A literatura e a formação do homem. Ciência e Cultura. São Paulo, Vol. 4, n. 9, PP. 803-809, set/1972. CEREJA, Willian Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação. 4. ed. São Paulo: Atual, 2013. DOLZ, Joaquim & SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004. GARCIA, Ana Luiza Marcondes. Produção de textos na escola: perspectivas
teórico-metodológicas, tendências e desafios. Texto apresentado no encontro
Leitura e produção de textos na escola, CENPEC: São Paulo, dezembro de 2010.
ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. São Paulo: Editora 34, 1996, vol. 1. JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo: Ática, 1994. MACHADO, Anna Rachel. A transposição do conhecimento científico para o contexto de ensino: a necessidade e as dificuldades. Palestra proferida no contexto do Seminário para Definição de Critérios de Avaliação de Livros Didáticos de 6ª a 8ª séries. Brasília, Ministério da Educação, 1997. Seleção de fragmento, revisão e adaptação para este curso de Egon de Oliveira Rangel. MACHADO, Lívia. Os impactos da violência doméstica infantil. Portal iG > Delas > Filhos. Disponível em http://delas.ig.com.br/filhos/os-impactos-da-violencia-domestica-infantil/n1237628538965.html (acesso em set. 2014). MORICONI, Italo (org.). Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
Referências
66
PARANÁ, Colégio Estadual. Proposta Pedagógica Curricular da Disciplina de Língua Portuguesa para o Ensino Médio. Disponível em: http://www.cep.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71 (acesso em set. 2014). PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação, Superintendência de Educação. Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a Rede Estadual do Ensino de Língua Portuguesa. Curitiba, 2008. POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de Letras, Associação de Leitura do Brasil, 1998. RODELLA, Gabriela [et.al.]. Português, a sua língua: ensino médio, volume único; ilustrações Laerte. São Paulo: Nova geração, 2005. SAVIOLI, Francisco Platão & Fiorin, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1999.