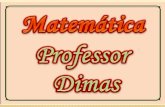DIMAS RICARDO LEITÃO PROCESSO CIVIL APOSTILA TERCEIRO SEMESTRE.
Paper de dimas veras e
-
Upload
citacoesdosprojetos -
Category
Documents
-
view
835 -
download
7
description
Transcript of Paper de dimas veras e

Artimanhas letradas: memória, resistência e educação popular
nos anos de ditadura no Brasil.
Dimas Brasileiro Veras
Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da UFPE
A democracia não é uma experiência consolidada de longas datas nos países da América
Latina. Dos caudilhos do século XIX aos ditadores do século XX, apenas algumas décadas
separam o cerceamento inerente a experiência política autoritária. A recente redemocratização
do final dos anos 1970 nos mostra que a busca pela cidadania plena apenas começou a ser
construída nos frágeis Estados latinos.
Os projetos políticos “liberais” que adentraram o século XX não resistiram aos sucessivos
abalos causados pelo imperialismo capitalista, pelas grandes guerras e pela crise de 1930. As
democracias terminaram cedendo diante da necessidade de um Estado forte e alguns casos
fascistas. O grande medo dos últimos anos do século XIX havia ganhado potência na Rússia e
o outrora, apenas espectro do comunismo, tornava-se contingencial na trama histórica. Nas
recém organizadas repúblicas latinas, o receio tendeu a se transformar em histeria das
sociabilidades dominantes, conduzindo cada vez mais as práticas políticas para os antípodas
do liberalismo. Acreditavam, em sua maioria, que parte das causas da pobreza dos países
latinos estava justamente na fragilidade dos governos democráticos e liberais. Esta era uma
tendência política que ganhava eco em quase todo mundo ocidental, e terminou por conduzir
aos governos nacionais a regimes autoritários de tendências fascistas.
Planejar, organizar e dirigir era o tríptico característico dos Estados de Exceção que se
espalhavam pelos países ocidentais dos anos 1930 e sua ressonância se fez sentir em todos os
elementos estruturais da sociedade: planejamento econômico, cerceamento dos direitos
políticos e sociais, dirigismo cultural e mediação dos conflitos sociais. A esta experiência
política em alguns países da América Latina, os sociólogos e cientistas políticos conceituaram
como populismo. Mesmo com todas suas peculiaridades o varguismo, o cardenismo e o
peronismo foram tomados como referencial sociológico para estudo do fenômeno. Recentes
investidas oriunda da historiografia tem problematizado o conceito em sua amplitude
fenomenológica e realizado novas investidas questionadoras de certas certezas em relação a
primeira metade do século XX na América Latina.1
1 Todo esse debate em torno do populismo na América Latina foi retirado do livro “O populismo e sua história”.
Jorge Ferreira (org.); Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2001. Principalmente os artigos de Maria

Dentre as muitas problemáticas em relação ao populismo começaremos citando a de ordem
cronológica e da heterogeneidade do fenômeno. O termo tem sido arbitrariamente utilizado
como modelo explicativo de experiências diversas na América Latina, não havendo nem
mesmo um consenso em relação a um período propriamente populista nos países em questão
(imagine para toda América Latina). De maneira geral este ficaria situado entre os anos de
1930-1960, sendo para alguns, conseqüência de um momento de transição da produção
capitalista tradicional para a moderna. Esta abordagem estrutural perde sua consistência
quando levada em consideração a partir das histórias nacionais e regionais. Estudos mais
específicos vêm mostrando as nuanças da suposta homogeneidade populista, ressaltando a
necessidade de se pensar os limites do uso do termo e os perigos de uma visão determinista
que coloca o fenômeno como uma conseqüência, ou seja, uma etapa de uma evolução
histórica linear em direção a utopia.
O que nos interessa das constantes que permitiram a criação de um modelo explicativo como
este, é que neste período da história da América Latina (supostamente populista) é onde
também localizamos um relativo fortalecimento das sociabilidades populares como elemento
participante da sociedade. São nestes anos também que temos a consolidação política de uma
ideologia trabalhista, e neste caso poderíamos citar o México de Cárdenas, a Argentina de
Perón e o Brasil de Vargas. Há um ranço nas análises, que tendem ver a entrada do povo na
disputa política, a partir de uma ótica maniqueísta e simplificadora do problema. Para os
teóricos clássicos do populismo as massas anônimas, mergulhadas na inconsciência de sua
origem de classe, eram facilmente manipuladas pelos interesses das classes dominantes
(capitalistas modernos: industriais), representadas na figura demagógica do populista. Para
estes pensadores, se houve conquistas, estas não brotaram da atuação popular como atores
sociais integrados e participantes das relações sociais e políticas de sua época, mas da
subordinação dos mesmos aos interesses maiores do líder populista. Ignoram-se as razões que
os levaram a apoiarem aquele político e os limites do pacto que instituíram. Como também
são renegadas as artimanhas que redefinem o exercício da cidadania em anos tão tumultuados
de nossa história.
A história se torna mais confusa ainda quando nos aprofundamos no caso do populismo no
Brasil, a começar pela confusão das datas e da associação do fenômeno com a figura de
Getulio Vargas. Teria o populismo sobrevivido a relativa abertura que se dá com o fim da
segunda guerra? Caso sim, como explicar o mesmo a partir do matiz que é a história regional
Capelato “Populismo latino-americano em discussão” e Daniel Aarão em “O colapso do colapso do populismo
ou a propósito de uma herança maldita”.

brasileira? Estariam todas as experiências vividas pela nascente sociedade civil sedenta de
participação subordinadas aos interesses subreptícios de um líder carismático e demagogo?
Abordaremos a atuação dos educadores popular como uma atividade produtiva do campo
cultural sem, no entanto, a considerar num horizonte superestrutural das atividades políticas e
econômicas. O campo cultural (no que se articula com o campo intelectual e educacional)
aparece em plena relação dialógica com o campo político e econômico. Voltemos a nossa
narrativa.
Com a derrota do fascismo europeu, se amplia a crítica aos regimes autoritários em todo
mundo. À medida que os Estados de exceção vão perdendo o fôlego, a democracia começa
ocupar novamente um espaço na política latinoamericana. O processo de redemocratização é
lento e gradual, e se dar lado a lado a uma continuidade, ainda que “democratizada”, das
práticas ditas populistas. Carente dos instrumentos coercitivos do regime ditatorial, as
sociabilidades populares e os movimentos sociais vão ganhando uma intensidade nunca antes
vista na história. Paulatinamente, o conflito social vai deixando de ser um caso de policia,
para institucionalmente assumir o espaço público. Os movimentos sociais que emergem do
setor rural, aparentavam ter a força para efetivar mudanças que redefiniriam a tradição
colonial latifundiária e consequentemente o status quo da época. No Brasil as Ligas
Camponesas, surgidas no Nordeste sob a liderança do advogado Francisco Julião, foram o
símbolo de uma marcante mobilização política que pôs fim a pax rural. As sociabilidades
urbanas voltavam a se encher do grande medo à medida que as Ligas ganhavam cada vez
mais o imaginário político da época. O medo de que o Nordeste brasileiro se tornasse uma
nova Cuba está presente em ampla documentação produzida nesses anos de tensão.
As exigências da sociedade civil alcançara um limite: ou o Estado era submetido a uma ampla
reforma ou num mecanismo de desterritorialização negativa (op. Cit, 1997.) se recalcava
aqueles desejos coletivos e bania as novas exigências da época, silenciado a transitividade
(FREIRE, 2007) de toda uma geração.
As forças conservadoras que assumiram a rédea da América Latina aproveitaram todo tempo
que permaneceram governando na produção de silêncio e afasia das experiências políticas e
sociais populares que haviam sido construídas ao longo de todo inicio do século XX. Diversos
setores da sociedade, alguns armados, outros caminhando e cantando, tiveram papel
fundamental na resistência a ditadura. Nos anos 1970, até a Igreja Católica, antigo bastião dos
militares, já não dedicava suas orações aos Generais ditadores. O fim do Estado de Exceção
viria à contra gosto dos militares. No Brasil o atentado a bomba no Rio-Centro seria o ultimo
suspiro de quase duas décadas de terrorismo estatal. À sociedade civil restava a longa tarefa

de reconstruir suas histórias, esbarrando através da memória a produção de esquecimento
operada pelos militares. Até hoje os arquivos da Ditadura militar no Brasil encontram-se
fechados e quase 90% de sua população ativa nunca ouviu falar no Ato Institucional número
5, principal símbolo da ditadura militar no país2. A abertura e o exercício democrático não
deixa esconder as heranças deletérias do autoritarismo no fazer político das sociedades latinas,
fantasma que ainda assombra estes países.
Nossa abordagem se torna mais fecunda quando passamos a analisar a história dos
intelectuais no Brasil de 1960, véspera do golpe militar. Havia um amplo movimento nacional
de educação popular que contava não só com a colaboração das instituições de ensino do país
e do Partido Comunista, mas também da Igreja Católica através do Movimento de Educação
de Base (MEB). O MEB era fruto da atuação da Ação Católica, movimento organizado por
católicos leigos, que também disputavam espaço no movimento estudantil, através da
Juventude Universitária Católica e da Juventude Estudantil Católica (JUC e JEC). Nestes anos
as bases dos setores progressistas do movimento estudantil estavam divididas entre a
militância comunista e católica (estes divididos entre católicos radicais e reacionários - DE
KADT, 1970).
Havia nesta geração de intelectuais e estudantes dos anos 1960 uma forte preocupação com
uma educação que formasse e conscientizasse para as necessidades nacionais. Buscando no
povo a identidade brasileira, estes intelectuais terminaram arregimentando no âmbito cultural
e educacional uma cultura-política do nacional-popular. Os esquemas do nacional-popular
forneceram a prática política do momento uma coesão social “(...) dando origem a uma
vigorosa produção cultural, ficando subjacente ao conjunto dos debates da esquerda,
incorporando os estudantes ao movimento dos intelectuais de maior envergadura.”
(PÉCAUT, 1990: 185). Estes estudos sobre os intelectuais brasileiros na véspera do golpe têm
privilegiado análises estruturais e macroanalíticas, onde os vários movimentos são abordados
a partir de suas similitudes. São estes, o já citado Movimento de Educação de Base, O Centro
Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes e o Movimento de Cultura
Popular (cf.: idem).
O Movimento de Cultura Popular surgiu no inicio dos anos 1960 no Recife sob os auspícios
do Prefeito da época Miguel Arraes. O MCP possuía uma larga agenda de atividade culturais,
2 Instaurado em dezembro de 1968 após um ano de intensos protestos da sociedade, tendo uma delas ficado
mundialmente conhecida como “a passeata dos cem mil”, o AI-5 autorizava o governo a fechar o congresso, a
cassar, demitir e aposentar funcionários, censurar a produção cultural e aplicar sumariamente a pena de morte.
Folha de São Paulo 13/12/2008 - Especial A1

do teatro militante aos folguedos populares, mas as frentes de alfabetização foram a principal
atividade desempenhada pelo grupo. Tal como o movimento estudantil da época o grupo
estava dividido entre sociabilidades católicas e comunistas. O coordenar do MCP era um
jovem professor da Universidade do Recife, Germano Coelho. O MCP fora idealizado por
Germano Coelho após conhecer na França o movimento Peuple et Culture, de Joffre
Dumazedier, no qual orientou as diretrizes da organização cultural, ou, usando os termos de
Raymond Williams, da formação3. (Williams, 1992). Esta influência francesa na construção
dos grupos de educação e cultura popular recebeu na América Latina os impulsos libertários
do pensamento freireano. Desenvolvido por Freire e sua equipe da Universidade do Recife, o
método ganhou substância e consagração com as experiência desenvolvidas no Serviço de
Extensão Cultural desta mesma escola. A revista produzida pelo SEC/UR, a Estudos
Universitários, foi um importante veículo de divulgação e sistematização do Sistema Paulo
Freire no Brasil.
Naquela época já não era novo o Nordeste do Brasi aparecer na mídia como espaço de aridez
e miséria. A polarização do mundo com a guerra fria havia tornado a região um lugar terrível
para além da seca e da pobreza que passou a ser exibido como ninho de comunistas4.
Diferente do MCP e do CPC, o Partido Comunista não possuía nenhuma influência no SEC,
tinha mesmo era ligeira desconfiança deste. Mesmo com toda desconfiança, não hesitou o PC,
após o 1º Encontro Nacional de cultura Popular, em adotar o Método Freire (BRAYNER in
RESENDE, org. 1987: 209).
O que estamos tentando mostrar é que a atuação intelectual e cultural do SEC nos anos 1960
significaram uma redefinição das formas de fazer e pensar a educação no Brasil, mesmo tendo
sido este um coletivo com recursos escassos, de curtíssima existência (apenas 2 anos) e sem
radicalizações políticas. Existia sim uma radicalização nos significados e nas novas
orientações que deram a prática e as pesquisas no campo educacional. Não escapariam ilesos
ao golpe:
“O educador Paulo Freire e toda sua equipe, mesmo sem terem nenhuma
filiação politico-partidaria, foram presos, interrogados e encarcerados.
Processos abertos e não concluídos, jovens intelectuais precocemente
„aposentados‟.” (BRITTO, 1992: 63).
3 Raymond Williams. Cultura; Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
4 Alguns estudos vêm sendo produzido, desde o final dos anos 1970 levando em consideração o Nordeste a partir
de sua construção ideológica, sociológica e discursiva. Todas elas enfatizam o projeto de dominação
escamoteado nos mitos regionais: MARTINS in MARANHÃO, 1984: 103-115; BERNARDES, 1996;
ALBUQUERQUE JUNIOR, 1999.

É justamente a repercussão causada pelo golpe nos membros do SEC/UR que procuraremos
compreender neste trabalho. Nossa linha metodológica histórico-antropológica tentará
compreender as redes de signos significantes produzidos por estas sociabilidades cerceadas
pelo estado de exceção, apreendendo os fios e rastros que mostrem como teciam a realidade
em que viviam, de que forma percebiam, apreendiam e se inscreviam na realidade. Nossa
análise busca colocar a disposição dos interessados as repostas dadas pelas pessoas as
conjunturas especificas e traumáticas do regime militar.
O SEC/UR foi criado em 1962 por iniciativa do Reitor João Alfredo e Paulo Freire visando
dar continuidade a uma série de reformas modernizadoras do ensino superior. A extensão
aparece justamente como o braço da Universidade na sociedade civil, contrapartida cultural da
Universidade à comunidade que a mantêm (SEC prolongamento da Universidade. João
Alfredo in Boletim do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. n° 1, Março-
abril de 1962). Em seu documento de criação são explicitados seus objetivos; promover a
difusão cultural, contribuir no desenvolvimento da cultura regional, realizar cursos e eventos
para a comunidade extra universitária e promover a divulgação da produção da Universidade.
Devemos frisar que atuação do SEC terminou excedendo seus objetivos, suas práticas os
conduziu para além da portaria que os instituía.
A atuação de Paulo Freire a frente do SEC se deu em quatro direções: uma frente ficou
encarregada da pesquisa, divulgação e capacitação no Sistema Paulo Freire de educação
(viajando por todo Brasil divulgando e experimentando o método). O segundo eixo
programático congregou jovens professores da Universidade, jovens cinéfilos e alguns
remanescentes do coletivo de impressores diletantes conhecidos como Gráfico Amador. O
grupo ficou responsável pela revista de cultura da Universidade, a Estudos Universitários. Foi
na Estudos Universitários que foram publicados os primeiros ensaios sobre o método Freire.
A revista possuía artigos que iam do filme À bout de souffle de Godard a poesia de
Sousândrade, bem como dos temas políticos nacionais à revolução angolana. Também cabia
aos jovens colaboradores da revista de cultura a atuação do SEC na sociedade, organizado
eventos e cursos voltados para a comunidade extrauniversitária. Uma ultima orientação da
extensão, a cargo do escritor José Laurênio, criou e colocou no ar a Rádio Universitária. A
rádio funcionava no horário noturno e sua programação era extremamente diversificada:
recitais de piano, cursos de língua (inglês e francês), campanha de alfabetização, música e
cultura popular, noticiários, programas do movimento estudantil, concertos e debates
interdisciplinares.

As repercussões na cidade não poderiam ter sido melhores, agradando aos amantes da
educação e da cultura e despertando a inveja e a desconfiança dos tradicionais mandarins da
produção intelectual local. A Estudos Universitários, que contou inicialmente com a
contribuição de Gilberto Freyre, logo se tornou motivo das disputas letradas em torno de
quem e o que seria publicado na revista. O editor do periódico, Luiz Costa Lima, também
despertou a fúria dos literatos locais em seus constantes diálogos com os concretistas
paulistas. Os debates tomaram clima de histeria alguns meses antes do golpe, quando em
artigos publicados nos principais jornais locais Costa Lima e Gilberto Freyre discutiram
publicamente sobre a linha editorial da Estudos Universitários. Os debates nos jornais,
gerados pelas críticas feitas por Gilberto Freyre à Estudos Universitários, em artigo intitulado
“Em Torno de uma Revista de Cultura” (JC – 1 de novembro de 1963, p. 02.), precipitaram a
saída de Costa Lima da editoração da revista ainda mesmo antes do golpe5.
A afronta ao mandarim do pensamento lusotropical não passaria em branco. Com o golpe
militar, o nome do jovem secretário da revista aparece em meio à relação dos primeiros
punidos em Pernambuco pelos militares. Anos mais tarde, já consagrado escritor e professor
de história e literatura, lembraria com humor as palavras de reprovação do interrogador em
relação a sua preocupação com a transcrição de suas resposta: “Não tem nada de ficar
corrigindo o que está sendo escrito porque o seu caso já está resolvido: você foi denunciado
como marxista por Gilberto Freyre e será aposentado.” (COSTA LIMA in ZAIDAN e
MAZHADO, Org., 2007: 42). Os interrogatórios ao qual foram submetidos a maioria dos
membros do SEC serviram como instrumento fulcral das cassações, aposentadorias
compulsórias e perseguição política.
O apoio vindo dos frades franciscanos, da editora Vozes, se mostrou decisivo na reconstrução
da vida no Rio. Costa Lima voltaria a ser preso por algumas semanas em 1972. Apesar de não
ter sido torturado, a nova prisão mostraria que, naqueles anos, as regras do jogo haviam
mudado:
“Entrei encapuzado em um aposento de proporções relativamente grandes,
dotadas de luz fria, com que não podia distinguir o dia da noite, cercado de
5 O caso aparece nos jornais como a “crise da revista da Universidade”. Uma nota do DCE (Diretório Central dos
Estudantes) em solidariedade com Costa Lima é publicada no dia 13 de dezembro de 1963: “O Diretório Central
dos Estudantes da Universidade do Recife, face aos acontecimentos da última semana que culminaram com o
pedido de demissão do professor Luiz Costa Lima do cargo de diretor da revista „Estudo Universitários‟, torna
público a expressão de sua mais irrestrita solidariedade à diretoria daquele periódico, particularmente à pessoa
do professor Luiz Costa Lima, figura incansável do Serviço de Extensão Cultural da U.R., tão bem identificado
com os anseios de cultura de nosso povo.” (JC – 13 de dezembro de 1963).

instrumentos, todos com títulos em inglês, que indicavam suas finalidades
para a tortura;” (Idem: 43)
A ajuda mútua se mostrou um dos maiores valores de resistência aos militares. A
“cumplicidade” solidária de alguns cidadãos pareceu ser uma das principais práticas de
enfrentamento silencioso ao regime. O caso de Costa Lima também mostra que algumas
inimizades nos anos de ditadura se tornavam extremamente perigosas, ninguém escapava ao
perigo de ser denunciado como subversivo e marxista. Se houve no SEC um amplo espaço
para se debater Marx, parece que por influência do próprio Paulo Freire, estavam todos
atentos aos perigos de qualquer modalidade de proselitismo:
“Outra afirmação a ser colocada é a de que ninguém politiza ninguém. O
conceito de politização tem uma conotação fortemente optativa. (...) à
medida porém em que um método ativo ajude o homem a se conscientizar
em torno de sua problemática, se instrumentalizará para suas opções. Aí
então ele mesmo se politizará.” (FREIRE in Revista Estudos Universitários,
1963, nº 4, v. 1, p.18)
As poucas simpatias nutridas pelo PC em relação ao SEC e as constantes críticas, publicadas
na Estudos Universitários e em jornais da época, ao dirigismo cultural de movimentos de
orientação marxista como MCP e o CPC da UNE, ilustram a autonomia de pensamento que
norteava aqueles6. Seria um grande erro epistemológico e histórico filiar o método Paulo
Freire e sua gestação ao pensamento marxista. A pesquisa da documentação tem mostrado
que se houve um resgate crítico do pensamento de Marx e Engels, este se deu na medida em
que permitia a abertura de um diálogo e de uma crítica a aos defensores da arte engajada e do
dirigismo cultural (as leituras de Trotsky, também fundamentaram estas críticas). Por outro
lado estavam descobrindo e conhecendo a crítica literária sociológica de Lucien Goldmann,
Walter Benjamin e Lukács.
O espírito crítico em relação à tradição intelectual local, representada por Freyre e seus
acólitos, bem como para com as supostas forças revolucionarias dos grupos de cultura
popular como o CPC e o MCP, é um vetor importante para entende a posição ocupada por
Freire e todos aqueles que faziam o SEC. A atuação no campo cultural e intelectual,
normalmente amalgamada pela historiografia, foi extremamente crítica em relação a postura
chauvinista das esquerdas e tradicionalistas da direita:
6 Ver os ensaios, estudos e resenhas publicados por Luiz Costa Lima na Revista Estudos Universitários, 1962-
63, nº 2,3,4 e 5, v. 1.

“Para o MCP, assim como para o CPC da UNE, o intelectual era tido como
guia das massas. Embora essa concepção seja entre nós tão velha quanto o
positivismo do século XIX, sem dúvida sua base era a política cultural
stalinista. (...) Como eu tinha aprendido, por meus anos na Espanha
franquista, o que significava o dirigismo cultural e como pouco se distinguia
do fascismo, participei de uma linha de resistência ao dirigismo oba-oba
tanto do MCP, quanto do CPC da UNE . ” (op. Cit.: 44).
Afirmando no mesmo depoimento: “O que fazíamos era apenas uma tentativa contra a
retórica burocrática ou o tom lírico-conservador perpetuado por Gilberto Freyre.” Neste
ponto talvez concordassem com os colegas do MCP. Mas havia um segundo ponto de
convergência das duas formações. Este vetor se chamava método Paulo Freire.
Ao criar o SEC Paulo Freire deu unidade a três principais sociabilidades letradas que
percorriam o campo intelectual da cidade: um grupo que circulava em torno do Gráfico
Amador, outro ligado aos cineclubes da cidade e um terceiro de educadores ligados ao
catolicismo radical. Não podemos negar que havia alguns pequeninos fatores que os
aproximava anteriormente a criação do SEC como os traços de um nacionalismo democrático,
a paixão pela Bossa Nova, o interesse pela produção cultural como elemento dinamizador da
sociedade, além de serem quase todos eles membros do pequeno corpo progressista da
comunidade acadêmica da Universidade do Recife.
Os educadores que compunham o SEC já vinham colaborando com Freire desde o final dos
anos 1950, inclusive tendo participado da criação do MCP. Como esta sociedade civil possuía
um direcionamento muito mais voltado para atuação política militante do que para pesquisa
cultural e educacional a atuação dos educadores ficou ligeiramente comprometida. Outro
grande problema estava na estrutura interna do MCP que não favorecia a atuação dos futuros
membros do SEC, o sequitarismo herdado da militância político-partidária, criava um clima
de disputa interna onde o circulo católico de Freire era visto como adversário em potencial
aos interesses do PC. (cf.: BRAYNER in RESENDE, 1987: 207). Apenas após a criação do
SEC, e por orientações do comitê central do Partido, o MCP passaria a adotar o método Paulo
Freire, ainda que sem abdicar da cartilha, ponto de inflexão do método incorporado.
A criação dos círculos de cultura na década de 1960 oferece uma breve oportunidade de
conhecer o pensamento freireano. As publicações abordando a experiência apenas seriam
publicadas por Freire nos anos de exílio, e durante muito tempo, sem direito a edições
brasileiras.

A idéia do círculo era educar e conscientizar quebrando a imobilidade das estruturas escolares
da época. Na tarefa de alfabetizar o coordenador de debates devia inverter a lógica
educacional onde o educador deposita o conhecimento no aluno. A aula discursiva, onde o
professor ensi(g)na, era substituída pelo debate e pelo diálogo. A expectativa era que do
antigo “aluno” emergisse o participante de grupo, plenamente ativo para discutir uma
programação compactada e “reduzida em unidades de aprendizado” (FREIRE, 2007:111).
Essas discussões eram baseadas num tema-problema ou temas dobradiças (LIMA, 1984)
visando introduzir os alunos em questões gerais da sociedade brasileira. Com a prática
passou-se a utilizar como tema-problema inicial dos círculos o conceito antropológico de
cultura. O conceito antropológico de cultura retomava o lugar criador do homem no e com o
mundo, situando o adulto em sua realidade local e seus problemas específicos. Era justamente
através destes primeiros debates que o educador deveria entrar em contato com as palavras-
geradoras para iniciar a alfabetização. As palavras-geradoras garantiam o contato com os
conhecimentos prévios do participante de grupo “vocábulos ligados à experiência existencial
do grupo (...) revelava anseios, frustrações, descrenças, como também certos momentos
estéticos do seu falar.” (CORTEZ, 2007: 20). Era a dimensão política da palavra em toda sua
variação dialetal que estava em questão. A cartilha já não era necessária. Através da prática
educativa, Freire operava uma crítica as concepções tradicionais da lingüística e do
estruturalismo mostrando que os elementos semânticos, sintáticos e fonéticos (o sistema
estruturado e estruturante sofria um deslocamento de seu centro de acordo com a experiência
vivida por cada comunidade participante) não faziam sentido fora da pragmática e da política
da vida dos participantes de grupo.
O golpe militar significou definitivamente um fim para as experiências do SEC, “o golpe foi a
morte súbita: você atropelado por um tanque que te colhe em cima da calçada.” (CORTEZ,
2008: 37). Ainda em 1° de abril, popularmente conhecido como dia da mentira no Brasil, os
militares tomaram as ruas do Recife ocupando espaços estratégicos e invadido as casernas da
revolução. A sede do SEC foi saqueada e parte da documentação encontrada confiscada e
destruída. Não pouparam nada, nem mesmo as obras de arte como os 12 quadros, pintados por
Francisco Brennand, ilustrando as situações existenciais fundamentais na apreensão do
conceito antropológico de cultura (COELHO, 2004: 222). Produzia-se esquecimento e
dispersão como relata um pesquisador americano presente no Nordeste nas vésperas do golpe:
Uma das primeiras iniciativas do Exercito foi invadir a sede do Serviço de
Extensão Cultural (SEC), dirigido por Paulo Freire, na Universidade do

Recife, e confiscar todo material utilizado no programa de alfabetização.”
(PAGE, 1972 apud LIMA, 1984)
Ou como denuncia um dos integrantes do SEC:
“Documentos, filmes, retratos ou outros registros desse tempo são exíguos
porque logo após o golpe de 64, o prédio do SEC foi ocupado por forças
militares que sumiram com tudo que havia ali. Arquivos e fichários inteiros
desapareceram. (Minha irmã viu na televisão parte desse material enquanto
um locutor em off, ensandecido, dizia que aquilo era altamente subversivo).”
(CORTEZ, 2008:13).
A repressão aos grupos de esquerda, intelectuais, movimento estudantil, prisão de
sindicalistas e religiosos marcam o início de uma verdadeira perseguição e cerceamento das
práticas ditas subversivas pelo governo militar. A repressão na Universidade arrastou no
primeiro Ato institucional o Reitor João Alfredo e toda geração do SEC. O Inquérito Policial
Militar das atividades do Serviço resultou em prisões e processos, derrubadas no Supremo
Tribunal Militar apenas dois depois graças a um Habeas-corpus impetrado por Arthur de
Carvalho que também fora do SEC. O documento na medida em que aliviava a barra para
alguns, já não teria muita utilidade para aqueles dispersados pelo exílio (COELHO, 2004:
221-222). Para Cortez duas coisas o marcaram produfundamente em 1964: o esvaziamento do
Recife sitiado e a necessidade de fugir da cidade. Segundo Cortez as partidas aconteceram em
seqüência:
“Para Luiz Costa Lima surgira uma oportunidade na Editora Vozes, e ele
fora morar em Petrópolis (...) já Orlando da Costa Ferreira, figura que
desempenhou um papel decisivo para me convencer a também deixar o
Recife, conseguira sua transferência para o Banco do Brasil no Rio de
Janeiro. Sebastião com a cara e a coragem, arribara para a „Cidade
Maravilhosa‟. Gastão de Holanda e José Laurênio de Melo, idem. Jorge
Carneiro Cunha mudou-se para São Paulo. Jorge Wanderley, ultimava seus
preparativo para ir embora, faltava definir se Rio ou Sampa. João Alexandre
Barbosa aceitara o convite para ensinar literatura brasileira na Universidade
de Brasília, depois veio para São Paulo. (João foi meu amigo paulista de
todas as horas, até seus últimos dias). Eu, após exame Oral, passei no teste
de transferência e me matriculei no segundo ano do curso de Ciências
Sociais na USP, da rua Maria Antônia.” (op. Cit: 50)
Quando foi submetido ao seu primeiro Inquérito Policial Militar, Cortez tinha apenas 17 anos,
era o integrante mais novo do SEC. Exilados no sudeste do Brasil, tentariam reconstruir suas

vidas em meio a novas prisões e a solidão do desterrado. A beleza das metrópoles cediam a
angustia do exílio, como narra com refinado humor Almeri Bezerra:
“Uma manhã de outono, o nosso exilado mineiro abre a janela do quarto,
sobre os telhados parisienses. Respira fundo a brisa suave e ligeiramente
nevoenta que redesenha a paisagem. Não se contém e exclama: „Paris!
Paris!‟ Mas, dá-se conta imediatamente do insidioso encantamento, e
conclui aos gritos: „Paris é uma merda‟.” (MELO, 2006:13).
A palavra escrita seria a principal arma e escudo dos letrados expatriados. Para aqueles
exilados pelo mundo afora, a continuidade das atividades culturais e educacionais voltadas
para o desenvolvimento social e humano funcionariam como a reescritura das experiências
que foram abortadas no Recife. Como a verdadeira odisséia de Almeri Bezerra divulgando o
método Freire e colaborando na reconstrução de uma África independente e mergulhada em
guerras (cf.: idem, 2006). Freire também daria continuidade às tarefas de educador na
América Latina e no mundo. Pesquisador incansável publicaria vários livros no exílio, tendo
como ponto de inflexão de sua obra a publicação do “Pedagogia do oprimido” em 1970. Nada
disso seria possível sem ajuda mútua que compartilhavam entre si. Se por um lado a dispersão
intelectual causada pelos regimes autoritários americanos, causaram uma perda significativa
no campo intelectual e cientifico destes países, por outro lado contribuiu com uma
convergência letrada nos arredores do mundo, legando-nos uma produção cultural única.
Estudos futuros sobre as sociabilidades letradas exiladas poderão revelar aspectos mais
nítidos da contribuição desses expatriados na construção dos países africanos, como a Argélia,
e em revoltas pelo mundo como maio de 1968 na França. O movimento desordenado desses
intelectuais pelo globo foi fundamental na construção de uma nova cultura política de
orientação libertária e internacionalista como o movimento negro, feminista, ambiental,
educacional, gay, dentre outros. O caso de Argel ilustra bem os aspectos desse
cosmopolitismo letrado:
“Naquela época Alger era a Meca de tudo quanto fosse refugiados políticos
e Movimento de Libertação. Desde Dr. Arraes até Carl Michael, líder dos
Black Panters, desde a Frelimo até o Movimento de Libertação da
Suíça.”(idem: 39).

Silviano Santiago mostra como de certa forma podemos aprender com as experiências do
cosmopolitismo intelectual em nossa luta contra a dominação cultural e o etnocentrismo na
construção de uma cidadania global (SANTIAGO, 2004: 61).
Se for verdade que alguns arriscaram com jogos de palavras nas tortuosas veredas da
ditadura, para outros a palavra não bastaria como instrumento de luta e superação do regime.
Era preciso superar os traumas do regime e os moralismos da sociedade. À sobriedade das
palavras oporia a força dionisíaca da música e do cinema. O fim do trabalho nos limites da
institucionalidade7 reorientou a atuação de Jomard Muniz no campo cultural. A participação
em movimentos culturais de vanguarda como o tropicalismo e o cinema marginal destoariam
da antiga atuação como professor e escritor. Não podemos negar, no entanto, que sua
produção cultural ficaria decisivamente marcada pelas hastes da experiência freireana. JMB,
como é conhecido, talvez tenha a trajetória mais peculiar de todos aqueles que participaram da
experiência da esperança8. Desde seus diálogos com Glauber Rocha, antes da Terra em
Transe anos da geração Mapa, à sua atuação no SEC e no Ministério de Educação como
presidente da Comissão Regional de Cultura Popular, Jomard Muniz seguiu uma linha de
produção intelectual claramente influenciada pelas vivências do SEC. Eram anos de seus
primeiros livros como “Contradições do Homem Brasileiro” e “Do modernismo a Bossa
Nova”, publicados nos primeiros anos do regime militar. O corte epistemológico apenas viria
com a publicação dos manifestos Tropicalistas seguindo com a produção cinematográfica dos
anos 1970.
Ao que parece todos aqueles jovens intelectuais haviam aprendido com Freire a potência da
ação cultural para a liberdade. Se alguns resistiram pelo riso e não pelo desespero, outros
redescobriram a força da ciranda9, que de mãos dadas se dançava. A verdade é que se houve
um lastro que os uniu na luta contra ditadura, este lastro passava pela produção cultural. Fosse
a dança, o cinema, a educação ou os atentado poético de JMB, todos guardaram do Serviço de
Extensão as lições de Paulo Freire sobre a ação cultural. Era esta a sua marca, sua artimanha,
sua arte e manha, jogo de cintura que enfrenta o trauma causado pelo golpe: “Como escritores
7
8 Vide o artigo “A experiência da esperança: um “Golpe na Alma” da intelectualidade brasileira pós 1964”
publicado pelo autor e Francisco Aristides nos Anais do XXV Simpósio Nacional de História, Brasil.
9 Dança popular pernambucana.

que somos, temos o dom de tornar as idéias verdadeiras em algo permanentemente vivo,
nenhum ato institucional, nenhum período de fechamento é capaz de nos arrebatar esse
trunfo.” (CORTEZ, 2008: 51)
Referências Bibliográficas
AGUIAR, Roberto O. de. Recife: da frente ao golpe. Ideologias políticas em Pernambuco;
Recife: Ed. UFPE, 1993.
BATISTA NETO, José. “MCP: O Povo como categoria Histórica”; in REZENDE, A. P.
Recife: Que História é essa?; Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1987.
BERNARDES, Denis. Recife: O caranguejo e o viaduto; Recife: Ed. Universitária, 1996.
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas; São Paulo: Ed. Perspectiva, 2007.
BRITTO, Jomard Muniz de. Bordel Brasilírico Bordel: Antropologia ficcional de nós
mesmos. Recife: Comunicarte, 1992.
COELHO, Fernando. Direita volver: O Golpe de 1964 em Pernambuco. Recife: Ed, Bagaço,
2004.
CORTEZ, Marcius. O Golpe na Alma. São Paulo: Pé-de-chinelo Editorial, 2008.
Estudos Universitários: Revista de Cultura da Universidade do Recife. Volume 1, 2, 3, 4 e 5.
Recife, Universidade do Recife, Imprensa Universitária, 1962-1963.
DE KADT, Emmanuel. Catholic Radicals in Brazil. Londres: Oxford, 1970.
FERREIRA, Jorge. (org.) O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Ed.
Civilização Brasileira, 2001.
FREIRE, Paulo. Educação com prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 30ª
edição.
LIMA, Venício Artur de. Comunicação e Cultura: as idéias de Paulo Freire. Rio de Janeiro:
Ed. Paz e Terra, 1981.
MELLO, Almeri Bezerra de. Para além dos verdes mares. Recife: Ed. Massangana, 2006.
PÉCAUT, Daniel. Os Intelectuais e a Política no Brasil: Entre o povo e a Nação. São Paulo:
Ed. Ática, 1990.

RIDENTI, Marcelo. Artistas e Intelectuais no Brasil pós 1960. Tempo Social, Revista de
Sociologia da USP, v. 17, n. 1.
ROSAS, Paulo. Papéis avulsos sobre Paulo Freire, 1; Recife: Ed. Universitária da UFPE,
2003.
SANTIAGO, Silviano. Cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.
TEIXEIRA, Flavio Weinstein. O movimento e a Linha: presença do Teatro do estudante e
d‟O Gráfico amador no Recife (1946 – 1964). Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007.
ZAIDAN FILHO, Michel e MACHADO, Otávio Luiz (Orgs). Movimento estudantil
brasileiro e a educação superior. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007.