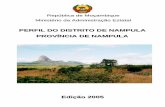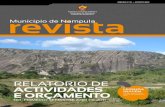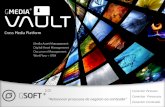Plano Base Nampula -...
Transcript of Plano Base Nampula -...
Workshop Plano Base
Plano Base
Nampula
promover o planejamento urbano de base como uma ferramenta para a democracia local em cidades intermédias de moçambique
Ciudades intermedias
3
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
1. IntroduçãoI. Nota Introdutória da UNILURIO
II. Nota Introdutória de ANAMM
2. antecedentesI. Cidades Intermédias
II. Processo de urbanização de Moçambique
III. O Projecto de cooperação
3. Workshop plano BaseI. As cidades do Projecto
II. O Workshop
III. Uma ferramenta para a planificação inclusiva das Cidades Intermédias
IV. Metodologia Plano Base
V. Plano Base para a resiliência urbana
4. ResultadosI. Malema
II. Monapo
III. Ribáuè
IV. Nacala
V. Ilha de Moçambique
VI. Lumbo
VII. Nampula
VIII. Natikiri
IX. Angoche
X. Xai-Xai
5. avaliação e conclusõesI. Avaliação das Oficinas
II. Conclusões
III. Os números do workshop
Conteúdos
Realizado no âmbito do “Programa de Cooperação para a Justiça Global 2016” com o apoio de:
4 5
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
1. Introdução
I. NOtA INtROdUtóRIA dA UNILURIOIsequiel José Soares alcolete Director da FaPF, Unilúrio
Prezados/as!
É com muita honra e prazer que escrevo esta breve nota introdutória fruto de um belíssimo trabalho conjunto no âmbito do Workshop “Plano Base em Cidades Intermédias - Nampula”, pois, o desafio da nossa Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico (FAPF), é preparar profissionais para responder às necessidades do país, nos campos: do ordenamento territorial, da urbanística e do projecto de edifícios ou conjuntos de edifícios.
O actual estágio de desenvolvimento do país exige um aumento da presença de técnicos e metodologias eficazes para acompanhar as grandes intervenções que a Administração Pública está a desenvolver nas cidades e em todo o território nacional.
Esta necessidade de “novas” abordagens metodológicas é geral para todo o país, visto, serem notórias as rápidas transformações que ocorrem a cada dia. Assim, parece-me ainda mais necessário assegurar que os técnicos que actuam na área de Planeamento Físico tenham um papel integrador e aprofundado em todos os domínios espaciais, a qualquer escala.
Ao longo do evento, ficamos cientes de que a evolução actual dos conceitos filosóficos sobre a responsabilidade do técnico que actua na área de planeamento físico impõe também um novo domínio de conhecimentos científicos e metodológicos, que têm a ver com a sustentabilidade e a regeneração ambiental. Estes se adicionam, indispensavelmente, aos domínios clássicos, isto é, aqueles que têm a ver com os aspectos tipológicos, topológicos, topográficos, físico químicos, antropológicos, sociológicos e dos domínios psico-fisiológicos e estéticos.
Quero recordar que as nossas intervenções no domínio do Planeamento Físico, do Urbanismo, do Melhoramento e Requalificação de Assentamentos Humanos, enquanto quadros técnicos, em Instituições Públicas ou Privadas ou como profissionais liberais, devem ser feitas respeitando a legislação nacional e internacional vigente, exercendo a actividade com muita mestria e humildade acima de tudo.
Para terminar, quero agradecer a todos os municípios presentes, às instituições públicas, privadas, às associações e aos professores e estudantes pela participação e qualidade das discussões.
Desejo que a experiência adquirida ao longo do Workshop “Plano Base em Cidades Intermédias - Nampula”, auxilie a constituir uma ferramenta que integra os vários actores no seu processo, de forma a aproximarmo-nos das comunidades, trabalhando com elas e servi-las melhor.
6 7
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
II. NOtA INtROdUtóRIA dE ANAMMIdélcia mapure Associação Nacional dos Municípios de Moçambique -
anaMM
Importância da planificação urbana em Moçambique e papel dos governos locais
Nos termos da lei, o Estado deve promover e garantir o bem-estar da população, proporcionando uma habitação condigna e alocar, de forma correcta, as infra-estruturas (art.º. 91 Constituição da República de Moçambique conjugado com art.º 6 da lei nº 19/2007 do Ordenamento Territorial). O ordenamento do território é o conjunto de princípios, directivas e regras que visam garantir a organização do espaço nacional através de um processo contínuo, flexível e participativo na busca do equilíbrio entre o Homem, o meio físico e os recursos naturais, com vista a promoção do desenvolvimento sustentável (art.º 1 lei nº 19/2007, de 18 de Julho).
O planeamento urbano é uma atribuição das autarquias locais, concretizado através dos instrumentos de ordenamento territorial a nível autárquico, em coordenação com o Ministério da terra, Ambiente e desenvolvimento Rural (MItAdER).
Entretanto, são poucos os municipios com instrumentos de ordenamento territorial elaborados e/ou actualizados. Neste contexto, urge a partilha e a divulgação das orientações e documentos de boas práticas para o planeamento urbano para todos os municípios moçambicanos.
Existem em Moçambique algumas boas práticas de planeamento urbano bem como a implementação de instrumentos de ordenamento territorial previstos na Lei de Ordenamento territorial (LOT 19/2007, de 18 de Julho). Recentemente, o Fórum Urbano Nacional realizado em Maputo trouxe contribuições valiosas sobre a temática de planeamento urbano. Realizado no ano passado pelo Governo de Moçambique, em parceria com a Associação Nacional dos Municípios de Moçambique (ANAMM) e com o
apoio de parceiros de cooperação internacional reuniu actores urbanos, incluindo decisores, técnicos, responsáveis urbanos e organizações da sociedade civil, e reflectiu sobre a pergunta chave: como construir uma agenda urbana sustentável para Moçambique? sobre a qual foram partilhados instrumentos inovadores para o estabelecimento do perfil dos assentamentos urbanos e a restauração de zonas desordenadas, entre outros desafios.
A questão da planificação urbana preocupa todos os 53 municípios membros da ANAMM.
Neste sentido, a ANAMM apoia a formulação de uma Estratégia de desenvolvimento Municipal e Urbano onde constem os procedimentos de desenvolvimento urbano no país alinhados com a Nova Agenda Urbana aprovada em Quito, Equador em Outubro de 2016.
Implicações para as Autarquias
Um dos princípios da criação das autarquias locais é a autonomia financeira, que só poderá ser alcançada com o incremento de arrecadação de receitas. Uma das grandes fontes de receita municipal é o Imposto Predial Autárquico (IPRA), que só pode ser cobrado aos portadores de dUAt (direito de Uso e Aproveitamento de terra).
de acordo com o artigo 23 da Lei de terras (Lei 6/79, de 3 de Julho), para que o conselho municipal possa autorizar pedidos de uso e aproveitamento de terra, é necessário que a área seja coberta por plano de urbanização e possuir serviço público de cadastro. E para que o município tome como base legal os planos de urbanização, estes devem ser ratificados. A falta de ratificação incorre em nulidade dos respectivos instrumentos e a sua natureza vinculativa (artigo 14, no 3 da LOT).
deste modo, não basta apenas elaborar instrumentos de ordenamento territorial. É importante que esses instrumentos sigam todos os passos segundo a lei, para que se garanta a sua validade. Pois, caso tal não aconteça, mesmo implementados, não passariam de meros arranjos urbanísticos. Assim, o papel dos governos locais (municípios) deve passar pela capacitação dos técnicos municipais no uso de instrumentos para uma gestão eficaz do cadastro do solo urbano.
8 9
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
2. antecedentes
I. CIdAdEs INtERMÉdIAs Josep maria llop Director da Cátedra UNESCO-CIMES
dada a sua presença em qualquer contexto e área urbanizada, as cidades intermédias atingem uma dimensão quase universal. No total, no mundo há 8.923 Cidades intermédias, com apenas 502 Cidades com mais de um milhão de habitantes. Em termos percentuais, num universo da população urbana mundial de 3.945 milhões de habitantes, 58,8% vive em cidades de menos de 1 milhão de habitantes (segundo dados de 2015).1
Moçambique tem uma população total de 27.121.827 habitantes, das quais aproximadamente 9 milhões vivem em cidades, correspondentes a 33,4% do total. Por enquanto, apenas a capital Maputo, ultrapassa um milhão de habitantes, com um total de 1.187.214 pessoas, as cidades intermédias entre 50.000 e um milhão de habitantes estão já 32 representando 61,5% do total da população urbana do país. No diz respeito ao continente africano, num total de 1.086 cidades intermédias detêm 174,8 milhões de pessoas.2
8.923 Cidades Intermédias no mundo
61,5% da população urbana de Moçambique vive em Cidades Intermédias
As cidades intermédias têm uma função importante na economia, na vida social e na cultura das cidades, regiões e países e que em muitas ocasiões é acautelado e não valorizado como deve ser. Estas cidades são o cenário privilegiado para alcançar o direito à cidade através do seu papel na mediação de fluxos (de bens, informação, inovações e administração, etc.) entres as zonas rurais e os territórios urbanos nas suas áreas de influência. também jogam esse papel com outros centros
1 Estudo realizado por UCLG e CIMES UNESCO para a publicação “Co-creating the urban futu-re. The agenda of metropolises, cities and territories. GOLD IV– Global Report on Decentraliza-tion and Local Democracy”, 2016
2 ibid.
10 11
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
ou áreas, mesmo podendo se encontrar mais ou menos distanciados entre si.3
são realidades que favorecem à proximidade aos serviços e espaços públicos, o desenvolvimento económico e social local, a economia de proximidade, assim como são realidades mais flexíveis perante os novos desafios mundiais.
Para fomentar oportunidades inovadoras, é apenas necessária uma atitude de intermediação que envolva o território rural. Nesta vertente, o fortalecimento do papel das cidades intermédias, bem como a nível de Moçambique e mundial, favorece as relações entre zonas urbanas e rurais, com fins de garantir a sustentabilidade ambiental e a soberania alimentar. da mesma forma, graças a essa posição intermédia, mostram-se também como pontos para sair da pobreza rural para a maioria dos cidadãos.
A valorização das cidades com perfis intermédios no processo de urbanismo mundial, confronta-se com a falta de estratégias de planificação ajustadas com o fim de pôr em consideração os seus desafios e oportunidades concretas. A Cátedra UNEsCO sobre Cidades Intermédias e urbanismo mundial da Universidade de Lleida, Espanha, tem como objectivo estudar estas realidades a nível local e global, promovendo uma maior visibilidade e um maior reconhecimento para as cidades intermédias do lado dos governos nacionais.
Há una década que à Cátedra está cooperando com a rede mundial de cidades, UCLG, na área de aprendizagem. UCLG trabalha junto com as cidades e suas associações ao longo do processo. Nesse caso, UCLG trabalhou na implementação da metodología que incentiva os membros da Associação Nacional de Municípios Moçambicanos a contribuirem à construção de políticas e conhecimento compartido, a partir dos saberes locais. A UCLG também mobilizou, entre pares, encontros com líderes políticos e técnicos em torno de questões-chave para gestão urbana.
Como parte desta parceria, a metodologia proposta pela Cátedra para o Plano Base foi desenhada por técnicos e universitários especializados, muitos com experiência à nivel municipal. Ela foi pensada para ser um instrumento de articulação entre políticas e território, entre discursos e intenções; e de tradução dessa articulação de maneira tangível em projetos de desenvolvimento em locais e espaços específicos.
3 JosepMariaLlop,CarmenBellet,“Ciudadesintermedias.Dimensionesydefiniciones”,Univer-sitat de Lleida, 2010
CIMEs em África4:
4 cit. “Co-creating the urban future. The agenda of metropolises, cities and territories. GOLD IV– Global Report on Decentralization and Local Democracy”
12 13
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
II. PROCEssO dE URBANIzAçãO dE MOçAMBIQUE
antónio manuel de amurane Docente da FAPF-UniLúrio
A cidade é o artefacto colonial por excelência. Ela é a manifestação político, económico e social mais evidente que veio alterar para sempre as relações entre os sistemas e as formas de ocupação do território, e de poder, da sociedade pré-colonial e também das suas relações tradicionais com o sistema ecológico onde se inseriam.5
A urbanização em Moçambique produz uma realidade urbana específica que contempla a ruralidade, especificidade explicada a partir das contradições produzidas pela: ocidentalização que procura produzir um espaço que reproduz o modo de vida determinado pela industrialização e pela existência do modo de vida, derivado das sociedades africanas pré-coloniais, cuja reprodução apoia-se sobre o sistema da linhagem. Esta dualidade, urbanidade-ruralidade, faz com que haja uma vivência diferenciada, implicando diferentes maneiras do acesso ao solo urbano e à habitação que, através das desigualdades de renda, produzem um espaço urbano diferencial. de uma forma geral, o processo de urbanização de Moçambique pode ser divido em 3 fases distintas:
Período pré-colonial (antes de cerca de 1880)
As primeiras formas de povoamento que se podem considerar cidades em Moçambique – pela concentração de população e pelas suas funções administrativas e ou comerciais diferentes da aldeia rural – eram capitais de estados ou centros comerciais. Estas cidades funcionavam como entrepostos comerciais (BAIA, 2009). Nasceram na costa oceânica como resultado da troca comercial entre os povos indígenas e oriundos das terras do interior com os mercadores árabes e mais tarde europeus.
5 Arquitecto José Forjaz, in (BRUSCHI & LAGE, 2005) pág. 5
No início do século xx começam a surgir cidades nitidamente marcadas pela presença colonial portuguesa construídas para os europeus. As novas cidades são portos de escoamento de produtos de exportação, são lugares de estabelecimento da administração colonial, o que as diferencia das cidades europeias resultantes da Revolução Industrial.
Período colonial (cerca de 1880 à 1975)
A partir de 1885, pode se afirmar que, com a Conferência de Berlim, inicia-se a ocupação do interior de Moçambique, seleccionando e construindo os locais estratégicos para o aglomerado. Portanto, foi um período de actividade científica e construção urbana intensas, que transformariam as cidades africanas em palcos para a aplicação de soluções urbanas modernas e de demonstração de poderio por meio da construção de uma imagética urbana muito própria (PAEs, 2007).
devido a não atractividade para os técnicos urbanistas na colónia de Moçambique e o espírito de “cerco e de conquista no qual assentava a colonização portuguesa, o desenho e construção das cidades estavam viradas para os engenheiros militares. A lógica na selecção dos sítios assentava primordialmente em escolhas de carácter estratégico e, quando possível, conciliando o factor comercial e militar (orientado as necessidades para o Estado na época): o primeiro, para garantir as necessidades da metrópole, enquanto, o segundo procurava submeter os indígenas, a segurança dos colonos e das rotas/abastecimentos comerciais”.
As cidades resultantes da implantação colonial em Moçambique podiam ser caracterizadas pela coexistência de duas áreas: uma que albergava a população de origem europeia e asiática, com um traçado geométrico que indicava preocupações com o planeamento urbano e; outra, não planeada e com infra-estruturas precárias, onde viviam os africanos como mão-de-obra para os colonos (BAIA, 2009).
Período pós-colonial (1975 até ao presente)
Com a Independência, as cidades mudaram as suas funções levando os planos, semi-acabados ou ainda não implementados, a perderem interesse. O olhar dos planificadores dirigia-se para uma nova, mais extensa cidade, a cidade informal (o caniço ou capim), que, contra todas as leis e os regulamentos, surgiu na época colonial crescendo irresistivelmente ao lado da outra, apesar dos esforços dirigidos para o seu reordenamento. No entanto, com o advento da guerra civil, 1975
14 15
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
à 1992, os núcleos urbanos informais herdados do período colonial aumentaram significativamente e foram se consolidando.
de acordo com o Perfil do sector Urbano em Moçambique de 2008, desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABItAt), a proporção urbana da população de Moçambique é calculada em 36%. Três quartos desta população (75%) é composta de residentes informais e, as cidades tendem a melhorar em todas as referências estatísticas comparativamente às zonas rurais. O crescimento acelerado da população urbana acarretou desajustes estruturais com os quais as cidades têm dificuldades em transpor, por exemplo: ao nível do parque habitacional, da repartição de equipamentos de apoio social, do acesso a serviços urbanos, entre outros.
Onde, ao longo das cidades moçambicanas, uma grande percentagem da população “urbana” habita em contextos de urbanização acelerada e extensiva. A urbanização extensiva pode ser entendida como um sistema combinatório entre o formal e o informal.
Muitas vezes, é nos processos “informais” de urbanização, em que os citadinos respondem à fragilidade estrutural de territórios urbanos transformando-os por via da acção directa que – a partir dos viveres e saberes quotidianos, colectivos e/ou individuais – penetram nos espaços com os quais se relacionam (modificando-os, alterando-os e ajustando-os a constrangimentos que sentem ou surgem). Estes métodos informais de planeamento as vezes, são processos de micro-escalas e isolados, aculturando o espaço urbano, redefinindo lógicas de transformação da cidade e desdobrando nele micro-centralidades complementares.
Assim, a coexistência de espaços formais e informais de vida é organizada sobre o espaço e controlada pelo estado num movimento de reprodução da sua hegemonia sobre o mesmo.
O resultado é um espaço diferencial produto da urbanização desigual.
As paisagens das cidades em Moçambique, de uma forma geral, apresentam desigualdades entre áreas onde o espaço construído tem características das cidades ocidentais e aquelas que a urbanização é incipiente (ausência ou deficiência de serviços e infra-estruturas urbanos). A urbanização desigual passa pelo entendimento da contradição transformação/persistência dos conteúdos do urbano. A especificidade do urbano em Nampula, por exemplo, pode ser, segundo BAIA 2009, pela simultaneidade de diferentes lógicas – das relações sociais monetárias (capitalistas); centrada na sociedade e integração comunitária (do grupo domiciliar) e da reprodução das elites no poder (do estado).
CINTURA INFORMAL
ZONAS DEEXPANSÃO
(formal e informal)
ZONAS DEEXPANSÃO
(formal e informal)
ZONAS DEEXPANSÃO
(formal e informal)
ZONAS DEEXPANSÃO
(formal e informal)
CINTURA INFORMAL
NÚCLEO COLONIAL
CONSOLIDADO
Actualmente, verifica-se a coexistência de processos formais e informais de urbanização, os quais consubstanciam-se sintetizando regras e padrões quer da cidade formal, quer da cidade informal. Imagem: António Manuel de Amurane, elaboração própria.
16 17
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
III. O PROjECtO dE COOPERAçãOEquipe de trabalho UNILURIO/UNESCO-CIMES/Celobert
O projecto “Promover o planeamento urbano de base como uma ferramenta para a democracia local em cidades intermédias de Moçambique”, financiado pelo Município de Barcelona no âmbito do “Programa de Cooperação para a justiça Global 2016”, surgiu do trabalho conjunto entre a Cátedra UNESCO sobre Cidades Intermédias, a Universidade Lúrio de Nampula e a cooperativa Celobert6. O planeamento urbano das cidades intermédias como ferramenta para alcançar o direito à cidade é o ponto em comum das três instituições promotoras do projecto.
Os parceiros que apoiaram o projecto foram o Grupo de trabalho de Cidades Intermédias da United Cities and Local Goverments (UCLG)7, a Associação Nacional de Municípios de Moçambique (ANAMM), a Universidade Laica “Eloy Alfaro” de Manabi (ULEAM) do Equador8 e numa segunda fase, a Regional Office for Southern Africa de UNESCO (ROSE-UNESCO)9.
6 ACátedraUNESCOestáligadaàUniversidadedeLleida,daCatalunha,eestáfocadanapes-quisasobreasrealidadesurbanasintermédiasanívellocaleglobal.AUniversidadeLúrioéauniversidadepúblicadaCidadedeNampulaededica-seàformaçãodeprofissionaismoçambi-canosquededicam-seaourbanismo.Enquanto,Celobertéumacooperativacatalãsemânimodelucroquepromoveodireitoàvivendaeàcidadeatravésdaimplementaçãodeprojectosdearquitectura e urbanismo.
7 UCLG apoia a cooperação internacional entre as cidades e as suas associações, além de fa-cilitarosprogramaseacriaçãoderedeseassociaçõesparadesenvolverascapacidadesdosgovernoslocais.
8 AULEAMéauniversidadepúblicadacidadedeManta,noEquador,eémembrodaredeinternacional de cidades intermédias.
9 ARegionalOfficeforSouthernAfricadaUNESCOpromoveumprogramasobrecidadesinclu-sivasnaregiãosubsaariana,entreoutrosprojectos.
Objectivo Geral do projecto: Promoção do direito à cidade e o direito ao plano, com a finalidade de garantir os direitos humanos nas cidades intermédias de Moçambique
As especificidades do projecto foram (1) ampliar as capacidades técnicas locais e fortalecer os processos de responsabilidade conjunta do sector público e da academia nas etapas de planificação urbana das cidades intermédias em Moçambique e (2) ampliar as capacidades técnicas dos profissionais das cidades intermédias a nível internacional. Para tal, foram realizadas duas fases do projecto, uma a nível local que teve lugar na cidade de Nampula e a outra a nível internacional coordenada desde Barcelona.
Na cidade de Nampula, ao longo do mês de Março de 2017, realizou-se um workshop de capacitação para os técnicas e as técnicas municipais provenientes de dez cidades moçambicanas, que contou com uma participação de mais de cinquenta pessoas, entre representantes dos municípios, professores, alunos da Universidade Lúrio e comunidade local.
18 19
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
Os resultados obtidos em Nampula estabeleceram as bases para a segunda fase do projecto, quer dizer, a criação duma plataforma web-GIS focada na metodologia do Plano Base orientada à formação dos profissionais das cidades intermédias.
BASEPLAN.UDL.CAT
3. Workshop plano Base
I. As CIdAdEs dO PROjECtOEquipe de trabalho UNILURIO/UNESCO-CIMES/Celobert
A região norte de Moçambique, em particular a Província de Nampula, está a ser alvo de um forte crescimento urbano devido ao aumento das relações comerciais ao longo do corredor Tete - Nampula - Nacala, que conecta o interior do país com o litoral do Oceano Índico. Este fenómeno é causado pela actividade mineira do interior do país e ao consequente comércio de matéria-prima com o estrangeiro, situação que está a favorecer apenas algumas regiões em termos de desenvolvimento endogénico das comunidades.
As cidades intermédias e pequenas, localizadas ao longo do corredor são as mais afectadas pelas externalidades negativas relacionadas com a minoria e as menos beneficiadas em termos de rentabilidade económica. O seu crescimento urbano é inevitável e são necessários instrumentos de planeamento urbano para que este crescimento se converta num factor gerador de desenvolvimento sustentável. É por esta razão que Celobert, a Cátedra UNEsCO-CIMEs e a UNILURIO decidiram focar o projecto de cooperação internacional “Promover o planeamento urbano de base como uma ferramenta para a democracia local em cidades intermédias de Moçambique” nesta região.
As cidades do projecto: Malema, Ribáuè, Angoche, Nacala, Ilha de Moçambique, Monapo, Nampula, Xai-Xai, Manhiça e Matola
Assim, decidiu-se envolver três cidades dos arredores de Maputo (Xai-Xai, Manhiça e Matola) atendendo a sua participação no anterior projecto de cooperação internacional sul-sul intitulado “Melhoria das capacidades de Autoridades Locais de Brasil e Moçambique como actores da cooperação descentralizada”10. Um dos processos que este projecto
10 Projecto de cooperação internacional liderado pela UCLG, a Cátedra UNESCO-CIMES,
20 21
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
permitiu foi o de fortificar o debate acerca da planificação urbana e das ferramentas de gestão e uso do solo em Moçambique, propiciando também a criação duma rede de troca de conhecimento entre cidades intermédias.
A modalidade de peer learning (aprendizagem homólogo) permitiu trocar conhecimentos e boas práticas entre os participantes, possibilitando ampliar a série de soluções possíveis para abordar uma mesma problemática urbana e fortificar a relação entre as cidades intermédias.
II. O WORksHOPEquipe de trabalho UNILURIO/UNESCO-CIMES/Celobert
O Workshop Plano Base que teve lugar na Cidade de Nampula focou-se no fortalecimento dos processos de relacionamento entre o sector público e a academia, nas etapas de planificação urbana das cidades intermédias.
O tema central do Workshop foi a planificação urbana, entendida como a construção colectiva com base técnica, materializada num plano urbano (ou urbanístico) que deve ser de livre acesso e fácil compreensão por parte da cidadania.
ANAMMeoutrosparceiros,financiadopelaComissãoEuropeia,CitiesAlliance,oMinistériodeAssuntos Exteriores da Noruega e o Município de Barcelona (2013-2015).
Ao longo de toda a semana, a Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da UNILURIO foi a sede duma actividade intensiva de formação técnica e troca de experiências entre profissionais dos departamentos de urbanismo e planeamento urbano de dez municípios moçambicanos, e pessoal académico e estudantes. O envolvimento da UCLG, ANAMM e UNEsCO veio reforçar o significado internacional do Workshop e permitiu criar as bases para colaborações futuras.
Para os primeiros dias de formação interna na UNILURIO (27 e 28 de Março), os estudantes e os professores dedicaram-se em preparar as informações de base e os materiais necessários para o desenvolvimento das actividades. Procedeu-se à compilação do Inquérito CIMEs.
O Inquérito CIMES que consiste numa selecção de dados demográficos, económicos, sociais e ambientais das cidades intermédias, desenvolvida pela Cátedra UNESCO-CIMES11.
Assim, graças a colaboração dos escritórios locais da UN-Habitat e dos representantes do governo a vários níveis, onde foram preparadas as bases cartográficas. da mesma forma, foram adquiridas as imagens aéreas e de satélite das cidades. Este passo foi fundamental para focar o Workshop de Plano Base de forma adequada: sem uma base completa de informação e um conhecimento minucioso do território tornaria impossível se realizar um diagnóstico ou propor acções.
11 Para mais informações, consulte baseplan.udl.cat
22 23
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
A documentação produzida ao longo dos dois primeiros dias uniu-se à informação facilitada pelos municípios que consta nos seus planos estratégicos, nos planos de estrutura urbana e nas análises territoriais realizadas com anterioridade junto as comunidades locais. Isto permitiu, entre os dias 29 e 31 de Março, que representantes dos municípios, das academias e de organizações internacionais trabalhassem conjuntamente, distribuídos em sete mesas de trabalho referentes às sete cidades da Província de Nampula.
Seguindo a metodologia do Plano Base, os membros de cada grupo propuseram um diagnóstico com acções concretas, focado no estabelecimento das áreas urbanas actuais e as de expansão, o sistema de mobilidade e os serviços, os espaços livres, o zoneamento para acções e projectos estratégicos com vista aos próximos dez anos.
O trabalho prático foi combinado com algumas palestras e uma visita ao bairro de Natikiri. Nesta visita, os participantes reuniram-se com a comunidade local, propiciando um interessante debate acerca dos desafios e das oportunidades do desenvolvimento urbano local,
conseguindo que alguns representantes do bairro fizessem parte do Workshop.
deste modo, a discussão produzida nos sete grupos de trabalho foi acompanhada pelos membros da Cátedra UNEsCO-CIMEs, ANAMM, Celobert e pelos representantes das cidades Xai-Xai, Manhiça e Matola, que contribuíram ao debate através das boas práticas relacionadas com as suas realidades.
Contudo, na sessão em plenária foram debatidos os resultados obtidos e foram também apresentados os planos base realizados. Estes planos, tal e como foi anteriormente mencionado, estabeleceram as bases para a seguinte etapa do projecto, referente à criação duma plataforma web-GIs de Plano Base, destinada para um público internacional de pessoas ligadas ao desenvolvimento e monitoria das cidades intermédias do mundo.
III. UMA FERRAMENtA PARA A PLANIFICAçãO INCLUsIVA dAs CIdAdEs INtERMÉdIAs
Cátedra UNESCO-CIMES
O PLANO BASE é um documento de planificação integral, físico e estratégico, simples e flexível e o seu objectivo é responder aos desafios da planificação inclusiva nas cidades intermédias do mundo.
Não é um substituto dos instrumentos oficiais de planificação urbana existentes em cada país, mas que é aplicável em etapas posteriores de análise e planificação cujo nível de complexidade é maior.
O Plano Base representa a agenda urbana, através dum diagnóstico activo duma cidade visto que, o mesmo permite visualizar num mapa só as componentes físicas e estratégicas do seu desenvolvimento. Em relação à agenda urbana, o Plano Base utiliza uma linguagem simples e clara, e de fácil compreensão.
24 25
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
As componentes físicas da planificação urbana e dos projectos estratégicos influem num ÚNICO MAPA, permitindo ter uma visão global da cidade e do seu desenvolvimento.
O direito à cidade, entendido como o direito a viver num habitat seguro, saudável e inclusivo para todas as pessoas, faz-se sentir através do direito ao plano, quer dizer, o direito a ter um plano de fácil entendimento e compreensão, desenvolvido com e para a cidadania. O planeamento urbano, entendido como instrumento de justiça social e inclusão, deve promover a criação e redistribuição da riqueza, assim como garantir a sustentabilidade ambiental, económica e social para as gerações futuras. O Plano Base pretende dar impulso a todas as dimensões, e mostra-se como ferramenta para a planificação inclusiva e sustentável das cidades intermédias.
Nas cidades onde não existem instrumentos de planeamento urbano, o Plano Base tenta resolver esta carência normativa, gerando possibilidades para etapas posteriores de planificação urbana mais complexas. Enquanto, nas cidades onde já existem instrumentos oficiais de planeamento urbano, o Plano Base pode ser utilizado com uma finalidade de diagnóstico com acções concretas, como forma de permitir a revisão dos mesmos com um enfoque para uma maior inclusão e sustentabilidade.
IV. MEtOdOLOGIA PLANO BAsE12
Cátedra UNESCO-CIMES
Com o fim de redigir o Plano Base são propostas quatro etapas:
A. Preparação do inquérito base CIMES
B. Levantamento da informação de base disponível (pre-diagnóstico)
C. Redacção do Plano Base inicial
D. Apresentação e debate
A. INQUÉRITO CIMES - DADOS BÁSICOS13
Os dados básicos imprescindíveis para o desenvolvimento do Plano de Base são:
Ref. CIMES
Acrónimo Descrição Unidade de medida
A1 PU População urbana Número de habitantes (hab.)
A2 PR População rural Número de habitantes (hab.)
A3 sU superfície urbana Hectares (Hás.)
A4 sR superfície rural Hectares (Hás.)
A5 dU densidade urbana (dU=PU/sU) Número de habitantes por hectare (hab/Hás)
A6 dR densidade rural (dR=PR/sR) Número de habitantes por hectare (hab/Hás)
A7 PP taxa demográfica (anual) Percentagem (%)
A8 BM Orçamento municipal Us$/ano
A9 Pt População total (Pt=PU+PR) Número de habitantes (hab.)
A10 RC Ratio per capita (RC=BM/Pt) Us$/habitante/ano
B. PRE – DIAGNÓSTICO
Os dados básicos têm que ser acompanhados pelos dados e informação geográfica, topográfica, cultural, social e económica, assim como estatísticas e outras informações disponíveis ou próximas. tendo em consideração que sem sempre irá se ter boa informação proveniente das CIMEs e os estudos preliminares podem atingir custos mais elevados do que os trabalhos posteriores.
12 Metodologia completa em baseplan.udl.cat13DadosextraídosdoInquéritoCIMES,verbaseplan.udl.cat
26 27
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
Nesta fase é importante fazer uma relação entre a documentação existente com aquela colhida das entrevistas aos actores locais, organizações sociais, habitantes e/ou usuários da cidade em questão, para construir de forma conjunta a informação de base que irá ser utilizada para a redacção do Plano de Base
Quando este estágio chamado pré-diagnóstico for concluído, será possível avançar para o estágio de redacção do Plano Base.
C. REDACCÃO DO PLANO BASE
Os elementos básicos contidos no Plano Base são os aqueles que são descritos no capítulo seguinte (Conteúdos).
D. APRESENTAÇÃO E DEBATE
É necessário ter consciência de que o plano é e deve ser para a cidadania. Não deve ser propriedade nem dos técnicos, nem dos políticos da cidade ou da comunidade. Para que este ponto seja uma realidade, a fase de explicação e apresentação é chave, da mesma forma que, é o debate ou consulta e/ou concertação.
Ao longo desta etapa deve-se conseguir que a vizinhança, de forma individual ou através dos seus representantes, possam participar e avaliar se as necessidades levantadas ao longo da fase de “Programa de Cidade”, também conhecida como pré-diagnóstico, têm sido incluídas no plano.
CONTEÚDOS DO PLANO BASE
1. EXTENSÃO: ÁREAS URBANAS
Demarcação da área urbana actual e das áreas de extensão e de reserva
A área urbana actual (AU) é aquela que apresenta uma percentagem (elevada ou média) de serviços públicos e/ou comunitários, iluminação pública, acessos alcatroados para veículos (sim ou não), e outros, segundo cada caso e cada cidade.
As áreas de extensão (AE) são as consideradas como prováveis ou necessárias de ser urbanizadas, num curto ou meio prazo. Por em quanto, as áreas de reserva (AR) são aquelas que, mesmo podendo ser urbanizadas, isto só irá acontecer a meio ou longo prazo. Ambas são medidas em hectares ou m2.
Ar
AU
AE
Num contexto de forte crescimento urbano, o estabelecimento das áreas de extensão e de reserva é fundamental para poder direccionar o crescimento e deixar o solo apto e preparado para a edificação às populações migrantes.
Extensão
AU: área urbana actualAE: áreas de extensãoAr: área de reserva
28 29
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
desta forma, evita-se o surgimento de assentamentos espontâneos e não planeados nas zonas vulneráveis, evitando também os custos económicos e sociais associados aos mesmos. A urbanização de áreas novas deve responder às necessidades reais de crescimento de população e deve permitir também ao Município colectar novos impostos à propriedade, com o fim de incrementar o orçamento municipal e assim poder investir na melhoria e provisão de novos serviços e infraestruturas.
2. MOBILIDADE e CONECTIVIDADE
Definição dos principais eixos rodoviários e de transporte (pontes ou outros)
trata-se da rede urbana básica com os seus traçados e os seus nós principais, existentes ou programados. são desenhados os novos eixos rodoviários e os pontos a melhorar de entre os nós de intercâmbio, cruzamento ou passo (pontes ou outros casos).
Objectivo: menor distância, melhor conectividade.
3. EQUIPAMIENTOS E SERVIÇOS
Definição dos grandes equipamentos ou serviços públicos ou comunitários
são os grandes equipamentos ou serviços públicos ou comunitários existentes e as zonas onde o resto de equipamentos deveria ser alocado. Caso ter clareza da alocação concreta do equipamento, desenha-se o local onde este encontra-se. Caso contrário, desenha-se um círculo, onde o raio será determinado segundo a cobertura ou abrangência do serviço.
4. ESPAÇOS LIVRES E VERDES
Definição dos sistemas de espaços livres (zonas verdes, leitos, corredores ecológicos, espaços naturais e outros) e a sua relação com o ambiente.
O sistema dos espaços livres é entendido além das zonas verdes. Para poder entender o seu potencial ecológico e limitar a urbanização destas zonas, assim como para entender o dimensionamento natural e/ou ambiental da cidade no território que ocupa é importante uma representação complete dos espaços livres.
Objectivo: potencial ecológico da cidade
Espaços livres
Mobilidade e conectividade
Traçado novonósCruzamentoTraçado existente
Mobilidade e conectividade
Equipamento novoEquipamento existente
30 31
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
5. RAIO E LINHA - COMPACIDADE
Morfologia e compacidade: Raio e Linha da forma urbana
O Raio (R) mede um círculo, aproximadamente, o 70% da população urbana no seu interior, por em quanto a Linha (L) mede a distância máxima entre os extremos da área urbana consolidada (distância entre prédios não superior aos 200 metros). Ambos são medidos em quilómetros (km) e dão o dimensionamento da compacidade da cidade e da proximidade aos serviços existentes. Medem a forma para o Plano Base.
O Raio e a Linha oferecem um dimensionamento da distância numa cidade em que as pessoas encontram-se umas das outras. Através do Raio e da Linha seremos capazes de medir as distâncias dos bairros mais desfavorecidos com os serviços públicos essenciais (hospital, mercado, Município, pontos de culto central, Praça Maior e estádio de desportos), como forma de poder ver o grau de segregação espacial.
6. ZONEAMENTO DE ACÇÕES
Definição das Zonas Urbanas de regulação (regras), de melhora urbana e de transformação ou renovação (planos)
As Zonas de Regulação (ZR) devem ser reguladas a partir de umas condições a serem desenvolvidas a meio/longo prazo, uma vez já estão consolidadas ou apresentam condições estáveis de uso urbano. Isto realiza-se por meio das regras urbanísticas ou das ordenanças ou regulamentos.
As Zonas de Melhoria urbana (ZM) estão sujeitas a tratamento de melhoria urbana e as Zonas de Transformação (ZT) são aqueles que têm que ser transformadas, renovadas, reabilitadas, revitalizadas, regeneradas através de planos específicos de segunda escada. As três zonas são medidas em hectares ou m2 de solo.
Reduzir as distâncias leva-nos a melhorar a qualidade de vida da população, assim como, permite-nos reduzir os custos relativos aos serviços públicos.
Compacidade
l: linhaR: Raio
Zoneamento de acções
ZRZMZT
32 33
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
7. RISCOS (TRANSFORMAÇÃO)
dentre as zonas de transformação podem ser desenhadas aquelas zonas sujeitas a riscos não mitigáveis (inundações, terramotos, deslaves ou outras) que não podem ser urbanizadas nem destinadas aos assentamentos humanos, e por este motivo, devem ser transformadas.
8. PROJECTOS (P-10 / P+10)
Lista dos projectos urbanos chave e estratégicos
Na lista dos projectos chave que têm sido implementados na cidade ao longo dos últimos dez anos (P-10) e dos projectos a serem realizados ao longo dos dez anos conseguintes (P+10). são os projectos urbanos chave ou estratégicos (no princípio os de escala maior ou de âmbito geral na cidade, deixando de lado os projectos de pequena escala de bairro, a não ser que sejam também considerados estratégicos). Caso se conheça a localização física exacta dos projectos, estes serão marcados no mapa com o número correspondente da lista utilizada.
Nesta secção pode se, avaliar se os projectos estratégicos que têm uma dimensão física estão alinhados com o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 (Ods 11) e as suas metas, concretamente “garantir que as cidades e os assentamentos humanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. Pode se dar o caso que na análise dos Ods, sejam localizados outros objectivos e metas, às quais os projectos fazem referência. Este tipo de análise permite avaliar em que medida a cidade e os seus projectos estão alinhados aos Ods e avaliar também se favorecem a sua localização e enquadramento no território. Mobilidade e conectividade
Traçado novonósCruzamentoTraçado existente
Mobilidade e conectividade
Equipamento novoEquipamento existente
Espaços livres
Compacidade
l: linhaR: Raio
projectos +10
1: Mercado Grossista2: Mercado do peixe3: Matadouro municipal4: Auditório municipal5: Biblioteca municipal6: Estádio municipal7: Edificio do posto administrativo da praia de Xai-Xai8: Regularização bairros informais9: Melhoria da rede rodoviária10: Transformação de zonas de inundação
Zoneamento de acções
ZRZMZT
34 35
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
V. PLANO BAsE PARA A REsILIêNCIA URBANAmiguel Camino Reitor da Universidad Eloy Alfaro de Manabí, Equador
A relação da Província de Manabi com a Cátedra UNEsCO de Cidades Intermédias inicia formalmente no ano de 1999, no momento em que a cidade de Manta, capital económica da Região de Manabita e primeiro porto mundial de recolha de atum, localizado no enclave geoestratégico na costa do Oceano Pacífico, aderiu-se ao programa CIMEs. simultaneamente, o autor do presente artigo incorporou-se como membro da Rede de colaboradores locais da Cátedra UNEsCO-CIMEs.
Graças à contribuição da rede Cidades Intermédias e às contribuições fruto de profundos debates e aplicações práticas do Plano Base, consolida-se nossa concepção de Manta como cidade de grande capacidade de intermediação local, metropolitana, regional, continental e mundial.
A província de Manabí encontra-se numa região de alta vulnerabilidade sísmica e o facto de estar localizada na costa pacífica faz como que, seja vulnerável aos fenómenos oceano – atmosféricos que, da mesma forma que “El Niño”, têm carácter cíclico aumentando cada vez mais a sua magnitude. Portanto, as grandes percas sociais e económicas não são apenas causadas pelos factores naturais, mas também pelos factores antrópicos (resultante da acção do homem, especialmente em relação às modificações no ambiente, na natureza, causadas por essa acção), que incitam a vulnerabilidade e a exposição aos impactos. Entre os mais importantes, encontram-se os assentamentos em zonas vulneráveis, a degradação das bacias hidrográficas, a degradação do solo, as más construções e instalações, a fraca capacidade de resposta da população e as suas instituições.
No dia 16 de Abril de 2016, o Equador viveu um fenómeno natural (terramoto) de magnitude 7,8º na escala de Richer, classificado como um dos fenómenos naturais de maior intensidade do historial sísmico do Equador.
A cidade de Manta foi uma das mais afectadas por este desastre, devido à fraca planificação urbana e à carente cultura de prevenção existente na nesta província, os danos gerados pelo terramoto tiveram um impacto verdadeiramente elevado, a nível social, físico e psicológico. Onde, centenas de pessoas perderam as suas famílias, assim como os seus lares,
como consequência da destruição e demolição de edificações de diversas tipologias. E estas famílias foram chamadas “as danificadas da 16A”.
Imediatamente após a calamidade acontecer, uma equipa de especialistas em desastres14 sobrepôs-se as áreas do terramoto nas cidades Manabitas onde foi-se capaz de comprovar que, os maiores danos aconteceram exactamente nas zonas mapeadas como vulneráveis a tsunamis nomeadamente: leitos de rios, solos aluviais baixos, solos frágeis, taludes não confinados e, elementos que combinados com edificações ilegais, informais e falhas nos processos de desenho e construção ocasionaram a devastação nas cidades de Pedernales, Bahía de Caráquez, Manta, Portoviejo, Canoa, Cojímies, entre muitas outras.
A população Manabita foi capaz de recuperar rapidamente a sua quotidianidade, sendo que, as famílias afectadas foram levadas para abrigos emergentes e os equipamentos de saúde e centros educativos foram os primeiros serviços públicos a serem activados após a catástrofe, onde, numa primeira fase, não foi possível reactivar as dinâmicas produtivas assim como a reconstrução da cidade.
deste modo, o envolvimento de todas as instituições do Estado, das Universidades, das empresas e das organizações internacionais ao longo das etapas pós-desastre foi de extrema importância, e a Universidade Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) assumiu uma posição relevante nos processos de planificação pós-desastre.
A raiz dos acontecimentos, ao longo do mês de Agosto de 2016, realizou-se uma “Oficina de Planos Base de Reconstrução” na cidade de Manta, organizada pela ULEAM e a Cátedra UNEsCO-CIMEs. O debate esteve em torno das necessidades duma melhoria urbana e reconstrução, como consequência do terramoto da 16A, com intuito de fortalecer os processos de planificação urbano pós-desastre nas cidades intermédias e nos pequenos municípios do Equador.
14 O Autor do presente artigo foi Director da Secretaria Nacional de Gestão de Riscos na Pro-vínciadeManabínoano2012;socorrendoafectadosdetodasascomunidadesporcausadoFenómenoNaturalde“ElNiño”e,em2013,DirectordePlanificaçãodeSenpladesZona4.
36 37
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
O devastador terramoto levou às CIMES a incorporar dentro das Zonas de Transformação do Plano Base, aquelas zonas sujeitas a risco não mitigável, como forma de gerar novas respostas perante aos eventos catastróficos, assim como, planificar os reassentamentos e os novos assentamentos na dinâmica de desenvolvimento das CIMES.
A cidade de Manta decidiu incorporar no seu Plano Base uma terceira lâmina com uma análise mais detalhada dos riscos, classificando e mostrando a ocupação no espaço dos mesmos. Estas áreas, combinadas com os níveis de consolidação da cidade, ofereceriam o padrão para projectos chave, baseados na redução da vulnerabilidade perante aos riscos de desastres, assim como, para melhorar a capacidade de recuperação da cidade.
Contudo, na cidade de manta estamos a planificar a nova cidade reconstruída, a partir destas considerações de riscos, incorporando as pequenas cidades de jaramijó (marina) e Montecristi numa cidade única Mancomunada, mais dinâmica, equitativa, inclusiva e sustentável que irá atingir os 500.000 habitantes ao longo dos próximos anos.
desenvolvimento Prospectivo da Cidade Mancomunada15
15Fuente:CiudadMancomunada,ObservatorioTerritorial,FacultaddeArquitecturaULEAM.
4. RESulTaDOS
I. MALEMAEquipe de redação: Abdulraimo Faquir josé suria e Mário Raúl (Município de Malema), Cristina Luís Mário Artur e Filipe jorge Muririua (Estudantes UniLúrio), António Manuel de Amurane (docente UniLúrio), Ana Carolina Cortes (Celobert)
38 39
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
II. MONAPOEquipe de redação: Aulaue Nafio Amade e Arlindo Ali Ussene (Município de Monapo), Elton Figueiredo Paulo travassos, Elvina Clesia jorge djedje (Estudantes UniLúrio), Valdemiro Aboo (docente UniLúrio)
III. RIBÁUèEquipe de redação: Paulino Agostinho e Alfane Manuel Chiporo (Município de Ribáuè), Vanilza Camal, Benildo josé Veloso Nobre e Ibraimo Mohamed Nuro (Estudantes UniLúrio), Blaunde joão Blaunde (docente UniLúrio), Francesca Blanc (Celobert)
40 41
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
IV. NACALAEquipe de redação: Fenias Pedro Manhice, Luís josé dos santos (Município de Nacala), Aurélio Elias salomão (Município da Matola), Ergovin Gabriel Mourão, Francisco Manuel Cumbane, Moisés Mussaiemura e Pereira Germano Canda (Estudantes UniLúrio), diego Carrillo (Celobert)
V. ILHA dE MOçAMBIQUEEquipe de redação: Abdala tajuite e daudo juma (Município de Ilha de Moçambique/Lumbo), Laize dulce silvio de Lemos, Rito Amade saide e Vágner joão Mucavele Uissali (Estudantes UniLúrio), Nélzia deolinda Anastácio dias (docente UniLúrio), Ana Carolina Cortes (Celobert)
42 43
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
VI. LUMBOEquipe de redação: Abdala tajuite e daudo juma (Município de Ilha de Moçambique/Lumbo), Laize dulce silvio de Lemos, Rito Amade saide e Vágner joão Mucavele Uissali (Estudantes UniLúrio), Nélzia deolinda Anastácio dias (docente UniLúrio), Ana Carolina Cortes (Celobert)
VII. NAMPULAEquipe de redação: tapu Abdul satar Mamane e Muze Ussene selemane (Município de Nampula), Victor Baptista Chiconela (Município de Xai-Xai), Absalão I. Adolfo siweia, Afonso Issufo Nacir e Cláudio Gonçalves Monteiro (Estudantes UniLúrio), Bernardo joão Xavier (docente UniLúrio), Roberto Bernardo (UN-Habitat), diego Carrillo (Celobert)
44 45
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
VIII. NAtIkIRIEquipe de redação: 3 líderes comunitários, tapu Abdul satar Mamane e Muze Ussene selemane (Município de Nampula), Victor Baptista Chiconela (Município de Xai-Xai), Absalão I. Adolfo siweia, Afonso Issufo Nacir e Cláudio Gonçalves Monteiro (Estudantes UniLúrio), Bernardo joão Xavier (docente UniLúrio), diego Carrillo (Celobert)
IX. ANGOCHEEquipe de redação: Eugénio sorte Miambo e Mércia Luís Chico salimo (Município de Angoche), Vilaria Gabriel tamele (Município de Manhiça), Alexandre Ácio Nhantumbo, António Lemane Francisco Fotinho, jéssica Caroline White Ruas e zein Ossufo Raja (Estudantes UniLúrio), Moisés da Costa (docente UniLúrio), Ana Carolina y Francesca Blanc (Celobert)
46 47
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
X. XAI-XAIEquipe de redação: Victor Bastista Chiconela e justino Massingue (equipa do sector de Planeamento Urbano do Município de Xai-Xai)
5. avaliação e conclusões
I. AVALIAçãO dAs OFICINAsana Carolina Cortes Celobert
Com o intuito de melhorar para próximas edições e conhecer a opinião dos participantes, o último dia das oficinas foi dedicado à avaliação das mesmas. A seguir apresentam-se os resultados de forma resumida.
Outras perguntas realizadas estavam relacionadas com aplicabilidade, a metodologia e o acompanhamento realizado pelos professores e pelos responsáveis das oficinas, onde a maioria das respostas continuaram a ser positivas. Salientar a componente prática desta metodologia como ferramenta de fácil acesso para realizar um diagnóstico da situação dos municípios ou bairros.
No espaço para sugestões, as principais classificam-se segundo a ordem de relevância das mesmas, sendo listadas a seguir: Mais tempo para as oficinas; Envolver a os técnicos municipais desde o inicio; Realizar mais exercícios nos bairros dos municípios; dispor de todo o material traduzido
4%
32%64%
O 64% dos participantes considerou a formação muito importante, dada a pertinência significativa para as necessidades dos municípios, a equipa técnica destes e os alunos da faculdade que participaram desta actividade.
48 49
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
ao Português, Envolver os Gestores e os vereadores dos municípios; ter mais formações deste tipo ao longo do ano na faculdade.
É importante reconhecer estas sugestões para o futuro da aplicabilidade assim como das oficinas em Moçambique o em outros lugares. destacar novamente a sugestão do idioma, pois embora os responsáveis pelas oficinas tinham preparado grande parte do material, ainda tinham parte do mesmo em inglês ou espanhol.
O inquérito como ferramenta de grande valor na aplicabilidade da metodologia, mais adicionado perguntas adequadas para cada contexto e deixando do lado aquelas que não têm relação nenhuma.
Esta oficina é um dos primeiros passos dos diversos que está metodologia deseja abranger em Moçambique e outros lugares do mundo.
Perante às necessidades de planificação urbana, esta uma metodologia é caracterizada por ser simples de aplicar mais completa na altura de diagnosticar e iniciar um processo de planificação em lugares sem muitas ferramentas e com muitas necessidades.
II. CONCLUsõEsJosep maria llop, Francesca Blanc (UNESCO-CIMES, Celobert)
#LeavingNoOneBehind
“Não deixe ninguém atrás: deve ser o maior dos desafios das Cidades Intermédias. É necessário planificar com e para a comunidade, empoderando às pessoas para serem o actor do seu próprio desenvolvimento; não apenas planificar em prol do controlo, mas sim em prol da acção”.
Estas são as considerações com que convivemos ao longo do Workshop e que têm caracterizado o trabalho na cidade de Nampula. Caso queiramos dar resposta ao crescimento acelerado que as cidades intermédias africanas estão a enfrentar e não apenas as moçambicanas, é preciso procurar estratégias para que a urbanização seja realmente fonte de desenvolvimento.
A cidade é uma construção colectiva e o objectivo de todas as pessoas que trabalham como profissionais das cidades intermédias deve ser o de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, especialmente as referentes aos grupos mais vulneráveis e em risco de exclusão.
É imperativo lutar para garantir os direitos humanos, sendo o direito à cidade o ponto de partida para alcançar o fim desejado. Este facto está relacionado com o direito ao plano e para tal, todas as pessoas que lutam em prol da cidade pública, bem sejam urbanistas, arquitectas, geógrafas ou ocupem posições relacionadas, devem trabalhar conjuntamente.
De entre as discussões em plenários e nos grupos de trabalho, concluiu-se que:
• Há uma necessidade de fortificar as capacidades dos municípios no que diz respeito às funções de planificação urbana e colecta de receitas.
• As novas áreas urbanas devem permitir gerar e redistribuir a riqueza nas cidades, melhorando assim as finanças locais e tornando possível a geração de novas infra-estruturas e serviços.
• O aumento do valor do solo e dos bens, que são a base para intervenções públicas na cidade, deve-se reverter a comunidade, que é no fim, a origem da riqueza.
• tem que se fornecer solo apto para acolher as pessoas migrantes e aos novos residentes das cidades intermédias, evitando o surgimento de assentamentos informais em zonas vulneráveis e sujeitas a riscos não mitigáveis, que geram a consequente despesa económica e social do reassentamento.
• A população deve viver próxima aos serviços e aos equipamentos, uma vez que reduzir as distâncias leva à melhoria da qualidade de vida da população, e não só, permite também, reduzir os custos dos serviços públicos.
50 51
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
• A não redução da densidade nas cidades intermédias em processo de crescimento leva a piores condições de vida para os novos residentes.
• Ao longo do Workshop abordamos escalas diferentes, desde ao nível da cidade até ao nível de bairro. A visita ao bairro de Natikiri deixou-nos claro quão importante é trabalhar os diferentes níveis de planificação de forma paralela.
• O Plano Base pode ser a ferramenta de trabalho em prol do melhoramento da cidade e num futuro, reconhecer as necessidades de melhoria dos bairros.
• trabalhar com a comunidade é fundamental para estabelecer cidades mais inclusivas e sustentáveis, não deixando ninguém de lado.
“Queremos que o Plano Base seja incluído no sistema curricular da UNILURIO, tornando possível acompanhar da melhor forma os municípios nas suas etapas de planificação urbana” Isequiel Alcolete, Director da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da UNILURIO.
Mais uma razão para continuar apostando pelos projectos em consórcio entre municípios, academia e organizações internacionais, e mais uma razão para ampliar a rede das instituições que apoiam o Plano Base a nível mundial.
III. Os NúMEROs dO WORksHOP
62% população urbana de Moçambique que vive em cidades intermédias
59 twits enviados560 ítems da pesquisa CIMEs respondidos
5 dias de treinamento10 planos base realizados
16 instituições envolvidas
54 participantes
52
Wo
rksh
op
p
lan
o B
ase
N
am
pu
la
CRÉDITOS
Coordenação:
Francesca Blanc, diego Carrillo, josep Maria Llop
Contribuições:
Charaf Ahmimed, UNEsCO Regional Office for southern AfricaIsequiel Alcolete, UNILURIOAntónio Manuel de Amurane, UNILURIORoberto Bernardo, UN-HabitatFrancesca Blanc, CelobertBlaunde joão Blaunde, UNILURIOMiguel Alejandro Camino, ULEAMdiego Carrillo, CelobertVictor Baptista Chiconela, Municipio de Xai-XaiAna Carolina Cortes, CelobertAderito justino Cumbane, ANAMMjoão Miguel B.P. Fernandes, UNILURIOsara Hoeflich, UCLG Albino jopela, UNEsCO Moçambiquejosep Maria Llop, Cátedra UNEsCO-CIMEsEduardo Nguenha, ANAMM
Fotos: Francesca Blanc, diego Carrillo
Traduções: Alvaro Garcia de Miguel, josé Aurélio Bila (revisor)
Desenho gráfico: Apostrof sccl
Barcelona, setembro 2017