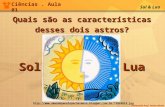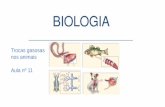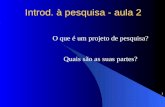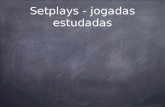PLANO DE AULA AULA TEÓRICA & PRÁTICA - Educacional · ser dessa natureza, pois é ela que...
Transcript of PLANO DE AULA AULA TEÓRICA & PRÁTICA - Educacional · ser dessa natureza, pois é ela que...
EMMERICK
PROJETO
ESCOLA DAS IDEIAS
1º ANO
2º BIMESTRE
ANO 2014
PLANO DE AULA AULA TEÓRICA & PRÁTICA TEMA: A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE ÉTICA TEMA: SOCIOLOGIA E A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA LIVRO: “A REPÚBLICA – LIVRO IV” do filósofo Platão / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” do filósofo Aristóteles LIVRO: “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi DISCIPLINA: Filosofia / Sociologia SÉRIE: 1º Ano BIMESTRE: 2º bimestre PERÍODO: Maio – Junho – Julho. DURAÇÃO: 16 aulas. LOCAL DA AULA: sala de aula – biblioteca – informática – teatro – espaço externo. ESTRATÉGIA: Aula teórica e prática RECURSO: quadro, telão interativo, vídeo, power point e caderno. OBJETIVO: com as obras de Filosofia, a proposta da aula é permitir uma reflexão crítica sobre a possibilidade da criação de um ambiente de boa convivência entre os indivíduos em uma cidade. || com as obras de Sociologia, tem-se como objetivo o estabelecimento de um primeiro contato com a disciplina de Sociologia e o surgimento dela como uma ciência ou instrumento do homem para melhor compreender a convivência humana em sociedade. || O estudo visa à preparação para o ENEM e demais vestibulares. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: o desenvolvimento desta proposta será realizado por meio do estudo de obra da Filosofia e Sociologia, fragmentos de filme, música, jornal, imagens, etc.
AULA PRÁTICA: consiste em atividades filosóficas e sociológicas de caráter avaliativo. Será considerada como momento de investigação acerca do conteúdo desenvolvido nas aulas teóricas. O critério para a pontuação levará em conta a formação de conceitos dos estudantes, analisando seus questionamentos e intervenções, procurando, por meio do diálogo, perceber se houve apropriação dos conteúdos propostos e uma mudança de postura frente aos problemas levantados, no que se refere à superação de ideias do senso comum para a dimensão filosófica e sociológica. O professor acompanhará fazendo leitura das produções dos estudantes, sugerindo as intervenções necessárias, incentivando leituras e a retomada de conteúdos. As atividades realizadas ao longo do bimestre resultarão no valor de 10,0 pontos. Além das atividades filosóficas, será aplicada uma prova formal (modelo Enem).
DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias
AULA 01
TEMA: PLATÃO & ARISTÓTELES POR UMA CIDADE ÉTICA LIVRO: “A REPÚBLICA – LIVRO IV” DO FILÓSOFO PLATÃO / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” DO FILÓSOFO ARISTÓTELES PERÍODO: 05 a 09 de Maio. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Apresentação da obra, conceitos e vida do filósofo Aristóteles. Introdução ao estudo da obra “Ética a Nicômaco” do filósofo Aristóteles. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ética, Virtude, Vício, Política, Felicidade, Sociedade, Moral, Cultura, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: ARISTÓTELES – ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I CAP. 1 Admite-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, têm em mira um bem qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins uma certa diferença: alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades que os produzem. Onde existem fins distintos das ações, são eles por natureza mais excelentes do que estas. Ora, como são muitas as ações, artes e ciências, muitos são também os seus fins: o fim da arte médica é a saúde, o da construção naval é um navio, o da estratégia é a vitória e o da economia é a riqueza. Mas quando tais artes se subordinam a uma única faculdade — assim co mo a selaria e as outras artes que se ocupam com os aprestos dos cavalos se incluem na arte da equitação, e esta, juntamente com todas as ações militares, na estratégia, há outras artes que também se incluem em terceiras —, em todas elas os fins das artes fundamentais devem ser preferidos a todos os fins subordinados, porque estes últimos são procurados a bem dos primeiros. Não faz diferença que os fins das ações sejam as próprias atividades ou algo distinto destas, como ocorre com as ciências que acabamos de mencionar. CAP. 2 Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim; e se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra (porque, então, o processo se repetiria ao infinito, e inútil e vão seria o nosso desejar), evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o seu conhecimento, porventura, grande influência sobre a essa vida? Semelhantes a arqueiros que têm um alvo certo para a sua pontaria, não alcançaremos mais facilmente aquilo que nos cumpre alcançar? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que
não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o indivíduo como para o Estado, o deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-Estados. Tais são, por conseguinte, os fins visados pela nossa investigação, pois que isso pertence à ciência política numa das acepções do termo. [continua] QUESTIONÁRIO: 01. Segundo Aristóteles, como se define Ética? 02. Segundo Aristóteles, defina o conceito FIM. 03. Segundo Aristóteles, defina o conceito BEM. 04. Segundo Aristóteles, há uma relação entre Ética e Política? Qual? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Editora Atlas, 2009. DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 02
TEMA: PLATÃO & ARISTÓTELES POR UMA CIDADE ÉTICA LIVRO: “A REPÚBLICA – LIVRO IV” DO FILÓSOFO PLATÃO / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” DO FILÓSOFO ARISTÓTELES PERÍODO: 05 a 09 de Maio. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Apresentação da obra, conceitos e vida do filósofo Aristóteles. Introdução ao estudo da obra “Ética a Nicômaco” do filósofo Aristóteles. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ética, Virtude, Vício, Política, Felicidade, Sociedade, Moral, Cultura, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: ARISTÓTELES – ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I CAP. 3 Nossa discussão será adequada se tiver tanta clareza quanto comporta o assunto, pois não se deve exigir a precisão em todos os raciocínios por igual, assim como não se deve buscá-la nos produtos de todas as artes mecânicas. Ora, as ações belas e justas, que a ciência política investiga, admitem grande variedade e flutuações de opinião, de forma que se pode considerá-las como existindo por convenção apenas, e não por natureza. E em torno dos bens há uma flutuação semelhante, pelo fato de serem prejudiciais a muitos: houve, por exemplo, quem perecesse devido à sua riqueza, e outros por causa da sua coragem. Ao tratar, pois, de tais assuntos, e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade aproximadamente e em linhas gerais; e ao falar de coisas que são verdadeiras apenas em sua maior parte e com base em premissas da mesma espécie, só poderemos tirar conclusões da mesma natureza. E é dentro do mesmo espírito que cada proposição deverá ser recebida, pois é próprio do homem culto buscar a precisão, em cada gênero de coisas, apenas na medida em que a admite a natureza do assunto. Evidentemente, não seria menos insensato aceitar um raciocínio provável da parte de um matemático do que exigir provas científicas de um retórico. Ora, cada qual julga bem as coisas que conhece, e dessas coisas é ele bom juiz. Assim, o homem que foi instruído a respeito de um assunto é bom juiz nesse assunto, e o homem que recebeu instrução sobre todas as coisas é bom juiz em geral. Por isso, um jovem não é bom ouvinte de preleções sobre a ciência política. Com efeito, ele não tem experiência dos fatos da vida, e é em torno destes que giram as nossas discussões; além disso, como tende a seguir as suas paixões, tal estudo lhe será vão e improfícuo, pois o fim que se tem em vista não é o conhecimento, mas a ação. E não faz diferença que seja jovem em anos ou no caráter; o defeito não depende da idade, mas do modo de viver e de seguir um após outro cada objetivo que lhe depara a paixão. A tais pessoas, como aos incontinentes, a ciência não traz proveito algum; mas aos que desejam e agem de acordo com um princípio racional o conhecimento desses assuntos fará grande vantagem. Sirvam, pois, de prefácio estas observações sobre o estudante, a espécie de tratamento a ser esperado e o propósito da investigação. CAP. 4 Retomemos a nossa investigação e procuremos determinar, à luz deste fato de que todo
conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, quais afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação. Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. Diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade, e o vulgo não o concebe do mesmo modo que os sábios. Os primeiros pensam que seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras, muito embora discordem entre si; e não raro o mesmo homem a identifica com diferentes coisas, com a saúde quando está doente, e com a riqueza quando é pobre. Cônscios da sua própria ignorância, não obstante, admiram aqueles que proclamam algum grande ideal inacessível à sua compreensão. Ora, alguns têm pensado que, à parte esses numerosos bens, existe um outro que ê auto-subsistente e também é causa da bondade de todos os demais. Seria talvez infrutífero examinar todas as opiniões que têm sido sustentadas a esse respeito; basta considerar as mais difundidas ou aquelas que parecem ser defensáveis. Não percamos de vista, porém, que há uma diferença entre os argumentos que procedem dos primeiros princípios e os que se voltam para eles. O próprio Platão havia levantado esta questão, perguntando, como costumava fazer: "Nosso caminho parte dos primeiros princípios ou se dirige para eles?" Há aí uma diferença, como há, num estádio, entre a reta que vai dos juízes ao ponto de retorno e o caminho de volta. Com efeito, embora devamos começar pelo que é conhecido, os objetos de conhecimento o sã o em dois sentidos diferentes: alguns para nós, outros na acepção absoluta da palavra. É de presumir, pois, que devamos começar pelas coisas que nos são conhecidas, a nós. Eis aí por que, a fim de ouvir inteligentemente as preleções sobre o que é nobre e justo, e em geral sobre temas de ciência política, é preciso ter sido educado nos bons hábitos. Porquanto o fato é o ponto de partida, e se for suficientemente claro para o ouvinte, não haverá necessidade de explicar por que é assim; e o homem que foi bem educado já possui esses pontos de partida ou pode adquiri-los com facilidade. Quanto àquele que nem os possui, nem é capaz de adquiri-los, que ouça as palavras de Hesíodo: Ótimo é aquele que de si mesmo [conhece todas as coisas; Bom, o que escuta os conselhos [dos homens judiciosos. Mas o que por si não pensa, nem [acolhe a sabedoria alheia, Esse é, em verdade, uma criatura inútil] [continua] QUESTIONÁRIO: 01. Segundo Aristóteles, por que na Ética não se pode exigir tanto rigor quanto nas ciências? 02. Qual é o FIM da ciência de Política? 03. Qual é o FIM da ciência da Ética? 04. Por que os jovens não estão preparados para preleções éticas? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Editora Atlas, 2009. DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 03
TEMA: PLATÃO & ARISTÓTELES POR UMA CIDADE ÉTICA LIVRO: “A REPÚBLICA – LIVRO IV” DO FILÓSOFO PLATÃO / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” DO FILÓSOFO ARISTÓTELES PERÍODO: 12 a 16 de Maio. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Apresentação da obra, conceitos e vida do filósofo Aristóteles. Introdução ao estudo da obra “Ética a Nicômaco” do filósofo Aristóteles. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ética, Virtude, Vício, Política, Felicidade, Sociedade, Moral, Cultura, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: ARISTÓTELES – ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I CAP. 5 Voltemos, porém, ao ponto em que havia começado esta digressão. A julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles, e os homens de tipo mais vulgar, parecem (não sem um certo fundamento) identificar o bem ou a felicidade com o prazer, e por isso amam a vida dos gozos. Pode-se dizer, com efeito, que existem três tipos principais de vida: a que acabamos de mencionar, a vida política e a contemplativa. A grande maioria dos homens se mostram em tudo iguais a escravos, preferindo uma vida bestial, mas encontram certa justificação para pensar assim no fato de muitas pessoas altamente colocadas partilharem os gostos de Sardanapalo. A consideração dos tipos principais de vida mostra que as pessoas de grande refinamento e índole ativa identificam a Felicidade com a honra; pois a honra é, em suma, a finalidade da vida política. No entanto, afigura-se demasiado superficial para ser aquela que buscamos, visto que depende mais de quem a confere que de quem a recebe, enquanto o bem nos parece ser algo próprio de um homem e que dificilmente lhe poderia ser arrebatado. Dir-se-ia, além disso, que os homens buscam a honra para convencerem-se a si mesmos de que são bons. Como quer que seja, é pelos indivíduos de grande sabedoria prática que procuram ser honrados, e entre os que os conhecem e, ainda mais, em razão da sua virtude. Está claro, pois, que para eles, ao menos, a virtude é mais excelente. Poder-se-ia mesmo supor que a virtude, e não a honra, é a finalidade da vida política. Mas também ela parece ser de certo modo incompleta, porque pode acontecer que seja virtuoso quem está dormindo, quem leva uma vida inteira de inatividade, e, mais ainda, é ela compatível com os maiores sofrimentos e infortúnios. Ora, salvo quem queira sustentar a tese a todo custo, ninguém jamais considerará feliz um homem que vive de tal maneira. Quanto a isto, basta, pois o assunto tem sido suficientemente tratado mesmo nas discussões correntes. A terceira vida é a contemplativa, que examinaremos mais tarde. Quanto à vida consagrada ao ganho, é uma vida forçada, e a riqueza não é evidentemente o bem que procuramos: é algo de útil, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa. E assim, antes deveriam ser incluídos entre os fins os que mencionamos acima, porquanto são amados por si mesmos. Mas é evidente que nem mesmo esses são fins; e contudo, muitos argumentos têm sido desperdiçados em favor deles. Deixamos, pois, este assunto.
QUESTIONÁRIO: 01. Explique a afirmação: “A julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles, e os homens de tipo mais vulgar, parecem (não sem um certo fundamento) identificar o bem ou a felicidade com o prazer, e por isso amam a vida dos gozos”. 02. Segundo Aristóteles, o que é FELICIDADE? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Editora Atlas, 2009. DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 04
TEMA: PLATÃO & ARISTÓTELES POR UMA CIDADE ÉTICA LIVRO: “A REPÚBLICA – LIVRO IV” DO FILÓSOFO PLATÃO / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” DO FILÓSOFO ARISTÓTELES PERÍODO: 12 a 16 de Maio. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Apresentação da obra, conceitos e vida do filósofo Platão. Introdução ao estudo da obra “A República – Livro IV” do filósofo Platão. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ética, Virtude, Vício, Política, Felicidade, Sociedade, Moral, Cultura, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: PLATÃO – A REPÚBLICA – LIVRO IV Tomando a palavra, Adimanto perguntou: - Caro Sócrates, como você se defenderá se alguém disser que, de acordo com a sua proposta, você estará provocando a infelicidade desses guardiões? Pois a cidade lhes pertenceria, mas eles não poderiam usufruir dos seus bens como aqueles que possuem propriedades e tudo o que o dinheiro pode oferecer. Você dirá que eles deveriam simplesmente contentar-se com o seu salário e cumprir a função de proteger a cidade? - Certamente. E digo mais! Este modo de vida deveria ser imposto aos guardiões não só para o bem deles, mas para o bem de toda a cidade. Se os guardiões não cumprirem o seu papel, ninguém mais o fará, porque é desta ordem que depende a cidade. Se as outras funções que compõem a cidade não forem realizadas adequadamente, o prejuízo para a cidade não será tão grande como no caso dos guardiões das leis e da cidade, porque só eles detêm o poder de administrá-la bem e de torná-la feliz. Se eles forem bons no cumprimento de sua função, todos os outros também serão, e participarão da felicidade da cidade conforme a sua natureza. A partir desta observação, Sócrates demonstrou que as diferenças econômicas constituem uma das maiores dificuldades para o desenvolvimento harmonioso da cidade e para a sua defesa. De fato, a riqueza dá origem ao luxo, à preguiça e ao gosto pelas novidades, e, por outro lado, a pobreza pode gerar comportamentos rudes e um modo desleixado de trabalhar. Se deixarmos a cidade ser dominada pelas diferenças, ela será uma presa fácil para as outras cidades, porque ficará internamente dividida numa guerra permanente entre ricos e pobres. Ao contrário, se ela estiver unida e se for bem administrada, será forte e poderá crescer até o ponto em que o seu território seja suficiente para sustentar os seus habitantes, porque esse é o limite até onde uma cidade pode crescer. Por isso, deve-se impor aos guardiões a obrigação de zelar para que a cidade não seja nem muito pequena, a ponto de não ser autossuficiente, nem muito grande, a ponto de se tornar desunida. Decorre daí a necessidade de cuidar para que cada um seja encaminhado para a atividade para a qual nasceu, como ensinou a bela história sobre a origem dos homens, de modo que cada um cuide daquilo que lhe diz respeito, e a cidade cresça unida e de maneira proporcional às suas necessidades. Daí também decorre a importância da educação a ser dada aos cidadãos, para que se tornem honestos, comedidos e capazes de compreender essas questões, assim como as outras
de menor importância, como, por exemplo, as que se referem à posse comum das mulheres, ao casamento e à procriação. Por isso, será também uma função dos guardiões zelar pela boa qualidade do sistema educacional da cidade, não permitindo que se introduzam modificações inadequadas e nem inovações que venham a prejudicar a formação dos cidadãos. Isto porque muitas novidades se introduzem inadvertidamente em pequenas coisas, mas aos poucos corrompem os costumes e as leis, e acabam subvertendo toda a ordem estabelecida na cidade. Por outro lado, quando as crianças, desde pequenas, se habituam a cumprir seus pequenos deveres, na maturidade serão homens de bem e saberão comportar-se conforme as leis que organizam toda a vida da cidade. [continua] QUESTIONÁRIO: 01. Segundo Platão, o que acontece com o Guardião que não cumpre bem sua função? 02. Quais diferenças econômicas Sócrates cita no texto? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - PLATÃO. República. Adaptação Marcelo Perine. São Paulo: Editora Scipione, 2002. (Coleção Reencontro). DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 05
TEMA: PLATÃO & ARISTÓTELES POR UMA CIDADE ÉTICA LIVRO: “A REPÚBLICA – LIVRO IV” DO FILÓSOFO PLATÃO / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” DO FILÓSOFO ARISTÓTELES PERÍODO: 19 a 23 de Maio. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Apresentação da obra, conceitos e vida do filósofo Platão. Introdução ao estudo da obra “A República – Livro IV” do filósofo Platão. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ética, Virtude, Vício, Política, Felicidade, Sociedade, Moral, Cultura, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: PLATÃO – A REPÚBLICA – LIVRO IV Adimanto — E agora, que nos resta ainda a dizer sobre a legislação? Sócrates — Creio que mais nada, da nossa parte, mas da parte de Apoio ainda falta muito, porque ele é responsável pelas leis mais belas a elevadas. Adimanto — Quais? Sócrates — As que se referem ao culto das divindades e dos que estão no além. Mas essas leis já foram dadas por Apoio à nossa pátria. Portanto, Adimanto, dou por concluída a discussão sobre a fundação da cidade, de modo que você, seu irmão Polemarco e os outros já podem observá-la para distinguir a justiça da injustiça e saber qual das duas é preciso ter para ser feliz. Glauco — Ora, Sócrates, você parece que está delirando! Afinal, você se comprometeu a nos mostrar essas coisas. Sócrates — É verdade, mas só farei isto com a ajuda de vocês. Glauco — Pode contar conosco. Sócrates — Se a nossa cidade já tiver sido bem fundada, ela deverá ser plenamente boa, não é verdade? Portanto, deverá ser sábia, corajosa, moderada e justa. Glauco — Evidentemente. Sócrates — Comecemos pela sabedoria. Uma cidade bem fundada é sábia porque faz boas escolhas, certo? Glauco — Certo. Sócrates — Ora, fazer boas escolhas depende de um determinado saber, pois a ignorância não leva a boas escolhas. Entretanto, na cidade há muitos saberes como, por exemplo, o dos carpinteiros, o dos ferreiros e o dos agricultores. Em cada uma destas funções, a cidade possui o saber necessário para fazer boas escolhas nos seus respectivos campos, não é verdade? Glauco — Penso que sim. Sócrates — Existe na cidade algum saber que, exercido por alguns dos seus cidadãos, lhe permita fazer boas escolhas, não sobre assuntos particulares, mas sobre o conjunto da vida da cidade e sobre o modo de se comportar em política interna e externa? Glauco — É claro que existe! É o saber dos guardiões e encontra-se, particularmente, nos seus chefes. Sócrates — E estes não são muitos. Portanto, é graças ao saber desses poucos que uma cidade bem fundada pode ser toda ela sábia. Aliás, esse é o único saber que merece o nome de sabedoria. E quanto à coragem? Não se deve dizer que a coragem de uma cidade decorre daqueles que se dedicam a lutar por ela? Glauco — Certamente. Sócrates — Portanto, a cidade é corajosa por aqueles que, em todas as circunstâncias, conseguem
manter com firmeza a correta opinião sobre as coisas a temer, e essas coisas são as que lhes foram ensinadas durante a formação. Não é a isso que chamamos de coragem? Glauco — Não entendi. Sócrates — Vou explicar por meio de uma comparação. Quando os tintureiros querem tingir de vermelho a lã, primeiro fazem com que ela fique totalmente branca para, depois, aplicar a cor vermelha, de modo que a tintura penetre mais profundamente e não se desgaste com o tempo e com a lavagem. Pois bem, quando falamos em selecionar os guardiões e educá-los pela música e pela ginástica, fizemos algo parecido: procuramos fazer com que as leis penetrassem tão profundamente neles, que a sua opinião sobre as coisas a temer e sobre tudo o mais se tornasse indelével, a ponto de resistir a tudo o que pudesse desgastá-la, como o prazer, a dor, o medo e o desejo. Assim, se você não tem nada a opor, esta é a minha definição de coragem: é a força de manter, em todas as circunstâncias, a opinião correta e legítima sobre as coisas temíveis e as que não são. Glauco — De fato, não tenho nada a opor à sua definição. [continua] REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - PLATÃO. República. Adaptação Marcelo Perine. São Paulo: Editora Scipione, 2002. (Coleção Reencontro). ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Sócrates — Falta ainda examinar duas virtudes na cidade: a moderação e a justiça. Comecemos pela moderação, antes da justiça, porque certamente esta não poderá existir sem aquela. Glauco — Certamente. Sócrates — Do meu ponto de vista, a moderação se assemelha a uma harmonia, porque ela é uma espécie de domínio que se estabelece sobre os prazeres e desejos, fazendo com que a pessoa se coloque acima de si mesma, conforme uma expressão que muitos utilizam, mas que eu não entendo muito bem. Glauco — Eu também acho que a expressão "estar acima de si mesmo" é um tanto ridícula, porque quem está acima de si também está abaixo de si. Sócrates — É, mas a expressão pode significar que no mesmo homem há uma parte que é superior e outra que é inferior, de modo que, na medida em que a superior predomine sobre a inferior, o homem estará acima de si mesmo, e quando, pela má educação, ocorrer o contrário, o homem se tornará inferior e escravo de si mesmo. Neste sentido, se na maioria das pessoas de uma cidade predominarem as coisas inferiores, isto é, os desejos, as paixões e as dores, não se poderá dizer que a cidade é senhora de si. Mas quando predominarem, mesmo num pequeno número de cidadãos bem formados, sentimentos simples e comedidos, dirigidos pela razão unida com a inteligência e a ponderação, poderemos dizer que, por causa desses cidadãos, a cidade é senhora de si. Você não acha? Glauco — Perfeitamente. Sócrates — E na cidade que estamos fundando, em quem você acha que deveria prevalecer a moderação? Nos governantes ou nos governados? Glauco — Em ambos. Sócrates — Você entende agora por que eu disse que a moderação se assemelha a uma harmonia? É porque, diferentemente da sabedoria e da coragem, que podem pertencer a um grupo seleto de pessoas, a moderação deve se estender a toda a cidade, como se todos os cidadãos cantassem a uma só voz a mesma canção. Por isso dizemos que a moderação é uma concórdia ou uma consonância entre os que são, por natureza, superiores e os que são inferiores, a respeito de quem deve governar, tanto na cidade como no indivíduo. Glauco — Estou plenamente de acordo. [continua] QUESTIONÁRIO: 01. Qual a função da virtude da Sabedoria? 02. Qual a função da virtude da Moderação? 03. Qual a função da virtude da Coragem? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - PLATÃO. República. Adaptação Marcelo Perine. São Paulo: Editora Scipione, 2002. (Coleção Reencontro). DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 06
TEMA: PLATÃO & ARISTÓTELES POR UMA CIDADE ÉTICA LIVRO: “A REPÚBLICA – LIVRO IV” DO FILÓSOFO PLATÃO / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” DO FILÓSOFO ARISTÓTELES PERÍODO: 19 a 23 de Maio. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Apresentação da obra, conceitos e vida do filósofo Platão. Introdução ao estudo da obra “A República – Livro IV” do filósofo Platão. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ética, Virtude, Vício, Política, Felicidade, Sociedade, Moral, Cultura, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: PLATÃO – A REPÚBLICA – LIVRO IV Sócrates — Agora que só nos falta a justiça, devemos ter o máximo cuidado para que não a percamos depois de tanto trabalho. Aliás, penso que já a encontramos sem que nos tenhamos dado conta disso. Glauco — Como assim? Sócrates — O princípio sobre o qual estabelecemos a nossa cidade não foi o de que cada um deveria ocupar-se da função para a qual foi destinado pela natureza? Ora, este princípio é, justamente, a justiça. Glauco — Então, a justiça na cidade consiste em que cada um execute a tarefa que lhe é própria e não se meta na dos outros? Sócrates — Exatamente, Glauco. Embora isso se aplique aos três grupos que compõem a cidade, é aos governantes que compete administrá-la, evitando que cada um se aproprie dos bens alheios e seja privado dos próprios. E agora que já é bem visível para nós o que é a justiça na cidade, podemos facilmente transferi-la para o indivíduo, porque o homem justo deverá ser semelhante à cidade justa. Glauco — Certamente. Sócrates — Vimos que uma cidade é justa quando cada um dos grupos que a compõem executa a sua tarefa própria, e quando ela é moderada, corajosa e sábia. Portanto, o indivíduo deverá ter na sua alma faculdades equivalentes às funções dos diferentes grupos que compõem a cidade. Porém, a demonstração de que existem três partes na alma é muito longa e difícil. Glauco — Mas você não vai nos deixar na mão justamente agora. Sócrates — De jeito nenhum Então vejamos. Encontramos em nossa alma impulsos, sentimentos e atividades diferentes. Ora, não é possível que a mesma coisa produza efeitos diferentes e até contrários, não é verdade? Assim, quando constatamos que com a nossa alma nós aprendemos, nos encolerizamos e também desejamos, devemos supor a existência de partes na alma que se ocupam dessas diferentes atividades. Glauco — Parece que sim. Sócrates — E não é verdade que uma pessoa sedenta pode recusar-se a beber? Glauco — É verdade. Sócrates — Então, quer dizer que na alma há algo que nos impele a fazer alguma coisa e algo que nos impede de fazer outras coisas? Glauco — É o que parece. Sócrates — Portanto, é com razão que nós distinguimos na alma uma parte pela qual ela raciocina e outra pela qual ela tem capacidade de desejar. E com relação à cólera, será que ela depende de
uma dessas duas ou tem uma parte que lhe é própria? Glauco — Talvez ela possa estar ligada à capacidade de desejar. Sócrates — Mas você já reparou que às vezes a cólera luta contra os desejos e torna-se uma aliada da razão, como nas ocasiões em que nos irritamos por termos cedido a algum desejo que, depois, reconhecemos ter sido preju¬dicial para nós, ou, então, nas vezes em que nos indignamos diante de alguma injustiça? Glauco — Isso é verdade. Sócrates — Mas, então, são apenas duas as partes da alma, ao contrário da cidade, onde temos um grupo que cuida dos negócios, outro da defesa e outro do governo? Glauco — Parece que deveriam ser três, porque, se observarmos as crianças, veremos que desde cedo elas se irritam muito facilmente, ao passo que, com relação à razão, muitas nunca a alcançam e a maioria só chega a ela muito tarde. Sócrates — Você falou muito bem. De fato, é possível distinguir uma parte da alma que raciocina sobre o que é melhor e o que é pior, e outra parte que, às vezes, se irrita sem razão. Portanto, estamos de acordo que na cidade e na alma dos indivíduos existem as mesmas partes e em igual número. Glauco — Sim. Sócrates — Logo, os motivos que tornam uma cidade sábia devem ser os mesmos para o indivíduo, assim como os que tornam o indivíduo corajoso serão os mesmos para a cidade. E também um homem será chamado justo pelas mesmas razões que permitem dizer que uma cidade é justa. Glauco — Estou de acordo. Sócrates — Mas você não se esqueceu que também concordamos em dizer que a cidade era justa porque cada um executava a tarefa que lhe era própria, em cada um dos três grupos que a compunham? Glauco — É claro que não me esqueci. Sócrates — Portanto, também em cada um de nós a justiça consistirá em que cada parte da alma execute a sua tarefa específica, ou seja, a parte racional deve governar, porque é sábia e tem a responsabilidade pela alma toda, enquanto a capacidade de encolerizar-se deve obedecer e ser aliada da razão. E, como dissemos anteriormente, dado que uma mistura de música e ginástica ajudaria as crianças a encontrar o equilíbrio entre estas duas partes, fortalecendo a razão pela ciência e abrandando a cólera pela harmonia e pelo ritmo, segue-se que essas duas partes, bem formadas para a função que lhes compete, poderão vigiar os desejos, para que eles não se excedam e não venham a dominar toda a alma. Glauco — Perfeitamente. Sócrates — E nós não chamamos corajoso aquele que, em meio às dores e prazeres, consegue manter inabalável aquilo que a razão diz que se deve temer e o que não se deve? Glauco — É assim que o chamamos. Sócrates — E não dizemos que alguém é sábio por aquela pequena parte da alma que exerce a função de comando sobre as outras duas, justamente porque é capaz de conhecer o que é útil a cada uma delas, bem como ao conjunto das três? Glauco — Exatamente. Sócrates — Finalmente, não damos o nome de moderado ao indivíduo no qual as partes da alma vivem em harmonia, de modo que a parte governante e as partes governadas concordem que a razão governe e as outras não se revoltem contra ela? Glauco - É isso mesmo. Sócrates — E assim, mais uma vez, chegamos à justiça, não no exterior, mas no interior do homem. De fato, se cada uma das partes da alma executa a sua tarefa própria, então o homem será incapaz de cometer desvios, tanto na vida pública como na vida privada, e também não faltará com sua palavra nem transgredirá as leis e normas que organizam a vida da cidade e dos indivíduos. Este homem, no qual cada parte cumpre a função que lhe é própria e não se mete na função das outras, depois de ter estabelecido uma bela ordem dentro de si, depois de ter alcançado o domínio de si mesmo e de ter reunido harmoniosamente as três partes, como se executassem uma única sinfonia, poderá ocupar-se, se quiser, de adquirir riquezas, de cuidar do corpo, de fazer política ou mesmo de fazer negócios particulares. Em tudo que fizer agirá com justiça, pois as suas ações con¬servarão e aperfeiçoarão o seu modo de vida, e também com sabedoria, porque possuirá o saber que estará governando todas as suas ações. Glauco — O que você diz é a plena verdade. Sócrates — O contrário de tudo isso será a injustiça, ou seja, a confusão das partes da alma, a intriga entre elas, a ingerência indevida de uma nas funções da outra e a revolta das que devem
obedecer contra a que deve comandar. É essa desordem interior que provoca a injustiça, a covardia, a falta de moderação, a ignorância e todo tipo de vícios. E note que há uma semelhança entre a injustiça e a doença. De fato, as coisas sadias geram saúde e as coisas infectadas geram doenças, assim como as coisas justas produzem justiça e as injustas produzem injustiça. Ora, produzir saúde é dispor as partes do corpo de acordo com as funções que lhes são atribuídas pela natureza, e produzir a justiça é dispor as partes da alma de acordo com a natureza, ao passo que a enfermidade e a injustiça consistem numa subversão da ordem natural das coisas. Portanto, a virtude será como a saúde, a beleza e o bem-estar da alma, e o vício será como a enfermidade, a feiura e a fraqueza da alma. Glauco - É isso mesmo. Sócrates — Agora só falta investigar se vale a pena praticar a justiça, fazer belas ações e ser justo, independentemente de que isso seja ou não percebido pelos outros, ou se é melhor praticar a injustiça e ser injusto quando não se tem de pagar por isso. Glauco — Ora, Sócrates, esta sua questão já está beirando o ridículo. Se é verdade que não vale mais a pena viver quando a nossa constituição física decai e chega ao seu limite, mesmo que se esteja rodeado de alimentos, bebidas, riquezas e poder, com maior razão não valerá a pena viver quando estiver corrompida aquela parte da alma que nos permite levar a vida buscando a justiça e a virtude. QUESTIONÁRIO: 01. Qual a importância da virtude da Justiça na cidade, segundo Platão? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - PLATÃO. República. Adaptação Marcelo Perine. São Paulo: Editora Scipione, 2002. (Coleção Reencontro). DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ATENÇÃO!!!
AVALIAÇÃO ONLINE 01
FILOSOFIA
PERÍODO: 26 A 30 DE MAIO.
- Atividade Filosófica (individual).
- Valor da Atividade: 10,0 pontos.
- 10 questões (modelo Enem)
- Local: em casa
- Prazo para realização da atividade: do dia 26/05 até 30/05
- Não há 2ª chamada da Atividade Online 01
- Conteúdo:
“A REPÚBLICA – LIVRO IV” DO FILÓSOFO PLATÃO
“ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I (cap. I, II, III, IV e V)” DO FILÓSOFO ARISTÓTELES
AULA 07
TEMA: SOCIOLOGIA E A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA LIVRO: “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi PERÍODO: 26 a 30 de Maio. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Introdução ao estudo da obra “Sociologia Crítica: alternativas de mudança” do sociólogo Pedrinho Guareschi. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ideologia, Direito, Repressão, Sociedade, Manipulação, Hierarquia, Família, Escola, Cultura, Ética, Política, Moral, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: PEDRINHO GUARESCHI SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA CAPÍTULO: OS APARELHOS DE REPRODUÇÃO DA SOCIEDADE Após termos ampliado a visão do que seja uma sociedade, com sua infraestrutura e superestrutura e suas influências mútuas, passaremos a analisar, pormenorizadamente, os diversos mecanismos superestruturais que se criam nas diversas sociedades para reprodução e manutenção dessa própria sociedade. Nessa primeira discussão vamos examiná-los e classificá-los de modo geral. Posteriormente vamos discutir alguns deles individualmente e mostrar como eles se comportam, quais as estratégias que usam, quais seus mecanismos claros e ocultos. Entre outros, veremos o papel das leis (o aparelho ideológico do Direito), o papel da escola, das igrejas, da família, dos meios de comunicação, dos sindicatos, das cooperativas. Que são aparelhos de reprodução? Todo agrupamento humano, toda sociedade necessita assegurar sua sobrevivência e sua permanência, sua reprodução. A sobrevivência é assegurada pela produção, e a reprodução é assegurada por diversos aparelhos, ou mecanismos, que a sociedade cria, como já vimos no capítulo anterior, para se fortificar e legitimar, podendo assim garantir sua continuidade. Quais são eles? Diversos pensadores que discutiram esse problema classificaram os aparelhos de reprodução em duas categorias fundamentais: Os aparelhos repressivos: são aqueles aparelhos que na sua função de manutenção e reprodução da sociedade usam a força, a violência, ou a coação-repressão. Eles não escondem seu papel, mostram-se como são, são claramente estruturados e organizados. Entre outros, poderíamos identificar os seguintes: - o exército, que muitas vezes tem a tarefa de defender a sociedade contra agressões externas, mas algumas vezes passa a exercer funções dentro da própria nação;
- as companhias de segurança que estão proliferando por toda parte (a concentração, com sua consequente exclusão, produz uma sociedade cada vez mais violenta e insegura); - as políticas de todos os tipos: sua função é garantir a ordem interna, em geral; - as prisões, onde são colocados os que não se enquadram dentro das normas estabelecidas pela sociedade. Essas prisões são de diversos tipos e categorias. Há prisões para menores de 18 anos, prisões para mulheres, prisões para presos comuns, para presos especiais e entre os especiais, há algumas prisões para as pessoas que possuem certo grau de saber ou prestígio na sociedade. - Os tribunais, encarregados de julgar e decidir o que é certo ou errado, quem é culpado ou inocente. Os tribunais remetem as pessoas às prisões, quando julgadas culpadas. - O direito, que em sua parte penal passa a pertencer às instituições repressivas. Não analisaremos especificamente nenhum dos aparelhos acima nos capítulos posteriores, pois preferimos dar maior atenção aos aparelhos ideológicos, que usam a persuasão e que são mais sofisticados. Os aparelhos repressivos são fáceis de serem analisados. Além disso, os aparelhos repressivos só são usados em último caso, isto é, quando as pessoas não se conformam mesmo com o que os dirigentes da sociedade querem. Primeiro as pessoas são tratadas duma maneira pacífica, persuasiva, através de conselhos. Só depois, quando esses remédios estiverem esgotados, passa-se a usar a coação e a repressão. Por isso, na nossa análise das relações de dominação, discutiremos as instituições que usam a repressão duma maneira mais sutil e elegante. Você pode, contudo, fazer-se diversas perguntas com respeito aos aparelhos repressivos. Pode-se perguntar, por exemplo: a quem se destina realmente a polícia? Talvez você vá descobrir que a polícia, na realidade, só cuida dum determinado tipo de gente, que são os trabalhadores. No papel, a polícia deveria ter o mesmo tratamento com todos. Mas, na prática, de quem a polícia cuida? E quem a polícia defende? Ainda mais, você poderia se perguntar: qual o papel dos tribunais e das prisões? Quem chega a ir para a prisão? Quem chega a ser condenado? Você já chegou a ver algum dono dos meios de produção na prisão? E por que existem prisões especiais para certos tipos de pessoas que possuem mais estudo ou mais prestígio, prestígio esse trazido, em geral, pelo dinheiro? Você vai dar-se conta de que, na prática, os aparelhos repressivos estão a serviço dum tipo de gente, duma classe que são os donos do capital, e atuam, na maioria quase absoluta das vezes, contra a outra classe, que são os trabalhadores. As raras exceções são para confirmar a regra. Mas no discurso, isso é, quando se fala ou se escreve, se diz que esses aparelhos repressivos são para proteger e defender todos os cidadãos. Procure estar atento e prestar atenção ao papel real desses aparelhos coercitivos. Os aparelhos ideológicos são aqueles aparelhos, ou mecanismos, que na sua função de manutenção e reprodução das relações numa sociedade usam a persuasão, a cantada, isto é, a ideologia. Eles são bem mais difíceis de serem identificados, pois é necessária certa astúcia, certa perspicácia para poder perceber seu papel. Como dizíamos antes, eles são muito mais sofisticados em sua ação. Entre os aparelhos ideológicos poderíamos citar os seguintes: - a escola (ou educação), a família, as diversas igrejas, as leis (o direito), os meios de comunicação social (rádio, TV, jornais, revistas, filmes, teatros), as entidades assistenciais (INSS, "Comunidade Solidária", Febem, etc.), os sindicatos (pelegos), as cooperativas dependentes do Estado, os partidos políticos dominados pelo capital, e outros.
Nos capítulos posteriores vamos fazer uma análise específica de alguns dos aparelhos ideológicos acima mencionados, Essa discussão será apenas para poder realçar seus pontos principais, mas cada grupo de trabalho que se defrontar com esses aparelhos deve, ele mesmo, discuti-los na prática e identificar os mecanismos e estratégias que são usadas em cada situação concreta. QUESTIONÁRIO: 01. Que são aparelhos de reprodução? 02. O que é Ideologia? 03. Que são aparelhos repressivos? 04. Que são aparelhos ideológicos? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - GUARESCHI, Pedrinho. Sociologia crítica: alternativas de mudança. 60. ed. Porto Alegre: Mundo Jovem, 2007. DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
AULA 08
TEMA: SOCIOLOGIA E A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA LIVRO: “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi PERÍODO: 26 a 30 de Maio. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Introdução ao estudo da obra “Sociologia Crítica: alternativas de mudança” do sociólogo Pedrinho Guareschi. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ideologia, Direito, Repressão, Sociedade, Manipulação, Hierarquia, Família, Escola, Cultura, Ética, Política, Moral, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: PEDRINHO GUARESCHI SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA CAPÍTULO XX OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E O MASSACRE DA CULTURA Esse capítulo vai abordar a relação entre os meios de comunicação e a cultura. Vejamos, primeiro, o que designamos por cultura e depois a relação da cultura com os MCS. 1) Que é cultura? A primeira coisa é definir cultura. A definição melhor é: Cultura é tudo o que o homem faz. Para poder sobreviver e se relacionar com o mundo exterior, o homem cria uma espécie de muro ao seu redor, que lhe facilita o relacionamento com o mundo. Assim, cultura é a maneira de falar (língua), a maneira de vestir, de morar, de comer, de trabalhar, de rezar, de se comunicar etc. Essa cultura fica sendo a sua garantia, sua defesa. Quando essa cultura é destruída o povo fica desprotegido e facilmente pode ser dominado e até destruído. Todo povo se afirma como povo na media em que consegue produzir essa fortificação, que fica sendo a razão mesma de seu existir. Por isso se diz que a cultura é a alma dum povo. Povo sem cultura é povo sem alma, sem identidade. Examinando a história, vemos que os povos conquistadores sabiam disso muito bem. Os romanos, para poder dominar totalmente os povos e não deixá-los mais levantar a cabeça, destruíam sua cultura: destruíam os monumentos, não deixavam mais falar sua língua (exigiam que falassem o latim, língua dos dominadores), roubavam os seus deuses... Se a cultura é a alma de um povo, a religião é o centro, a alma da cultura. Quando um povo não tem mais onde se agarrar, ele se agarra à religião que fica sendo o grito desesperado de sobrevivência de um povo. Os movimentos messiânicos provam isso muito bem. Os romanos, porque eram supersticiosos, não destemiam os deuses dos povos dominados, mas roubavam os deuses e os levavam para Roma, onde os colocavam num templo especial. Se por acaso algum deus funcionasse... ele não ficaria de mal com os conquistadores.
Outro exemplo da destruição dum povo através da cultura é o caso da conquista da América Central pelos espanhóis. Dizem os historiadores que na cidade do México as fogueiras ardem durante semanas, queimando tudo o que os conquistadores encontravam. Coisas preciosíssimas. Em alguns pontos a cultura mexicana ou a incaica era até mais adiantada que a cultura europeia. O calendário asteca, por exemplo, era corrigido num décimo de segundo de 52 em 52 anos! Coisa que nós só fazemos agora na era eletrônica. Pois esses povos foram totalmente subjugados c até hoje não conseguiram recuperar sua identidade e liberdade. Perderam sua cultura, sua alma... 2) Cultura e MCS Mas que tem tudo isso a ver com os meios de comunicação social? Acontece que os MCS são os principais transmissores da cultura dum país. Eles são os "carregadores" e os "transformadores" da cultura, isto é, da maneira de comer, de fumar, de dançar, de cantar, de morar, de viajar, de beber, de se vestir etc. Como? Quando se assiste a um filme, ou se vê uma novela, não é o roteiro, ou o enredo a única coisa a que se assiste ou se vê. Como pano de fundo está todo um conjunto cultural: um tipo de moradia, de decoração, uma maneira de comer, de vestir, de se relacionar, um tipo de carro, de casa, um tipo de diversão, em resumo, uma maneira diferente de se viver, isto é, um padrão cultural diferente. Esse pano de fundo é o que realmente fica na mente das pessoas e leva à mudança dos padrões culturais. É uma transmissão ou mudança de cultura que se dá quase inconscientemente. E atenção agora para a prova disso. Se lançarmos um olhar sobre os "costumes", ou "a moda", "a onda" de nossa população, principalmente da juventude (pois a juventude é mais frágil e se deixa penetrar muito mais pelas novas práticas de vida e de ação), veremos que nossa cultura está mudando e está sendo totalmente descaracterizada. Nas roupas de nossos jovens (e muitos velhos) está em geral escrito algo em uma língua estrangeira, pois isso é ser "moderno". De cada 100 pessoas a quem você pergunta, 95 não sabem o que está escrito. No comer, o que vale é comer "cheesburger", "hamburger", ou qualquer coisa assim. Para curtir um divertimento, ou mesmo uma comida, precisa ser num "Antonio's" ou "chez Marie" ou coisa que o valha. Você liga um rádio, a música é estrangeira em 70% dos casos. Na TV, grande parte dos programas são feitos fora do Brasil, ou, se é novela, num ambiente cultural totalmente diferente do ambiente onde vive a maioria da população; é a "cultura de Ipanema". Assim por diante. Sem querer, nossa cultura está sendo minada, furada, transformada, destruída. A gente se pergunta até quando ainda o português vai ser a língua oficial! De todas as palavras escritas num grande "shopping-center" (já começa com o nome!), 52% eram em inglês, fora o que estava em francês, italiano etc. Tal a nossa dependência social e cultural. É claro que esta dependência tem como finalidade uma dependência econômica, um esvaziamento de nossas riquezas. É importante que a gente consuma coisa de fora, pois o lucro irá naturalmente para fora também. Há uma ligação estreitíssima entre a dependência cultural e a econômica. Os "plets", "chiclets", "nestlés" que consumimos vão enriquecer os cofres estrangeiros. Até crimes se cometem para ganhar dinheiro. Vejam o caso da Nestlé, que criou o tal de leite "que substitui o leite materno". Fez um propaganda enorme no mundo todo. Dava leite de graça no começo. Mas depois que as crianças se acostumaram, as mães precisavam comprar! Em alguns países, onde antes da Nestlé 90% das mães amamentavam até aos seis meses, depois da Nestlé, a proporção baixou para 15 ou 20%. E milhões de crianças morreram por causa disso, pois as mães não tinham mais dinheiro para comprar o leite, por isso reduziram a quantia, ou não podiam ter os cuidados de higiene e esterilização que o leite exigia... Mas os cofres da Nestlé se encheram
às custas da mudança dum padrão cultural, isto é, amamentar as crianças. Estão vendo o que significa mudança de cultura? Um povo que não possui uma cultura própria, que não defende sua cultura é um povo que está sendo dominado e escravizado. Perguntemos com sinceridade: somos de fato um povo independente? Economicamente falando, já sabemos que não o somos há muito tempo. Politicamente falando, dançamos de acordo com a música dos credores de nossa dívida externa e do FMI. E culturalmente falando, corremos o risco de perder nossa alma, nossa identidade. A dependência econômica, política e cultural estão sempre ligadas. E agora pensemos um pouco: são os meios de comunicação, que não são nossos, ou não transmitem nossas coisas (veja o capítulo anterior), que descaracterizam e roubam nossa cultura. Está se repetindo entre nós a velha história do Cavalo de Tróia. QUESTIONÁRIO: 01. Que é cultura? 02. Qual o papel dos meios de comunicação social? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - GUARESCHI, Pedrinho. Sociologia crítica: alternativas de mudança. 60. ed. Porto Alegre: Mundo Jovem, 2007. DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 09
TEMA: SOCIOLOGIA E A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA LIVRO: “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi PERÍODO: 02 a 06 de Junho. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Introdução ao estudo da obra “Sociologia Crítica: alternativas de mudança” do sociólogo Pedrinho Guareschi. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ideologia, Direito, Repressão, Sociedade, Manipulação, Hierarquia, Família, Escola, Cultura, Ética, Política, Moral, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: PEDRINHO GUARESCHI SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA CAPÍTULO XIV O APARELHO IDEOLÓGICO DA ESCOLA Entramos agora numa discussão que diz respeito à grande maioria dos fatores desse livro, pois trata duma instituição que tem a ver, ou teve, com a maioria absoluta da população. Sendo que esse livro vai ser usado principalmente em escolas, essa nossa discussão se toma enormemente próxima. Existe já, hoje, uma grande bibliografia sobre a função da escola na nossa sociedade. Muitos desses livros já assumem uma postura bastante crítica e desmitificadora. Dentre os muitos aspectos que poderíamos discutir, nós vamos enfatizar apenas alguns, que julgamos mais importantes. Vamos privilegiar, de modo especial, a análise crítica das ideologias subjacentes às diversas teorias de aprendizagem, e um pouco da história da escola. A história da escola Para se compreender bem nossa discussão, é importante ter presente as discussões já feitas sobre o Modo de Produção (Cap. V), sobre o Capitalismo (Cap. VI) e sobre a Superestrutura (Cap. XI). Vimos, nessas discussões, que as relações de produção fazem parte da estrutura duma sociedade. No capitalismo, as relações são de dominação (alguns são donos dos meios de produção) e de exploração (o capital expropria parte do trabalho de quem trabalha). A escola faz parte da superestrutura, que são instituições criadas para reproduzir e garantir as relações de produção. Todas as sociedades tiveram, duma maneira ou outra, a sua escola. E aqui vamos introduzir uma explicação importante: vamos distinguir entre escola e educação. Por escola nós vamos entender o aparelho criado pelo grupo dominante para reproduzir seus interesses, sua ideologia.
Escola seria aquela instituição superestrutural, na maioria das vezes imposta, obrigatória, e controlada pelos que detêm o poder. Quando essa escola não executar a política e os interesses do grupo no poder, ela é censurada, mudada, reformada, e até mesmo fechada. Escola seria, pois, o aparelho ideológico do capital. Por educação nós vamos designar o processo ligado à etimologia da própria palavra. Educação é uma palavra que vem do latim, de duas outras: e ou ex, que significa de dentro de, para fora; e ducere, que significa tirar, levar. Educação significa, pois, o processo de tirar de dentro duma pessoa, ou levar para fora duma pessoa, alguma coisa que já está dentro, presente na pessoa. A educação supõe, pois, que a pessoa não é uma "tábula rasa", mas possui potencialidades próprias, que vão sendo atualizadas, colocadas em ação e desenvolvidas através do processo educativo. Essa distinção vai identificar as diversas correntes que se verificaram através da história. Podemos começar, já pela antiga Grécia. Nesse país havia os dois modelos: o manipulador, usado pelos donos do poder, para adaptar as pessoas a seus interesses; e o libertador, simbolizado na escola de Sócrates, que representava o processo de desenvolvimento da pessoa a partir dela mesma. Para se compreender melhor o processo socrático, deve-se ver como ele encarava a verdadeira educação. Sócrates dizia que o professor é semelhante a um parteiro. O parteiro tira o humano do humano. Assim, deve ser o educador: aquele que tira de dentro das pessoas o que já existe de humano dentro dessas pessoas. A esse processo Sócrates chamou de Maiêutica. Seu método consistia não em dar respostas que os outros devessem aceitar e repetir, mas em fazer perguntas, obrigando a pessoa a pensar, até que ela mesma se desse conta de suas contradições e compreendesse a totalidade do fenômeno. Mas, como sempre, esse processo não agradou aos donos do poder e Sócrates foi acusado de corromper a juventude, de colocar "minhocas" na cabeça das pessoas, principalmente dos jovens. Começou uma perseguição muito grande contra sua pessoa o seu método, e Sócrates, para evitar problemas e dissabores maiores, teve de tomar cicuta. E assim, através da história, a escola sempre era usada enquanto ela trouxesse proveito para os grupos que detinham o poder. Se ela pudesse prejudicar a esses grupos, não era permitida. Veja essa afirmação de La Chalotais, na França, em 1766: "Nunca houve tantos estudantes como hoje. Inclusive gente do povo quer estudar... Ensinam a ler e escrever a gente que só deveria aprender a manejar instrumentos... O bem da sociedade exige que o conhecimento das gentes não vá mais longe do que é necessário para a sua própria ocupação diária. Todo homem que saiba além de sua rotina diária, não será nunca capaz de continuar paciente e atentamente esta rotina..." E Bernard de Mandeville, no séc. XVIII, escrevia: "A fim de se conseguir, mesmo em circunstâncias difíceis, uma sociedade harmônica e um povo dócil, nada melhor do que a existência de um grande número de analfabetos e de pobres; os conhecimentos alargam e multiplicam os desejos, e quanto menos coisas uma pessoa desejar, mais fácil lhe será obtê-las. " (...) Aqui se percebe que a escola serve sempre aos interesses cios poderosos. Se a escola puder atrapalhar seus planos, ela é proibida; se ela é necessária como "forno de cidadãos dóceis" e como fábrica de soldados obedientes, ela é obrigatória durante todo o tempo necessário. O que se quer mostrar, pois, com os exemplos acima, é a mudança que a escola sofre, na medida em que ela se torna necessária ao sistema. O tipo de escola que possuímos hoje, nos países capitalista" dependentes, é o tipo de escola necessária para que o capital pos ,a se
expandir e ter muitos lucros. Fundamentalmente a nossa escola hoje desempenha duas funções principais: 1) Preparar mão-de-obra para o capital. Essa é uma tarefa imediata, necessária, apesar de não ser a mais importante. Todas as reformas de ensino que aconteceram no Brasil, nas últimas três décadas, tiveram como objetivo fundamental a preparação de mão-de-obra conveniente ao bom desempenho das indústrias no desenvolvimento econômico de nosso país. Esse objetivo está claro nas justificativas das próprias reformas. 2) Reproduzir as relações de dominação e de exploração. Para compreender melhor essa função, é necessário discutir a ideologia subjacente às diversas teorias de aprendizagem. Passaremos, pois, ao segundo ponto, à discussão da ideologia das teorias, tentando mostrar como indiretamente a escola serve à reprodução das relações de produção, principalmente à relação de dominação. [continua] QUESTIONÁRIO: 01. O que é Educação? 02. Educação e Escola são a mesma coisa? 03. A Escola é um aparelho ideológico do Estado? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - GUARESCHI, Pedrinho. Sociologia crítica: alternativas de mudança. 60. ed. Porto Alegre: Mundo Jovem, 2007. DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 10
TEMA: SOCIOLOGIA E A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA LIVRO: “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi PERÍODO: 02 a 06 de Junho. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Introdução ao estudo da obra “Sociologia Crítica: alternativas de mudança” do sociólogo Pedrinho Guareschi. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ideologia, Direito, Repressão, Sociedade, Manipulação, Hierarquia, Família, Escola, Cultura, Ética, Política, Moral, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: PEDRINHO GUARESCHI SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA CAPÍTULO XIV O APARELHO IDEOLÓGICO DA ESCOLA A ideologia das teorias de aprendizagem Todos nós temos nossas teorias de como se aprende e de como se ensina. Mesmo que não sejamos professores, ou mesmo que nunca tenhamos pensado nisso, dentro de nós possuímos uma teoria de como se ensina e de como se aprende. Fique pensando nisso enquanto discutimos as diversas teorias, e suas ideologias, e tente, depois, identificar qual a sua teoria de aprendizagem e a quem ela serve. Pensamos que se poderia englobar as diversas teorias de aprendizagem em duas matrizes principais: ]) A matriz dos condicionamentos, ou comportamental. Os pressupostos principais dessa teoria são de que a aprendizagem se processa através de estímulos que determinam, basicamente, a aprendizagem do aluno. Os estímulos vão carregados de determinado conteúdo e é este que é transmitido ao aluno. Os processos são os de imitação e repetição. Conforme o estímulo, assim também a resposta. Os estímulos podem ser positivos e isso faz com que a pessoa reproduza o que o estímulo sugere e seja levada a repeti-lo. Se o estímulo é negativo, a pessoa suprime o comportamento anterior, ligado a esse estímulo. Se formos examinar nossa pedagogia, ou nossa didática, veremos que a quase absoluta maioria dos métodos usados ainda são baseados nessa matriz teórica, do estímulo-resposta. Os professores fazem as coisas, dão os exemplos, e os alunos reproduzem e repetem o que lhes é pedido. Que tipo de homem está por trás dessa teoria? O homem exigido e suposto por essa teoria não se diferencia do animal, do macaco, por exemplo. Através de estímulos nós faremos com que um macaco, um golfinho, um rato, reproduzam igualmente os comportamentos exigidos.
Nada se pede de novo, de iniciativa, por parte do aluno. Ele recebe e responde conforme o estímulo dado. A quem interessa tal teoria? Interessa a quem quer um homem repetidor, reprodutor do que lhe é transmitido. Se formos examinar o mundo do trabalho no modo de produção capitalista, veremos que o tipo de homem necessário ao bom desempenho duma fábrica ou empresa é um trabalhador que faça as coisas com eficiência e rapidez. Fazer bem e rápido: eis tudo. Não precisa pensar, não precisa decidir, não precisa planejar. Apenas executar. Aliás, quanto menos pensar, melhor. É nesse sentido que aos poucos se vai substituindo o homem pelo robô, pois o homem não passa mesmo dum robô, dum autômato. A ideologia que se esconde por detrás da teoria dos condicionamentos é extremamente favorável aos donos do capital, pois quanto mais trabalhadores existirem que não pensam, que não questionam, mas apenas executam tarefas obedientemente, mais lucro e menos problemas a empresa terá. Uma escola que desempenhe tais objetivos será a melhor escola para o sistema capitalista. O decidir pensar, criar, é deixado para um pequeno grupo de privilegiados, que receberão uma formação dentro de escolas privilegiadas, onde não faltarão nem verbas nem recursos de todo tipo. Mas serão bem poucos os que podem pertencer a essa elite. 2) A matriz dialogal. Uma outra teoria de aprendizagem, baseada também em estudos e pesquisas, mostra que aprender e ensinar não é apenas o que se disse acima, mas inclui o próprio educando. O aprender e ensinar constituiriam uma verdadeira "educação", como definimos no início. Pensamos que Piaget seja um dos pesquisadores que mais subsídios tenha trazido para essa nova teoria de educação. Ela engloba a primeira, e vai um pouco mais adiante. Pela experiência que temos, e Piaget mostrou isso muito bem nos livros que escreveu sobre seus filhos, percebemos que em nosso contato com o mundo nós criamos certo esquema cognitivo, ou esquema lógico, que serve para poder "compreender" a realidade com que nos relacionamos. Esse contato com o mundo é um processo dialético, composto do que Piaget chama de assimilação, ou o que vem de fora para dentro, e acomodação, o que vai de dentro para fora. Nossa mente introjeta a realidade, assimila essa realidade, e ao mesmo tempo nossa mente acomoda-se a essa realidade, externa. Nesse processo dialético de acomodação e assimilação cria-se certo esquema mental, cognitivo, lógico. Esse processo é automático, pessoal. Até aqui nada de especial. O que acontece é semelhante, em parte, ao que diz a matriz comportamental. Mas isso ainda não é "aprender". O aprender se dá no momento em que esse esquema lógico, cognitivo, é ferido, é colocado em contradição. Nesse momento, a pessoa, ela mesma, se obriga a se reequilibrar, a mudar seu esquema anterior. Isso é aprender. É a superação qualitativa do esquema lógico anterior. Claro que isso é feito também com um estímulo, que veio desequilibrar o esquema existente. A diferença, porém, é que o estímulo desequilibrador não possui um conteúdo em si, e não é o conteúdo desse estímulo que a pessoa vai repetir, como na teoria anterior. A pessoa, ela mesma, cria e coloca elementos novos, forjados por ela, na reestruturação de seu esquema: esse é o ato de aprender. ato pessoal, autônomo. Na primeira teoria, a pessoa é objeto, receptor duma ação; nessa teoria a pessoa é sujeito da ação. É a pessoa que aprende. E como se ensina? Aqui está a outra grande diferença. Na teoria anterior ensina-se dando estímulos, fornecendo elementos que serão reproduzidos. Nessa segunda teoria ensina-se fazendo a pergunta, colocando elementos contraditórios no esquema já existente da pessoa. Ensina-se
desequilibrando o esquema da pessoa. Enquanto no primeiro caso se dá a resposta, no segundo se faz a pergunta, e a pessoa cria sua resposta, reestrutura seu esquema ferido pela contradição. Há um pressuposto, subjacente a essa segunda teoria, muito difícil de ser compreendido por nós, que fomos formados no primeiro esquema. Esse pressuposto é sobre "o que é o saber". Para a primeira teoria, o saber é quantificável, é como se fosse algo concreto, objetivo e igual para todos. Como se fosse uma mercadoria, que existe objetivamente e que é passada de um para outro, conservando as mesmas qualidades. Já para a segunda teoria, o saber é algo pessoal, subjetivo, individual, único, irrepetível. "Saber", no seu sentido original, significa sentir o gosto, perceber o gosto duma coisa. Isso vem mostrar que o saber é uma experiência. E toda experiência é única, singular, pessoal, irrepetíveI. Ora, se a experiência é algo pessoal, singular, não se pode dizer que há saber mais e saber menos, pois não haverá ponto de comparação. O máximo que se poderá dizer é que existem saberes diferentes. Não podemos comparar, então, dois saberes, dizendo que um é maior que o outro, nem que um é melhor que o outro. Não há critério comum, de comparação. Um filósofo e um pescador possuem saberes diferentes, mas ambos importantes, conforme as circunstâncias. Outro exemplo real: Uma menina de quatro anos escrevia seu nome usando quatro letras. Seu nome era Ana, mas não tinha nada a ver com o que ela escrevia. Quando se pedia para que ela escrevesse seu nome, ela escrevia as quatro letras. Pedia-se que escrevesse o nome de sua irmã menor, e ela deixava de fora meia letra. O nome de seu pai era escrito com letras bem grandes. O nome de sua colega, da mesma idade, ela o escrevia trocando uma das letras. Na verdade, ela escrevia tudo o que se lhe pedisse, sempre dentro duma certa lógica, própria dela. [continua] QUESTIONÁRIO: 01. O que significa matriz dos condicionamentos, ou comportamental? 02. O que significa matriz dialogal? 03. Como se ensina alguém? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - GUARESCHI, Pedrinho. Sociologia crítica: alternativas de mudança. 60. ed. Porto Alegre: Mundo Jovem, 2007. DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 11 e 12
TEMA: SOCIOLOGIA E A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA LIVRO: “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi PERÍODO: 09 a 13 de Junho. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: Aula teórica. RECURSO: livro, caderno, quadro, telão interativo, vídeo e power point. OBJETIVO: Introdução ao estudo da obra “Sociologia Crítica: alternativas de mudança” do sociólogo Pedrinho Guareschi. Compreensão e entendimento dos conceitos de Ideologia, Direito, Repressão, Sociedade, Manipulação, Hierarquia, Família, Escola, Cultura, Ética, Política, Moral, Público & Privado. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA: PEDRINHO GUARESCHI SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA CAPÍTULO XIV O APARELHO IDEOLÓGICO DA ESCOLA A ideologia das teorias de aprendizagem Estamos chegando ao que nos interessa. Queremos mostrar como a pedagogia, ou didática que usamos, reproduz as relações de produção, principalmente a dominação. Vamos supor que uma professora, formada numa de nossas escolas, tradicionais, se defronte com a Ana. Ela pede que a Ana escreva seu nome. A Ana escreve as quatro letras. Qual a reação espontânea e natural da professora? Ela certamente vai dizer: "Está errado, Ana! Teu nome é assim..." E escreveria: Ana. O que aconteceu nesse momento? A Ana aprendeu como escrever seu nome? Certamente não! Se ela fosse obrigada a escrever cinqüenta vezes o nome "Ana", ela, com certeza, sairia escrevendo o nome. Mas não saberia por que seu nome era Ana, e não as quatro letras que ela escrevia. Mas uma coisa essa menina teria "aprendido", se por acaso ela já não tinha aprendido antes. Essa coisa é: no mundo existem dois tipos de gente: os que sabem (a professora), e os que não sabem (o aluno). Pois no momento em que a professora disse: "está errado", implicitamente foi isso que ela "ensinou" - as relações de dominação, onde alguns estão em cima (sabem), e outros estão embaixo (não sabem). Por que isso? Porque mesmo cientificamente falando não se pode "provar" que uns sabem e outros não sabem, como vimos antes, pois não existe saber mais e saber menos. O que existe são saberes diferentes. Então o que se pode mostrar é que a Ana sabe uma coisa, e bem lógica (na sua lógica), e a professora sabe outra coisa (dentro duma outra lógica, duma convenção nossa).
Explicando um pouco mais esse ponto: sabemos que Ana se escreve de diferentes maneiras: em português: Ana; inglês: Ann; francês: Anne; em chinês, um sinal ideográfico, etc. Tudo isso é fruto de convenção, e convenção arbitrária. A Ana também criou uma convenção para ela; escreveu seu nome com quatro letras: - "Alem", por exemplo. Isso para ela é um saber, é uma experiência dela, baseada numa lógica que ela desenvolveu. Agora veja o que acontece quando uma professora chega e diz: "Está errado!". A professora não se detém em descobrir qual a lógica subjacente à menina e qual o esquema cognitivo subjacente ao que ela escreve. Ela simplesmente passa por cima e usa uma atitude "dominadora", de quem se julga detentora dum saber que deve ser comum a todos. Baseada nessa convicção (no fundo falsa e não científica), ela dá seu juízo sobre o que a Ana faz, sem outra razão que não uma atitude de poder, dominação: por ela ser professora, e ter estudado, quem sabe. É nesse momento que se reproduzem as relações de dominação. As relações verticais, de uns por cima dos outros, se dão, na escola, principalmente. É verdade que os conteúdos dos livros didáticos estão também cheios de ideologias, mas as mais perniciosas são as ideologias que são transmitidas na didática, na pedagogia, na prática de "como" se ensina. A teoria didática subjacente à atitude dessa professora é a teoria comportamental que trata as pessoas como objetos que devem ser ensinados, padronizadamente, dentro dum saber objetivo, transmissível do mesmo modo. Como seria, então, uma prática dialogal? Tomemos o mesmo exemplo da Ana. No momento que a Ana escreve seu nome (ALEM, digamos), uma professora que já refletiu sobre a singularidade do saber, que é uma experiência, e que sabe que "todo erro é lógico", isto é, que por detrás do que nós chamamos erro está subjacente uma lógica, essa professora começaria, através de perguntas, a descobrir qual o esquema lógico, qual o esquema cognitivo, subjacente àquilo que a Ana escreveu. Aos poucos, sempre com perguntas, ela poderia ter certas pistas de por que Ana escreveu seu nome assim. E sempre através de perguntas, tentaria levar a Ana a uma contradição, sempre dentro do esquema dela. Dentro de algum tempo, certamente não naquele dia, ela poderia mostrar à Ana as contradições presentes e estabelecer, aos poucos, uma possibilidade de diálogo em termos comuns. E aqui chegamos à palavra principal: diálogo. O diálogo, para ser verdadeiro, tem de se dar em igualdade de posições. Isto é, o verdadeiro diálogo exige que um esteja ao lado do outro e não que um se coloque em posição de superioridade, como é o caso do professor que "está convencido" de que sabe. O diálogo exige respeito total ao mundo do outro, exige verdadeira democracia. E somente quando um está ao lado do outro, é possível, na pergunta e resposta, a formação e o reconhecimento das posições cognitivas, mentais, de ambos. Nessa reciprocidade, na provocação de um para com o outro, dá-se o verdadeiro diálogo que leva ao crescimento mútuo, ao conhecimento dos esquemas lógicos subjacentes a cada um. Mas na maioria das vezes esse diálogo não é estabelecido e nem se quer perder tempo na construção e reconhecimento da posição do outro. Cortam-se etapas e em geral o professor julga-se com direito de decidir logo sobre a ação colocada pelo aluno, julgando taxativamente essa ação: "Está errado!" Essa é a verdadeira atitude dominadora, de desrespeito ao mundo interior do interlocutor. E isso é feito até propositadamente, pois o aluno, de agora em diante, já ficará ciente de que "ele não sabe", que deve obedecer aos que sabem; que ele vale menos porque não sabe e que deve fazer tudo o que pedirem dele. Ele passa a cultivar essa atitude de submissão e dependência, atitude essa que muitas vezes já "aprendera" na família, e que levará para todas as outras instâncias da sociedade, para a igreja, para o trabalho, etc. Gostaria de terminar com uma consideração muito profunda e provocante de Paulo Freire sobre esse assunto. Diz Paulo Freire que todo processo educativo deve ser o exercício, a prática duma "Páscoa". Por Páscoa se entende, na tradição judaica e cristã, o processo de passagem duma situação negativa (no caso dos judeus, da escravidão no Egito, no caso de Cristo, de morte) para uma situação positiva (liberdade ou vida, ressurreição). Diz Freire que o
verdadeiro educador é aquele que é capaz de praticar uma Páscoa, isto é, morrer a seus critérios, a seu esquema cognitivo, a seu esquema lógico, sempre que entrar em contato com um educando, para poder depois, com o educando, ressuscitar numa nova relação de vida e liberdade. Esse pensamento é extremamente evangélico (Cristo já dizia que é morrendo que se vive) e também extremamente científico, pois só existe verdadeiro diálogo, verdadeira educação, quando se pode compreender, entender o mundo lógico existente no nosso interlocutor; uma vez descoberto e identificado esse mundo lógico do educando, pode-se então provocá-lo, através da pergunta, para que "ele" cresça, "ele" descubra a verdade. Como conclusão, gostaríamos ainda de chamar a atenção para a ideologia que poderia estar subjacente a um outro conceito, o de professor. Já vimos que o nome que gostaríamos sempre de usar no processo de aprendizagem seria o de "educação", que significa "tirar de dentro das pessoas algo já existente como potencialidade". Do mesmo modo, o nome que gostaríamos de usar para quem está engajado nessa prática é o de educador. Com isso evitaríamos o nome de "professor", que na sua etimologia significa algo um tanto equivocado: "falar na frente das pessoas". Há muitos professores que na realidade fazem o que a palavra significa: ficam fazendo discursos diante dos alunos, sem nunca estabelecer um diálogo. Numa aula de 50 minutos, ficam falando 45, não deixando que o educando possa também dizer sua palavra. Isso leva, pela própria prática consequente, ao estabelecimento de relações verticais, dominadoras. O verdadeiro educador, ao contrário, é o que sabe fazer a pergunta, no momento exato, colocando o aluno em contradição, obrigando-o, assim, a solucionar ele mesmo essa contradição e colocando-o num processo de caminhada autônoma, independente. É essa prática que leva a uma educação autônoma e libertadora. Percebe-se, de tudo o que se disse, que não é fácil ser um bom educador. A verdadeira educação exige uma conversão profunda dos que nela estão engajados, uma mudança profunda de atitudes, um respeito muito grande peja pessoa e pelo saber (experiência) da pessoa que está conosco. Um sistema autoritário não pode aceitar uma prática educativa dialogal, pois cedo ou tarde essa prática iria questionar as relações básicas, fundamentais, do sistema. E aqui se coloca a grande força duma prática educativa dialogal: ela leva à mudança das relações existentes na sociedade, pois ela fornece um novo modelo de vivência social. O que leva na realidade à mudança duma sociedade são as novas práticas que são vividas e incentivadas entre as pessoas. De nada adiantam belos discursos, cheios de propósitos e palavras libertadoras, se a prática é dominadora. Mas se numa escola, educadores e educandos se propuserem a vivenciar e promover novas relações sociais, baseadas na igualdade, no respeito, no diálogo, então sim, essa sociedade começa a mudar. As pessoas que se acostumam a uma prática democrática vão levar essa prática às outras situações sociais em que elas vivem: às igrejas, às famílias, aos locais de trabalho. Eis a grande chance duma escola: ela pode ser o laboratório onde se forjarão novas vivências verdadeiramente comunitárias, de onde poderão surgir transformações profundas e radicais em todo o corpo social. QUESTIONÁRIO: 01. A Pedagogia reproduz as relações de produção, principalmente a dominação? 02. O verdadeiro educador é o que sabe fazer perguntas? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: - GUARESCHI, Pedrinho. Sociologia crítica: alternativas de mudança. 60. ed. Porto Alegre: Mundo Jovem, 2007. DOWNLOAD MATERIAL: http://blog1.educacional.com.br/escoladasideias
ANOTAÇÕES DE AULA ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ATENÇÃO!!!
AVALIAÇÃO ONLINE 02
SOCIOLOGIA
PERÍODO: 09 A 13 DE JUNHO.
- Atividade Sociológica (individual).
- Valor da Atividade: 10,0 pontos.
- 10 questões (modelo Enem)
- Local: em casa
- Prazo para realização da atividade: do dia 09/06 até 13/06
- Não há 2ª chamada da Atividade Online 02
- Conteúdo:
SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” DO SOCIÓLOGO PEDRINHO GUARESCHI
AULA 13
TEMA: PROVA P2 – CIÊNCIAS HUMANAS – MODELO ENEM MATERIAL: ESCOLA DAS IDEIAS – MATERIAL DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA PERÍODO: 14 a 18 de Julho. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: aplicação da prova objetiva RECURSO: Prova (questões objetivas – modelo Enem) OBJETIVO: Avaliar a aprendizagem dos conceitos filosóficos da “A REPÚBLICA – LIVRO IV” do filósofo Platão / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” do filósofo Aristóteles e dos conceitos sociológicos da obra “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA E PRÁTICA: - Avaliação: PROVA CIÊNCIAS HUMANAS (modelo ENEM) - 10 questões objetivas de Filosofia | 10 questões objetivas de Sociologia - Avaliação Individual.
- Conteúdo: o material de estudo do 2º Bimestre “A REPÚBLICA – LIVRO IV” do filósofo Platão “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” do filósofo Aristóteles “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi. ANOTAÇÕES DE AULA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AULA 14
TEMA: PROVA P2 – CIÊNCIAS HUMANAS – MODELO ENEM MATERIAL: ESCOLA DAS IDEIAS – MATERIAL DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA PERÍODO: 14 a 18 de Julho. LOCAL DA AULA: sala de aula. ESTRATÉGIA: aplicação da prova objetiva RECURSO: Prova (questões objetivas – modelo Enem) OBJETIVO: Avaliar a aprendizagem dos conceitos filosóficos da “A REPÚBLICA – LIVRO IV” do filósofo Platão / “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” do filósofo Aristóteles e dos conceitos sociológicos da obra “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi. METODOLOGIA:
AULA TEÓRICA E PRÁTICA: - Avaliação: PROVA CIÊNCIAS HUMANAS (modelo ENEM) - 10 questões objetivas de Filosofia | 10 questões objetivas de Sociologia - Avaliação Individual.
- Conteúdo: o material de estudo do 2º Bimestre “A REPÚBLICA – LIVRO IV” do filósofo Platão “ÉTICA A NICÔMACO – LIVRO I” do filósofo Aristóteles “SOCIOLOGIA CRÍTICA: ALTERNATIVAS DE MUDANÇA” do sociólogo Pedrinho Guareschi. ANOTAÇÕES DE AULA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________