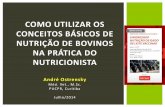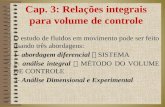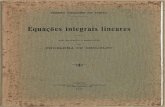Práticas integrais da nutrição na atenção básica em saúde
-
Upload
pinab-ufpb -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
description
Transcript of Práticas integrais da nutrição na atenção básica em saúde
I CONGRESSO NORDESTINO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – CNEU CENTRO DE CONVENÇÕES – SALVADOR, BAHIA 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2007
Práticas integrais da nutrição na atenção básica em saúde: reflexões sobre os primeiros
passos ÁREA TEMÁTICA: Saúde AUTORIA: Ana Cláudia Cavalcanti Peixoto de Vasconcelos, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), coordenadora do Projeto de Extensão Práticas Integrais de Nutrição na Atenção Básica em Saúde (PINAB). [email protected] Pedro José Santos Carneiro Cruz, nutricionista, técnico voluntário do Projeto de Extensão Práticas Integrais de Nutrição na Atenção Básica em Saúde (PINAB), do Departamento de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). [email protected] Ingrid D’Avilla Freire, acadêmica de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). [email protected] INSTITUIÇÃO: Projeto de Extensão Práticas Integrais de Nutrição na Atenção Básica em Saúde (PINAB). Universidade Federal da Paraíba (UFPB). PALAVRAS-CHAVE: educação nutricional; educação popular; atenção básica em saúde. RESUMO: O presente artigo propõe refletir sobre os primeiros passos do projeto de extensão Práticas Integrais da Nutrição na Atenção Básica em Saúde (PINAB), da UFPB, realizado no bairro do Cristo (João Pessoa-PB), com a USF Vila Saúde. O Projeto é desenvolvido segundo o referencial teórico da educação popular, com práticas de ação e reflexão da Nutrição no campo da Saúde Coletiva e da Segurança Alimentar e Nutricional, possibilitando aos extensionistas a percepção do trabalho em saúde como um ato pedagógico ético, de compromisso social e construção coletiva de cidadania. Atuam vinte estudantes do primeiro ao sétimo períodos do curso de Nutrição, além de dois nutricionistas. Possui quatro frentes de atuação: 1) ações de educação popular em saúde com grupos de: gestantes, idosos, escolares e famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa Família; 2) visitas domiciliares; 3) aconselhamento dietético individual; e 4) gestão compartilhada do próprio Projeto. Tais ações têm possibilitado uma intervenção humana da nutrição no cotidiano das pessoas da comunidade, articulando-se com suas vidas. Estimulam a criação de estratégias de superação da pobreza e da exclusão, bem como permitem que os extensionistas construam caminhos para uma atuação do nutricionista comprometida com a promoção da saúde na comunidade, pautada pela integralidade.
Introdução e objetivos
O presente artigo se propõe a refletir sobre os primeiros passos do projeto de extensão Práticas Integrais da Nutrição na Atenção Básica em Saúde (PINAB), da Universidade Federal da Paraíba. Para tanto, contextualizaremos o cenário histórico e político no qual se sustenta, passando a discorrer sobre sua proposta metodológica e os aprendizados advindos no decorrer de suas ações.
A educação nutricional como estratégia para a promoção da saúde Nas últimas décadas têm ocorrido diversas transformações na realidade brasileira que
impõe novos desafios para a prática e conseqüentemente para a formação do profissional de saúde e de nutrição.
A mudança do perfil nutricional e epidemiológico que vem ocorrendo no país, onde a desnutrição, as carências específicas, o sobrepeso, a obesidade, além das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) compõem o mosaico de agravos da população brasileira, tem despertado as autoridades governamentais para a necessidade de políticas públicas que contemplem as questões advindas desse cenário.
A partir de 2003, a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) foi colocada como uma questão de interesse social e de prioridade na agenda pública do país, orientada pelo direito humano à alimentação adequada e saudável e pela busca da soberania alimentar. Ressalta-se que a SAN é entendida como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo por base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2004).
A instituição da Política Nacional de Promoção da Saúde pelo Ministério da Saúde em 2006, com o objetivo de promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes (modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços), tem como um dos seus eixos estratégicos, a promoção da alimentação saudável (BRASIL, 2006)
No entanto, na abordagem para a promoção da saúde deve se considerar que os alimentos trazem significações culturais, comportamentais e afetivas, além de se constituir em fonte de prazer. Não tendo os mesmos apenas a função de veicular os nutrientes para o organismo (PINHEIRO ET AL., 2005).
No bojo da discussão da SAN e da promoção da alimentação saudável veio à tona a importância da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) enquanto questão estratégica. Além de artigos e textos sobre a temática (Boog, 2005; Santos, 2005; Brasil, 2006) houveram eventos promovidos pelo Governo Federal e pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), a fim de aprofundar o papel que a mesma pode e deve exercer nesse contexto.
Boog (2005), no sentido de assegurar a amplitude que a temática merece, conceituou a educação nutricional como:
um conjunto de estratégias sistematizadas para impulsionar a cultura e a valorização da alimentação, concebidas no reconhecimento da necessidade de respeitar, mas também
modificar crenças, valores, atitudes, representações, práticas e relações sociais que se estabelecem em torno da alimentação, visando o acesso econômico e social a uma alimentação quantitativa e qualitativamente adequada, que atenda aos objetivos de saúde, prazer e convívio social.
Desde a sua origem, a prática educativa em nutrição tem sido pautada por processos verticais e autoritários, centrada no modelo prescritivo e biologicista, em detrimento do diálogo, da autonomia do educando e dos aspectos sócio-culturais que envolvem as práticas alimentares e a realidade.
São muitas as frentes para a prática da nutrição em saúde coletiva (Burlandy, 2005), todavia, a atenção básica em saúde, representada sobretudo pelo Programa de Saúde da Família (PSF) se constitui em um lócus privilegiado para se avançar na promoção da alimentação saudável e na conquista da SAN, constituindo a integralidade e a intersetorialidade princípios fundamentais para obter tais avanços.
Os desafios que se colocam para a atuação do nutricionista em saúde coletiva, sobretudo no que diz respeito ao seu papel de educador, são diversos. Entre eles podemos destacar a própria formação universitária na área da saúde, pautada pelo paradigma cartesiano, onde o conhecimento é fragmentado e a teoria dissociada da prática, dificultando o olhar do indivíduo como ser integral, bem como a compreensão e transformação da realidade pelo aluno (AMORIM ET AL, 2001).
Para tanto torna-se fundamental a criação e fortalecimento de espaços e iniciativas, seja de ensino, pesquisa ou extensão que oportunizem a aprendizagem pautada em uma prática humanizada, que contemple os anseios e inquietações do indivíduo/família/comunidade e reconheça a saúde como um processo produzido socialmente.
A extensão como lugar ressignificador da formação em saúde A extensão popular tem se constituído, em nível nacional e marcadamente na
Universidade Federal da Paraíba, como possibilidade de se experimentar a relação entre o saber popular e saber científico com a intencionalidade de superar os problemas sociais e respeitar os diferentes saberes. A extensão popular propõe
desenvolver a extensão como um trabalho social útil, voltado ao exercício da democratização de todos os setores da vida social, com a promoção da participação popular e incentivo aos direitos emergentes, assim como de princípios que vislumbrem a compartilhação dos conhecimentos e das atividades culturais; que promovam a busca incessante de outra racionalidade econômica internacional pautada no diálogo; que contemplem a comunicação entre indivíduos, a responsabilidade social, direitos iguais a todos, respeito às diferenças e às escolhas individuais ou grupais, elementos que potenciam a dimensão comunitária e a solidariedade entre as pessoas (MELO NETO, 2006).
Segundo Cruz et al (2005), é seguindo esse pensamento que percebemos a extensão
universitária como pilar importante para o maior comprometimento social dos estudantes; como parte integrante da academia, que faça o estudante perceber que está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no mundo, não haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Isso torna um ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de projetar-se nos outros; de transcender. Estas relações não se dão apenas com os outros, mas se dão no mundo, com o mundo e pelo mundo (FREIRE, 1979).
Diante do cenário histórico da UFPB e do contexto da nutrição e promoção da saúde acima painelizados, iniciamos o Projeto de Extensão Práticas Integrais da Nutrição na Atenção Básica em Saúde (PINAB), guiados pelo referencial da educação popular, buscando desenvolver práticas integrais de ação e reflexão da Nutrição no campo da Saúde Coletiva e da Segurança Alimentar e Nutricional, possibilitando aos extensionistas a percepção do trabalho em saúde como um ato pedagógico de compromisso social, ético e de construção coletiva de cidadania.
O local escolhido para desenvolvimento de nossas ações foi a Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Saúde, no bairro do Cristo Redentor na cidade de João Pessoa-PB, considerando que já tinham sido estabelecidas parcerias anteriores do Departamento de Nutrição com a equipe de saúde da família (ESF) Jardim Itabaiana II, através de disciplinas práticas do Curso de Graduação em Nutrição.
A comunidade adstrita a USF Vila Saúde A USF Vila Saúde contempla as equipes de saúde da família (ESFs) Pedra Branca I e II e
Jardim Itabaiana I e II. A área adstrita a Unidade possui uma população heterogênea, com um segmento com melhores condições financeiras, a área “nobre”, e outro cuja condição de vida é precária, com a maioria da população morando na favela, sem informações básicas sobre saúde ou conhecimentos no geral. A grande maioria possui nível de escolaridade baixo e uma parcela não freqüenta a escola. O segmento da população com melhores condições financeiras alega não precisar do PSF, pois possui condições de pagar planos de saúde. Já a população pobre, além de necessitar, utiliza constantemente os serviços da unidade.
Além dos problemas que usualmente são mais encontrados nas demais localidades (hipertensão, obesidade), um dos problemas que mais preocupa na área, é a depressão. Relata-se a demanda à unidade pelas pessoas acometidas por esse problema muitas vezes sem nenhum outro problema de saúde, apenas para conversar e sentirem-se acolhidas. Dentre as principais causas desse problema podem-se destacar questões sócio-econômico-culturais diagnosticadas na área, como a gravidez precoce acompanhada de aborto; drogas; desemprego; prostituição; alcoolismo e desajuste familiar. Metodologia
O PINAB pauta o desenvolvimento de ações nos eixos teóricos e metodológicos da
educação popular, sistematizadas por Paulo Freire (2005), dentre as quais destacamos a ênfase no diálogo. Sendo assim, esses princípios da pedagogia freireana norteiam a relação do PINAB, enquanto prática de extensão popular, com a própria universidade e com a comunidade adstrita pela USF Vila Saúde desde o planejamento à execução de suas ações.
Perspectivas teóricas e metodológicas Quando tentamos um adentramento no diálogo como fenômeno humano, encontramos
nele duas dimensões: a ação e a reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Sendo assim, desde o início de suas atividades o PINAB busca exercitar a ação-reflexão: como norte frente à
realidade do trabalho ainda desconhecida e como condicionante à própria sustentabilidade do Projeto num caminho de constantes mudanças e contradições (FREIRE, 2005).
As primeiras sistematizações acerca do referido eixo teórico-metodológico foram feitas por Paulo Freire e embora não se tenha atingido uma concepção delimitada sobre o que seria a educação popular, percebe-se as diferenças entre esta e os demais conceitos de educação, sobretudo no tocante a intencionalidade, como afirmam Scocuglia e Melo Neto (2004):
O que distinguiria, então, a educação popular das outras variedades de educação seria a sua proposta e práxis direcionadas para a efetiva transformação do homem, da sociedade e do Estado. Traria lucidez, decisão, compromisso, união e solidariedade aos homens para fortalecimento da sociedade. Esta, por sua vez, despertaria enfim, para a realidade de que é mais forte que o estado, porque representa quase a totalidade do organismo social, porque trabalha, produz e contribui, enquanto ele reduz-se à minoria que cobra , exige, impõe e penaliza. Este despertar materializar-se-ia na inversão do papel do Estado, passando da condição de inclemente tirano àquela de escravo fiel da sociedade.
Freqüentemente utiliza-se as seguintes designações para a educação popular: pedagogia
da problematização, da esperança, do diálogo, da liberdade e da sócio-transformação. E é sob esse referencial e sob sua postura dialética e dialógica, que o projeto vem construindo seu que-fazer no campo das práticas de saúde comunitárias e mais especificamente no âmbito da nutrição em saúde coletiva, no sentido de re-inventar o fazer em saúde e na nutrição, de modo a aproximá-lo das reais necessidades da comunidade.
A educação em saúde é o campo de prática e conhecimento do setor saúde que tem se ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer cotidiano da população (Vasconcelos, 1998). Ao reconhecer a dinamicidade deste cotidiano, as ações de educação em saúde que o Projeto se propõe a desenvolver com a comunidade têm passado por um processo contínuo de planejamento, efetivação e avaliação. Com isso, espera-se a aproximação entre as reais necessidades de saúde da comunidade e a práxis educativa dos atores envolvidos neste processo, na qualidade de futuros profissionais de saúde.
Estrutura organizacional e pedagógica do projeto Atuam no PINAB vinte estudantes do primeiro ao sétimo períodos do curso de graduação
em Nutrição da UFPB, além de dois profissionais nutricionistas recém-formados por esta mesma instituição. Todos sob a coordenação e orientação da docente do Departamento de Nutrição (DN) Ana Cláudia Cavalcanti Peixoto de Vasconcelos. Optamos por envolver também os estudantes dos períodos iniciais da Graduação, devido a necessidade de possibilitar a inserção desses alunos, o mais precocemente possível, na realidade sócio-sanitária, bem como ao fato de que a lógica do Projeto não privilegia apenas o conhecimento técnico-científico, acreditando portanto que todos os estudantes podem contribuir e agregar saberes ao fazer cotidiano do PINAB.
Atualmente o Projeto possui quatro frentes de atuação: 1) apoio às equipes de saúde da família na organização e exercício das ações de educação popular em saúde com os seguintes grupos da comunidade: gestantes, idosos, famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa Família (PBF) e escolares; 2) visitas domiciliares: realizadas com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na perspectiva do diálogo a fim de apreender a realidade das famílias e ampliar os vínculos entre extensionistas e comunidade; 3) aconselhamento dietético individual: realizado por grupos de estudantes sob acompanhamento da coordenação associando à prática da educação
nutricional elementos da educação popular; e 4) gestão do Projeto: através da participação e envolvimento dos estudantes em uma das seguintes comissões de trabalho: eventos, pesquisa, avaliação e freqüência no sentido de descentralizar o trabalho e de instigar o caráter pró-ativo dos extensionistas.
O trabalho em grupo com as gestantes e os idosos deverá compor espaços para compartilhar e refletir sobre os saberes e representações relacionados à alimentação e nutrição: qual a relação das pessoas com a alimentação, significados e importância da alimentação, como comer, quando comer, o quê comer, refeições, dietas, alimentos regionais, etc. O grupo do Programa Bolsa Família atuará a partir da situação do Programa naquela realidade social, procurando compor ações educativas capazes de incentivar a reflexão e maior conhecimento/empoderamento da população sobre este importante direito social. No âmbito escolar, realizaremos atividades conjuntas com pais, professores, merendeiras e escolares no sentido da promoção da alimentação saudável e da integração das ações e atividades do projeto e da USF com a Escola Municipal Augusto dos Anjos, sob o enfoque da intersetorialidade da atenção básica em saúde.
As ações em tais grupos serão quinzenais, intercaladas com visitas domiciliares aos usuários participantes, a fim de incentivar o vínculo e acompanhar os elementos da dinâmica comunitária e familiar, que não são captados na vivência em grupo.
Enquanto estratégia individual, deverão se realizar aconselhamentos dietéticos pelos estudantes supervisionados pela Coordenação, no espaço da Unidade. No aconselhamento dietético, o nutricionista deve se comportar como co-agente de mudanças, prezando pela prudência, paciência e discernimento na conduta co-participativa com o principal sujeito do processo: o usuário. Direta e indiretamente, o profissional se depara com questões complexas e que ultrapassam a simples relação de educando e educador na promoção de práticas alimentares saudáveis. Diante disto, procuramos primeiro pautar o atendimento ambulatorial como um espaço educativo, onde se possibilitará uma troca de saberes com vistas a emancipação do usuário e a promoção de sua saúde.
Através da proposta acima apresentada, busca-se a apreensão da atenção à saúde sob a concepção de integralidade, que contemple as premissas do apoio social no trabalho em saúde e que consista prioritariamente em artifício educativo. Por assim ser, exige-se respeito e constante interlocução entre saber científico, saber popular e as práticas de saúde vivenciadas cotidianamente, sejam estas individuais ou comunitárias.
Se, de um lado, o apoio social oferece a possibilidade de realizar a prevenção através da solidariedade e apoio mútuo, de outro, oferece também uma discussão para os grupos sociais sobre o controle do seu próprio destino e autonomia das pessoas perante a hegemonia médica, através da "nova" concepção do homem como uma unidade (VALLA, 1997).
A dialogicidade entre os saberes proposta visa contribuir com a liberdade, a tradição e a cultura de homens, mulheres e gerações, potencializando novas relações entre estes, profissionais de saúde, sociedade e Estado. Dessa forma, permite-se envolver educador e educando nas mudanças na saúde e na alimentação que se fazem necessárias no intuito de fortalecer a autonomia dos seres.
Resultados e discussões
Este Projeto tem construído, no âmbito da UFPB, um importante referencial metodológico da prática da nutrição na saúde pública. Foi elaborado mediante pactuações com as ESFs inseridas na Vila Saúde, bem como foi submetido e aprovado nas seguintes instâncias deliberativas: Distrito Sanitário II (responsável administrativo pela USF Vila Saúde e área adstrita); Secretaria Municipal de Saúde; Departamento de Nutrição e Assessoria de Extensão do Centro de Ciências da Saúde.
Primeiros passos Desde a abertura de inscrições para participação no Projeto, diversos estudantes e técnicos
procuraram se integrar nesta iniciativa. O processo de seleção contou com a participação de 70 inscritos, com estudantes do 1º ao 7º período do curso de Nutrição.
Antes da realização da entrevista para seleção dos extensionistas, realizamos Seminário para os candidatos inscritos onde apresentamos a proposta metodológica do PINAB, sua contextualização histórica e embasamentos teóricos. Foram requisitos para a seleção dos estudantes: a freqüência integral no Seminário de apresentação, além do processo de triagem natural, visto que os estudantes tiveram contato prévio com a proposta do Projeto e assim, poderiam decidir se continuariam no processo de seleção ou não, em caso de inadequação com a proposta de trabalho. A segunda etapa para a seleção dos estudantes constou de entrevistas semi-estruturadas aos candidatos. Na oportunidade foram avaliados: a) disponibilidade de tempo para dedicação às atividades do Projeto; e b) o compromisso com a proposta de trabalho. Para maior fidedignidade nos resultados e ética neste processo, todas as entrevistas foram realizadas pela mesma dupla de entrevistadores..
A maioria dos estudantes selecionados não tinha experiência anterior com extensão, assim elegemos as três semanas iniciais do PINAB para compor um período de sensibilização e reconhecimento estratégico, através de visitas domiciliares com os ACSs da USF Vila Saúde. Sensibilização por permitir aos estudantes terem um primeiro contato com a realidade daquela comunidade, vivendo as perplexidades, estranhamentos e reações próprias destes primeiros contatos. Reconhecimento estratégico por propiciar aos extensionistas a interação com o cotidiano da USF, conhecer seus atores e as lideranças comunitárias, bem como oportunizar a organização das possíveis estratégias de ação.
Nesse sentido, reservamos uma hora da atuação na comunidade para compartilhar as percepções, idéias e sentimentos advindos da vivência com as famílias As reuniões semanais do PINAB tem sido um espaço importante para o aprofundamento de referencias teóricas sobre extensão e educação popular, onde temos buscado fazer a ligação da experiência com as sistematizações que vem sendo construídas a respeito, possibilitando maior conhecimento e empoderamento dos estudantes para com a educação em saúde na atenção básica.
No decorrer dessas semanas, os grupos já começaram a articular suas propostas de interação com a equipe e a comunidade.
Reflexões a partir dos grupos operativos Tendo em vista a cultura das gestantes da comunidade em fazer o Pré-natal apenas em
consultas e a inexistência de iniciativas educativas com este grupo, a principal preocupação do Grupo que trabalha com as gestantes está em consolidar este coletivo de mulheres como um espaço de encontro e troca de experiências das gestantes da comunidade, para além da consulta individual. Que seja um espaço plural, em saberes, experiências e fazeres; do qual participam
extensionistas do Projeto, profissionais do serviço e usuários. Tradicionalmente organizado pelas equipes da USF, o Grupo de Idosos já acontece
mensalmente, sendo pautado principalmente por palestras com recomendações, orientações e prescrições, bem como distribuição de medicamentos e verificação do índice glicêmico e/ou pressão arterial. Inicialmente, a equipe do Projeto propôs inserção nesta rotina, dando sua contribuição metodológica e técnica ao grupo. Pretendia-se interagir com profissionais e comunidade na construção de um espaço mais integral, que não fique apenas focado na doença. Mas, apesar de pactuação anterior para modificação do dia do grupo, a fim de que os extensionistas pudessem participar, houve ainda resistência da equipe em modificar o dia dos encontros. Diante disso, os extensionistas propuseram às equipes a designação de um novo dia durante o mês, assumindo também a responsabilidade pela condução do momento educativo.
Os extensionistas responsáveis pelo Grupo do Programa Bolsa Família têm concentrado sua atuação em ações de reconhecimento da realidade e situação do Programa naquela área, buscando conhecer: a) número de famílias participantes; b) condicionalidades da educação e da saúde; c) gestão do SISVAN pelas equipes; d) proporção de famílias em vulnerabilidade que não estão contempladas pelo Programa. A partir desta aproximação deverão construir ações e estratégias viáveis para contribuição na situação encontrada.
O cuidado em diagnosticar e melhor conhecer a realidade de saúde e sócio-cultural destes grupos também foi adotado pelo Grupo da Escola. Antes de começar a desenvolver ações educativas, os extensionistas estão traçando o perfil nutricional das crianças e adolescentes matriculados, para averiguar a situação encontrada e qual o caminho poderão seguir. Nesse sentido, também têm mantido constante interlocução com a direção da Escola, a fim de conhecer suas expectativas e prioridades quanto ao apoio pedagógico do grupo.
O trabalho no apoio ao desenvolvimento de grupos comunitários nos possibilita estimular o fomento a autonomia e criação de estratégias de superação da pobreza e da exclusão naquela comunidade. Tais grupos podem transformar os problemas individuais de saúde em problemas coletivos enfrentados com reflexões e discussões, lutas políticas, criação de redes de solidariedade e manifestações culturais. Vasconcelos (1991) enfatiza a importância de se investir nos movimentos populares de saúde
Em geral são formados de um número relativamente pequeno de participantes por grupo, têm formas coletivas de tomada de decisão e um distanciamento pequeno entre as lideranças e os demais participantes. Mesmo que muitos dos pacientes não pertençam a nenhum destes movimentos, sabem que a eles podem recorrer em caso de uma dificuldade maior e são atingidos por suas atividades culturais. Têm significado um importante espaço pedagógico na formação de pessoas conscientes de seus direitos e capazes de intervir no jogo social, levando assim a um alargamento das possibilidades de cada paciente enfrentar de forma mais intensa as raízes de seus problemas de saúde.
Aconselhamento dietético: a experimentação de outros caminhos No que se refere ao aconselhamento dietético, temos procurado experimentar e
sistematizar outros caminhos. Acreditamos que, aconselhar, no campo da alimentação e nutrição, torna-se possível e imperativo diante de duas realidades: primeira, a necessidade de recusar modelos dogmáticos, padronizados, lacônicos, pautados, sobretudo, em restrições e normas que pressupõem um comportamento heterônomo do cliente; segunda, a perspectiva de poder inserir as ações educativas de nutrição em um processo comprometido com a compreensão da condição humana (RODRIGUES; SOARES; BOOG, 2005).
Essa prática de saúde passa por permitir ao paciente que assuma as razões e emoções as quais o movem, de modo a fazê-lo percebê-las dentro de uma maior complexidade causal. Conforme ressalta Freire (1996), o educando deve provocar ruptura, fazer novas opções, tomar outros compromissos. Enfim, esse paciente-educando deve se transformar junto ao profissional de saúde que se confunde com educador, um profissional cidadão (CRUZ et al, 2005).
Pretendemos fazer do espaço do aconselhamento dietético o exercício ético e comprometido da Nutrição com a promoção da saúde, baseado no respeito ao saber do usuário e no incentivo a construção de sua autonomia e conscientização. Conforme ressalta Vasconcelos (1991),
[no trabalho em saúde] tratamos pessoas que, por serem marcadas por uma cultura e por limitações materiais, não se modelam passivamente às nossas orientações. Os pacientes não são quadros em branco onde podemos imprimir nossas conclusões e prescrições pois já trazem para o atendimento médico suas próprias visões de seus problemas e uma série de outras práticas alternativas de cura. São visões e práticas normalmente não narradas durante a consulta, principalmente se o paciente é de nível socioeconômico baixo. Estamos em uma sociedade onde o saber dos doutores é dominante, tornando ilegítimos os outros saberes e portanto motivo de vergonha.
Integralidade e interdisciplinaridade O PINAB tem permitido que professores, técnicos e estudantes elaborem e construam
caminhos possíveis para uma atuação do nutricionista comprometida com a promoção da saúde na comunidade, onde estão enraizadas boa parte das causas da grande maioria dos problemas.
Para tanto, temos procurado exercitar a integralidade e a interdisciplinaridade no pensar e agir de nossas ações. Fazemos das situações e problemas do cotidiano o norte de nossas ações, nos provocando a dialogar com diferentes áreas de conhecimento e do saber. A prática da educação nutricional, através da extensão popular, exige uma interação com a realidade multifacetada da população brasileira mais excluída, utilizando-se desde aspectos dietéticos, clínicos e técnicos, até aqueles mais subjetivos e culturalmente construídos. A busca pelo resgate da dignidade, esperança, autoconfiança e força para lutar daqueles que se encontram empobrecidos e excluídos exige dos educadores uma alusão à necessidade de uma análise criteriosa sobre as formas de ajuda alimentar (BOOG, 2004).
É nesse sentido que procuramos exercitar a integralidade, proposta como um dos objetivos centrais do Projeto. A integralidade é o referencial ético e político sobre o qual desenvolvemos nossa proposta pedagógica: atuando em grupos e coletivos da comunidade; visitando as famílias, em seus domicílios e interagindo com sua realidade; ensaiando novas cores para o atendimento em saúde, através da desconstrução da proposta tradicional de orientação nutricional; e procurando integrar a vida da comunidade à dinâmica do serviço de atenção primária em saúde.
E conforme conclui Cruz et al (2005), a extensão popular em saúde pode desenvolver um trabalhador comunitário que entende a vida numa perspectiva esperançosa e, sendo ético, transmite e compartilha esse sentimento com os indivíduos com quem trabalha. Assim, o respeito aos saberes trazidos pelos indivíduos leva à assunção de níveis ainda mais complexos quando desse compreender da esperança: o futuro deixa de ser inexorável, nada é previsível, surge a criatividade, dá-se lugar à beleza da imaginação.
Conclusões
As reflexões geradas pelo PINAB têm nos mostrado que devemos reforçar a importância das práticas de extensão popular em saúde como lugares fundamentais para a experimentação de caminhos para a atenção básica em saúde. A extensão nos dá um tempo que muitos profissionais em serviço não têm ou não podem ter: o tempo de escutar, de brincar, de experimentar, de criar, de inventar, de contrapor, de propor. A extensão pode ser uma parceria essencial para que tais poderes possam ser desenvolvidos também pelos profissionais e pelos usuários dos serviços de saúde.
A extensão pode trazer o exercício da Nutrição para mais perto da população, radicalmente articulada à sua realidade, interesse, tempo e prioridade, de modo a fazer da segurança alimentar e nutricional um sonho possível de se alcançar. Articulando a ciência com a vida cotidiana da população, numa busca pela promoção e recuperação da saúde, sem perder de vista as condições sociais, econômicas, psicológicas e culturais das pessoas. Sem esquecer de que a conquista da promoção da saúde não se percebe apenas pela ausência de doenças, mas pela autonomia e empoderamento das pessoas, de modo a permitir que vivam e se expressem com altivez, cidadania e felicidade.
Nesse sentido, a extensão também contribui para que a atenção básica no Sistema Único de Saúde, se configure como um lugar dialógico, criativo e capaz de constituir um apoio verdadeiro não apenas para a cura biológica, mas para a emancipação das pessoas. Referências bibliográficas
AMORIM, S. T. S. P. de; MOREIRA, H.; CARRARO, T. E. A formação de pediatras e nutricionistas: a dimensão humana. Revista de Nutrição, v.14, n.2, 2001.
BOOG, M. C. F. Contribuições da educação nutricional à construção da segurança alimentar. Saúde em revista, v. 6, n. 13, p. 17-23, 2004.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política nacional de promoção da saúde / Ministério da Saúde, 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde), 2006.
BURLANDY, L. Atuação do nutricionista em saúde coletiva. [S.l.: s.n.], 2005. Mimeografado.
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2004, Olinda. A construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Olinda: [s.n.], 2004.
CRUZ, P.J.S.C.; ALMEIDA, A.B.;OLIVEIRA, A.M.B. et al.. Percepção do estudante universitário sobre o trabalho em comunidade na perspectiva da educação popular. In: Anais do V Colóquio Internacional Paulo Freire. Recife, 2005.
FREIRE, P. Educação e mudança. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 79p.
__________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 148p.
__________. Pedagogia do oprimido. 40a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
PINHEIRO, A.R.O; RECINE, E; CARVALHO, M.F. O que é uma alimentação saudável? Considerações sobre o conceito, princípios e características: uma abordagem ampliada. [Internet]. Brasília; 2005 [acessado em 2007 fev 24]. Disponível em: http://www.saude.gov.br/nutricao.
RODRIGUES, E.M.; SOARES, F.P.T.P.; BOOG, M. C. F. Resgate do conceito de aconselhamento no contexto do atendimento nutricional. Revista de Nutrição, Campinas, v. 18, n. 1, p. 119-128, 2005.
SANTOS, L.A.S. Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção de práticas alimentares saudáveis. Revista de Nutrição, Campinas, set./out., 2005.
SCOCUGLIA, A. C.; MELO NETO, J. F. Educação Popular: Outros Caminhos. João Pessoa: Universitária, 1999.
VALLA, V. V. Educação Popular e Conhecimento: a Monitorização Civil dos Serviços de Saúde e Educação nas metrópoles brasileiras. In: Participação Popular, Educação e Saúde: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997.
VASCONCELOS, E.M. Educação popular nos serviços de saúde. São Paulo: Hucitec, 1991.
____________________. Educação Popular como Instrumento de Reorientação das Estratégias de Controle das Doenças Infecciosas e Parasitárias. In: Cadernos de Saúde Pública, v.14. Rio de Janeiro, 1998.