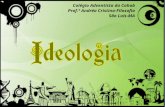Produção do espaço e crise urbana- uma interpretação de São Luís, MA
-
Upload
pedro-dantas -
Category
Documents
-
view
22 -
download
0
Transcript of Produção do espaço e crise urbana- uma interpretação de São Luís, MA
-
Produo do espao e crise urbana: uma interpretao de So Lus, Ma.
Luiz Eduardo Neves dos Santos1
Jadson Pessoa da Silva2
Resumo
O artigo trata da produo do espao urbano em So Lus tendo como referncia a
verticalizao, a fragmentao socioespacial e a anlise da crise urbana. A expanso da
sociedade de consumo e a urbanizao das cidades brasileiras e, mais especificamente, de So
Lus, acaba por gerar diferentes formas de apropriao do espao pelos grupos sociais. Neste
processo, o sistema econmico globalizado representado pela explicitao e dominao do
meio tcnico-cientfico. Entretanto, este sistema, ao se expandir, no se tornou nico, mas to
somente hegemnico. Sua expanso se efetivou a partir da contradio fundamental que
separa grupos dominantes de grupos dominados em uma cidade claramente dividida.
Abstract
The article deals with the production of urban space in So Lus with reference to
verticalization, sociospatial fragmentation and analysis of the urban crisis. The expansion of
consumer society and the urbanization of Brazilian cities, and more specifically of So Lus
ends up generating different forms of alienation and appropriation of space by social groups.
In this process, the global economic system is represented by the explicitness dominace of the
technical-scientific. However, this system, to expand, not become one, but only hegemonic.
Its expansion was accomplished from the fundamental contradiction that separates groups of
dominant groups in a city dominated clearly divided.
rea: 6. Economia Agrria, Espao e Meio Ambiente
Subrea: 6.1 Economia, Espao e Urbanizao
Sesso: Comunicaes
1 Gegrafo formado pela Universidade Federal do Maranho (UFMA), Especialista em Geoprocessamento
Aplicado ao Cadastro Multifinalitrio, Mestrando do Curso de Desenvolvimento Socioeconmico da UFMA e
Membro-Pesquisador do Instituto da Cidade (INCID). 2 Economista formado pela Universidade Federal do Maranho (UFMA), Mestrando do Curso de
Desenvolvimento Socioeconmico na mesma instituio de ensino e professor efetivo do Instituto Federal do
Maranho (IFMA).
-
1. Introduo
A cidade pode ser explicada como um conjunto de objetos, produzidos com intuitos
variados e carregados de intencionalidades. Por isso a cidade abarca duas produes, uma
material, observada na fabricao, utilizao e circulao de objetos tcnicos e outra
simblica, abstrata, representada pela maneira com que os indivduos do sentido quilo que
os cerca, onde a subjetividade o ponto essencial deste processo.
A cidade de So Lus, capital do Estado do Maranho, constitui nos tempos
hodiernos uma grande aglomerao urbana, compondo um espao amplo e diversificado que
abarca uma populao de 1.014.837 habitantes (IBGE, 2010).
O sculo XX proporcionou a consolidao de um sistema de trocas de mercadorias
globalizado. No entanto, isto no representou a homogeneizao do modo de como o
territrio se apresenta. O espao sendo produto de relaes sociais ainda o espao plural
derivado da riqueza da imaginao humana expressa na diversidade cultural.
O solo e a habitao em So Lus so transformados em mercadorias, seu consumo
s aumenta, visto que fazem parte das estratgias do grande capital imobilirio e financeiro,
contribuindo para a produo e a reproduo do espao.
Este artigo trata de forma breve das transformaes que a cidade de So Lus vem
sofrendo nos ltimos anos em decorrncia da rpida transformao de seu espao urbano,
representada pela chamada crise urbana. Os processos de valorizao do solo urbano atravs
da verticalizao e da expanso urbana horizontal desordenada, inerentes s grandes cidades
brasileiras, aparecem como principais elementos de diversificao espacial.
O artigo estruturado em quatro partes principais a saber: a primeira versa sobre a
abordagem dos conceitos de espao, cidade, urbano e urbanizao a partir de um enfoque
referente s suas contradies. A segunda parte discute as conceituaes e estudos da
verticalizao e da segregao socioespacial. Na terceira parte, a renda fundiria e tambm a
categoria produo do espao so analisadas.
Por fim, se constri uma abordagem sobre as noes de crise, tratando a crise urbana
em So Lus a partir de um enfoque vinculado reproduo do capital, que estimula a
expanso das disparidades socioespaciais na cidade.
-
2. Espao urbano, cidade e urbanizao
O espao, objeto deste estudo, concebido como expresso das relaes sociais de
produo. Esta produo envolve trabalho, lazer, ideologia, dentre outros, que atravs do
consumo ditam os movimentos e a circulao de mercadorias na esfera citadina.
A cidade pode ser traduzida como um conjunto de objetos tcnicos materiais, rede
viria, edifcios, parques, praas, shopping centers, dentre outros. Seu entendimento engloba
os conhecimentos dos grupos que a projetaram e a construram.
O urbano complementa e consolida a noo mais ampla do que conhecemos como
cidade. Ele tem a ver com o subjetivo, o simblico, o que est por trs da paisagem urbana
que compe a cidade moderna. Santos (1992, p. 241) diferenciou a cidade do urbano
afirmando que a primeira o concreto, o conjunto de redes, enfim a materialidade visvel do
urbano, enquanto que este o abstrato, porm o que d sentido e natureza cidade. O que se
pode inferir a partir disso, que cidade e urbano se interpenetram.
Pelo exposto, o que tem de ser levado em considerao, quando tratamos do espao
urbano, que sua existncia no seria possvel sem o contedo que lhe d sentido: os grupos
humanos. atravs dos sistemas de aes que se criam os objetos tcnicos e partir dessa
relao intrnseca, entre aes e objetos (em sentido amplo), que a sociedade pode vir a
alcanar as transformaes no/do espao em tempos de globalizao.
Em sua tese de livre-docncia intitulada A Dimenso Espacial do
Subdesenvolvimento: Uma Agenda para os Estudos Urbanos e Regionais, o economista
Antnio Carlos Brando analisa a importncia da dimenso espacial para os estudos sobre o
desenvolvimento e o subdesenvolvimento em diversas escalas, incluindo a urbana. Por isso,
concordamos com o pensamento do autor, filiado matriz terica e analtica que entende o
espao e o territrio como uma construo social, resultado da reproduo histrica
(BRANDO, 2004, Captulos 2 e 5).
O espao urbano o da contradio, prprio da crise que a cidade moderna abarca
com todas as suas problemticas em direo ao colapso. Em contraposio ao espao da
racionalidade, planejado para quem o domina, objeto de troca, de consumo, ou seja,
negocivel. Damiani (2001, p. 52) ao tratar da oposio entre uma lgica formal e uma
lgica dialtica a propsito do espao afirma:
H dominao pela lgica. o espao formal que impera. O cotidiano e o vivido lhe
escapam. Ou melhor, programa-se o cotidiano. Lugares neutralizados, higinicos e
funcionais, como as avenidas, voltadas para a circulao do automvel. Toda a
racionalidade econmica e poltica pesam sobre o cotidiano, enquanto vivido.
-
A autora chama ateno para a produo incessante de um espao cada vez mais
racional, um imprio das representaes, uma lgica da mercadoria que acentua as
desigualdades e camufla a essncia espacial. O espao reduzido ao tecnocrtico, ao
planejamento dirigido, que deteriora a dialtica do tempo.
Outra viso, igualmente importante, sobre o espao feita por Ana Fani Alessandri
Carlos. Baseada nas formulaes de Henri Lefebvre, vai conceber o espao como condio,
meio e produto da realizao da sociedade humana em toda a sua multiplicidade (CARLOS,
2001, p. 11). Sua anlise sobre o espao urbano se d a partir da reproduo do capital, da
mercadoria e da reproduo da vida, que ganha fora na sua relao dialtica com os
processos espaciais.
A anlise do espao urbano fundamenta-se no entendimento da dominao poltica,
que impe uma lgica formal e uma racionalidade cidade, uma acumulao de capital que
d condies para que o concreto e o abstrato sejam metamorfoseados, produzindo o lugar na
cidade. A cidade capitalista o local da sede do poder, onde a produo controlada, ou seja,
abrigo por excelncia das classes dominantes. nela que a relao Estado-Capital-Fora de
Trabalho se d de forma mais intensa e acelerada.
A produo se d tambm a partir da deteriorao de ideologias, valores e
identidades, ou a partir do anseio de uma mudana, na busca incessante da crtica e dialtica
do espao-tempo.
No possvel apenas pensar a cidade como quadro fsico, visto que ela dotada das
intencionalidades dos grupos humanos, que a molda a partir de suas vontades e interesses. A
interpretao e anlise das prticas socioespaciais so uma das chaves para se entender o
fenmeno urbano na cidade moderna. Um caminho possvel seriam os estudos em torno do
uso e ocupao do solo urbano, tema que vem sendo aprofundado nos ltimos anos em
virtude da consolidao do Estatuto da Cidade (Lei Federal n 10.257/01) no Brasil.
O entendimento clssico de urbanizao tem a ver com o quantitativo populacional,
versando sobre a predominncia da populao urbana sobre a rural. Este fenmeno atrela-se
tambm morfologia e caractersticas do stio urbano, produo e circulao de mercadorias
(industrializao-consumo), aos equipamentos urbanos, ao setor de servios e aos modos de
vida na cidade (dimenso subjetiva-cultural), dentre outras caractersticas.
Clark (1991) entende o fenmeno da urbanizao a partir de um conjunto de valores,
expectativas e estilos de vida presentes no espao urbano. Ele no exclui o processo de trocas
de mercadorias e industrializao, mas enfatiza a importncia dos lugares urbanos para os
comportamentos dos grupos sociais nas cidades.
-
A populao mundial, que j ultrapassou a cifra de 7 bilhes de habitantes embora
de forma cada mais desacelerada continua crescendo. Esse crescimento, no entanto, no
homogneo. Em primeiro lugar, os pases de industrializao recente so os que mais
contribuem para o acrscimo de pessoas, uma vez que, nessas regies, o crescimento
vegetativo da populao maior.
Por outro lado, percebe-se que a urbanizao um fenmeno cada vez mais
generalizado no mundo. Segundo a ONU, em 1960, a populao urbana representava 34% da
populao mundial; em 1992, era de 44%; em 2008 a previso era 53% e estima-se que em
2025, 61,01% de toda a populao mundial viva em cidades (UNFPA, 2007, p. 6, traduo
nossa).
O crescimento do nmero de pessoas que vivem em cidades se explica,
principalmente, pela expulso dos homens do campo, seja pela falta de perspectiva de vida ou
pela mecanizao agrcola e pela expectativa de melhoria das condies de vida nas cidades.
Como nas economias mais desenvolvidas esse processo j vinha acontecendo desde o sculo
XIX e j est estabilizado, possvel pensar que o crescimento urbano, nos dias atuais, seja
um fenmeno caracterstico de pases subdesenvolvidos.
Nos pases subdesenvolvidos, a urbanizao situa-se a partir da segunda metade do
sculo XX e carrega consigo problemticas estruturais graves. Na Amrica Latina o intenso
xodo rural e a carncia de empregos nos setores secundrio e tercirio trouxeram
consequncias como a expanso das favelas, o crescimento da economia informal e, em
muitos casos, o aumento do contingente de populao pobre em torno de uma metrpole, em
um processo denominado de macrocefalia urbana.
No Brasil, as bases da industrializao foram lanadas na dcada de 1930, durante o
governo Getlio Vargas, e a consolidao deste processo se deu nas dcadas de 1950 e 1960,
desencadeando um quadro de modernizao de toda a economia, que elevou as cidades
posio central na vida brasileira (IANNI, 2010).
De acordo com o ltimo Censo Populacional feito pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica em 2010, o Brasil atingiu a marca de 190.732.694 (cento e noventa
milhes, setecentos e trinta e dois mil e seiscentos e noventa e quatro) habitantes (IBGE,
2010).
Para chegar a esse patamar, o pas passou por profundas transformaes,
principalmente durante o sculo XX. Durante a dcada de 1940 a populao predominante no
Brasil era rural, ou seja, no vivia em cidades. Segundo os dados do IBGE, a populao
urbana era de 31,30% em 1940 e passou para 84,35% em 2010 (IBGE, 2010), um avano
-
significativo que resultou numa grande transformao nos modos de vida da populao
brasileira. A populao idosa cresceu, as taxas de analfabetismo e mortalidade infantil caram,
bem como a populao jovem e a taxa de fecundidade, dentre outros aspectos.
O processo de modernizao da economia brasileira, at os dias de hoje, no levou a
superao da pobreza. A modernizao aprofundou as desigualdades sociais j existentes,
geradas ao longo da histria, pois possuiu como alicerce uma maior concentrao de renda.
O fato que o Brasil apresenta em seu territrio uma grande quantidade de pessoas
vivendo em cidades. Esta uma realidade que confere ao pas um grau de urbanizao nunca
antes alcanado, significando um acmulo assaz grave de problemticas urbanas das mais
diversas.
3. Verticalizao e segregao socioespacial: marco terico
O espao urbano na atual fase histrica apresenta-se como objeto indelvel do
processo de acumulao capitalista. Cada vez mais, o solo urbano transforma-se em
mercadoria, o que favorece a ampliao da mais-valia de grupos seletos inseridos no sistema
financeiro mundial.
importante destacar que o processo de verticalizao vem sendo analisado por
muitos estudiosos no Brasil, a exemplo de Spsito (1991), Souza (1994), Mendes (1992),
Somekh (1997) e Ramires (1998). Alm desses trabalhos, pode-se destacar uma razovel
quantidade de monografias, dissertaes e outras teses sobre o tema em questo produzidas
nas mais diversas instituies de ensino superior do pas.
A anlise de Souza (1994) incide sobre os processos de produo e apropriao do
espao urbano em So Paulo no mbito da verticalizao. Sua teoria sobre a Identidade da
Metrpole na busca de uma interpretao da totalidade do processo urbano na capital paulista
se afirma na relao mtua de quatro agentes principais: o capital imobilirio, o capital
financeiro, o capital fundirio e o capital produtivo (SOUZA, 1994, p. 27).
A verticalizao de acordo com Souza (1994, p. 129) constitui-se numa
especificidade da urbanizao brasileira, pois em nenhum lugar do mundo o fenmeno se
apresenta como no Brasil, com o mesmo ritmo e com a mesma destinao prioritria para a
habitao. Dessa forma, a verticalizao aparece como uma das principais modalidades de
apropriao do espao urbano nas grandes cidades do mundo e tambm no Brasil, pois
representa um tipo de habitao ao menos no discurso racionalizante global atrelada ao
que h de moderno, gerando sentimentos de satisfao.
-
Mendes (1992 p. 32) define a verticalizao como o processo intensivo de
reproduo do solo urbano, oriundo de sua produo e apropriao de diferentes formas de
capital, aliado s inovaes tecnolgicas, alterando a paisagem urbana. O autor fala de
processo intensivo, o seja, o solo urbano (escolhido de forma seletiva) possui a capacidade de
receber edifcios de forma acelerada a partir dos ditames do grande capital.
Ramires (1998, p. 13), ao estudar a verticalizao em Uberlndia, afirma que o
espao verticalizado no s representa uma revoluo na forma de construir, afetando a
dinmica de acumulao/reproduo do capital no setor da construo civil e mercado
imobilirio, como atesta que este processo um bom negcio para os capitalistas.
Entendido como resultado da multiplicao do solo urbano (SOUZA, 1994;
SOMEKH, 1997), a verticalizao no Brasil se caracteriza por estar atrelada, sobretudo
habitao e no ao setor de servios como aconteceu em muitos outros pases do mundo.
O Estado, na 2 metade do sculo XX, teve um papel fundamental no financiamento
da expanso das cidades brasileiras, como por exemplo a atuao do Banco Nacional de
Habitao (BNH) durante os anos 1960 e 1970 ou da Caixa Econmica Federal atravs do
Minha Casa, Minha Vida presente na agenda do Programa de Acelerao do Crescimento
(PAC) no sculo XXI, todos amparados pelo Sistema Financeiro de Habitao (SFH).
necessrio afirmar que o processo estudado aqui deriva das estratgias do capital
financeiro atuantes nos grandes centros urbanos, que privilegiam algumas reas da cidade em
detrimento de outras, o que acaba gerando um processo de desenvolvimento desigual no seio
do tecido urbano, acentuando a crise na cidade.
Em 1845, Friedrich Engels publica uma de suas obras mais conhecidas, A Situao
da Classe Trabalhadora na Inglaterra. O autor denunciou as pssimas condies de vida das
classes operrias nos centros industriais ingleses e de que forma eram explorados pela
burguesia. Londres, Manchester, Liverpool so algumas das cidades analisadas por Engels:
(...) nessa guerra social, as armas de combate so o capital, a propriedade direta ou
indireta dos meios de subsistncia e dos meios de produo, bvio que todos os
nus de uma tal situao recaem sobre o pobre. (...) Nos bairros de m fama habitualmente as ruas no so planas nem caladas, so sujas, tomadas por detritos
vegetais e animais, sem esgotos, cheias de charcos ftidos. A ventilao precria,
dada a estrutura irregular dos bairros (...) (ENGELS, 2010, p. 69-70).
O que Engels constatou nos anos quarenta do sculo XIX muito semelhante
situao das classes excludas nas grandes cidades dos pases subdesenvolvidos na atualidade,
pois a cidade capitalista moderna uma mquina produtora de misria e desigualdade social
(SANTOS, 2012, p. 4).
-
A segregao socioespacial pode ser definida como tendncia concentrao de
determinado grupo social em rea especfica, sem, portanto haver exclusividade (VILLAA,
2001, p. 21). Essa tendncia concentradora de que fala Villaa, nos remete ao espao da
contradio entre grupos sociais distintos ocupando uma mesma cidade. Umas das
explicaes da segregao socioespacial por parte das classes dominantes deriva do medo da
violncia:
Sob a influncia do medo, do sentimento de insegurana que se dissemina, morar em
casas isoladas e mesmo em prdios de apartamentos que no estejam protegidos pelo
aparato de segurana de um verdadeiro condomnio exclusivo vai-se apresentando como uma opo cada vez menos atraente em favor do tipo de habitat representado
por um gated community. A organizao espacial da cidade se vai, na esteira disso,
modificando (SOUZA, 2008, p. 71-72).
Essa caracterstica de que fala Marcelo de Souza cada vez mais comum entre as
classes dominantes urbanas, por isso surgiram a partir do final dos anos 1970, os condomnios
fechados ou os enclaves fortificados, na expresso de Caldeira (2000), nos grandes centros
brasileiros, traduzidos por territrios burgueses, compostos por todo o aparato de segurana
possvel: muros altos e eletrificados, guardas terceirizados, cmeras de vigilncia, dentre
outros.
Os pobres urbanos ocupam reas desfavorveis habitao (loteamentos
clandestinos e irregulares), como encostas, margens de cursos dgua, reas prximas a
lixes, dentre outras. Enquanto os grupos abastados moram em reas valorizadas e com maior
infraestrutura.
O movimento segregador acontece de forma acelerada no Brasil por conta da
mercantilizao do solo urbano. Os incorporadores imobilirios, financiados pelo Estado e
partcipes do movimento do capital financeiro global, possuem um papel decisivo na
consolidao da segregao socioespacial.
Os incorporadores modificam a dinmica urbana expulsando camadas populares ao
selecionarem reas para a construo de condomnios residenciais, edifcios comerciais,
shopping centers, galerias, entre outros, com a finalidade precpua de acumular capital.
Pelo exposto, legtimo afirmar que o processo de segregao socioespacial
caracteriza as cidades no Brasil, j que possui como fundamento a lgica de reproduo e
acumulao do capital na esfera urbana que espolia os pobres.
-
4. Renda fundiria e produo do espao urbano
Desde seu aparecimento, o modo capitalista de produo fez com que o espao
estivesse inserido nas estratgias de valorizao do capital, seja atravs da mercantilizao da
terra com sua diviso em lotes ou mais recentemente na circulao de capital financeiro
especulativo. Segundo Henri Lefebvre (1999, p. 142),
(...) o capitalismo parece esgotar-se. Ele encontrou um novo alento na conquista do
espao, em termos triviais na especulao imobiliria, nas grandes obras (dentro e
fora das cidades), na compra e venda do espao. E isso escala mundial (...) A
estratgia vai mais longe que a simples venda, pedao por pedao, do espao. Ela
no s faz o espao entrar na produo da mais-valia; ela visa a uma reorganizao
completa da produo subordinada aos centros de informao e deciso.
Dessa forma, o espao urbano o palco ideal para as estratgias do capital, j que a
cidade constitui em si mesma, o lugar de um processo de valorizao seletiva, cada lugar,
dentro da cidade, tem uma vocao diferente, do ponto de vista capitalista, e a diviso interna
do trabalho a cada aglomerao no lhe indiferente (SANTOS, 2009, p. 125). A burguesia
exerce um rgido monoplio nas reas urbanas em termos de propriedade privada do solo e
excluem os pobres da propriedade fundiria.
Os estudos em torno da renda fundiria foram desenvolvidos pela economia poltica
clssica, e tem em David Ricardo seu precursor. Karl Marx desenvolveu sua teoria sobre a
renda fundiria criticando Ricardo. Basicamente, os estudos sobre a renda fundiria,
desenvolvidos Marx e aprofundados por autores marxistas se dividem em: renda diferencial I
e II, renda absoluta e renda de monoplio.
bom destacar que para a teoria marxista, o solo no capital, pois no um valor
criado pelo trabalho, embora a terra tenha se tornado uma mercadoria, que possui um preo e
um valor comercial determinado no modo de produo capitalista (BOTELHO, 2007, p. 71).
A terra, portanto, no produz lucro, no entanto ela gera renda.
A renda fundiria urbana vem sendo discutida por muitos autores marxistas desde a
dcada de 1970, a exemplo de Cunha & Smolka (1978), Harvey (1980), Lojkine (1997) e
Singer (1982).
Para Cunha & Smolka (1978, p. 37), as rendas fundirias urbanas nada mais so do
que parte do excedente desviado de suas realizaes, na forma usual de lucro, sendo a
localizao um instrumento valioso para o detentor da propriedade privada do solo. Jean
Lojkine (1997, p. 188) j afirmou que a renda fundiria urbana um instrumento do
fenmeno da segregao, sua manifestao espacial, produzida pelos mecanismos de
formao dos preos do solo so determinados pela diviso social e espacial do trabalho.
-
Ento, a terra nos aglomerados urbanos objeto de acirrada disputa, ela se tornou um
ativo extremamente valioso para construtoras, imobilirias e prefeituras. Por isso a terra na
cidade fatiada por esses grupos, os melhores pedaos so destinados sem burocracia
burguesia, enquanto as sobras ficam para os pobres e miserveis.
A categoria de anlise produo do espao foi desenvolvida pelo pesquisador Henri
Lefebvre em seu livro do original em francs La prodution de lespace. Tal categoria proposta
por Lefebvre, proveniente de Marx, refere-se aos processos de atuao das foras produtivas
capitalistas no espao (urbano), bem como suas repercusses na produo das relaes sociais
e ideolgicas inerentes aos grupos humanos. Segundo o pesquisador em questo:
a dupla acepo do termo decorre de que os homens em sociedade produzem ora coisas (produtos), ora obras (todo o resto). As coisas so enumeradas, contadas,
apreciadas em dinheiro, trocadas. E as obras? Dificilmente. Produzir, em sentido
amplo, produzir cincia, arte, relaes entre seres humanos, tempo e espao,
acontecimentos, histria, instituies, a prpria sociedade, a cidade, o Estado, em
uma palavra: tudo. A produo de produtos impessoal; a produo de obras no se
compreende se ela no depende de sujeitos (LEFEBVRE, 1973, p. 79-80).
Essa produo de que fala Lefebvre deriva do trabalho, conceito desenvolvido por
Marx na relao intrnseca homem-natureza. Assim, o homem, atuando sobre o mundo
exterior e modificando-o, ao mesmo tempo ele modifica a sua prpria natureza (MARX, O
capital I, p. 142). Portanto, ele exerce controle sobre a natureza, modificando a si prprio.
A produo do espao em So Lus, seja por meio da verticalizao ou da segregao
socioespacial, apresenta-se como elemento responsvel por transformaes morfolgicas e
funcionais da paisagem urbana que produz solos superpostos, provocando permanentemente a
revalorizao do espao. Para Lefebvre (2001, p. 06):
A cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e a
generalizao da mercadoria pela industrializao tendem a destruir, ao subordin-
las a si, a cidade e a realidade urbana, refgios do valor de uso, embries de uma
virtual predominncia e de uma revalorizao do uso.
Assim, o solo e a habitao so transformados em mercadorias, seu consumo s
aumenta, visto que fazem parte das estratgias capitalistas, contribuindo para a produo e a
reproduo do espao. Os pobres em So Lus no participam efetivamente do processo de
cidadania, j que a cidade fragmentada, havendo a multiplicao de espaos que so
comuns, mas no pblicos (GOMES, 2002, p. 174).
H, portanto, territrios prprios dos grupos dominantes (shopping centers, faixas da
orla martima, determinados bares e restaurantes, edifcios comerciais, dentre outros) que no
so usados pelos grupos dominados, e quando so, verifica-se o uso como meio de
sobrevivncia: porteiros, garis, ajudantes de limpeza, guardadores de carros, etc.
-
5. A instaurao da crise, uma crise urbana!
Que quer dizer esta palavra: crise? Ela designa em princpio um
momento crtico, uma data separando dois perodos, um corte no
tempo. Crise? Crise de quem? Crise de qu? (...) crise de que? Do capitalismo? Da Europa? Do capitalismo europeu? Da civilizao?
(...) do Estado? Os sintomas so conhecidos, catalogados:
desemprego, diminuio das trocas internas e externas, falncias,
dficits, etc. (LEFEBVRE, 2009, p. 138).
A palavra crise permeia h muito a sociedade em que vivemos, seja nas cincias,
nos relaes sociais ou na cidade. As indagaes feitas por Lefebvre em 1978 esto longe de
cessarem, pois a nica crise que os responsveis desejam afastar a crise financeira e no
qualquer outra, causando o aprofundamento da crise real econmica, social, poltica, moral
que caracteriza o nosso tempo (SANTOS, 2000, p. 36).
A crise que nos interessa aqui a chamada crise urbana, que se traduz a partir da
acelerada e desordenada urbanizao ligada umbilicalmente s desigualdades e as injustias
sociais. As cidades atualmente so centros nervosos de circulao e acumulao de capital, ou
seja, comum que a cidade possua a necessidade de economizar as despesas de produo,
circulao e consumo, a fim de acelerar a velocidade da rotao do capital (LOJKINE, 1997,
p. 153). Nas grandes cidades brasileiras e obviamente em So Lus esse processo visvel.
O mundo nas ltimas dcadas vive um perodo de crise. Tal crise deriva da iniciada
na dcada de 1970, ancorada no neoliberalismo e na poltica de desmonte do bem estar social.
No Brasil, a partir dcada de 1990, houve uma srie de transformaes decorrentes da
insero dos ideais neoliberais, primeiro com o Governo Collor, que instaurou uma poltica
econmica baseada nas diretrizes recomendadas pelo Consenso de Washington3.
O Governo FHC, por exemplo, de acordo Fiori (2001, p. 283), possibilitou uma
depredao e feudalizao do Estado pelos interesses privados, selecionados a dedo pelos
novos liberais. As privatizaes tornaram-se um bom negcio, sem nenhum tipo de estratgia
de longo prazo. Os ideais neoliberais de FHC, ao contrrio do que pregavam, promoveram o
enxugamento dos gastos pblicos, com a consequente reduo dos direitos trabalhistas.
Voltando a questo da crise, se observa que com a reduo salarial e a perda do
poder de compra pelo trabalhador nos grandes centros urbanos, o crdito adquiriu condies
para se expandir e como as remuneraes no sustentam a demanda, o resultado a
3 Caracterizado por ser um programa ortodoxo de estabilizao monetria acompanhado por um pacote de
reformas estruturais ou institucionais que se props, explicitamente, a desmontagem do modelo
desenvolvimentista, pela abertura e desregulamentao dos mercados e privatizaes de empresas e servios
pblicos (FIORI, 2001, p. 283).
-
proliferao em larga escala dos endividamentos, seja via cartes de crdito, cheques-
especiais ou mesmo emprstimos diretos, todos portadores de altssimas taxas de juros.
Segundo a Confederao Nacional do Comrcio de Bens, Servios e Turismo (CNC),
responsvel pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplncia do Consumidor (Peic), at
janeiro de 2012 o percentual de famlias que declararam ter dvidas era de 58,8% (CNC-PEIC,
2012). Na cidade de So Lus, pelo menos 65,5% dos consumidores se encontram
endividados em 2012. Essa constatao deriva da pesquisa Perfil de Endividamento do
Consumidor de So Lus, realizada pela Federao das Cmaras de Dirigentes Lojistas do
Maranho FCDL/MA em parceria com o Escritrio Tcnico de Estudos Econmicos do
Nordeste Etene, organismo vinculado ao Banco do Nordeste BNB (EM SO LUS,
2012).
David Harvey aposta que a crise capitalista atual uma crise eminentemente urbana
e tem motivos para afirmar isso:
Desde 1970, as inovaes financeiras, como a securitizao da dvida hipotecria e a
disseminao dos riscos de investimentos mediante a criao de mercados de
derivativos, tacitamente (e agora, como vemos, de verdade) apoiadas pelo poder do
Estado, permitiram um enorme fluxo de excesso de liquidez em todas as facetas da
urbanizao e do espao construdo no mundo todo (...) vrias das crises financeiras
desde a dcada de 1970 foram provocadas por excessos nos mercados imobilirios
(HARVEY, 2011, p. 75-76).
As formas de investimentos nos grandes centros urbanos so essencialmente
especulativas, fazendo com que a expanso da demanda eleve sobremaneira os preos da terra
nas cidades, possibilitando o surgimento das bolhas imobilirias, frgeis e a ponto de
estourarem por conta dos excessos de financiamentos e consequentemente da enorme
inadimplncia. Robert Kurz j no incio da dcada de 1990 afirmava:
Ter de se fazer sentir o desaparecimento da capacidade aquisitiva, derrotada na
concorrncia, e o dos mercados reais correspondentes, acabando com os mercados
fictcios, abalofados pela especulao. Ao rasgar o ltimo fio finssimo que liga a
acumulao real superestrutura de crdito, ter de desabar tambm o complexo
especulativo, porque ficar pesada demais a gigantesca cauda de cometa de juros
que entrementes se prendeu reproduo global, um peso que obriga o mundo
produtor de mercadorias a descer para seus prprios fundamentos reais (KURZ,
1999, p. 203).
O que Kurz vaticinou h duas dcadas ainda est em curso e seu maior sintoma a
crise atual, crise essencialmente especulativo-financeira, que possui como uma de suas
consequncias mais nefastas a perda de postos de trabalho e do sentido das lutas de classe,
encoberta pela nvoa espessa do capital.
-
5.1 O caso do espao urbano de So Lus
So Lus do Maranho nasceu durante o perodo colonial no sculo XVII e resultou
da estratgia da metrpole lusitana para barrar os avanos das naes rivais. Durante o sculo
XVIII atinge o seu apogeu econmico aproveitando a valorizao internacional do algodo.
Este perodo propiciou uma acumulao de riqueza responsvel pela adoo da peculiar
arquitetura do centro histrico da cidade que se caracteriza por imponente conjunto de
casares coloniais portugueses.
Aps o declnio da atividade algodoeira, a economia local, que polariza a economia
regional, mergulha num obscurantismo relativo quando comparada ao comportamento da
produo de riqueza no pas, o qual, durante o sculo XX, experimenta uma rpida escalada
em direo a industrializao.
Somente a partir de um projeto nacional arquitetado pelo regime militar implantado
no incio dos anos 1960, o Projeto Grande Carajs, a economia regional dinamizada,
consolidando-se na metade dos anos 1980 quando da inaugurao da Estrada de Ferro
Carajs-So Lus (VALVERDE, 1989).
A insero dessas indstrias na cidade promoveu a conexo da regio com o
comrcio mundial de minrio e representou o estopim de uma radical alterao da dimenso
espacial na capital maranhense.
Os investimentos estatais oriundos do Banco Nacional de Habitao (BNH) e do
Banco do Nordeste (BNB) incentivaram expanso do espao urbano, bem como a
construo de pontes sobre o rio Anil a partir do incio da dcada de 1970. Houve assim uma
ruptura com o traado urbano e o modo de vida tradicional do ludovicense (LOPES; SILVA,
2008, p. 291), provocando, por conseguinte, a sada das famlias de classe mdia e alta do
antigo ncleo central em direo ao que se convencionou chamar de Cidade Nova4.
A dinamizao da economia da cidade provocou o crescimento populacional
principalmente devido ao afluxo de migrantes. Isto por sua vez levou a intensificao do uso
do solo urbano e a uma nova espacializao da cidade, caracterizada por modos de
apropriao espontnea do solo pelos migrantes e outros grupos empobrecidos da sociedade
local.
4 A denominada Cidade Nova abrange as reas com maior infra-estrutura urbanstica e de servios em So Lus,
apresentando uma morfologia urbana caracterstica que engloba essencialmente os bairros do Renascena I, II e
todo o territrio que compreende a orla martima e seu entorno.
-
A expanso da cidade mediante tais modalidades de apropriao do espao urbano
resultou em significativa desigualdade no que se refere infraestrutura disponvel para os
diversos territrios da cidade em intensa expanso. Esta desigualdade tornou-se mais
acentuada atravs de modalidades contemporneas de produo do espao apropriado pelo
que designo de grupos sociais dominantes.
De incio, um significativo processo de verticalizao na rea da Cidade Nova
tomada pelos ricos propiciou a concentrao de confortveis condomnios de apartamentos,
escritrios, restaurantes e shoppings. Com a insero da cidade num sofisticado roteiro
turstico regional, esta rea recebeu novos investimentos atravs da implantao de uma
sofisticada rede hoteleira. Outra caracterstica que surge nos ltimos anos, a implantao de
condomnios horizontais de padro mdio e alto.
Em conjunto, estes fenmenos representam um momento de particular vitalidade da
indstria da construo civil e de empresas imobilirias que tem sido chamado pela imprensa
local como um boom imobilirio, concentrado na rea da cidade para a qual os grupos
dominantes se dirigiram a partir dos anos 1970.
A partir da dcada de 1990 a cidade de So Lus assume caractersticas muito
peculiares no que tange ao seu espao urbano. O acrscimo veloz de edifcios transforma,
gradativamente, a cidade em metrpole, sua economia se diversifica e seu espao se
moderniza. Em contrapartida, uma grande parcela populacional da cidade no participa das
benesses da modernizao, o que acarreta o surgimento e a manuteno de grandes espaos de
excluso.
Estas transformaes no espao apropriado pelos grupos dominantes revelam um
padro cosmopolita de consumo do espao por parte destes grupos. Para eles, a verticalizao
o smbolo maior de uma modernizao urbana que se assemelha aos modos de vida e
padres socioculturais das grandes metrpoles.
Por isso que a verticalizao, assim, realiza espetacularmente a acumulao e a
reproduo (SOUZA, 1994, p. 26). Esta ideia claramente percebida no espao urbano da
Cidade Nova ludovicense, no s pelos modernos edifcios, mas tambm pela crescente
diversidade de servios especializados oferecidos s classes mais abastadas, que concentram
fortemente grande parte da renda urbana na capital maranhense.
preciso destacar que a grande quantidade de investimentos no setor imobilirio em
So Lus, decorre dos financiamentos oriundos de polticas estatais, que de certa forma,
facilitaram o acesso habitacional classe mdia e alta e no privilegiaram as classes pobres.
-
David Harvey (2011, p. 76) assevera que os ltimos trinta anos, o investimento
excessivo em tais projetos tornou-se um gatilho catalisador comum para a formao de
crises. O alerta de Harvey serve para a poltica de habitao realizada no Brasil. A Caixa
Econmica Federal, banco financiador do governo, j possui em So Lus, altas taxas de
inadimplncia no setor habitacional (informao verbal) 5.
O padro emergente de produo do espao no norte da cidade, onde esto os ricos,
parece resultar numa maior homogeneizao deste espao. So Lus assume um padro de
segregao tpico do Planeta Favela, termo que Mike Davis (2006) usa para se referir
difuso do padro de segregao socioespacial das cidades atravs da consolidao e
ampliao do fosso que separa a cidade formal (conectada ao fluxo de trocas do mercado
global) da cidade informal (derivada das estratgias de sobrevivncia do que denomino de
grupos sociais dominados, que resultam nos assentamentos precrios).
Analisando os fatores determinantes da produo do espao no mundo
contemporneo, Milton Santos (2000) forja o termo lugares esquizofrnicos, pois com a
capacidade de insero no mercado globalizado, os espaos de um lado acolhem vetores da
globalizao, que se instalam para impor sua nova ordem, e de outro lado conhecem uma
contra-ordem, na medida em que o processo leva ao crescimento acelerado dos pobres e
excludos. Sobre as condies dos grupos dominados Diniz (2007, p. 172) afirma:
A favela maranhense surgiu a partir da expanso da mancha urbana da segunda
metade do sculo XX, ocupando precariamente terrenos pblicos e particulares,
surgindo vilas, conjuntos e bairros (...) Sendo todos formados por barracos e
mocambos construdos com material de refugo, com caixotes, tbuas soltas, folhas
de zinco, com palha, taipa e adobe. Outras situam-se em encostas de colinas ou em
reas alagadas de mangue.
Wagner da Costa (2009, p. 41-42) afirma que uma das principais questes que
explicam a produo e expanso da pobreza e a concentrao de renda por parte dos grupos
dominantes encontra-se no sistema poltico estadual, que se traduz como patrimonialista e
clientelista. Sobre a produo da riqueza pelos grupos dominantes em So Lus:
Essa a poupana a partir da qual se constroem patrimnios (casas, apartamentos, fazendas); se compram os carros do ano e da moda; se constituem empresrios bem sucedidos do comrcio, de postos de gasolina, hospitais, escolas, hotis, concessionrias. Corrupo sistmica que produz e reproduz a misria social e que
encontra em So Luis seu espelho invertido, pois alimentou o boom imobilirio dos condomnios e apartamentos de luxo destinados, em vrios casos, lavagem de dinheiro (segundo as investigaes da PF). Contrapondo, num quadro brutal e sem pudor, a opulncia verticalizada e artificial da rea nobre da capital pobreza estrutural da populao.
5 Entrevista concedida ao autor por Lus Marcelo Cunha Neves, Gerente Geral da Agncia Cidade dos
Azulejos da Caixa Econmica Federal, em 7 de janeiro de 2012.
-
As palavras de Costa revelam o carter irrestrito do capital poltico na produo do
espao urbano e de bens de consumo presentes em So Lus. Essa produo serve para
atender interesses pessoais, onde indivduos que esto no poder exercem tambm a funo de
empresrios, que detm o controle de servios especializados na parte nobre da cidade.
Esta lgica, presente em So Lus, acontece de forma sincrnica, j que, medida
que o espao urbano se verticaliza na Cidade Nova, tambm cresce de forma horizontal uma
massa de marginalizados em direo a leste, sudeste e sudoeste de seu espao.
Prova disso o que atestou recentemente o IBGE (2010) ao revelar que houve um
aumento expressivo do nmero de assentamentos subnormais6 nos ltimos dez anos em So
Lus. Em 2000 eram oito as reas de assentamentos subnormais, em 2010 aumentou para
vinte e trs o nmero dessas reas. Aliado a isto, a populao no municpio de So Lus saltou
de 870.028 em 2000, para 1.014.837 em 2010 (IBGE, 2010).
A afirmao de Milton Santos tambm nos reveladora, quando diz que a metrpole
corporativa e fragmentada, composta de espaos luminosos, expresso mxima da
modernizao, e de espaos opacos periferias, lugares da excluso dessa mesma
modernizao (SANTOS, 1993).
A produo do espao por processos hegemnicos globalizados implica na
subalternizao de grupos sociais e numa consequente apropriao diferenciada da cidade,
orientada pelos interesses dos grupos vinculados aos processos dominantes.
6. Consideraes finais
O processo de urbanizao verificado ao longo do sculo XX na cidade de So Lus
transforma a antiga cidade, antes limitada e pequena, numa grande aglomerao. Esta
mudana acontece no apenas no mbito quantitativo, mas, sobretudo, transforma-se em
aspectos qualitativos.
O capital estatal aliado aos investimentos industriais foram os grandes responsveis
pela fragmentao do espao urbano da cidade, transformado, no atual perodo histrico, em
mercadoria, isto , o solo urbano determinado pelo preo, o que acaba por afastar grupos
dominantes (que vivem em bairros com melhores condies) dos grupos dominados
(moradores de reas irregulares, clandestinas ou de risco).
6 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE, 2010), os assentamentos subnormais so um
conjunto de moradias com um mnimo de 51 domiclios, ocupando ou tendo ocupado, at perodo recente,
terreno de propriedade alheia (pblica ou particular), dispostos, em geral, de forma desordenada e densa, e
carentes, em sua maioria, de servios pblicos essenciais.
-
Os investimentos imobilirios verticais so selecionados pelos incorporadores em
territrios escolhidos de forma criteriosa, o que acaba por de segregar grupos de mais baixa
renda para reas sem infraestrutura. Isto revela que na cidade existe um grande abismo que
separa grupos em territrios diferenciados, forte sintoma da chamada crise urbana.
Um dos motivos que fazem de So Lus uma cidade dividida em seu espao urbano
(grupos dominantes x grupos dominados), a grande concentrao de renda inerente aos
grupos dominantes, que com seu poder de consumo usufruem o que o mercado (imobilirio,
carros, roupas de grife, etc.) oferece.
A poltica, representada por grupos que se encontram h muito tempo no poder no
Maranho uma das grandes responsveis por agravar a problemtica da segregao
socioespacial, tanto no que tange quase ausncia de polticas pblicas, como na questo da
apropriao da coisa pblica.
preciso entender que a dinmica de expanso urbana em So Lus decorre de
processos polticos e econmicos que determinam a produo do espao com a diviso da
cidade em pedaos, havendo como principal consequncia a proliferao da populao pobre,
que permanece excluda e na imobilidade da base da pirmide das classes sociais.
7. Referncias
BOTELHO, Adriano. O Urbano em Fragmentos: a produo do espao e da moradia pelas
prticas do setor imobilirio. So Paulo: Annablume/Fapesp, 2007.
BRANDO, Antnio C. A Dimenso Espacial do Subdesenvolvimento: Uma Agenda para
os Estudos Urbanos e Regionais. Campinas, 2003. Tese (Livre Docncia) UNICAMP/IE. Disponvel em:
Acesso em 25 ago. 2011.
COSTA, W. C. A bomba suja: crise, corrupo e violncia no Maranho contemporneo
(2004-9). In: Boletim da Conjuntura Regional NE 5 (CNBB). So Lus: Abril, 2009.
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, segregao e cidadania em So
Paulo. So Paulo, Editora 34/EDUSP, 2000.
CARLOS, A. F. A. Espao-Tempo na Metrpole. So Paulo: Contexto, 2001.
CLARK, D. Introduo Geografia urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
CONFEDERAO NACIONAL DO COMRCIO DE BENS SERVIOS E TURISMO
(CNC). Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplncia do Consumidor (PEIC).
Rio de Janeiro, Pesquisa de janeiro. 2012. Disponvel em:
. Acesso
em 30. Jan. 2012.
CUNHA, P. V.; SMOLKA, M. O. Notas crticas sobre a relao entre rendas fundirias e uso
do solo urbano. In: Seminrio A Renda Fundiria na Economia Urbana. So Paulo, Nov. 1978. 30 p.
-
DAMIANI, Amlia Lusa. As Contradies do Espao: Da Lgica (Formal) (Lgica)
Dialtica, a Propsito do Espao. In: CARLOS, A. F. A.; DAMIANI, A. L.; SEABRA, O. C.
L. (Org.). O Espao no Fim de Sculo: a nova raridade. So Paulo: Contexto, 2001a, p. 48-
61.
DAVIS, Mike. Planeta Favela. So Paulo: Boitempo, 2006.
DINIZ, J. S. As Condies e Contradies no Espao Urbano de So Lus (MA): Traos
Perifricos. In: Cincias Humanas em Revista. Ncleo de Humanidades, So Lus, v. 5, n. 1,
p. 167-180, 2007.
EM SO LUS, 65,5% DOS CONSUMIDORES ESTO ENDIVIDADOS. O Estado do
Maranho. Caderno de Economia. So Lus, 8. Jan. 2012.
ENGELS, Friedrich. A Situao da Classe Trabalhadora na Inglaterra. So Paulo:
Boitempo, 2010.
FIORI, Jos Lus. Para um diagnstico da modernizao brasileira. In: FIORI, J. L.; MEDEIROS, C. (org.). Polarizao Mundial e Crescimento. Petrpolis: Vozes, 2001. p.
269289.
GOMES, Paulo C. C. A Condio Urbana: ensaios de geopoltica da cidade. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002.
HARVEY, David. A Justia Social e a Cidade. So Paulo: Hucitec, 1980.
_______. O Enigma do Capital: e as crises do capitalismo. So Paulo: Boitempo, 2011.
IANNI, Octavio. Estado e Planejamento Econmico no Brasil. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Censo Demogrfico 2010: primeiros
resultados. Disponvel em: . Acesso em 15 mar. 2011.
KURZ, Robert. O Colapso da Modernizao: Da Derrocada do Socialismo de Caserna
Crise do Capitalismo Mundial. So Paulo: Paz e Terra, 1999.
LEFEBVRE, Henri. A Reproduo das Relaes de Produo. Porto: Publicaes
Escorpio, 1973.
_______. A Revoluo Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
_______. O Direito Cidade. So Paulo: Centauro, 2001.
_______. Da Teoria das Crises Teoria das Catstrofes. Geousp Espao e Tempo, So Paulo, nmero 25, pginas 138-152, 2009. Disponvel:
. Acesso em 23. Mar. 2010.
LOJKINE, Jean. O Estado capitalista e a Questo Urbana. So Paulo: Martins Fontes,
1997.
LOPES, J. A. Viana; SILVA, R. L. Roteiro 3: A Cidade Nova. In: So Lus, Ilha do
Maranho e Alcntara: Guia de Arquitetura e Paisagem. So Lus-Sevilla, 2008.
MARX, Karl. O Capital: crtica da economia poltica. So Paulo: Nova Cultural, 1988. V. I,
Livro Primeiro, O processo de produo do capital. Tomo I (prefcios e captulos I a XIII)
MENDES, C. M. O Edifcio no Jardim: um plano destrudo a verticalizao em Maring. Tese (Doutorado em Organizao do Espao) Faculdade de Filosofia Letras e Cincias
Humanas, Universidade de So Paulo, So Paulo, 1992.
-
NEVES, Lus Marcelo Cunha. Financiamentos Habitacionais em So Lus. So Lus,
entrevista concedida em sua residncia, 7. Jan. 2012 (Informao Verbal).
RAMIRES, J. C. de L. A Verticalizao do Espao Urbano de Uberlndia: uma anlise da
produo e consumo da habitao. Tese (Doutorado em Organizao do Espao) Faculdade
de Filosofia Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo, So Paulo, 1998.
SANTOS, Luiz Eduardo Neves dos. As tragdias e o planejamento urbano. O Estado do
Maranho. So Lus, 19 jan. 2012. Caderno Opinio, p. 4-4.
SANTOS, Milton. A Cidade e o Urbano como Espao-Tempo. In: Cidade & Histria -
Modernizao das Cidades Brasileiras nos Sculos XIX e XX. UFBA - FAU/MAU. Salvador,
1992: 241-244.
_______. A Urbanizao Brasileira. So Paulo: Hicitec, 1993.
_______. Por Uma Outra Globalizao: do pensamento nico conscincia universal. Rio
de Janeiro: Record, 2000.
_______. Por Uma Economia Poltica da Cidade: O caso de So Paulo. So Paulo: EDUSP,
2009. (Coleo Milton Santos 14).
SINGER, Paul. O uso do solo urbano na economia capitalista. In: MARICATO, E (Org.). A
Produo Capitalista da Casa (e da Cidade) no Brasil Industrial. So Paulo: Alfa-Omega,
1982. p. 21-36.
SOMEKH, N. A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador. So Paulo: EDUSP/Nobel
/FAPESP, 1997.
SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobpole: o medo generalizado e a militarizao da questo
urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
SOUZA, Maria A. A. A Identidade da Metrpole. So Paulo: EDUSP, 1994.
SPOSITO, Maria Encarnao B. O Cho Arranha o Cu: a lgica da reproduo
monopolista da cidade. Tese (Doutorado em Organizao do Espao) Faculdade de Filosofia
Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo, So Paulo, 1991.
UNFPA. State of World Population 2007: unleashing the potential of urban growth. New
York: UNFPA, 2007.
VALVERDE, Orlando. Grande Carajs: Planejamento da Destruio. Rio de Janeiro:
Forense Universitria, 1989.
VILLAA, Flvio. Espao Intra-Urbano no Brasil. So Paulo: Studio Nobel/FAPESP,
2001.