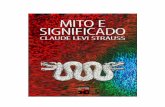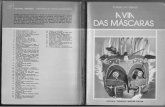Resenha Levi Strauss
-
Upload
fernanda-meira -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Resenha Levi Strauss
O antroplogo francs Claude Lvi-Strauss define o objeto das cincias estruturais como o que oferece um carter de sistema, isto , todo conjunto no qual um elemento no pode ser modificado sem acarretar uma modificao de todos os outros (antropologia estrutural, 1958). Adotando o ponto de vista estrutural desenvolvido na lingstica, Lvi-Strauss estuda as sociedades selvagens. somos, com efeito, levados a perguntar se diversos aspectos da vida social (inclusive a arte e a religio) - cujo estudo j sabemos que pode recebe o auxilio de mtodos e noes recebidas da lingstica - no consistem em fenmenos cuja natureza tem estreita analogia com a linguagem. Para retomara terminologia saussuriana, poder-se-ia dizer que, com Lvi-Strauss, a lngua se faz instituio e a palavra acontecimento. A sociedade pesada como conjunto de indivduo se de grupos que comunicam entre si. Cabe ao antroplogo a tarefa de decifrar o cdigo invariante que se esconde por trs dos jogos de aparncia sociais. Lvi-Strauss enumera trs tipos de troca que permitem tecer o vinculo social: a troca das mulheres,dos bens e das palavras. Pode-se assimilar,por este fato, as regras do casamento e os sistemas de parentesco a uma espcie de linguagem,conjunto de operaes destinadas a assegurar,entre os indivduos e os grupos, uma comunicao. Na trilhados semilogos aos diretamente devedor (R. Jakobson,F. Saussure), Lvi-Strauss se prope como objetivo de investigao o descobrimento das estruturas de anlise das suas leis de transformao.Mas Claude Lvi-Strauss faz questo de sublinhar,ao mesmo tempo,os limites dos antroplogos que,como Radcliffe-Brown,assimilaram a estrutura a realidade.Convm, ao contrario,considerar a estrutural social como principio cognitivo, um modelo construdo a partir da realidade emprica,mas que no poderia se confundir com ela. A estrutura,continua Lvi-Strauss, unidade onipresente, inconsciente e as formas culturais so representaes suas.Isto se d,por exemplo,com a culinria e com os mitos que so linguagens pelas quais as sociedades traduzem inconscientemente sua estrutura ou as contradies que as trabalham. Apostando assim na existncia de um cdigo universal,Lvi-Strauss deduz um postulado prenhe de conseqncias: seja qual for a cultura, o esprito humano fundamentalmente idntico.Entre o mito e a cincia elaborada,entre o pensamento selvagem e pensamento cientfico,no ocorre portanto uma ruptura radical, mas apenas diferenas de meios para questionar o mundo.no pretendemos mostrar- escreve ele- como que os homens pensam nos mitos,mas como os mitos se pensam nos homens sem que estes saibam (O CRUE O CUZIDO).
Fonte: http://pt.shvoong.com/social-sciences/1972350-antropologia-estrutural-claude-l%C3%A9vi-strauss/#ixzz1ZBAIdyISLVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural dois. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1976 - Captulo VIII: Reflexes sobre uma obra de Vladimir Propp
LVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural dois. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1976 Captulo VIII
A ESTRUTURA E A FORMA
Reflexes sobre uma obra de Vladimir Propp - Estruturalismo, ao inverso do formalismo: recusa opor o concreto ao abstrato, e no reconhece no abstrato um valor privilegiado. Forma: se define por oposio a uma matria que lhe estranha. Estrutura: no tem contedo distinto, ela o prprio contedo, apreendido numa organizao lgica concebida como propriedade do real (p.121).No intenta que se pense o estruturalismo moderno ou a linguistica estrutural como prolongamento do formalismo russo: por pouco que o estruturalismo se afasta do concreto, muito a ele reconduz.
Veselovsky: Tema se decompe em motivos, elemento irredutveis aos quais o tema acrescenta uma operao unificante, integrando-os. Propp: assim, cada frase constitui um motivo, assim a anlise dos contos conduzida em um nvel molecular, embora nenhum motivo possa ser considerado indecomponvel. Propp obtem, ento, unidades menores que os motivos, e cuja exsitncia lgica no independente. Aqui est uma das principais diferenas entre formalismo e estruturalismoHiptese sobre a qual repousa seu trabalho: contos de fadas so uma categoria especial de contos populares. Os enunciados contm variveis e constantes: personagens e atributos mudam, aes e funes no. Elementos constantes considerados como base, desde que o nmero de funes seja finito.Funes: unidades constitutivas do conto; personagens: suporte das funes. Funo definida de acordo com sua situao na narrativa. Consideremos uma funo situando-a em relao a seus antecedentes e conseqentes: a ordem da sucesso das funes constante (p.125). Cada conto pode no fazer aparecer a totalidade das funes enumeradas, sem que a ordem de sucesso seja modificada. Sistema total de funes parece ter o carter em Propp do que hoje chamaramos de metaestrutura.
Encarados do ponto de vista da estrutura, todos os contos de fadas se reduzem a um nico tipo (PROPP apud LVI-STRAUSS, p.125) . Aproxima-se de Durkheim ao afirmar que a qualidade, e no a quantidade da anlise que importa.Cada funo resumida em um nico termo. Concluses de Propp: 1.Nmero de funes limitado; 2. As funes se implicam lgica e esteticamente, articulam-se todas sobre o mesmo eixo, duas funes quaisquer no se excluem jamais mutuamente. Pares de funes, sequencias de funes, e funes independentes se organizam em um sistema invariante (p.127). Propp resolvendo diversas dificuldades: 1. Assimilao de uma funo pela outra; 2. Conto analisado em funes deixa subsistir uma matria residual qual no corresponde nenhuma funo (prope dividir este resduo em duas categorias no-funcionais: ligaes e motivaes).
Ligaes: Episdios que servem para explicar como o personagem A toma conhecimento das aes de B: estabelece uma relao imediata entre os personagens ou entre personagem e objeto.
Motivaes: razes e propsitos em virtude dos quais agem os personagens. Podem se resultar de uma formao secundria, pois comum nos contos as aes dos personagens no serem motivadas.Resultado: assim como as funes, os personagens do conto tambm so limitados: sete protagonistas. Volta ao problema inicial da obra: relao entre conto de fadas e conto popular em geral; e classificao dos contos de fadas constitudos como categoria independente.Propp e Lvi-Strauss: no h razo para isolar contos dos mitos, ainda que muitas sociedades percebam uma diferena subjetiva entre os dois; ainda que prescries e proibies vinculem-s, s vezes, a um e no a outro (recitao dos mitos em um tempo determinado, enquanto os contos, por natureza profanos, podem ser narrados a qualquer tempo). Narrativas com carter de contos numa sociedade, so mitos para uma outra e inversamente (p.134). Por outro lado, as mesmas narrativas, motivos e personagens encontram-se, em forma idntica ou transformada, nos mitos e contos de uma populao.As sociedades que o percebem como distintos o fazem por uma dupla diferena de grau: 1. Os contos so construdos sobre oposies mais fracas que os mitos; 2. O conto consiste em uma transposio enfraquecida cuja realizao amplificada prrpia do mito (conto menos estritamente sujeito do que o mito uma tripla relao da coerncia lgica, ortodoxia religiosa e presso coletiva). Conto: mais possibilidade de jogo, permutas mais livres, com mais arbitrariedade. Contos como imperfeitos para a anlise estrutural. Necessitamos compreender o porque de suas escolha. Alm de j ser um objeto clssico de seus antecessores e de Propp no ser um etnlogo, cremos que foi por seu desconhecimento das verdadeiras relaes entre mito e conto: Dizia Propp que para estudar o mito seria necessria uma anlise histrica, talvez muito difcil por sua distncia. Sugere que os contos populares tem sua origem em mitos mais arcaicos.
O Etnolgo desconfiaria de sua afirmao, pois sabe que mitos e contos existem, lado a lado. S seria vlida a afirmao de Propp para contos que so o legado de mitos que j caram em desuso. Lvi-Strauss: relao de complementariedade: contos so mitos em miniatura, mesmas oposies transpostas em pequena escala.Propp: dividido entre sua viso formalista e a obsesso por explicaes histricas. Propp vtima de uma iluso subjetiva: no esta dividido entre exigncias da sincronia e as da diacronia: no o passado que lhe falta, mas o contexto.Dicotomia formalista, que ope forma e contedo, os definindo por caracteris antitticos, foi lhe imposta por sua escolha de um domnio em que somente a forma sobrevive, enquanto o contedo abolido.
Essencial: resumo da diferena entre formalismo e estruturalismo: para o primeiro (formalismo), os dois domnios devem ser absolutamente separados, pois somente a forma inteligvel, e o contedo no seno um resduo desprovido de valor significante. Para o estruturalismo, esta oposio no existe: no h, de um Aldo, o abstrato e, de outro, o concreto. Forma e contedo so de mesma natureza, sujeitos mesma anlise. O contedo tira sua realidade da estrutura, e o que se chama forma a estruturao das estruturas locais que constituem o contedo (p.138)A no ser que se reintegra o contedo na forma, a forma fica em tal nvel de abstrao que perde todo seu significado, fica sem valor heurstico. Antes do formalismo ignorvamos o que os contos tinham em comum. Depois do formalismo, no podemos entender em que diferem. Passou-se do concreto ao abstrato, mas no se pode mais voltar do abstrato ao concreto (p.139). Haveria ento um pnico conto. Se reduziria a uma abstrao to vaga e geral que nada nos ensinaria sobre as razes objetivas de existirem uma infinidade de contos particulares.
Prova da analise na sntese: esta impossvel pois a anlise ficou incompleta: nada pode convencer melhor da insuficincia do formalismo do que a incapacidade em que se encontra para restituir o contedo emprico de onde, todavia, partiu (p.141). Perdeu o contedo no meio do caminho. Propp conclui a permutabilidade, por vezes arbitrria, do contedo dos contos. Compreender o sentido de um termo sempre permut-lo em todos os seus contextos. Na literatura oral, esses contextos so fornecidos pelo conjunto das variantes, pelo sistema de compatibilidades e das incompatibilidades que caracteriza o conjunto permutvel. Universo do conto: analisvel em pares de oposies diversamente combinados no cerne de cada personagem, que, longe de constituir uma identidade, como um feixe de elementos diferenciais.O exame atento dos contextos permite eliminar falsas distines. A pretendida Permutabilidade do contedo no equivale a um procedimento arbitrrio, o mesmo que dizer sob a condio de estender a analise a nvel suficientemente profundo encontrar-se- constncia por trs da diversidade. Inversamente, a pretendida constancia da forma no nos deve enganar quanto ao fato de que as funes so tambm permutveis.
Estrutura do conto, conforme Propp: sucesso cronolgica de funes qualitativamente distintas, cada uma sendo um gnero independente . Vrias das funes que distingue parecem redutveis, asimilveis a uma mesma funo. Ao invs do esquema cronolgico de Propp, onde a ordem de sucesso dosa contecimentos uma propriedade da estrutura, seria necessrio adotar um outro esquema, apresentando um modelo de estrutura definida como o grupo de transformaes de um pequeno nmero de elementos (...) aparncia de uma matriz de duas ou trs dimenses, ou mais (p.143)
No sistema mtico: narrativa est no tempo (se passa em determinado momento) e fora do tempo (seu valor sempre atual). Nos permite observar melhor que Propp o seu prprio princpio: permanncia da ordem de sucesso, e a evidncia emprica dos deslocamentos que observamos, de um conto a outro, em relao a certas funes ou grupos de funes (p.144) Retomemos os dois pontos essenciais da discusso: 1. Constancia do contedo; 2. Permutabilidade das funes. Fundo do problema pressentido por Propp: Por detrs dos atributos inicialmente desdenhados como um resduo arbitrrio e privado de significao, ele pressente a interveno de noes abstratas e de um plano lgico cuja existncia, se estabelecida, permitir tratar o conto como mito (p.145).Quanto ao segundo problema: variedades de uma funo estariam ligadas a certas variedades correspondentes de outras funes? Necessidade de atingir a explicao dos mitos por meio de um estudo sociolgico das sociedades em que ocorre. Erro duplo do formalismo: prendendo-se s regras que comandam a combinatria das proposies, perde de vista que no existe lngua da qual se possa deduzir o vocbulo partir da sintaxe. Este primeiro erro explicado por no reconhecer a complementaridade entre significante e significado.
Metalinguagem: formada pela assimilao das formas da linguagem: estrutura operante em todos os nveis. Por essa propriedade so contos ou mitos, e no vistos como narrativas histricas.Linguagem e metalinguagem de cuja unio nascem contos e mitos possuem nveis em comum, embora estejam em planos diferentes. Mesmo permanecendo termos do discurso, as palavras do mito funcionam a como feixes de elementos diferenciais (p.148)Esta diferena no se d no mbito do quantitativo, mas no do qualitativo. Diferenas entre: a) fonema: elementos desprovidos de significao que servem para diferenciar termos, as palavras que possuem, ele mesmo, um sentido; b) Mitemas: resultam de um jogo de oposies binrias ou ternrias, mas entre elementos j carregados de significao no plano da linguagem representaes abstratas de que se refere Propp e que se exprimem com palavras do vocabulrio. Nada dos contos e mitos pode ser estranho estrutura. Erro do formalismo = crer que se possa comear pela gramtica e adiar o lxico. Em anlise estrutural gramtica e lxico aderem um ao outro sobre toda sua superfcie e se recobrem completamente.
Antropologia estrutural refere-se a correntes antropolgicas fundadas no mtodo estruturalista. Estruturalismo uma definio ampla mas na antropologia geralmente concebe-se o estruturalismo a partir dos trabalhos do antroplogo belga Claude Lvi-Strauss.
Ela nasceu na dcada de 1940. O seu grande terico Claude Lvi-Strauss. Centraliza o debate na idia de que existem regras estruturantes das culturas na mente humana, e assume que estas regras constroem pares de oposio para organizar o sentido.
[editar] Teoria e MtodoPara a Antropologia estrutural as culturas definem-se como sistemas de signos partilhados e estruturados por princpios que estabelecem o funcionamento do intelecto. Em 1949 Lvi-Strauss publica "As estruturas elementares de parentesco", obra em que analisa os aborgenes australianos e, em particular, os seus sistemas de matrimnio e parentesco. Nesta anlise, Lvi-Strauss demonstra que as alianas so mais importantes para a estrutura social que os laos de sangue. Termos como exogamia, endogamia, aliana, consaguinidade passam a fazer parte das preocupaes etnogrficas.
[editar] Antropologia estrutural de Lvi-StraussLvi-Strauss o principal expoente da corrente estruturalista na Antropologia. Para fund-la, Lvi-Strauss buscou elementos das cincias que, no seu entender, haviam feito avanos significativos no desenvolvimento de um pensamento propriamente objetivo. Sua maior inspirao foi a Lingstica Estruturalista da qual faz constante referncia, por exemplo, a Jakobson.
Ao apropriar-se do pensamento estruturalista para aplic-lo antropologia, Lvi-Strauss pretende chegar ao modus operandi do esprito humano. Deve haver, no seu entender, elementos universais na atividade do esprito humano entendidos como partes irredutveis e suspensas em relao ao tempo que perpassariam todo modo de pensar dos seres humanos.
Nesta linha de pensamento, Lvi-Strauss chega ao par de oposies como elemento fundamental do esprito: todo pensamento humano opera atravs de pares de oposio. Para defender esta sua tese, Lvi-Strauss analisa milhares de mitos nas mais variadas sociedades humanas encontrando nelas modos de construo anlogas em todas.
Para fundamentar o debate terico, Lvi-Strauss recorre a duas fontes principais: a corrente psicolgica criada por Wilhelm Wundt e o trabalho realizado no campo da lingistica, por Ferdinand de Saussure, denominado Estruturalismo. Influenciaram-no, ainda, Durkheim, Jakobson (teoria lingustica), Kant (idealismo) e Marcel Mauss.
estruturalismo - Lvi-Strauss e a antropologia estrutural
No campo dos estudos da antropologia e do mito, o trabalho foi levado a diante por Claude Lvi-Strauss, no perodo imediato II Guerra Mundial, que divulgou e introduziu os princpios do estruturalismo para uma ampla audincia, alcanando uma influncia quase que universal, fazendo com que o seu nome, o de Lvi-Strauss, no s se confundisse com o estruturalismo como se tornasse um sinnimo dele. O estruturalismo virou "moda" intelectual nos anos 60 e 70. Os livros dele ("O Pensamento Selvagem", Tristes Trpicos, Antropologia estrutural, As estruturas elementares do parentesco), tiveram um alcance que transcendeu em muito aos interesses dos especialistas ou curiosos da antropologia Desde aquela poca o estruturalismo de Lvi-Strauss tornou-se referncia obrigatria na filosofia, na psicologia e na sociologia. De certo modo, ainda que respeitando a indiferena dele pela histria ("o etnlogo respeita a histria, mas no lhe d um valor privilegiado", in O Pensamento Selvagem, 1970, pag.292), pode-se entender a antropologia estrutural como um mtodo de tentar entender a histria de sociedades que no a tm, como o caso das sociedades primitivas.
A valorizao das narrativas mitolgicas
Enquanto a cincia racionalista e positivista do sculo XIX desprezava a mitologia, a magia , o animismo e os rituais fetichistas em geral, Lvi-Strauss entendeu-as como recursos de uma narrativa da histria tribal, como expresses legitimas de manifestaes de desejos e projees ocultas, todas elas merecedoras de serem admitidas no papel de matria-prima antropolgica. Como o caso do seus estudos sobre o mito (Mythologiques) , cuja narrativa oral corria da esquerda para a direita num eixo diacrnico, num tempo no-reversvel, enquanto que a estrutura do mito (por exemplo o que trata do nascimento ou da morte de um heri), sobe e desce num eixo sincrnico, num tempo que reversvel. Se bem que eles, os mitos, nada revelavam sobre a ordem do mundo, serviam muito para entender-se o funcionamento da cultura que o gerou e perpetuou. A mesma coisa aplica-se com o totemismo, poderoso instrumento simblico do cl para reger o sistema de parentesco, regulando os matrimnios com a inteno de preservar o tabu do incesto (cada totem est associado a um grupo social determinado, a uma tribo ou cl, e todo o sistema de casamentos estabelecido pelo entrecruzar dos que filiam-se a totens diferentes). O objetivo dele era provar que a estrutura dos mitos era idntica em qualquer canto da Terra, confirmando assim que a estrutura mental da humanidade a mesma, independentemente da raa, clima ou religio adotada ou praticada. Contrapondo o mito histria ele separou as sociedade humanas em frias e quentes, formando ento o seguinte quadro delas:
Sociedades "frias" (primitivas)Sociedades "quentes" (civilizadas)
Encontram-se "fora da histria", orientando-se pelo modo mtico de pensar, sendo que o mito definido como "mquinas de supresso do tempo".Movem-se dentro da histria, com nfase no progresso, estando em constante transformao tecnolgica