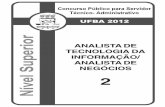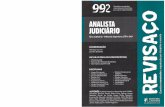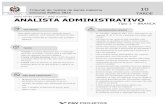resposta de analista questões
-
Upload
forum-do-campo-lacaniano-de-sao-paulo -
Category
Documents
-
view
227 -
download
9
description
Transcript of resposta de analista questões

QUESTÕES
Resposta de Analista (2012) MÓDULO 1 (MARÇO) RENATA ABBAMONTE: Freud, em Psicanálise Silvestre (1910), diz: “É ideia há muito superada, e que se funda em aparências superficiais, a de que o paciente sofre de uma espécie de ignorância, e que se alguém consegue remover esta ignorância dando a ele a informação (acerca da conexão sexual de sua doença com sua vida, acerca de suas experiências de meninice, e assim por diante) ele deve recuperar-se”. E mais adiante ele continua: “o paciente deve, através de preparação, ter alcançado ele próprio a proximidade daquilo que ele reprimiu”. (. 237, Ed. Standard) A mim parece claro, nesse trecho, a posição de Freud, dizendo que não cabe ao analista falar sobre suas hipóteses a respeito das causas do sintoma do analisante. Ele tampouco tem essa clareza. Cabe ao analisante se apropriar de seus conteúdos reprimidos. Partindo da ideia de que o próprio analisante traz, em seus sonhos, lapsos, a abertura do Inconsciente, e que apenas ele pode se responsabilizar pelo que diz, qual é a responsabilidade do analista? Convidá-lo a falar mais, interrompê-lo, cortar a sessão, apontar para a sua posição de sujeito, penso que fazem parte da responsabilidade do analista. Mas o que poderíamos chamar de interpretação? Caberia a pergunta: quem interpreta? MARCELO TAVELLA: Pode-se dizer que um certo otimismo de Freud com relação ao “tornar consciente o inconsciente” ou mesmo do “transformar o sofrimento neurótico em infelicidade comum” cedeu lugar progressivamente a uma concepção mais "sombria." O mal estar parece ter freado suas ambições quanto aos alcances da análise e quanto às realizações da civilização. “No meio do caminho tinha uma pedra” (ou seria um buraco?)... Entre a Interpretação dos Sonhos (1900) e os textos terminais de Freud, há o Além... O princípio do prazer mostra seus limites. O resto é repetição, reação terapêutica negativa, masoquismo moral, etc. Em que medida pode-se considerar a psicanálise como a resposta de Freud frente ao mal estar ? Freud não recuou em demonstrá-lo no próprio “Além do Princípio do Prazer” (1900), mas também no “Eu e o Isso” (1923), no “O Problema Econômico do Masoquismo” (1924), no “Mal Estar na Civilização” (1930), etc. Porém, também se encontram respostas textuais de Freud que fundamentariam respostas eu - imaginárias de tantos outros depois dele. O rumo tomado por uma determinada psicanálise pós-freudiana que enfatizaria a suposta autonomia do “Ego”, sua região sadia e livre de conflitos, bem como seu fortalecimento, é uma leitura possível de algumas das últimas construções de Freud e que fundamentariam na clínica determinada resposta de analista (sabemos o quanto este rumo foi combatido por Lacan desde o inicio de seu ensino). Seriam tais construções freudianas um recuo, uma resposta que visa obturar de forma consistente, imaginária, o real do gozo que insiste tanto na clínica quanto na cultura ? Pode-se dizer que o principal avanço de Lacan é precisamente aí aonde Freud se detém ? Levar até o “fim”, o mal estar ?

SAMANTHA STEINBERG: Lacan se dizia freudiano e, sem dúvida nenhuma, fez uma releitura extremamente singular e rica dos textos de Freud no decorrer do seuensino. Mas fiquei me questionando se não haveria uma descontinuidade importante entre os dois autores ao pensarmos especificamente neste tema da resposta do analista e da interpretação. alguns aspectos me ocorreram: - relação entre interpretação e verdade/ sentido em “construções em análise”, de 1937, Freud nos diz do trabalho de construção do analista acerca do material trazido pelo paciente, um trabalho que se assemelharia muito à escavação, feita por um arqueólogo. escreve: “com bastante frequência não conseguimos fazer o paciente recordar o que foi reprimido. em vez disso, se a análise é corretamente efetuada, produzimos nele uma convicção segura da verdade da construção, a qual alcança o mesmo resultado terapêutico que uma lembrança recapturada.” Freud parece estar sempre em busca de uma verdade, de um sentido, nas suas construções e interpretações. Lacan, não prioriza a desconstrução da verdade do paciente e o esvaziamento de sentido, no processo de análise?
- Posição do analista em 1958, em “Direção do tratamento e princípios do seu poder”, Lacan nos deixa bem clara sua posição em relação à interpretação. a política da falta a ser do analista deve dominar, comandar a estratégia e a tática do analista. Assim, a interpretação, no lugar da tática, está subordinada à posição do analista e só pode ser pensada a partir deste lugar ao trazer os discursos, em 1970, Lacan nos fala do discurso sem palavras, de um discurso que está no campo da linguagem mas que só pode ser pensado em termos de 4 elementos e 4 lugares que giram num determinado sentido e de uma maneira determinada. Nos apresenta o discurso do analista, que novamente procurar formalizar a posição do analista e o que se produz numa análise. Como pensar a posição de Freud e suas interpretações, a partir desta ferramenta que Lacan nos deixou? haveria continuidade ou descontinuidade entre Freud e Lacan no modo do dispositivo operar? MÓDULO 2 (ABRIL) FERNANDA ZACHAREWICZ: Corte, tempo e morte. Ao ler os relatos de trabalho com Lacan fiquei a pensar sobre o tempo, portanto não havia como escapar-me de refletir sobre isso. Antes de tudo a pensar sobre o tempo que pulsa no real do corpo, como a própria vida que marca sua possibilidade a partir de seu limite, ou seja da morte. Alguns dos relatos tratam do tempo lógico da sessão, das questões que essa prática levantou com a IPA, mas pouco se trata do tempo como vida. Pierre Rey traz, em seu livro “Uma temporada com Lacan”o seguinte trecho:
Yo sabía que cada uno de nosotros, para alimentar-se e estar resguardado por um techo, debía pagar al contado con la única moneda autentica que la eternidad pone a nuestra disponsición: las

horas. El dinero circula. Va, viene. Um día tenemos, outro no. ?Pero el tiempo? ?Quantos minutos nos quedan de vida? Si se los confronta con el tiempo, ?qué cosa vale quanto? (Rey, 1989, pág. 133)
Melman, em sua entrevista para Quartier Lacan fala: “O tempo é bem mais que dinheiro, o tempo é a morte... há um tempo em que é preciso avançar, para poder em seguida passar a outra coisa.”(pág. 115) Será que o corte se trata da possibilidade de trazer ao Real a própria morte? Dito de outro modo: com a duração variável da sessão expõe-se também a não garantia da vida futura? Assim, há uma aposta de Lacan no ato do analisante como necessário? Ponho-me na necessidade de refletir sobre as questões que propus. O tempo marcado pela sessão lacaniana é o próprio tempo da vida/morte. Da dialética que faz com que o inconsciente pulse na dinâmica da vida ordenada, dialética que retira o lugar da certeza e ali recoloca o único: a dimensão da morte. JOÃO HADDAD: Gostaria de conversar sobre a escuta. O nosso lado da barganha no contrato. Os relatos que lemos são (quase) unânimes em destacar a qualidade da escuta de Lacan. Cito alguns: Clavreul: “Em 1948 fui ver os sete sábios da SPP. Foram muito gentis e quiseram saber quem eu era: masoquista, histérico, obsessivo? Com Lacan, encontrei alguém que não se interessava por quem eu era, mas pelo que eu dizia” ... “Lacan não pensava em meu ser cheio de dificuldades ou cheio de esperança, ele só se interessava pelo que eu dizia” Leclaire: “Com ele, eu soube que havia alguém que ouvia” ... “Ele não escutava muito, mas isso não o impedia de ouvir.” Melman: “Ao contrário de Freud, Lacan nunca se apresentava na cura como aquele que sabia, ele ficava à escuta dos analisandos, à espera de que estes o instruíssem.” Dumezil: “Não havia em Lacan nenhum teatro na relação que ele mantinha com os pacientes, unicamente uma atenção, mas uma atenção de extraordinária precisão, um talento para fazer com que de fato parissem o discurso” Montrelay: “Eu ficava surpresa pela maneira como ele me escutava. Sua escuta me abria para minha verdade de sujeito.” E uma voz dissonante, Tostain: “Como todo analista. E acho que mais que todo analista, ele tinha seus pontos cegos, suas zonas de sombra, suas resistências ferozes (...) pus-me a escrever um livro a partir de uma dessas recusas de ouvir o que eu dizia.” Mas o que é que ele ouvia? Os comentários dão algumas pistas: Ouvir sem saber. Ouvir sem escutar. Atenção de extraordinária precisão. Verdade de sujeito. Gostaria também da dar prosseguimento à algumas questões que surgiram no último debate, sobre o que separa Lacan de Freud, e à pergunta/provocação que eu fiz sobre o que seria de Freud sem Lacan. O

campo lacaniano reivindica que Lacan, entre os seguidores de Freud, foi quem seguiu mais de perto o espírito da descoberta freudiana. Ou seja, Lacan ouviu/leu Freud melhor que os outros. Mas as outras vertentes do pensamento psicanalítico também se fundamentam nos textos freudianos para orientar sua prática. Penso que a obra de Freud possibilita várias leituras, pois como o Marcelo bem lembrou no último encontro, essas outras coisas também estão lá no texto de Freud. Não sei se tem aqui alguma questão, mas estas são as coisas que gostaria de conversar. MÓDULO 3 (MAIO) GENI GENTILLI: Na Tese de Doutorado intitulada “Da fantasia de infância ao infantil na fantasia – A direção do tratamento na psicanálise com crianças”, de Ana Laura Prates Pacheco, ela escreve antecedendo a Introdução, a “Trajetória de uma questão” , um parágrafo (página ix),que me ajuda a localizar a questão que farei a seguir. Citando Ana Laura: “Talvez possa ser extraído , antecipadamente, um ensinamento: o de que as dificuldades frequentemente presentes na clínica com crianças interrogam o psicanalista no seu ponto de resistência mais radical: aquele que o remete ao lugar do infantil em sua própria fantasia de infância. Neste sentido, este trabalho também é o testemunho da possibilidade de acrescentar um saber ao real e da participação da singularidade na formação permanente dessa ciência tão peculiar que chamamos psicanálise.” Destaco desse parágrafo a localização que a psicanalista faz do ponto de resistência; esse trabalho com testemunho da possibilidade de acrescentar um saber ao real e participação da singularidade na formação permanente dessa ciência tão peculiar. A resistência ao desejo do analista é aquilo que da singularidade do analista se apresenta ,sem que ele possa se dar conta, no instante que se produz no encontro com o real que o toma, advindo de alguma fala ou repetição do analisante na transferência ? O que pode dar pistas ao analista para localizar esses instantes ? O que o adverte dessa hipótese ? E o que ele pode fazer para se virar com esse ponto de real ? Mesmo tendo concluído sua análise e tendo podido dar testemunho de seu percurso no passe, mantem-se a possibilidade para o analista de ainda ser tocado em pontos de resistência na direção das análises?

ANDRÉIA TENÓRIO: Interferências na/da experiência analítica: transferência e repetição
“A transferência, no tratamento analítico, invariavelmente nos aparece, desde o início, como a arma mais forte da resistência, e podemos concluir que a intensidade e persistência da transferência constituem efeito e expressão da resistência.” (Freud, 1912) “A transferência não é nada de real no sujeito senão o aparecimento, num, momento de estagnação da dialética analítica, dos modos permanentes pelos quais ele constitui seus objetos.” (Lacan, 1951) “Nenhuma práxis, mais do que a análise, é orientada para aquilo que, no coração da experiência, é o núcleo do real.” “A repetição é algo que, em sua verdadeira natureza, está sempre velado na análise, por causa da identificação da repetição com a transferência na conceitualização da transferência dos analistas. Ora, é mesmo este o ponto a que se deve dar distinção.” A função da tiquê, do real como encontro – o encontro enquanto que podendo faltar, enquanto que essencialmente é encontro faltoso – se apresenta primeiro, na história da psicanálise, de uma forma que, só por si, já é suficiente para despertar nossa atenção – a do traumatismo. (Lacan, 1964, Sem. XI)
Quando, pela primeira vez, ouvi falar de ‘transferência’ isso veio da seguinte forma: para Freud a transferência possibilita uma análise, mas também se configura como resistência, como obstáculo a ela. Pensava eu, como entender esse paradoxo? O que é, afinal, a transferência? Isso que possibilita e atrapalha ao mesmo tempo. Poderíamos pensar nesse aparente paradoxo e num sentido da transferência pelo próprio título do texto de Lacan (1951) “Intervenção sobre a transferência”. Se o decompomos (fizermos sua análise = divisão/separação de suas partes), de saída veremos do que se trata a transferência: seria ela uma interferência no processo analítico? Aquilo que atravessa / transpassa a experiência analítica. Lacan (1951) enfatiza que trata-se a psicanálise de uma experiência dialética. Assim, o que outrora, pra mim, se apresentara como paradoxo da transferência pode agora ser resignificado como a própria dialética da experiência analítica, retornando então de uma nova forma: como intervir numa dinâmica transferencial que se configura como resistência? Se a psicanálise é uma experiência dialética, a resposta do analista seria “provocar” inversões dialéticas no discurso daquele que fala – o analisante, isto é, tornar possível “uma escanção das estruturas em que, para o sujeito, a verdade se transmuta, e que não tocam apenas em sua compreensão das coisas, mas em sua própria posição como sujeito da qual seus “objetos” são função”. Tendo isso em mente: “qual” a intervenção do analista quando, na experiência analítica, ele se depara com a repetição? De que lugar responde o analista para fazer girar o “discurso” da repetição, na medida em que a repetição se coloca como resistência. De que lugar responde o analista para fazer girar um “discurso” mortífero, um “discurso” da pulsão de morte, do gozo, da angústia? Um discurso sem palavras, fora do

sentido, um discurso em que se presentifica o Real... Talvez possam entrar em nossas discussões acerca da resposta de analista algumas palavras sobre “Tiquê”. Como responde o analista diante da Tiquê, diante disto que faz barreira ao simbólico e que, portanto, interfere na regra fundamental da psicanálise: a associação livre? MÓDULO 4 (JUNHO) SILVIA PAN CHACON LIBERMAN: Trabalho do sonho, trabalho da análise, trabalho do luto. Sempre me chamou atenção o emprego da palavra trabalho. Quando busco o significado no dicionário, me deparo basicamente com a ideia de ser uma atividade que implica pelo menos dois termos: esforço, gasto de energia, empenho, por um lado e, por outro, uma produção. Quer dizer, entendo que, pelo trabalho, se transforma uma coisa em outra. Existe semelhança entre o trabalho do luto e o trabalho de análise? Pode-se dizer que parte do trabalho que um analisando faz em sua análise é um trabalho de luto? Trabalho que consiste em digamos, construir o objeto que se vai perder? Busco em Freud, em seu texto “Luto e melancolia” de 1917 instrumentos para pensar a questão. Cito-o: “Em que consiste o trabalho realizado pelo luto? Não me parece descabido expor este trabalho da forma seguinte: O exame de realidade mostrou que o objeto amado não mais existe, e então exige que toda libido seja retirada de suas conexões com esse objeto. Isso desperta uma compreensível oposição – observa-se geralmente que o ser humano não gosta de abandonar uma posição libidinal, mesmo quando um substituto já se anuncia. (...) O normal é que vença o respeito à realidade. Mas a solicitação desta não pode ser atendida imediatamente. É cumprida aos poucos, com grande aplicação de tempo e energia de investimento, e enquanto isso a existência do objeto perdido se prolonga na psique. Cada uma das lembranças e expectativas em que a libido se achava ligada ao objeto é enfocada e superinvestida, e em cada uma sucede o deslizamento da libido.” “... após a consumação do trabalho do luto, o eu fica novamente livre e desimpedido”. (p.173) O cerne do trabalho consiste, portanto, em que a libido seja retirada de suas conexões com o objeto. Que o objeto não existe mais, isso se sabe desde o início, desde que a prova de realidade esteja preservada. Mas as conexões, o nexo que estabelece as relações do sujeito com o objeto permanece mesmo na sua ausência. O Objeto amoroso foi perdido, mas nem sempre é possível discernir o que se perdeu. Para isso é preciso de tempo e palavras. Tempo para falar, lembrar, colocar em palavras, de se equivocar, de se iludir com miragens. Tempo para que a pulsão, que visa o objeto, dê inúmeras voltas, contorne o vazio e presentifique insistentemente a sua falta. É preciso investir nas memórias (construir com palavras) antes de poder abandonar/perder/esvaziar a representação da coisa. Neste recorte do texto de Freud, não poderíamos ler o trajeto de uma análise e até inferir o lugar ocupado pelo analista, que ao “... preencher com um engodo o vazio deste ponto morto (...) mesmo enganador, reativa o

processo” sustentando a questão do desejo? (“Intervenção sobre a transferência”, pg 224) No “Império dos signos”, de Roland Barthes há um capítulo entitulado “Os pacotes” onde o autor nos conta que empacotar um presente exige tanta dedicação, tanto empenho, tanta arte, que “... ele já não é o acessório passageiro do objeto transportado, mas torna-se ele mesmo o objeto”. Mais que isso, diz ele, o pacote é um pensamento que faz recuar a descoberta do objeto que contém. Há mesmo uma desproporção entre o luxo do pacote e a insignificância do objeto que ele guarda. Diz Barthes ecoando em mim como o final do trabalho do luto e da análise: “... de invólucro a invólucro, o significado foge e, quando finalmente o temos (há sempre qualquer coisinha no pacote), ele parece insignificante, irrisório, vil: o prazer, campo do significante, foi experimentado: o pacote não é vazio, mas esvaziado: encontrar o objeto que está no pacote, ou o significado que está no signo, é jogá-lo fora: o que os japoneses transportam, com uma energia formigante, são afinal signos vazios”. (pg 62) MÓDULO 5 (AGOSTO) SAMANTHA STEINBERG: Gostaria de articular uma questão. Ela se relaciona ao Discurso do Analista pois só nele podemos pensar o Saber posicionado no lugar da Verdade. O que significa isso? Ainda nesta elaboração me pergunto qual a relação deste discurso com o Desejo do analista, formulado no seminário 11. O Discurso do Analista substitui esta primeira articulação da posição do analista ou só acrescenta outros elementos? Se sim, que elementos são estes, como fazer esta articulação? O que se mantém da função Desejo do analista? É o agente do DA? LUCIANA GUARESCHI: Se não fosse a verdade do gozo... Bom, penso, isso pode ser um engano, que compreendi um pouco mais sobre a história da verdade e do saber em Freud e Lacan. A hipótese do inconsciente freudiano parte de que há algo que não se sabe e, no entanto determina o sujeito. Isso que não se sabe cai para Freud como uma verdade, que precisa ser desvelada pela análise, a verdade do desejo inconsciente, se quisermos. Tomando um pouco de distância, parece até ingênuo... Mas vamos lá, essa verdade se deixa entrever nos sonhos, atos falhos, é uma questão de decifração (não só, obviamente, Freud também tocou outras dificuldades, sabemos disso, mas trata- se de ser breve aqui), principalmente da decifração do sintoma, sendo esse o objetivo da interpretação. Para Freud, verdade desvelada = caminho para a cura. O inconsciente como aquilo que fora excluído pelo recalque, traz a dimensão do não sabido e com ela a crença de que com a palavra certa, portanto com algumas articulações simbólicas, um ganho de saber suprimiria o sintoma. Estava muito bom para ser verdade...

Aí Lacan: não, o inconsciente não é da ordem da verdade, é da ordem do saber, um saber que não se sabe. A verdade nunca dará uma descrição do real, a verdade se inscreve, se insere nas descontinuidades do real, e assim, não toda. O que tem implicações na técnica. Se a interpretação não visa revelar a verdade, visa o que? Exemplo bem lembrado por Colette Soler, num texto antigo sobre interpretação, sobre a paciente de Freud, a moça que é habitada pelo medo de entrar em lojas. Freud decifra: loja = homem. O sintoma/mensagem está decifrado, já o enigma do sujeito está mais vivo do que nunca, diz ela. Entendendo esse enigma aqui simplesmente como o enigma sobre o desejo do Outro, ao qual se responde com o fantasma. O dizer da interpretação que não visa a verdade seria algo como “sim, você fala sozinho. Sim, você está só com seu gozo.” diz Colette, no mesmo texto. Bom, chegamos à verdade do gozo. Para além do sintoma, da fantasia, a verdade do gozo. E minha pergunta vai nesse sentido, gostaria de saber mais sobre as relações íntimas entre a verdade e o gozo, afinal não são eles irmãos? IVAN RAMOS ESTEVÃO: Sobre a verdade e a ética Se a verdade é sempre não-toda e singular do sujeito (será que é?), quais efeitos isso tem em termos da ética da psicanálise? Mais ainda, essa ética na qual está fundada a posição do analista, tem desdobramentos numa ética para além da clínica, por exemplo, como propõe Amartya Sen, uma ética da liberdade? Indo mais longe (e me aproveitando da boa pergunta da Luciana), como essa ética constituída em torno da distinção entre saber e verdade articula aí a problemática do gozo, tanto no campo da clínica como fora dela? MÓDULO 6 (SETEMBRO) CAROLINE GEOCZE: O ato do psicanalista tem relação direta com a passagem do psicanalisante ao psicanalista. Ao mesmo tempo, ele deve ser convocado a cada sessão, para que o trabalho analítico possa seguir sua direção. Pelo que pude entender, direção essa orientada ao Real, na perspectiva do inconsciente como um saber sem sujeito. Do lado do psicanalisante, reside uma aposta, um querer saber em jogo. Entretanto, nem sempre isso desliza facilmente. Vemos a palavra ato associada aos impasses da clinica do sujeito: acting out, atuação e passagem ao ato. Situações que dizem do Real e seus efeitos. Frente a isso, como pensar as relações das duas posições – psicanalisante e psicanalista – com o Real em jogo na clinica? Poderíamos pensar em diferentes estatutos do ato? ODONEL SERRANO: Minha questão esta na definição do ato analítico com a ideia de função

f(x) em matemática. Em algumas definições comuns da matemática a função é colocada como relação, o que parece ser contrário da ideia do ato. Gostaria que fosse possível desenvolver um pouco mais esse conceito de função. Como seria esta função como função do objeto a , ou sua aproximação com a função do conjunto vazio, citando o texto de Dominique: “O exercício da associação livre chega apenas a uma profunda insuficiência lógica que o cálculo fantasmático tenta driblar. A tática do analista consiste em presentificar, no lugar dessa inconsistência, a causa de toda e qualquer operação humana, o objeto a, revelando a sua consistência lógica assimilável à função do conjunto vazio na matemática, sítio de inumeráveis operações.” E também, porque o x como desejo de analista? MARUZANIA SOARES DIAS: O ato do jogador e o ato do psicanalista No vertiginoso romance O JOGADOR, de Dostoiévski, encontramos uma narrativa satírica que retrata a atmosfera dos cassinos e o profundo conhecimento psíquico de um jogador hábil na percepção dos desmandos da alma humana – roleta esta que é habilmente colocada em movimento pelo autor. A leitura desse livro, escrito em 1866, coincidiu com o início do tema desse mês nas FCCL: “ATO (corte, silêncio e dizer)”. Em diversos momentos o enredo me transportava a questões relacionadas aos nossos aprofundamentos sobre a “Resposta de Analista”. É pensando nessa resposta em nossa clínica que temos relacionado a direção da cura ao jogo onde é necessário estratégia, tática e política. Em O Jogador, poderíamos fazer uma analogia entre o próprio jogo no cassino ao jogo da vida que se desdobra nas cenas do próprio romance, bem no cotidiano de nossa prática clínica, mas não temos espaço suficiente para isso aqui. De antemão, tento pontuar uma questão para depois ilustrar com algumas passagens do romance (faço essa inversão para o caso de alguém não conseguir ler tudo). O jogo sustentado pelo discurso psicanalítico, que já se inicia com uma operação de contradição por criar uma demanda, acolher essa demanda do sujeito que sofre e, ao mesmo tempo, negar responder à demanda que fomenta, é o pior. O pior colocado em posição de causa, e não de produção. Como afirma Dominique Fingermann, “é pior, antes de tudo para quem se atreve a acolher essa demanda sem resposta, sabendo que na condição de analista não poderá apoiar-se no suspi(o)rar, nem na angústia”[1]. É o horror do ato analítico, o desconforto por não responder à demanda e, mais ainda, por ter que transformá-la em desejo – caminho que mostra o mal-estar como “efeito e defeito de estrutura”[2], irremediável. “Na psicanálise, colocar o pior em causa faz passe”[3]. Direção esta do tratamento que se faz pela: · estratégia do desejo do analisante – que leva o analista a suportar seu fantasma; · tática do analista – cujos lances proporcionam o encontro com o real; · política da psicanálise – ato do analista.[4]

Em seu seminário 15, O Ato Psicanalítico, ao final da aula de 10 de janeiro de 1968, Lacan pontua: “O analisando vindo ao fim da análise no ato (se há um) que o leva a tornar-se psicanalista, não precisamos ver que ele só opera essa passagem no ato que remete ao seu lugar o sujeito suposto saber?” (tradução pirata). Se o final de análise é relacionado ao ato analítico e, portanto, podemos dizer que o final de análise é sem sujeito, sem cálculo, sem saber, qual é o lugar que agora lhe cabe, e como ocupá-lo? Do romance de Dostoiévski vamos nos deter apenas a dois personagens que nos mostram posições por vezes iguais no jogo, mas distintos finais – direcionados pela lógica de cada um: a) A vovó rica – sabida por doente e “com o pé na cova” – que, após surpreender seu sobrinho endividado e todos que contavam com sua morte iminente e ansiavam por seu dinheiro, decide ir ao cassino. b) O jogador, Alexis Ivanovitch, aprisionado ao seu gozo. Assim narra Alexis: “Expliquei o melhor que pude o sentido das inumeráveis combinações do jogo: rouge e noir, pair e impair, manque et passe[5] e, enfim, algumas nuanças do sistema de números. A velha senhora me escutou com atenção, refletiu, colocou novas questões e se informou. Era possível apresentar-lhe uma um exemplo imediato de cada sistema de apostas, de modos que a ligação era assimilada facilmente. A vovó ficou muitoa contente. - E o que significa zero? [...]. E por que ele [o crupiê, que havia gritado “zero”] recolheu tudo que estava sobre a mesa? Ele pegou todo aquele monte! O que isso quer dizer? - Zero, vovó, é o ganho da banca. Se a bolinha cai sobre o zero, tudo o que está sobre a mesa pertence sem exceção à banca. Na verdade, faz-se uma rodada pra ficar livre, mas a banca não paga nada. - Ora essa, com a breca! E eu não recebo nada? - Não. Se apostou no zero e ele sair, receberá trinta e cinco vezes o que apostou. [... Mas,] existem trinta e seis chances contrárias, vovó.”[6] Apostar no manque é apostar pequeno (1 a 18), enquanto que lançar a sorte no passe é apostar grande (19 a 36). E o zero, casa muito difícil de ser conquistada pelo jogador, parece ser a forma usada no jogo para que o cassino ganhe muito dinheiro, mas também, vez por outra, possibilite ao jogador a alegria do ganho e não desista de lá retornar. Mesmo que Alexis, o jogador, tenha feito de tudo para impedir a vovó de jogar no zero – que havia saído pouco antes, ela não quis saber dos inúmeros cálculos sobre os quais ele sustentava seus conhecimentos e, considerando-os tolices, aí aposta. Após poucas jogadas, ela ganha o jogo por diversas vezes. Empolgada, continua suas apostas por alguns dias, jogando sempre ao acaso, até perder tudo, de forma a necessitar de um empréstimo para a viagem de retorno à sua cidade Mas, podemos ler nas entrelinhas que o jogo da vovó rica era um acaso não por acaso; ao perder tudo intencionalmente ela desfaz os planos mesquinhos de quem contava com os bens alheios para pagar dívidas e sustentar relações “amorosas” sem afetos. A vovó não ficou totalmente sem recursos; ela reservara alguns bens em sua cidade, os quais eram suficientes para pagar sua dívida e continuar a viver bem. É aí que o pobre e infeliz Alexis entra cena com toda maestria e capitaliza seu parco dinheiro na roleta russa. Isso se dá após muito tempo de

dúvida se era ou não amado pela mulher a que ele devotava sua vida, Paulina. Quando esta dá a entender que o ama, a cabeça de Alexis gira de emoção, parecia no limite de suas forças: “Fui cegado como por um raio de luz. Lá fiquei de pé, não acreditando nem mesmo em meus olhos ou em minhas orelhas! Então, ele me amava! Ela viera à minha casa e não à casa de Mr. Astley. [...] Um pensamento louco brilhou em minha cabeça. [...] Sim, algumas vezes o pensamento mais louco, o mais impossível na aparência, se implanta tão fortemente em seu espírito que acreditamos que seja realizável... Mais ainda: se esta ideia está ligada a um desejo violento, apaixonado, o acolhemos como algo fatal, necessário, predestinado, como algo que não pode ser ou não se realizar! Talvez aí exista algo mais: uma combinação de pressentimentos, um esforço extraordinário da vontade, uma ato-intoxicação pela imaginação, ou ainda outra coisa... não sei, mas naquela noite (que jamais esquecerei), aconteceu-me uma aventura miraculosa. Ainda que ela possa ser perfeitamente explicável pela matemática, ela não se torna menos miraculosa a meus olhos. E por que, por que aquela certeza estava tão profundamente, tão solidamente enraizada em mim, mesmo depois de tanto tempo? Pois eu pensava nisso, repito, não como uma eventualidade possível (e, por consequência, incerta), mas como a alguma coisa que não poderia não acontecer! Eram dez horas e quinze. Entrei no cassino com uma esperança segura e, ao mesmo tempo, uma emoção que jamais havia sentido. [...] Dirigi-me à mesa na qual estivera sentada a vovó. [...] Exatamente à minha frente, sobre o pano verde, estava escrita uma palavra: passe.”[7] À medida que vai jogando “sem pensar, ao acaso, cegamente e sem calcular” (p.182) e ganhando, ele entra “numa espécie de transe febril” (p. 182). Entre conquistas e perda, por vezes lhe vinha a ideia de calcular “mas as abandonava rapidamente e recomeçava a jogar quase inconscientemente” (p. 184). “Não me lembro de ter pensando nem mesmo uma só vez em Paulina durante esta noite. Experimentava um prazer irresistível em tirar e recolher as notas que se amontoavam a minha frente” (p. 185 e 186). Alexis é “tomado por uma sede de riscos” (p. 187). “Talvez, depois de ter passado por um número tão grande de sensações, a alma não possa deleitar-se, exigindo novas sensações, sempre mais violentas, até o esgotamento total” (p. 187). Como uma máquina plantada no cassino está Alexis “com seu coração vibrando ao ritmo da bola que, nervosamente, rebota de um lado ao outro da roleta, aprisionada e sem saída na roda do infinito, que gira implacavelmente a seu destino final” (tradução livre)[8]. “Amanhã, amanhã, tudo acabará!...” (p. 238). ________________________________________ [1] FINGERMANN, Dominique. A psicoterapia Reconduz ao Pior. A Demanda e o Ato. In O Ato Psicanalítico. Salvador: Associação Científica Campo Psicanalítico, 2003, p. 28. [2] Idem. [3] Ibidem, p. 43. [4] Cf. : a) LACAN, Jacques. A direção do tratamento e os princípios de seu poder. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998; b) FINGERMANN, Dominique. Estratégia da transferência – Tática do ato analítico – Política do fim. In: Textura – revista de psicanálise.

Ano 8 / Nº 8 / 2009. [5] ...vermelho e negro, par e ímpar, manque (a série de números de 1 a 18, também chamada de pequeno) e passe (a sequencia de dezenove a trinta e seis, também chamada de grande). [6] DOSTOIÉVSKI, Féodor. O Jogador. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2001, p. 119 e 120. [7] DOSTOIÉVSKI, Féodor. O Jogador. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2001, p. 179 a 181. [8] Sem autor; no site Net saber RESUMOS: http://resumos.netsaber.com.br/ver_resumo_c_52111.html (acesso: 21/09/12). Original: “con su corazón vibrando al ritmo de la bola que, nerviosamente, rebota de un lado al otro de la ruleta, aprisionada y sin salida en la rueda de lo infinito, que gira implacablemente a su destino final”. MÓDULO 7 (OUTUBRO) SAMANTHA STEINBERG: A minha questão é essencialmente clínica. Tenho pensado em como ter certeza do fim de análise, tanto do ponto de vista do analisante como do analista. O engano quanto ao fim me parece possível e frequente. Como articular estes conceitos de letra, escrito e sinthoma com esta questão, com a certeza do fim, com o limite de uma experiência de fala. Estes conceitos podem nos ajudar a precisar e formalizar melhor o momento de concluir, o ato analítico (como passagem do analisante a analista) ?