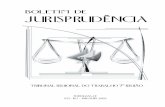Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. n. 43, Brasília, Jan.-jun. 2014
Transcript of Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. n. 43, Brasília, Jan.-jun. 2014

estudos de literatura brasileira contemporânea ISSN 2316-4018 (On-line)

estudos de literatura brasileira contemporânea é uma publicação semestral do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, da Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília. A revista tem o compromisso de fomentar o debate crítico sobre a literatura contemporânea produzida no Brasil, em suas diferentes manifestações, a partir dos mais diversos enfoques teóricos e metodológicos, com abertura para o diálogo com outras literaturas e outras expressões artísticas. Os artigos publicados em estudos de literatura brasileira contemporânea são indexados em: SciELO, Dialnet, Redalyc, Modern Language Association International Bibliography, UlrichsWeb, e-revistas, Periódicos Capes e Latindex. Editora: Regina Dalcastagnè Comissão editorial: Anderson Luís Nunes da Mata, Paulo C. Thomaz e Virgínia Maria Vasconcelos Leal Assistente editorial: Laeticia Jensen Eble Conselho editorial: Ana Luiza Andrade (UFSC/Florianópolis), Andrea Saad Hossne (USP/São Paulo), Beatriz Resende (UFRJ/Rio de Janeiro), Benito Martinez Rodriguez (UFPR/Curitiba), Carmen Villarino Pardo (Universidade de Santiago de Compostela/Espanha), Claire Williams (St. Peter’s College, University of Oxford, Inglaterra), Elódia Xavier (UFRJ/Rio de Janeiro), Gabriel Albuquerque (UFAM, Manaus), Iumna Maria Simon (USP/São Paulo), Ivete Walty (PUC-Minas/Belo Horizonte), Jacqueline Penjon (Sorbonne Nouvelle – Paris III/França), Jaime Ginzburg (USP/São Paulo), José Leonardo Tonus (Paris Sorbonne – Paris IV/França), Leila Lehnen (University of New Mexico, Estados Unidos), Lucia Helena (UFF/Rio de Janeiro), Lúcia Osana Zolin (UEM/Maringá), Lúcia Sá (University of Manchester/Reino Unido), Luciene Azevedo (UFBA, Salvador), Luis Alberto Brandão (UFMG/Belo Horizonte), Márcio Seligmann-Silva (Unicamp/Campinas), Maria Antonieta Pereira (UFMG/Belo Horizonte), Maria Isabel Edom Pires (UnB/Brasília), Maria Zilda Ferreira Cury (UFMG/Belo Horizonte), Ricardo Barberena (PUC-RS, Porto Alegre), Rita Olivièri-Godet (Université Rennes 2/França), Rita Terezinha Schmidt (UFRGS/Porto Alegre), Rodolfo A. Franconi (Dartmouth College/Hannover-Estados Unidos), Sara Almarza (UnB/Brasília), Stefania Chiarelli (UFF, Rio de Janeiro), Tânia Pellegrini (UFSCar/São Carlos). As opiniões emitidas nos textos são de responsabilidade dos(as) autores(as). Os textos não podem ser reproduzidos sem a autorização dos(as) respectivos(as) autores(as). Diretrizes para autores(as) estudos de literatura brasileira contemporânea aceita artigos sobre sua área temática, inclusive em perspectiva comparada, sem restrição de enfoque ou vertente teórico-metodológica. A revista possui três seções fixas distintas: uma seção a respeito de um tema relevante na área; uma seção de artigos e ensaios diversos; e uma seção de resenhas. Os artigos devem ser inéditos e precisam ser encaminhados em arquivo formato DOC ou DOCx, em Times New Roman, fonte 12, espaço 1,5. As remissivas bibliográficas devem aparecer no sistema autor-data, entre parênteses, em meio ao texto, como no modelo: (Bourdieu, 1998, p. 37). Demais informações devem vir em notas, reduzidas, de rodapé. As referências completas devem constar no final do texto, seguindo a ordem: sobrenome do(a) autor(a) em caixa alta, prenome em caixa alta e baixa, ano de publicação entre parênteses, título do livro, edição, cidade e editora. É necessário incluir um resumo, um abstract, três ou quatro palavras-chave, algumas linhas com os dados do(a) autor(a), um e-mail que possa ser divulgado e o endereço postal para onde deverão ser encaminhados três exemplares da revista, caso o texto venha a ser publicado. As resenhas sobre literatura ou textos teóricos não devem exceder cinco páginas e devem tratar de livros publicados nos últimos 24 meses. Não há número fixo de páginas para os artigos. A revista publica textos em língua portuguesa e, eventualmente, em espanhol. Artigos em outras línguas podem ser submetidos à avaliação e, caso aprovados, serão publicados mediante tradução a cargo dos(as) autores(as). Devido ao grande número de submissões, a estudos de literatura brasileira contemporânea aceita apenas artigos de autores(as) com doutorado concluído ou em andamento. TODOS OS TEXTOS, SEM EXCEÇÃO, SERÃO AVALIADOS POR PARECERISTAS, MANTIDO O ANONIMATO MÚTUO. Os(as) autores(as) dos trabalhos aprovados concordam em ceder à revista os direitos não exclusivos de publicação, permanecendo livres para disponibilizar seus textos em outros meios desde que mencionada a publicação da primeira versão na revista. Autorizam, ainda, a revista a ceder seu conteúdo para reprodução em indexadores de conteúdo, bibliotecas virtuais e similares. Os(as) autores(as) assumem que os textos submetidos à publicação são de sua criação original, responsabilizando-se inteiramente por seu conteúdo em caso de eventual impugnação por parte de terceiros. Os(as) autores(as) também declaram não haver conflito de interesses em relação ao trabalho publicado. Os textos devem ser enviados para o seguinte e-mail: [email protected] Outras correspondências podem ser enviadas para: Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea Departamento de Teoria Literária e Literaturas – Instituto de Letras Universidade de Brasília CAIXA POSTAL 4476 70910-900 – Brasília – DF – Brasil Telefone: (+55 61) 3107-7208 Esta edição contou com recursos do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio da Chamada n0 44/2013 (MCTI/CNPq/MEC/Capes). Capa e diagramação: Franc Eble Cariello Revisão de texto: Ligia Diniz Revisão das versões em inglês: Ligia Diniz

estudos de literatura brasileira contemporânea n. 43, brasília, jan./jun. 2014.
literatura e ditadura Regina Dalcastagnè e Roberto Vecchi
(org.)


sumário literatura e ditadura
Roberto Vecchi e Regina Dalcastagnè Apresentação, 11 Márcio Seligmann-Silva Imagens precárias: inscrições tênues de violência ditatorial no Brasil, 13 Kátia da Costa Bezerra Que bom te ver viva: vozes femininas reivindicando uma outra história, 35 Idelber Avelar Revisões da masculinidade sob ditadura: Gabeira, Caio e Noll, 49 Leila Lehnen Memórias manchadas e ruínas memoriais em A mancha e “O condomínio”, de Luís Fernando Veríssimo, 69 Nicola Gavioli Na sala de edição: “Mãe judia, 1964”, de Moacyr Scliar, 99 Sabrina Schneider Ditadura militar e literatura “parajornalística”: desconstruindo relações, 111 Roberto Vecchi O passado subtraído da desaparição forçada: Araguaia como palimpsesto, 133 Tânia Pellegrini Relíquias da casa velha: literatura e ditadura militar, 50 anos depois, 151 Ettore Finazzi-Agrò (Des)memória e catástrofe: considerações sobre a literatura pós-golpe de 1964, 179

outros
Ermelinda Maria Araújo Ferreira Os males do Brasil são: a doença como elemento distintivo da condição de ser brasileiro, 193 Marcel Vejmelka O Japão na literatura brasileira atual, 213 Henry Thorau Back to the roots?: Namíbia, Não! de Aldri Anunciação, 233 Tatiana Sena O baú da República: mobilidades e memórias em Leite Derramado, 247 Willian André A impossibilidade de se dizer o indizível: reflexões sobre o duplo na novela “O unicórnio”, de Hilda Hilst, 263 Igor Ximenes Graciano O sujeito-escritor e as transformações no campo literário: o caso Cristovão Tezza, 277 resenhas
Rosana Corrêa Lobo O Brasil – Mino Carta, 295 Gabriel Estides Delgado Teorias do espaço literário – Luis Alberto Brandão, 299

summary literatura e dictatorship
Márcio Seligmann-Silva Poor images: faint markings of dictatorial violence in Brazil, 10 Kátia da Costa Bezerra Que bom te ver viva: female voices demanding another history, 31 Idelber Avelar Reviews of masculinity under dictatorship: Gabeira, Caio and Noll, 45 Leila Lehnen Stained memories and ruined memorials in A mancha and “O condomínio”, de Luis Fernando Veríssimo, 65 Nicola Gavioli In the editing room: “Jewish mother, 1964” by Moacyr Scliar, 93 Sabrina Schneider Military dictatorship and nonfiction novel in Brazil: unmaking ties, 105 Roberto Vecchi The subtracted past of the forced disappearance: Araguaia as a palimpsest, 127 Tânia Pellegrini Relics of the old house: literature and military dictatorship, 50 years after, 145 Ettore Finazzi-Agrò (Des)memory and disaster: reflexions on the literature after the coup d’état of 1964, 173

others
Ermelinda Maria Araújo Ferreira “Os males do Brasil são”: the disease as a distinctive feature of the condition to be Brazilian, 187 Marcel Vejmelka O Japão na literatura brasileira atual, 207 Henry Thorau Back to the roots? - Namíbia, Não!, by Aldri Anunciação, 229 Tatiana Sena The chest of the Republic: mobilities and memories in Leite derramado, 241 Willian André The impossibility of speaking the unspeakable: reflections on the double in the novella “O unicórnio”, by Hilda Hilst, 257 Igor Ximenes Graciano The subject-writer and the transformations in the literary field: the Cristovão Tezza case, 271 report
Rosana Corrêa Lobo O Brasil – Mino Carta, 289 Gabriel Estides Delgado Teorias do espaço literário – Luis Alberto Brandão, 293

literatura e ditadura


Apresentação Roberto Vecchi e Regina Dalcastagnè
Um dossiê sobre como a literatura e a cultura elaboraram imagens da
ditadura militar brasileira (1964-1985) não representa só uma rememoração – que assume o lado das vítimas – da violência de Estado que se abateu sobre uma sociedade em movimento a partir do golpe militar, há 50 anos. É muito mais um ato político, que procura não só mostrar como a literatura tem sido e continuará sendo um arquivo surpreendente que guarda, de maneira mais incisiva do que a historiografia, a memória ainda dolorida de um tempo áspero e impróprio. Um tempo em que uma barbárie antiga mostrou seu rosto dramaticamente moderno e capaz de impor o regime do horror.
Há clássicos desta literatura – de Euclides da Cunha a Guimarães Rosa, de Lima Barreto a Graciliano Ramos – que já exibiram repertórios de imagens extraordinariamente eficazes de como as práticas de uma violência de raiz colonial não se extinguiram com o fim da colônia, mas reemergiram, cíclicas e inesperadas, inclusive no entremeio das narrativas mais aparentemente ilustradas.
O que emerge dos artigos aqui reunidos não é uma anatomia do passado – que sempre conjugará de modo imperfeito as memórias pessoais dentro do simulacro indispensável, mas artificial, da memória pública. É muito mais – em toda a ressonância ambivalente do termo – uma espectrografia do passado.
Nestas páginas talvez se perceba porque a literatura constitui um campo privilegiado para repensar certo tipo de memória em risco. O caso da ditadura militar brasileira é emblemático, porque, pela dinâmica que caracterizou a redemocratização do país, em particular os efeitos perversos da lúcida racionalidade que elaborou a Lei de Anistia, não houve a possibilidade de pôr um limite nítido entre vítimas e perpetradores como ocorreu em outros contextos do continente. Esta indecidibilidade criou não só uma disputa da memória, que ainda continua controversa e não compartilhada; criou também um conflito de linguagem, uma cisão entre as palavras e as coisas às quais remetem para interpretações conflitantes sobre um tempo ainda pouco possuído.
Não é inocente definir o golpe militar que interrompeu uma estação democrática da vida nacional, como “revolução”. Significa conhecer

–––––––––––– Apresentação
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 11-2, jan./jun. 2014. 12
muito bem os dispositivos simbólicos que a linguagem implica e que fazem com que a sombra da Revolução de 30 se reflita sobre a superfície do nome, ou significa conhecer bem a história do conceito de revolução que, antes da época moderna, significava justa e etimologicamente retorno ou restauração.
Não é inocente deixar aflorar a mitologia da dita-branda, que parece fundar uma taxonomia específica da ditadura brasileira, porque significa exumar os espectros de uma cordialidade brasileira, faca de dois gumes, mas cortante, que sempre serviu como véu da violência mais pervasiva de uma sociabilidade marcada pela permanência de dominações.
Há uma guerra de nomes ainda não resolvida – e de resultado ainda imprevisível – que elege a literatura como um campo por excelência em que é possível, fora ou às margens das hegemonias mediáticas, praticar uma política do nome próprio em relação ao passado, e em que a violência não se eufemiza nos disfarces linguísticos e pode declinar-se em todas as forças que a constituem.
A literatura e a cultura podem configurar-se, assim, como um espaço cultual de enorme potência em relação aos restos, aos despojos, às ruínas e às destruições do passado, proporcionando uma monumentalidade alternativa que, em tempos de comemorações declamatórias ou de embates ideológicos, torna-se indispensável resgatar. Pertence àquele círculo dos assim chamados monumentos “por defeito”, objetos de memórias alternativas e inesperadas que carecem, justamente, de monumentalidade, ou seja, daquela retórica áulica e triunfante que conota alguns monumentos e que, na aparência, representa a força simbólica que lhes permite ultrapassar os limites do tempo.
Os monumentos defeituosos ou silenciosos que se espalham pela literatura possuem, pelo contrário, uma força singular, uma força débil: aquela de fundar uma semântica própria das experiências aparentemente mais longínquas da perspectiva monumental, mas onde as memórias, inclusive as mais traumáticas, encontram uma forma sustentável, uma inscrição permanente, que resiste à erosão do tempo e dos reusos revisionistas do passado.
Um patrimônio outro que a literatura proporciona por defeito, onde uma comunidade – uma outra comunidade – pode se reimaginar e narrar, inclusive no labirinto tormentoso de um passado que continua fugindo e não se deixa integralmente, ainda, apreender.

Imagens precárias: inscrições tênues de violência ditatorial no Brasil
Márcio Seligmann-Silva1
A artista brasileira Rosângela Rennó, na série Vaidade e violência (2000-
2003) apresenta textos emoldurados escritos em preto sobre um fundo preto. Esse procedimento não deixa de lembrar as obras de Ad Reinhardt, o pintor expressionista abstrato, criador de obras black on black, que na sua série Abstract painting, dos anos 1960, traça linhas em preto sobre um fundo preto. O título da série de Rennó é uma irônica (auto) referência à relação entre imagem, escrita, arte e violência. Nessa série o texto que faz as vezes de foto refere-se a fotografias. No primeiro quadro lemos:
A imagem que ela diz guardar de seu algoz é a de um homem que confundia seus interlocutores quando assumia o comportamento frio, decidido e muito objetivo nos interrogatórios. Vinte anos depois, E.M., 41 anos, ex-militante do MR-8, ficou trêmula ao ver a fotografia recente do delegado D.P. e não teve dúvida em afirmar: “É ele mesmo! Essa fisionomia ficou muito forte para mim.”
A cena retratada por Rennó é a cena de um reconhecimento ao mesmo tempo trágico e jurídico. Nessa cena, a imagem mental encontra uma imagem fotográfica e provoca uma reação parecida com a que temos diante de pessoas. Trata-se aqui de uma imagem-pessoa ou imagem-corpo, de um torturador, que estava inscrita na memória da enunciadora e foi reconhecida na imagem fotográfica. Mas, na obra de Rennó, a única imagem que vemos é a de palavras em preto em uma moldura e fundos pretos, que para serem lidas exigem o constante deslocamento do leitor para conseguir extrair o texto da página negra que brilha.
Rennó fornece apenas as iniciais da torturada (E.M.: ex-militante?) e do algoz (D.P.: delegado de polícia?), transformando esse reencontro em uma espécie de evento coletivo, que marcou um país, o Brasil, já que o MR-8 é explicitamente mencionado. Essa obra é um dispositivo que permite pensar as imagens fotográficas como inscrições que devem ser lidas, ao mesmo tempo que aponta para o ser imagem da escrita. Toda imagem tem algo verbal, simbólico, que pode ser interpretado e traduzido – de “n” maneiras
1 Doutor em teoria literária, professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil. E-mail: [email protected]

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 14
– pelo receptor, mas toda imagem tem também restos não verbalizáveis. As imagens são ao mesmo tempo verbais e mudas. Assim como existem ausências de palavras diante de certas imagens, existem também cenas que deixaram imagens – embaçadas, traumáticas – apenas na mente de certas pessoas. A ausência de imagens das torturas é parte do buraco negro da memória da violência da ditadura. A violência dos atos brutais do terrorismo de Estado acontecia ao mesmo tempo que a tentativa de se apagarem os seus rastros. Havia um tabu da imagem em torno das câmaras de tortura. Também a impossibilidade de testemunhar aquela cena que se passou na câmara obscura está indicada na impressionante obra de Rennó. Na imagem, o preto sobre preto mostra o colapso da representação, o sucumbir do preto e branco fotográfico – mas também a necessidade de inscrição, mesmo que apenas tentativa, do passado.
Pretendo apresentar aqui algumas considerações sobre essas tentativas de inscrição do passado, com ênfase no caso da última ditadura civil-militar brasileira de 1964-1985. Para tanto farei algumas incursões nos debates e trabalhos sobre o tema da representação ditatorial em outros países da América Latina. Em uma era de globalização, também a cultura da memória e da recordação se tornou profundamente transnacional. Impossível tratar desse tema da memória pós-ditatorial no Brasil sem falar de seus vizinhos. Também operarei segundo uma abordagem transmidiática: partindo das obras de Rosângela Rennó – sem dúvida, um das artistas latino-americanas que mais longe foram nessa tentativa de desenvolver e refletir sobre uma arte a partir do trauma (que não é nem arte da memória nem do esquecimento) –, passo por alguns fotógrafos brasileiros e hispano-americanos para chegar a dois autores que procuraram inscrever a experiência da ditadura em dois romances de épocas bem distintas: Renato Tapajós, com seu Em câmara lenta, de 1977, e Urariano Mota, autor de Soledad no Recife, de 2009. Nesse percurso farei também algumas rápidas incursões no cinema brasileiro sobre a ditadura, a mídia que mais profundamente foi na tentativa de inscrição e elaboração daquele período da história do Brasil.
Foto e trauma
Ernst Simmel, autor de Kriegsneurosen und psychisches Trauma
(“Neuroses de guerra e trauma psíquico”, 1918), descreveu o trauma de guerra com uma fórmula que deixa clara a relação entre técnica, trauma,

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
15 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
violência e o registro de imagens: “A luz do flash do terror cunha/estampa uma impressão fotograficamente exata” (Simmel apud Assmann, 1999, p. 157 e 247). A fotografia é um dos dispositivos mais potentes quando se trata de se visualizar a inscrição mnemônica e não por acaso Freud recorreu a ela para pensar nossa psique, marcada pelas inscrições traumáticas. A foto é um testemunho de um presente e, como todo testemunho, oscila entre a possibilidade de representar um evento (testemunho como testis) e o colapso dessa representação (testemunho como superstes, sobrevivente). A partir dessa duplicidade aporética e sem solução o testemunho se transforma em performance: em ato mimético cujo momento catártico está sempre a ponto de sucumbir. O testemunho é um umbral para a “libertação” do momento invisível que ele porta, mas essa passagem é enfeitiçada. Nada garante que a rememoração testemunhal nos liberte do trauma. Daí muitos dos autores de grandes testemunhos terem mesmo assim levantado a mão contra si mesmos, como Primo Levi, Jean Améry e Tadeusz Borowski, o mesmo tendo se passado com autores de testemunhos que morreram no anonimato, como Anja Spiegelman, mãe da Arte Spiegelman. O testemunho procura enquadrar o passado traumático, mas a “fotografia” às vezes permanece “cega”.
Na série Parede cega (1998-2000), de Rosângela Rennó, vemos várias molduras, que lembram molduras fotográficas tradicionais, só que sem imagem alguma. O título Parede cega – uma parede sem abertura – remete à ideia de que normalmente a fotografia emoldurada na parede pode ser percebida como uma janela aberta no espaço-tempo. Nessa obra de Rennó, as fotos emolduradas são apresentadas como que afundadas na parede, como se elas tivessem sido viradas de costas. Na verdade trata-se de fotografias doadas ou adquiridas em feiras de artigos de segunda mão (Rennó, 2003, p. 62), que foram pintadas e colocadas sobre painéis de espuma e lycra e fotografadas por Vicente de Mello. Podemos interpretar essas fotos pintadas de cinza como espelhinhos cegos – ou como fotos cegas. A cor da obra remete à cor de um negativo fotográfico ou ao sépia das fotos antigas. Tudo é cego nessa obra que revela o ponto cego da nossa visão fotográfica. Ao olharmos essa série vemos apenas a falta, a desaparição, sem seu avesso de presença, sem o enfático “isto foi – isto é” que toda fotografia parece dizer. Vemos apenas o “isto não é”, ou – pensando em termos de uma economia sublime, de uma estética do silêncio e da falta para indicar o irrepresentável – assistimos nesta obra simplesmente ao “Isto é” ou o

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 16
“How it is” becketiano. Vemos a imagem como pura performance, sem o lastro da referencialidade. Trata-se do dispositivo fotográfico de apresentação cegado e que remete a uma espécie de cegueira que também constitui a recepção da fotografia. Podemos pensar, assim, que a moldura da foto é essa própria cegueira, uma falta e um desejo que quer se saciar na inscrição de luz – que nesse caso não acontece na sua totalidade. Encontramos apenas molduras vazias. Suportes à espera de um olhar. Rennó com essa obra aponta para uma crise da representação no seu sentido documental. A fotografia-documento torna-se parede cega: local de projeção de fantasmas e desejos – local do desaparecimento, da ausência e não da presença, como costumamos ver as fotos. Estamos, talvez, diante do nascimento, de dentro da fotografia analógica, da pós-fotografia. Não por acaso Rennó só pode ser considerada fotografa em um sentido amplo do termo: ela mesma não faz o “clique”, a captura das fotos, mas, antes, as “capta”, se apropria delas em mercados de pulga e em arquivos. Ela é como que uma tradutora de fotos: ela transpõe imagens técnicas para novos contextos, como uma colecionadora, dando uma sobrevida às imagens ao mesmo tempo que reflete sobre o tempo e seu arruinamento. As imagens adquirem, assim, o caráter de resto e de ruína. Elas são partes de um processo, processamento e Durcharbeit (elaboração) de um passado que tem em seu centro a história de violências.
Em Imemorial, Rennó já fizera, em 1994, um impactante trabalho de memória e de tentativa de escovar a história a contrapelo. Nessa obra ela reuniu 50 fotografias a partir de um enorme arquivo abandonado que ela encontrou no Arquivo Público do Distrito Federal referente à construção de Brasília. Sabe-se que inúmeros trabalhadores, os chamados “candangos”, morreram de modo trágico durante a construção de Brasília, que pontuou o governo do presidente Juscelino Kubitschek: uma cidade construída em menos de quatro anos, com exploração abusiva dos trabalhadores (com jornadas de 14 a 18 horas) e repressão à bala das suas tentativas de organização e revolta. A apresentação do trabalho de Rennó é uma homenagem aos mortos, sendo que as fotos, ampliações de fotos deterioradas 3x4 encontradas no arquivo abandonado e esquecido, apresentam uma forte ambiguidade, oscilando entre as imagens de cerimônias oficiais de recordação e o esquecimento das vítimas anônimas do “progresso” e da “civilização”. O título “Imemorial” faz lembrar o conceito de counter monument, que passou a

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
17 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
ser empregado nessa mesma época por teóricos da memória da Shoah como James Young. Essas expressões remetem à aporia contida em todo ato de recordação de eventos traumáticos, que é agravada conforme a dimensão e intensidade da catástrofe que originou o trauma. No caso de Imemorial trata-se de iluminar o outro lado da ideologia desenvolvimentista, do culto cego ao progresso, de mostrar a falsidade da utopia-Brasília, que significou a morte de candangos, bem como a expulsão dos pobres para as cidades-satélite. Rennó nos faz ver o lado distópico daquela capital, ironizando, ao mesmo tempo, de modo crítico, os rituais e memoriais oficiais. Como nos trabalhos de artistas vinculados ao antimonumento, como Jochen Gerz e Horst Hoheisel, Rennó, por meio de inversões, nos faz ver o esquecido, o socialmente recalcado: no caso, os trabalhadores mortos que ficaram enterrados nos alicerces da capital, macabras pedras fundamentais sem nome, em cujas carteiras de trabalho consta apenas a frase cínica: “dispensado por motivo de morte”. Como em outros trabalhos, também aqui Rennó nos faz ver os desaparecidos.
A Série vermelha (militares), de 1996-2000, também é uma interessante mostra do trabalho de Rennó como uma artista que se apropria de fotografias para, em seu gesto de recolecioná-las, ressignificá-las e dar nova vida a elas. No caso, são fotos de homens com uniforme cuja preparação artística como que revela o “teor vermelho” das imagens. O presente, o líquido revelador no qual a colecionadora banha suas imagens, destaca do material fotográfico passado aquilo que, quando ocorreu a captura da imagem, não necessariamente estava visível. Dando seguimento a uma leitura feminista e antifalocêntrica da cultura, Rennó faz aqui outro tipo de antimonumento, que também faz uma espécie de reversão, mas, dessa feita, ao invés de elevar e expor os esquecidos, ela como que reverte “para baixo” aqueles símbolos do poder e da opressão. O elemento representacionista, a clareza da foto, é substituído por uma opacidade conquistada com o recurso do avermelhamento da imagem. Vemos mais ao vermos menos. O ser precário daquilo que parece ser a principal função da fotografia de retrato é um ganho, dentro da perspectiva artística aberta por Rennó.
A série Corpos da alma II (1990-2003), um conjunto de fotografias de jornal editadas digitalmente, trabalha com fotografias dentro de fotografias. Pessoas carregam fotos em passeatas ou em ambientes familiares. Essas pessoas que se transformam em porta-retratos são apresentadas em

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 18
imagens ampliadas de tal modo que explicitam seu caráter de fotos de jornal, com seus pontos fotográficos superdimensionados. Aqui é a foto-presença, a foto-corpo, que está em jogo. A fotografia é apresentada como um Ersatz das pessoas, sejam elas líderes políticos ou parentes desaparecidos. A fotografia se apresenta aqui também como testemunho: de uma fé política, testemunho jurídico, ou ainda, testemunho dos fatos, tal como costumamos ver (e crer) nas fotos dos jornais. As fotos de fotos servem para apresentar a fotografia como um dispositivo capaz de incorporar outras imagens. Trata-se de uma meta-imagem, imagem da imagem que aponta para as imagens como criação e construção do mundo, no mesmo gesto em que, paradoxalmente, apresentam as imagens como foto-corpo, imagens-pessoas: quase que de carne e osso.
Por último dentre os trabalhos de Rennó e no contexto dessa reflexão sobre a inscrição da violência, destaco uma obra da série Cicatriz (1996-2003). Nessa série vemos a cada página, alternadamente, fotos de fragmentos de corpos com suas tatuagens – extraídas de negativos fotográficos do Museu Penitenciário Paulista – e fotos de fragmentos de peles recobertas com inscrições, como se estas tivessem sido realizadas sobre a pele, queimando-a. Os textos, como na série Vaidade e violência, também dizem respeito a fotografias. No exemplo que destaco lemos na inscrição queimada sobre a pele:
Há cerca de quatro anos, um senhor de fisionomia triste procurou C., restaurador de fotografias, em seu estúdio. Queria que ele lhe restituísse à memória a imagem de sua mãe, morta anos atrás. Porém, só guardara uma foto dela, morta, dentro do caixão. “Aquele senhor queria uma foto em que sua mãe aparecesse cheia de vida. Seria impossível fazer isso apenas restaurando aquela foto. Pedi que me descrevesse como eram os cabelos, os lábios, os olhos dela. A partir da descrição, tirei-a do caixão, desenhei-lhe um vestido bonito, abri seus olhos. Quinze dias depois, o homem voltou e quando viu a foto, chorou”, lembra o restaurador.
O texto inscrito sobre a pele-pergaminho é uma pequena e contundente narrativa. Nela a presença da fala em primeira pessoa, na voz do restaurador, torna tudo mais imagético e intenso. O texto é apresentado como um ato de memória, ele se fecha com a expressão “lembra o restaurador”. Todo texto é registrado na pele, como uma cicatriz, metáfora potente da memória traumática. A narrativa da ressurreição da mãe via fotografia novamente remete à força vital da

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
19 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
imagem fotográfica: se na série Parece cega vimos a desaparição da fotografia, na Corpos da alma II as fotos representavam pessoas desaparecidas que continuavam a viver apenas nas fotos. Já aqui em Cicatriz vemos mais do que a sobrevida, vemos o próprio renascer via restauração fotográfica. O fotógrafo proclama: “abri seus olhos”. Essa imagem abala e “faz chorar”, tanto quanto as imagens de desaparecidos que sabemos que não poderão mais ser renascidos. Essa mãe que ganha vida pela intervenção do fotógrafo-artista-demiurgo remete novamente a essa força presencial da imagem fotográfica: ela é tão forte e intensa quanto as imagens reais de pessoas. Daí desde o século XIX se falar na capacidade como que espectral da fotografia de captar fantasmas e pessoas ausentes. Nesse trabalho vemos várias metamorfoses: a mãe que morrera e fora transformada em imagem fotográfica que depois, a partir da descrição – ekphrástica – que o filho faz dela, volta a ter vida graças à intervenção do restaurador, esse artesão cujo trabalho é reverter (ou elaborar) o desgaste do tempo. Mais do que nunca, nessa imagem da mãe ressuscitada vemos uma indicação da força vital da imagem fotográfica, com sua capacidade de nos abrigar, como em um útero analógico (ou eletrônico).
A bidimensionalidade da imagem fotográfica não rouba dela essa sua fantástica força presencial. As fotos de forte teor indicial e icônico, com caráter de foto-presença, de certa forma revertem a função aurática benjaminiana, uma vez que Benjamin via na aura “uma teia singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (Benjamin 2012, p. 184). O próprio Benjamin viu que a fotografia – como arte pós-aurática – tinha justamente a capacidade de aproximar coisas do indivíduo, distantes no tempo e no espaço (Benjamin 2012, p. 108). Nela se unem transitoriedade e repetibilidade: como nas imagens do trauma a que me referi acima. Mas em Cicatriz, a foto-cicatriz, foto-traço, nasce em nossa fantasia a partir da leitura de uma inscrição. Novamente vemos a proximidade aporética que Rennó cria entre imagem e cegueira, ver e imaginar, iconofilia e iconoclastia. As imagens, como nas sombras e nos fantasmas nas tragédias de Shakespeare, estão banidas em um limbo e não podem ser representadas, mas apenas sugeridas via performance. Esse reino espectral põe em ação traumas históricos e sociais de uma artista que viveu toda sua formação sob uma ditadura civil-militar que atuava na desaparição de seus opositores. Atget fotografou as ruas de Paris “como quem

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 20
fotografa o local de um crime. Também este local é deserto”, comenta Benjamin. Ele “é fotografado por causa dos índices que ele contém. Com Atget, as fotos se transformam em autos no processo da história.” O mesmo podemos pensar com relação a essas obras de Rennó. Essa artista do esquecimento e de sua elaboração crítica.
Durante a ditadura brasileira de 1964-1985 alguns fotógrafos jornalistas conseguiram a façanha de fazer essa crítica em meio a um clima de censura e repressão. Luis Humberto, que trabalhou no Jornal de Brasília entre 1973 e 1979 (Fernandes Junior, 2003, p. 156; Barbalho, 2006), fez uma fotografia autoral profundamente crítica dos donos do poder. Ele mostra as paisagens desoladoras de uma Brasília dominada por militares em seus rituais vazios e ilhados do resto do país. Também o na época jovem jornalista fotográfico Orlando Brito captou de modo irônico e sagaz instantâneos da ditadura que revelavam a relação violenta e autoritária dos militares e demais donos do poder com a população.
As fotos de identificação, criadas no final do século XIX para controlar as populações, foram transformadas na América Latina em poderosas fontes documentais para comprovar a existência dos desaparecidos. Foram essas fotos, ao lado das extraídas dos álbuns de família, que foram ampliadas e anexadas aos laudos apresentados ainda durante as ditaduras, exigindo do Estado a restituição dos corpos – o habeas corpus que havia sido suspendido no estado de exceção que imperou em muitos países da América Latina dos anos 1970 e 1980. Um caso paradigmático nesse contexto é o do fotógrafo chileno Luis Navarro. De Altofagasta e sendo perseguido após o golpe de 1973, ele acabou indo para Santiago no final de 1974. Lá começou a trabalhar na Vicaría de la Solidariedad. Nessa posição ele foi responsável pelas fotografias do importante caso Lonquén, o primeiro sítio clandestino descoberto com cadáveres de desaparecidos em 1979. Nas comemorações do Tedeum na Catedral de Santiago, feito para comemorar em 11 de março de 1981 a proclamação da nova constituição, Navarro foi preso e posteriormente torturado. Graças à intervenção do cardeal Raúl Silva Henríquez e de organizações internacionais, ele foi libertado. Essa prisão, como destaca o historiador da fotografia chileno Gonzalo Leiva Quijada (2004, 2008), serviu de impulso para a fundação da AFI: a Asociación de Fotógrafos Independientes. Essa organização teve um papel fundamental durante a ditadura chilena, apoiando o trabalho de importantes fotógrafos, dando credenciais a eles e os defendendo dos ataques das forças do governo.

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
21 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
Além do próprio Navarro, participaram da AFI fotógrafos como Paz Errázuriz, José Moreno, Hellen Hugues, Rodrigo Casanova, Álvaro Hoppe, Cláudio Bertoni, Jorge Ianiszewski, Leonora Vicuña, Kena Lorenzini e Rodrigo Rojas (assassinado pelos membros da ditadura em 1986, quando tinha apenas 19 anos, de modo bárbaro, queimado vivo ao lado da jornalista Carmen Gloria Quintana).
Luis Navarro é um dos responsáveis pela introdução das fotos ampliadas de carteiras de identidade e de fotos de família: essas imagens não apenas serviram para dar início aos processos contra a ditadura mas também foram parte integrante das ações dos familiares e amigos dos desaparecidos. Gonzalo Leiva Quijada considera essas fotos o maior fato na história da fotografia no Chile desde seu início no país em 1840. Nas manifestações no final dos anos 1970 os familiares portavam essas ampliações de fotos. A demanda dos corpos se fazia com aquelas imagens-testemunho. Navarro também fotografou outras vítimas do governo autoritário, os marginalizados economicamente, assim como captou a vida cotidiana em fotos com forte marca autoral, como notou Leiva Quijada. Sua fotografia de seu pai, reagindo à narrativa de sua prisão, quando leva uma das mãos diante dos olhos, tem uma rara força narrativa. Suas fotografias da mise-en-scène do poder também são importantes e apontam para uma característica das fotografias sob ditaduras: o fotógrafo muitas vezes tenta capturar imagens da esfera do poder, que, na mesma medida em que documentam, permitem construir alegorias e narrativas críticas. Assim a foto de um Tedeum em 1980 capta com certa ironia a pompa e austeridade militar sendo como que desprezada por um pombo que caminha exatamente em meio a uma trilha que vai na direção oposta àquela para onde se voltam os militares. O tempo frutífero, típico das imagens sem movimento, assume no fotojornalismo um significado muito mais radical. Aqui o disparo do obturador pode significar também um tiro certeiro no poder.
Uma impressionante foto de Luis Weinstein, também ex-membro da AFI, mostra um rapaz fotografando, diante da La Moneda, uma foto desse prédio quando do ataque no golpe de 11 de setembro de 1973. Vemos aqui como a memória migra para a era digital, transformando o passado em fotografia de fotografia de fotografia. Weinstein se coloca como que por detrás de uma série em vertigem de imagens e reproduções, para mostrar o processo de telescopagem do tempo, de presentificação do passado que se torna imagem eletrônica.

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 22
Já o catálogo Nexo, de 2001, do fotógrafo e artista argentino Marcelo Brodsky, contém vários projetos e é apresentado por uma figura-chave nos atuais discursos sobre a memória, Andreas Huyssen. As obras nesse catálogo são imagens-ação, gestos, construções imagéticas com força performática. A primeira imagem do livro – fora a da capa – é a de um “siluetazo” em Buenos Aires. Essa foto e o texto evocam a força dessa modalidade de protesto, usual na Argentina da época da ditadura, e que ainda hoje é utilizada. A silhueta é uma marca comum na zona onde ocorreu um assassinato, e marca o local de um corpo morto. Ao mesmo tempo é um contorno que marca também uma falta: uma alusão à própria origem da arte que, na lenda grega de Dibutade, teria sido inventada por essa mulher, que decidiu pintar a imagem do seu amado, antes que ele partisse para uma guerra, a partir de sua sombra projetada na parede. Por outro lado, esse mito grego apresenta a imagem como algo secundário, platonicamente derivado de uma luz que emanaria de fora da imagem. Já nessas imagens fotográficas que tratamos aqui a luz como que provém da própria imagem. Não somos mais platônicos. Sabemos que as sombras somos nós mesmos e nossa cultura de entulhos e abjeção. Plínio, o Velho, narra a anedota de Psamenites, apontando para essa ideia que afirma a arte como o local de elaboração de uma falta e de um desaparecimento: “A questão das origens da pintura é obscura [...]. Entre os gregos uns dizem que ela foi descoberta em Sicyone, outros, em Corinto, mas todos afirmam como se iniciou por riscar com um traço o contorno da sombra humana (omnes umbra hominis lineis circunducta)” (Pliny, 1999, XXXV, 15). O que se passa na modernidade e, sobretudo, no nosso contexto latino-americano é uma reatualização como que brutal desse dispositivo. Ele agora é incorporado às ações políticas que demandam justiça e verdade. Torna-se parte de uma nova arte da memória que com seus “siluetazos” reivindica a verdade.
“É muito tarde”
Essa pintura de silhuetas ou skiagraphia (escrita de sombras) deu-se no
Brasil já durante a ditadura. Uma obra emblemática desse período é o romance de Renato Tapajós Em câmara lenta. Esse cineasta, conhecido por seus documentários, como Linha de montagem, sobre as greves no ABC de 1979-1981, ficou preso de 1969 a 1974, devido a sua participação na

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
23 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
organização Ala Vermelha, de guerrilha urbana. Seu livro foi em parte escrito ainda dentro da cadeia e, segundo relatos do autor, foi contrabandeado para fora da prisão por pessoas que o visitavam e transportavam os textos em pequenos rolos de papel escondidos na boca ou na roupa. Essa origem fragmentada do texto não deixa de se refletir na forma final do livro, publicado em 1977, como um mosaico de fragmentos. A cronologia não está totalmente ausente da ordem dos fragmentos, mas ela não é linear e lembra a montagem cinematográfica, com seu movimento de varrer os episódios com tomadas que vão e voltam na linha do tempo. O livro apresenta a história das organizações revolucionárias e de oposição ao governo ditatorial de 1964 a 1973, com ênfase no momento de maior repressão, quando a ditadura tentou dizimar toda e qualquer oposição. Trata-se de um romance que narra a situação de pessoas encurraladas, sem perspectiva de fazer triunfar sua luta revolucionária, vendo caírem um a um seus companheiros e a destruição das forças de oposição. Essa narrativa do encurralamento posteriormente foi explorada em vários filmes, como Nunca fomos tão felizes (1984), de Murilo Salles (baseado no conto Alguma coisa urgentemente, de João Gilberto Noll), Dois Córregos (1999), de Carlos Reichenbach, e Cabra cega (2005), de Toni Venturi.
O fato de o romance de Tapajós ter sido escrito em uma prisão transpira em cada frase do livro. A primeira delas abre a narrativa afirmando que “é muito tarde”, e destaca desse modo o caráter de nachträglichkeit, de tentativa temporizada, après coup, atrasada, de reação ao trauma. A expressão “é muito tarde” é repetida ao longo de todo o livro. A clausura aparece em frases como esta: “Trancados nos aparelhos, saindo deles para fazer uma ação e voltar; sobreviver e gritar que ainda estamos vivos, até que eles nos localizem e nos matem. Fazer mais uma ação para poder esperar – vazia, carente de sentido, porque parte de um gesto já interrompido” (Tapajós, 1977, p. 50). A sintaxe aqui está fraturada. Tudo está interrompido aqui. O tempo do trauma é repetitivo e fragmentado. A memória dos fatos, mesmo que recentes, faz parte de um ruminar melancólico. O texto é descritivo, com poucas metáforas ou outras figuras de estilo. A fragmentação, diferentemente do que descreve Benjamin em relação ao Trauerspiel (o drama barroco alemão), não implica em alegoria, mas apenas no arruinamento da narrativa. “O tempo acabou”, lemos ainda no primeiro fragmento: a narrativa rui, a linguagem se esgarça: “[A]s palavras não fazem mais sentido porque não nomeiam coisas” (p. 15). As frases muitas vezes ficam soltas, com a sintaxe cortada:

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 24
“[E]u também morri lá, naquele dia, no momento quê” (p. 25). A quebra sintática ecoa as rupturas existenciais. Não existe tampouco uma voz narrativa clara: ela também se fragmenta em uma labiríntica trama de vozes. Se existe um predomínio da narrativa factográfica em terceira pessoa, às vezes em um mesmo fragmento o texto desliza dela para um “eu” com forte teor autobiográfico. Esse eu, contagiado pela figura autoral, tem recordações de Belém do Pará, terra de origem de Tapajós, e estudou em São Paulo, outra “coincidência” com a biografia do autor.
A sucessão de fragmentos é pontuada por uma narrativa-mestre, que é apresentada de modo repetitivo ao longo de todo a obra. Trata-se justamente do fragmento que dá nome ao livro e se abre com a frase “Em câmara lenta”. Esse fragmento aparece pela primeira vez nas primeiras páginas (Tapajós, 1977, p. 16), com apenas 14 linhas, e vai se repetir mais quatro vezes (p. 25, 56, 87, 142) e, por fim, quase ao final do livro (p. 167-72), aparece já tomando 5 páginas. A cada aparição a descrição é acrescida de mais detalhes do fato traumático central na trama do livro. Trata-se de uma sequência na qual um grupo de guerrilheiros é parado em uma batida policial, a motorista reage matando um militar, para em seguida, após uma perseguição violenta, ser presa e barbaramente torturada até a morte. Toda a narrativa do livro deságua nessa narrativa da tortura, que acontece apenas na última e mais longa aparição desse fragmento. É como se o livro fosse uma tentativa de narrar o inenarrável, que surge aos pedaços, é apresentado aos solavancos. Ao fim, a narrativa da tortura é feita de modo detalhado, sem poupar o leitor, e desencadeia a cena final do romance: o eu narrador conta a sua própria morte enfrentando a polícia, tentando vingar a morte de sua ex-companheira, em uma ação assumidamente suicida. Essa repetição acompanhada de gradual detalhamento da cena, é típica da montagem cinematográfica e também do modo como, no cinema, se encenam os momentos mais trágicos, com seu involuntário flashback repetitivo, muitas vezes posto também em câmara lenta.
Essa fragmentação da memória do trauma normalmente leva, no cinema, como no famoso La jetée, de Chris Marker, ao abandono do movimento da câmara e ao puro encadeamento de imagens fotográficas estáticas. Em câmara lenta também tem essa tendência à foto. As narrativas são como flashes do passado. Em uma passagem lemos uma formulação que torna isso explícito. Na reclusão, uma voz pensa: “Ainda algum tempo para ficar em casa, olhando as sombras, os destroços, os fragmentos rasgados do passado. Os fragmentos rasgados

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
25 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
do futuro” (Tapajós, 1977, p. 151). O narrador está à deriva em meio a essas imagens. A fotografia é justamente um fragmento de um aqui e agora. Os eus fragmentados da narrativa tentam construir com essas imagens espectrais um abrigo, precário, uma cápsula para se proteger de seu mal-estar, Unbehagen (desabrigo, desamparo ominoso), que parece não ter solução. Em um determinado momento, quando lemos sobre o enfrentamento ocorrido em outubro de 1968 entre os estudantes de direita do Mackenzie e os alunos da FFLCH-USP, na rua Maria Antônia, o estudante-narrador apresenta uma imagem quase fotográfica do momento em que José Dirceu, então presidente da União Estadual dos Estudantes, levantou a blusa ensanguentada do estudante secundarista José Carlos Guimarães, morto por uma bala. A narrativa com frases curtas e cortadas faz uma mise-en-scène da comoção:
Correu também para lá: Dirceu discursava em cima duma janela para a massa crescente. Falava do assassinato, propunha uma passeata até o centro. Os estudantes hesitavam. De repente, Dirceu levantou a camisa ensanguentada do menino morto e um urro surdo subiu da multidão. Um movimento, lento a princípio, e logo uma avalanche. Todos gritavam em cadência, o ódio explodia em cada voz [...] (Tapajós, 1977, p. 34-35).
No caso desse romance, o desfecho não deixa de apresentar também o entrelaçamento entre o luto da derrota política e o Trauerarbeit (trabalho de luto) da relação amorosa. A questão pública, que levou a um encurralamento, a um beco sem saída, como que empurra a narrativa para questões privadas, mesmo que essas sejam condenadas pelo decoro e código de honra dos envolvidos na guerrilha. O mosaico é composto por fragmentos de vidas recortadas pela força do Estado e que tentam se sustentar por relações que estabelecem em meio à luta, que são de ordem privada.
Não por acaso essa imagem da passeata com a blusa de José Carlos Guimarães em forma de bandeira nunca veio a se tornar parte da memória cultural no Brasil. Esse movimento em direção à privatização da dor já pode ser percebido no livro de Tapajós. Isso não apenas por conta do isolamento que ele descreve dos guerrilheiros e da falta de apoio à luta por parte da população, mas também por conta de uma percepção autocrítica do próprio movimento de guerrilha. Isso radicaliza a melancolia e a fragmentação da memória e do discurso. Eus rachados são apresentados como restos ejetados por uma máquina de terror:

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 26
O que fizeram com ela? O tempo bate nos ouvidos, passa gota a gota, o mundo está arrebentado em milhares de pedaços, a casa vazia. [...] A vida rachou no meio. [...] Como um vaso que cai: estilhaçando em pedaços irregulares. [...] Estilhaços. Misturados no chão com uns restos de vida, um pedaço de rosto, uma frase, um livro rasgado. [...] é muito tarde. O que deixou de ser feito, nunca mais será feito (Tapajós, 1977, p. 38).
A destruição da luta revolucionária fez com que a lógica sacrificial nela implícita entrasse em crise. Nada mais justifica as mortes e os sofrimentos – não há mais redenção: “Não admito e não permito que ninguém admita que todos os gestos foram sem sentido, que todas as mortes não serviram para nada, que a morte dela foi inútil. Eu sei que o gesto estilhaçou-se, não se completou, ficou no meio do caminho. Mas não pode ser [...] esquecido” (Tapajós, 1977, p. 48). Em outra passagem essa ideia é associada ao esmagamento de tempo e à obliteração do futuro e do sonho:
A vida é apenas, hoje, um adiamento da morte próxima, uma pausa entre quem sobrevive e aqueles que já morreram, porque eles levaram o que havia de futuro. [...] perdi a ponte que dá passagem ao futuro e estou acorrentado aos fantasmas. [...] O compromisso é com esses rostos que não existem mais [...]. Pertenço a eles porque eles morreram por uma coisa em que acreditavam e que eu não acredito mais (Tapajós, 1977, p. 83-84).
“[M]eu compromisso é com os mortos” (Tapajós, 1977, p. 160): com seus sonhos e com suas vidas sacrificadas. Essa consciência aguda da impotência e do fim da luta permite também um distanciamento irônico, trágico, da realidade da guerrilha. Ao lermos sobre “um tribunal revolucionário” que executou “o desertor devido ao perigo que ele traria a todo o plano” (p. 40), a descrição dos revolucionários guerrilheiros na Amazônia não é muito elogiosa: “Sonâmbulos de uma ideia grandiosa, meia dúzia de adolescentes exaustos, cambaleando para explodir um continente” (p. 40). Esses mesmos guerrilheiros tentam conquistar os caboclos para a sua causa, mas estes não entendem nada das ideias e propostas daqueles “adolescentes” (p. 41). Noutra passagem, a guerrilheira Marta afirma sobre seus colegas: “Vocês gostam mais das armas do que de gente.” E dirigindo-se ao companheiro arremata: “Você não consegue sentir os outros” (p. 62). Esse isolamento emocional, assim como o político, levou a narrativa com seus vários eus fragmentados ao gesto da ação suicida final. A última frase do livro é

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
27 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
inequívoca, sinal da única decisão possível: “A deserção definitiva tinha sido realizada” (p. 176).
Para terminar, gostaria de, mesmo que brevemente, apresentar outro romance sobre essa mesma violência ditatorial, mas escrito mais de três décadas após o livro de Tapajós. Trata-se de Soledad no Recife, do escritor pernambucano Urariano Mota. Esse livro descreve um caso que ficou relativamente conhecido no Brasil, ocorrido na capital pernambucana no início de 1973 e batizado com o nome de “massacre da chácara São Bento”. Na verdade esse massacre não aconteceu nessa chácara, mas sim o delegado Fleury (que atuava no Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS) e sua equipe haviam antes raptado e torturado até a morte seis membros da oposição à ditadura. Eles haviam sido denunciados pelo cabo Anselmo (apelido de José Anselmo dos Santos), um agente duplo que se infiltrara na oposição e foi responsável por mais de 200 mortes. Naquele dia 7 de janeiro de 1973, a equipe de Fleury montou uma farsa, colocando os seis cadáveres em uma casa da periferia de Recife e apresentando-os à imprensa como um grupo de guerrilheiros que havia sido assassinado após ter resistido à voz de prisão. No livro de Urariano Mota a personagem central, Soledad, é uma personagem histórica: uma das seis vítimas desse massacre. Soledad Barnett Viedma nasceu no Paraguai e, após exílio no Uruguai e em Cuba, encontrava-se em Recife nessa ocasião. Mota constrói um eu-narrador fictício, um poeta simpatizante da causa dos guerrilheiros, que se apaixona por Soledad e tem ódio de seu marido, Daniel – que na realidade é o próprio cabo Anselmo. Esse eu-narrador possui fortes semelhanças com o próprio autor, que em mais de uma ocasião declarou que de fato conhecia alguns dos membros desse grupo de jovens assassinados de modo bárbaro em 1973. Desde aquela ocasião ele guardou um vazio, uma sensação terrível de um crime monstruoso ocultado que precisava ser revelado e narrado.
O impressionante nessa obra é como ela se inicia de um modo claramente identificável como pertencente ao gênero romance histórico, mas aos poucos se esfacela e assume o caráter híbrido de ficção, reportagem e homenagem a Soledad. Citações de documentos oficiais, cópias de passagens de livros sobre a ditadura no Brasil, fotos de Soledad, imagens de jornais da época reproduzindo as mentiras oficiais sobre o massacre de São Bento dão um tom claramente testemunhal ao livro. A ficção sede à reportagem – ofício da profissão de Urariano Mota. O documento quer se sobrepor à ficcionalização como se esta fosse insuficiente para portar o

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 28
testemunho dos fatos. Trata-se de um romance abortado, que abre mão dos códigos do gênero, sucumbindo sob o peso da história que narra e, sobretudo, do ódio e desejo de vingança contra Daniel – codinome de cabo Anselmo –, que não apenas se juntara à Soledad, mas veio a auxiliar no seu assassinato quando ela portava um filho deles no ventre. Essa violência e uma imagem que a representa tornam-se o umbigo e o ponto cego da narrativa. Essa “imagem crua” (Mota, 2009, p. 113), na expressão do próprio Mota, é apresentada no livro a partir de um testemunho da advogada Mércia Albuquerque, realizado em 1996, diante da Secretaria de Justiça de Pernambuco. Mércia vira os cadáveres do massacre 23 anos antes. O autor cita as comoventes palavras de Mércia:
Eu tomei conhecimento de que seis corpos estavam no necrotério [...] em um barril estava Soledad Barrett Viedma. Ela estava despida, tinha muito sangue nas coxas, nas pernas. No fundo do barril se encontrava também um feto. [...] Soledad estava com os olhos muito abertos, com uma expressão muito grande de terror. [...] Eu fiquei horrorizada. Como Soledad estava em pé, com os braços ao lado do corpo, eu tirei a minha anágua e coloquei no pescoço dela (Mota, 2009, p. 109-110).
O narrador comenta esse impressionante testemunho: “O seu relato é como um flagrante desmontável, da morte para a vida. É como o instante de um filme, a que pudéssemos retroceder imagem por imagem, e com o retorno de cadáveres a pessoas, retornássemos à câmara de sofrimento” (Mota, 2009, p. 110). Mota realiza em seu livro justamente esse movimento de passar o filme de trás pra frente, “imagem por imagem” – fotograma por fotograma, como em Tapajós – deixando Soledad viver ainda uma vez e seu narrador (o leitor) viver a paixão por ela. Seu trabalho de memória quer afirmar que aquele passado é e deve estar presente hoje: a ficção é essa mise en action do passado, é um despertar dos mortos e um clamor pela justiça. O narrador mesmo afirma que “a memória completa lacunas, ou melhor, recria a vida em lacunas, e, ao voltar, antecipa em 1972 o que sei 37 anos depois” (p. 56). Mota escreve a partir de uma falta no seu presente, a partir da perpetuação da injustiça, que o revolta, pois o cabo Anselmo ainda hoje anda livre e sem ter sofrido nenhuma penalidade pelas suas inúmeras barbáries cometidas. No Brasil a Lei da Anistia, de 1979, impede processos contra os torturadores. Por outro lado, já longe da melancolia derivada do fracasso político, Mota constrói um alter ego fictício como poeta apaixonado pela Tropicália, movimento que, como sabemos, desde o início teve sua

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
29 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
reserva crítica com relação à luta armada. Desse modo o autor cria um observador de segunda ordem que pode descrever os fatos ocorridos em Recife no final de 1972.
Mota escreve já no e contra o espaço pós-histórico, como o surpreendemos na foto de Luis Weistein diante do Palacio de La Moneda. O passado é imagem, mas Mota o quer transformar em carne. Sua narrativa, que tenta fazer renascer Soledad dentro de um romance, acaba por desconstruir esse gênero, transbordando para um discurso testemunhal em primeira pessoa. Na era dos testemunhos, correlata à era das catástrofes, o romance, apesar de toda sua incrível plasticidade, é redimensionado pela necessidade de inscrição do trauma. Não por acaso o romance se abre com a afirmativa típica do testemunho jurídico: “Eu vi” (Mota, 2009, p. 19). Trata-se, no entanto, mais de um “eu vivi”, ou seja, “eu sobrevivi àquela época dos anos de chumbo e quero atestar”. A atestação da sobrevivência, ao lado da atestação factográfica, esgarça o gênero romance. O desvio pela ficção, que, como Levinas pensava, pode ser uma garantia de verdade e, portanto, não necessariamente avesso ao testemunho – como, entre outras, as obras de Jorge Semprun e Zwi Kolitz o comprovam –, parece não ser suficientemente sólido para a proposta de Mota. Ele dá um passo para fora e faz questão de usar seu indicador, o index, para deixar claro que devemos tratar a história de Soledad como história com “h” maiúsculo. Ele acumula provas: documentos e fotografias. Sua escrita da dor exige nomear os assassinos, dar as datas e locais, exigir justiça. O oitavo capítulo se abre com um subtítulo que rompe o fluxo da narrativa e faz sucumbir a ilusão até então construída: “Daniel, aliás, Jonas, aliás, Jônatas, aliás, Cabo Anselmo” (Mota, 2009, p. 63). Com essas palavras Mota põe um pé para fora do romance, ou ainda, seu romance se transforma em relato, récit. Nesse mesmo capítulo lemos uma interessante relação que é estabelecida entre a literatura e o papel de espião exercido pelo próprio vilão, o cabo Anselmo:
o espião – e a honestidade me obriga a dizer essa desagradável e dura frase – tem pontos em comum com o escritor. Porque a sua mentira se nutre da verdade. Digo melhor, corrijo, e me recupero do espinho: ele faz o caminho inverso do escritor, porque a sua é uma mentira que se nutre da verdade, enquanto o escritor serve à verdade, sempre, ainda que minta. A verossimilhança do espião é uma mentira sistemática que parte do real. A do escritor é verdade sistemática em forma de mentira, em forma de verdade, ou de reino híbrido (Mota, 2009, p. 66).

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 30
Essa oscilação, ao determinar o que seria a verossimilhança do escritor – “em forma de mentira, em forma de verdade” – talvez esteja na base de uma opção, talvez não tão consciente, pelo quase abandono da “mentira” do escritor e pela passagem para os testemunhos, documentos, fotos e livros citados, como o caso do volume Direito à memória e à verdade, publicado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, de onde Mota retira as biografias de Pauline Reichstul, Eudaldo Gomes da Silva, Evaldo Luiz Ferreira de Souza e José Manuel da Silva (Mota, 2009, p. 103-104), companheiros de luta de Soledad e igualmente assassinados naquela ocasião.
O último capítulo, o 13o, acaba por assumir a fusão completa, ou metamorfose, do narrador fictício em direção o narrador-autor do registro da egoescrita autotestemunhal. Mota lembra que, quando lançou seu primeiro romance, Os corações futuristas, também sobre o período da ditadura no Brasil de 1964-85, uma leitora profetizara que ele continuaria escrevendo sobre esse tema. Mota estava, como muitos de sua geração, condenado a repetir essa volta ao local do trauma. Essa paulatina passagem do eu ficccional para um eu-jornalista-escritor-autor é uma resposta de Urariano à necessidade que sente de apresentar a verdade. O gesto “chega de brincadeira”, quer lembrar que “a coisa é séria”. Se a mimese artística é marcada pela ação recíproca entre a aparência e o jogo, Mota prefere galgar outro campo mais próximo a uma inscrição do real – por mais impossível que tal inscrição seja. Sua skiagrafia, seu contorno da silhueta de Soledad Barrett, forja sua forma de escritura sob o imperativo ético de atestar a verdade e servir à justiça em uma era liquida que faz a história virar jogo de aparência.
Poderíamos ainda nos perguntar o porquê dessa sua volta ao trauma, mas antes é importante lembrar que no Brasil esse tratamento do período da ditadura militar foi recalcado durante décadas. Com exceção dos últimos meses, marcados pela ação da Comissão de Verdade (instalada em maio de 2012 para tratar de crimes cometidos contra os direitos humanos de 1946 a 1988 no Brasil), até recentemente o tratamento desse tema era absolutamente recessivo na mídia, no Governo e no cotidiano brasileiro de um modo geral. No Brasil ocorreu uma privatização do trauma: apenas os familiares e pessoas próximas às vítimas, além dos próprios sobreviventes, se interessaram por esse tema e investiram na sua memória, na reconstrução da verdade e na busca da

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
31 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
justiça. Daí o enorme papel de organizações como Tortura Nunca Mais e Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos na tentativa de se buscar a verdade, a memória e a justiça. Não se desenvolveu no Brasil, e provavelmente não se desenvolverá, uma cultura da memória com relação àquela ditadura, assim como não se desenvolveu nesse país uma cultura da memória em relação ao genocídio indígena, ao de africanos e de afrodescendentes, à escravidão, à ditadura Vargas e à história das lutas no campo e nas cidades no Brasil. Com relação à ausência de memória pública quanto à ditadura de 64-85, podemos pensar na justificativa dada por um dos guerrilheiros do livro de Tapajós, que, destacando a diferença entre o Brasil e a Argentina, afirma: “[É] diferente na Argentina, lá o pessoal tem respaldo da massa” (Tapajós, 1977, p. 138). Ou então poderíamos pensar na acima referida autocrítica muito precoce entre os membros das organizações revolucionárias e de oposição no Brasil.
Também um recente livro sobre a ditadura, K., de Bernardo Kucinski, fecha-se destacando as execuções que eram feitas dentro das organizações revolucionárias, um dos temas mais polêmicos quando se trata de recordar a luta contra as ditaduras na América Latina, que, na Argentina, em 2004, desencadeou um interessantíssimo debate a partir de uma carta do filósofo Oscar del Barco, que defendia o mote “no matar” (“não matar”) como base de qualquer ação ética-política. No livro de Kucinski, em uma correspondência acusatória contra um líder que está no exílio parisiense lemos as palavras: “Vocês condenaram sem prova, sem crime tipificado. Incorporaram o método da ditadura” (Kucinski, 2011, p. 174). Kucinski, como Mota, escreve com mais de três décadas de distância dos fatos. Também seu romance embaralha as cartas do testemunho e do romance, ainda que seu romance testemunhal seja mais amarrado e redondo que a obra esfacelada de Mota. Mas ambos fazem parte da construção a contrapelo no Brasil de uma cultura da memória e da verdade. Kucinski, que conta em seu romance a história de sua irmã Ana Rosa Kucinski, desaparecida na ditadura, e a saga de seu pai em busca da filha brutalmente assassinada, põe o dedo na ferida ao reclamar da falta de repercussão na esfera pública de um debate sobre a elaboração da violência da época da ditadura: “O ‘totalitarismo institucional’ exige que a culpa, alimentada pela dúvida e opacidade dos segredos, e reforçada pelo recebimento das indenizações, permaneça dentro de cada sobrevivente como drama

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 32
pessoal e familiar, e não como a tragédia coletiva que foi e continua sendo, meio século depois” (Kucinski, 2011, p. 163).
Mas, para além dessa justa demanda de Kucinski, agora a política também deu uma virada subjetiva e passou a valorizar temas mais micropolíticos. Essa passagem da grande política para as ações de caráter mais individual e comunitário já havia sido retratada em um belo filme documentário de Lúcia Murat, Que bom te ver viva, no qual aparece Criméia Alice de Almeida Schmidt. Criméia é uma sobrevivente da guerrilha do Araguaia que lá perdeu seu companheiro e pai de seu filho. Falando de Criméia, a narradora do filme de Murat destaca a passagem da onipotência da guerrilha para as reuniões de mulheres onde se discute a política do dia a dia. “A dimensão trágica virou coisa do passado. E qualquer tentativa de ligação lembra um erro de roteiro” (QUE BOM, 1989). Isso já nos anos 1980. Mas é evidente que esse privilégio da micropolítica e descrédito com relação à grande política, aos grandes partidos e teorias abstratas que propunham a redenção na Terra não devem significar o abandono do reconhecimento público dos crimes cometidos durante a ditadura e seu esclarecimento. Enfim, essa autocrítica da esquerda, ao lado do pacto de silêncio e de esquecimento imposto pelas alas mais conservadoras da sociedade (no Governo e fora dele), garantiu que até hoje no Brasil, em contraste com a Argentina, Uruguai e Chile, a última ditadura ainda não tenha conquistado nem um lugar na memória coletiva nem um espaço no banco de réus. Talvez, e na verdade tenho certeza disso, uma coisa esteja intimamente ligada à outra. Por ora essa memória está restrita a essas e outras imagens precárias e tênues inscrições, como as que apresentei aqui. O elemento subjetivo predomina nessas inscrições, regado com fortes emoções em nó. No Brasil até o momento faltou-se ao encontro marcado com os mortos pela ditadura civil-militar e com seus sonhos.
Referências
ASSMANN, Aleida (1999). Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C. H. Beck.
BARBALHO, Marcelo (2006). O fotojornalismo político no contexto da ditadura militar. In: ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 4., São Luís, 30 mai. a 2 jun. Disponível em: <http://goo.gl/2opkti>. Acesso em: 29 ago. 2008.

Márcio Seligmann-Silva ––––––––––––
33 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014.
BENJAMIN, Walter (2012). Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet, revisão técnica de Márcio Seligmann-Silva. 8. ed. rev. São Paulo: Brasiliense.
BRODSKY, Marcelo (2001). Nexo: Un ensayo fotográfico. Buenos Aires: La marca.
FERNANDES Junior, Rubens (2003). Labirinto e identidades: panorama da fotografia no Brasil (1946-98). São Paulo: Cosac Naify.
KUCINSKI, Bernardo (2011). K. São Paulo: Expressão Popular.
LEIVA QUIJADA, Gonzalo (2004). Luis Navarro: La Potencia de la Memoria. Santiago de Chile: Imprenta.
______ (2008). Multitudes en sombras, AFI. Santiago: Ocho Libros.
MOTA, Urariano (2009). Soledad no Recife. São Paulo: Boitempo.
PLINY (1999). Natural History. Books 33-35. Tradução de H. Rackham. Cambridge, London: Harvard University Press.
QUE BOM te ver viva (1989). Direção: Lúcia Murat. Produção: Kátia Cop e Maria Helena Nascimento. Distribuidora: Casablanca. DVD (98 min.).
RENNÓ, Rosângela (2003). Rosângela Rennó: o arquivo universal e outros arquivos. São Paulo: Cosac Naify.
TAPAJÓS, Renato (1977). Em câmara lenta. 2. ed. São Paulo: Alfa-Omega.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em janeiro de 2014. resumo/abstract
Imagens precárias: inscrições tênues de violência ditatorial no Brasil
Márcio Seligmann-Silva
Este texto apresenta uma reflexão sobre a difícil inscrição na memória cultural dos fatos violentos ocorridos na ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985). Ele desenvolve uma análise da precariedade dessas inscrições, que têm que enfrentar a ausência de ressonância na esfera pública. A privatização do trabalho da memória bloqueia a elaboração lutuosa e jurídica dos fatos terríveis ocorridos naquele período. O autor procura mostrar as estratégias de apresentação desse passado e a sua difícil inscrição a partir dos trabalhos de artistas como Rosângela Rennó, de fotógrafos e de escritores, como Renato Tapajós e Urariano Mota.

–––––––––––– Imagens precárias
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 13-34, jan./jun. 2014. 34
Palavras-chave: ditadura civil-militar brasileira, privatização da memória, arte da memória, skiagraphia.
Poor images: faint markings of dictatorial violence in Brazil
Márcio Seligmann-Silva
This text presents a reflexion on the difficulties of the inscription of the Brazilian civil-military dictatorship (1964-1985) and its violent stories. It develops an analysis of the precarious character of those inscriptions, which have to deal with an absence of eco in the public sphere. A privatization of the memory work blocs the mourning and the juridical elaboration of the terrible facts of that period. The author tries to show the strategies of presentation of this past and its tough inscription departing from the works of artists (as Rosângela Rennó), photographers and novelists (as Renato Tapajós and Urariano Mota). Keywords: civil-military Brazilian dictatorship, memory privatization, art of memory, skiagraphia.

Que bom te ver viva: vozes femininas reivindicando uma outra história
Kátia da Costa Bezerra1
Não pode haver esperança verdadeira naqueles que tentam fazer do futuro a pura repetição de seu presente nem naqueles que veem o futuro como algo predeterminado. Têm ambos uma
noção domesticada da História.
Paulo Freire Em 1964, o Brasil foi sacudido por um golpe militar. O regime militar
que se estendeu por 21 anos teve como premissa básica a Doutrina da Segurança, que compreendia dois pilares complementares: a segurança nacional e o desenvolvimento econômico (Stepan, 1976, p. 55). Para poder implementar as políticas necessárias, tornou-se indispensável suspender direitos civis e políticos. Os críticos ao regime militar foram presos, torturados, assassinados, sequestrados ou forçados ao exílio. O retorno ao regime democrático foi marcado pela presença de discursos que defendiam a necessidade de garantir uma transição conciliatória. Desde então, o que se verifica é a forma como certos grupos procuram monopolizar os discursos na esfera pública, dificultando o afloramento de outras falas que poderiam concorrer para uma reflexão mais profunda e plural do período da ditadura militar no Brasil. Soma-se a isso o fato de que, apesar da pressão por parte de diversos movimentos sociais e instituições, bem como dos familiares dos desaparecidos, as várias tentativas de resgatar a memória desse período têm se mostrado muitas vezes infrutíferas.
Mais recentemente, o debate em torno da memória da ditadura militar brasileira ganha novas proporções com a criação da Comissão Nacional da Verdade, que tem como finalidade apurar os casos graves de violação dos direitos humanos entre 1946 e 1988.2 A comissão foi
1 Professora no Department of Spanish and Portuguese da University of Arizona, Tucson, Arizona, Estados Unidos. E-mail: [email protected] 2 Inicialmente, o objetivo da comissão era enfocar especificamente o período da ditadura militar, mas a pressão por parte dos militares fez com que as datas fossem modificadas para descaracterizar a ênfase nos abusos perpretados pelo regime instaurado em 1964. Para mais sobre essa questão, ver Dias (2013).

Kátia da Costa Bezerra ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014. 36
criada com o objetivo de abrir um espaço de discussão na busca da verdade em nível jurídico e pessoal. Constituída por sete membros dos mais diversos setores da sociedade, a comissão mesmo antes de sua criação foi alvo de constantes questionamentos, fosse por parte dos militares ou de grupos que exigem a punição exemplar dos torturadores. Desde sua implementação, arquivos foram abertos, e cerca de 350 pessoas foram ouvidas. Dentre estas, destacam-se mulheres que detalham seu papel na luta de resistência e a tortura física e psicológica a que foram submetidas.
Este ensaio examina a forma como a narrativa produzida por mulheres procura dar significado a experiências até então silenciadas. Pretende-se analisar o modo como esse rememorar se estrutura através da inter-relação entre a memória histórica e a memória pessoal, presente e passado. Tendo como ponto de partida o filme Que bom te ver viva (1989), de Lúcia Murat, o artigo discute o modo como o filme permite problematizar perspectivas que tentam fixar e restringir as possibilidades de leitura sobre o período da ditadura militar. Em outras palavras, o ensaio discute o modo como o filme constrói quadros da memória que vão além daqueles tidos como representativos – uma dinâmica que propicia o questionamento de uma sintaxe que perpetua a noção domesticada de história de que fala Paulo Freire. É sob essa ótica que se pretende examinar Que bom te ver viva.
Um retorno no tempo
O tenso debate em torno da memória desse período pode ser mais
bem compreendido quando temos em mente que a memória coletiva funciona como um quadro social constituído a partir de fatos, valores e crenças que servem de ponto de referência para os indivíduos e a sociedade como um todo. Não se pode esquecer que a invenção da tradição está intimamente ligada à tentativa de impor uma política particular de seleção e organização que procura afirmar-se como representativa de toda uma comunidade (Hobsbawm, 1994). Trata-se de um processo de construção que exclui trajetórias ou perspectivas diferentes daquelas reconhecidas como representativas. Não é por acaso que estudiosos como Halbwachs argumentem que:
O que faz com que as memórias recentes se mantenham unidas não é que elas sejam contínuas no tempo: é mais que elas sejam

–––––––––––– Que bom te ver viva
37 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014.
parte de uma totalidade de pensamentos comuns a um grupo [...] Para relembrá-las é então suficiente que nos coloquemos a partir da perspectiva desse grupo, que adotemos seus interesses e sigamos o curso de suas reflexões (Halbwachs, 1992, p. 52-52, tradução nossa).
Por outro lado, a percepção da memória como uma atividade interativa e social nos obriga a reconhecer que todo ato de rememorar implica um processo de recriação, reelaboração, ressignificação do passado tendo o momento presente como referência. Isso ocorre porque “as imagens do passado não são ditadas pelo passado, nem totalmente inventadas no presente, mas resultam de um contínuo diálogo em que as imagens anteriores moldam e restringem o que pode ser feito com elas nos presentes sucessivos” (Olick, 1998, p. 552, tradução nossa). Isso implica dizer que o embate pelo direito de definir os parâmetros de reconstrução do passado se origina da coexistência de uma pluralidade de quadros sociais da memória, tendo em vista as diversas agendas políticas, econômicas e ideológicas dos mais diferentes grupos.
O embate em torno da memória, no entanto, ganha novos significados quando se trazem para o campo de disputa as vozes/perspectivas das mulheres. Não se pode esquecer que, para a mulher, revisitar o passado significa a narração de experiências “saídas de uma paisagem histórica sombria” (Haaken, 1998, p. 1). Em muitos casos, o resgate do passado implica uma forma de olhar que se esforça por captar elementos tradicionalmente trivializados. Nesse contexto, a ênfase no cotidiano funciona como uma estratégia que lhes permite problematizar o tom celebratório e excludente dos discursos oficiais. Ademais, quando se pensa no projeto da nação, deve-se ter em mente que:
Uma das principais dimensões dos projetos nacionalistas a ser relacionada com as relações de gênero [...] é a dimensão genealógica que é construída em torno da origem específica das pessoas (ou de suas raças) (Volknation). O mito de uma origem comum ou do compartilhamento de sangue/genes tende a construir as visões mais excludentes/homogêneas da “nação”. Outra dimensão importante dos projetos nacionalistas é a dimensão cultural na qual a herança simbólica da linguagem e/ou religião e/ou costumes e tradições é construída como a “essência” da “nação” (Kulturnation) (Yuval-Davis, 1997, p. 21, tradução nossa).

Kátia da Costa Bezerra ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014. 38
Essa dinâmica nos ajuda a compreender a restrição da mulher ao papel simbólico de “repositório conservador do arcaico nacional”, o que implica seu alijamento, em nível simbólico, do processo de construção e transformação da nação, que passa a ser percebido como uma prerrogativa eminentemente masculina (McClintock, 1997, p. 93, tradução nossa). Essa percepção aponta para o caráter gendrado da narrativa da nação, uma vez que o papel das mulheres fica restrito à esfera da reprodução biológica, cultural e simbólica.
Essa faceta ganha uma dimensão mais conservadora durante regimes autoritários, quando a imagem da mulher fica ainda mais atrelada aos papéis tradicionais. Não se pode esquecer que uma das justificativas para o golpe militar foi a necessidade de defender os valores familiares ante a ameaça comunista. De fato, um dos vetores que marcaram a orientação ideológica do regime militar foi sua autocaracterização como uma instituição guiada por princípios católicos e familiares. Quanto aos movimentos de resistência ao regime militar, no início a ação ficou mais restrita às manifestações públicas e ao setor da cultura, todavia, a partir de 1968, e mormente com a implementação do AI-5, muitos desses jovens decidiram ingressar na luta armada. A resposta imediata do governo veio na forma de prisões, torturas, sequestros, exílios e desaparecimentos. A partir desse momento, esses jovens passaram a vivenciar uma prática repressiva que tinha como constantes as experiências da tortura, do isolamento e da falta de perspectiva, num mundo em que preponderava o absurdo e a falta de leis e de ética (Baffa, 1989).
Cumpre ressaltar que essa prática repressiva funcionou como uma peça chave para o regime militar, uma vez que lhe permitiu impor a submissão, a fuga, a segregação ou a eliminação de qualquer indivíduo que tentasse resistir ao seu discurso totalizador. As torturas eram conduzidas mediante agressão física e pressão psicológica. Segundo Hélio Pelegrino, “a tortura busca, à custa do sofrimento corporal insuportável, introduzir uma cunha que leve à cisão entre corpo e mente. E, mais do que isto: ela procura, a todo preço, semear a discórdia e a guerra entre o corpo e a mente. Na tortura, o corpo volta-se contra nós, exigindo que falemos” (Pelegrino apud Arquidiocese de São Paulo, 1985, p. 281-282). Isso significa dizer que a tortura introduz um elemento cruel, que é a experiência de uma situação-limite que culmina num processo de desumanização do torturado quando este, em função

–––––––––––– Que bom te ver viva
39 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014.
da dor e da degradação, estabelece uma relação com o torturador, que o faz trair sua ideologia, suas crenças, seus companheiros.
No que diz respeito à luta armada, dados do próprio regime militar informam que a maioria dos militantes envolvidos nos movimentos de esquerda eram jovens estudantes oriundos da classe média, sendo que muitos deles eram mulheres (Arquidiocese de São Paulo, 1985, p. 85-86). Apesar dessa presença significativa de mulheres nos movimentos de resistência, na maioria das vezes a maior visibilidade é dada à experiência masculina.3 É essa prática que filmes como Que bom te ver viva, de Lúcia Murat, tentam colocar em questionamento. Lançado em 1989, o filme se estrutura a partir do contraponto que se estabelece entre o depoimento de oitos ex-prisioneiras políticas, fotografias, reportagens dos jornais da época e o monólogo de Irene Ravache, que, ao interpretar uma ex-prisioneira política, interpela o público. A proposta do filme fica clara logo no início, quando a personagem de Ravache, sentada no chão em frente a um aparelho de televisão enquanto troca um vídeo, afirma: “Vejo e revejo as entrevistas e a pergunta permanece sem resposta. Talvez o que eu não consiga admitir é que tudo começa aqui, na falta de respostas. Acho que devia trocar a pergunta. Em vez de ‘Por que sobrevivemos?’, seria ‘Como sobrevivemos?’”.
Essa mudança em perspectiva nos ajuda a entender por que, embora a questão da tortura seja uma constante na fala das ex-prisioneiras políticas, a ênfase é dada mais à forma como elas vivenciaram ou tentam superar as sequelas da tortura do que propriamente às técnicas de tortura. Da mesma forma, há uma preocupação em marcar a diversidade de vivência dessas mulheres. Por esse motivo, antes de dar a palavra a cada uma das ex-prisioneiras políticas, o filme as apresenta ao público. Num primeiro momento, o público assiste a um pequeno trecho do depoimento dessas mulheres para, no quadro seguinte, ver a imagem das grades de uma prisão em que se pode visualizar o retrato da ex-prisioneira e alguns dados sobre cada uma delas: nome completo, o grupo de resistência ao qual pertencia, o período em que esteve presa e foi torturada e, finalmente, dados mais recentes como profissão, filhos, estado civil. Neste como em outros momentos ao longo do filme, observa-se a mesma dinâmica: as cenas que se reportam ao passado são
3 Pode-se citar o caso de filmes como Pra frente, Brasil (Roberto Farias,1982), Lamarca (Sérgio Rezende, 1994) e O que é isso, companheiro?(Bruno Barreto, 1997), por exemplo.

Kátia da Costa Bezerra ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014. 40
em preto e branco, contribuindo para a criação de uma estética que marca um momento de opressão e violência.
A fala das ex-prisioneiras, no entanto, não é marcada só pela diversidade, mas principalmente pela tentativa de “relatar histórias incomuns de pessoas comuns”, como adverte Jessie Jane. Vários são os temas abordados durante as entrevistas. Em muitos momentos, elas se referem à dificuldade em encontrar um equilíbrio entre a impossibilidade de esquecer o passado e a necessidade de continuar vivendo. Maria do Carmo Brito, por exemplo, recorda o pacto de morte que tinha com o marido e o sentimento de culpa que a perseguiu por muitos anos por não ter tido coragem de tirar sua própria vida. No caso de Regina Toscano, sempre preponderou o medo de ter um ataque epiléptico durante as sessões de tortura, pois ela sabia que os torturadores se aproveitariam de sua convulsão para degradá-la ainda mais. Rosalina Santa Cruz, por sua vez, traz a questão dos desaparecidos ao se reportar ao irmão, afirmando veementemente que a figura do desaparecido foi a invenção mais cruel da ditadura porque, com “um morto sem corpo, não há o sentimento de morte”. Por essa razão, por muitos anos ela se sentia culpa quando estava se divertindo com os amigos. Se algo parece interligar a experiência dessas mulheres, no entanto, é o sentimento de perplexidade ante uma realidade que não conseguem compreender. Ao contrário do que se poderia pensar num primeiro instante, seu rememorar não é marcado só pela dor, uma vez que a gravidez é percebida como uma forma de resistência à violência, ou mesmo uma certeza de que a vida continua.4
Todavia o depoimento de duas mulheres em especial chama a atenção pela forma como elas lançam um olhar crítico sobre a atuação dos grupos de esquerda a que pertenciam. O primeiro caso é o da ex-prisoneira política que prefere ficar anônima. A audiência só tem acesso a uma carta escrita por ela e ao depoimento de uma pessoa que costumava visitá-la enquanto esteve presa. Vivendo numa comunidade mística, a ex-prisioneira fala da necessidade de encontrar um equilíbrio emocional para que se possa construir algo positivo. Na carta, ela deixa claro que “não existem moços e bandidos” e, sem aceitar o papel de vítima, atribui a violência aos dois grupos. Através do depoimento da
4 A exceção aqui seria o caso da mulher que pede para ficar anônima. Nós não temos nenhuma informação no que diz respeito a filhos.

–––––––––––– Que bom te ver viva
41 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014.
pessoa conhecida, ficamos sabendo que ela foi cruelmente torturada a ponto de se desestruturar e passar dados para os torturadores, o que resultou na sua expulsão da organização de esquerda de que fazia parte. Algo muito parecido aparece no depoimento de Maria Luiza G. Rosa. Presa quatro vezes durante os anos 70, ela fala de sua ingenuidade em acreditar que poderia mudar o mundo. Com o rosto tenso e evitando olhar diretamente para a câmera, ela descreve a forma como ela foi se desestruturando nas várias sessões de tortura até o momento em que começou a passar informação para os torturadores. Censurada por sua postura, ela relembra a dificuldade de falar sobre a tortura com os próprios companheiros de cela.5
O que se pode detectar nesses diferentes depoimentos é a forma como o filme procura se distanciar de uma série de discursos que procuram legitimar uma memória totalizadora que tem sido tradicionalmente articulada a partir de binarismos: heróis vs. terroristas, vítimas vs. algozes. Trata-se de um processo de construção da memória que, marcada por uma linguagem “militarizada”, promove uma postura “não reflexiva e que exclui a possibilidade de perguntar questões sobre a natureza da experiência” (Avelar, 2004, p. 65, tradução nossa). Que bom te ver viva foge dessa dinâmica ao trazer a dimensão do sofrimento, as tensões internas bem como os momentos de perplexidade, fraqueza, alegria e revolta na tentativa de rearticular novas leituras sobre esse período da história do país. Essa estratégia também se faz presente na forma como o filme intercala reportagens de jornais da época sobre a ação dos movimentos de esquerda com os depoimentos emocionados das ex-prisioneiras e, em alguns casos, com fotografias que registram cenas “triviais” do passado. No caso de Maria do Carmo Brito, as fotos se reportam a uma festa em família e ao convívio com o filho pequeno. As fotos de Criméia de Almeida e Jessie Jane recapturam a alegria no convívio com os filhos nascidos na prisão. Em suma, as fotografias tentam recuperar uma dimensão do dia a dia ausente dos relatos oficiais e que permite construir uma imagem com a qual a audiência pode se relacionar. Mais do que isso, ao trazer a dimensão humana como parte constitutiva dos relatos das ex-prisioneiras, o filme problematiza a
5 Uma questão, no entanto, que não se restringe ao passado uma vez que muitas delas se referem à forma como amigos e familiares reagem quando elas abordam o assunto da tortura. A sensação que elas descrevem é de uma obrigatoriedade de se calar e esquecer.

Kátia da Costa Bezerra ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014. 42
forma mitificada como os militantes têm sido tradicionalmente representados.
Esse processo de reescrita da memória se consubstancializa, portanto, através da tentativa de confrontar o passado sem se inscrever num régime de verdade que procura fixar a memória a partir de certos parâmetros. Uma memória oficial que, como argumenta Michel Foucault, estabelece as fronteiras entre o “certo” e o “errado”, sendo que o segundo termo está tradicionalmente ligado às práticas que simultaneamente ameaçam e reiteram a ordem social, legitimando a implementação de políticas disciplinares (Foucault, 2000, p. 47-48). No caso específico dos discursos sobre a ditadura militar, isso significa problematizar uma dupla vertente que tem dominado os debates sobre a ditadura: a versão dos militares e a da esquerda militante. A necessidade de trazer novas possibilidades de leitura do passado decorre do fato de que:
nem todo mundo compartilha das mesmas memórias. Há narrativas conflitantes baseadas em confrontos ideológicos. Mais do que isso, há divisões entre aqueles que experimentaram a repressão ou a guerra em diferentes estágios de suas vidas… Essa multiplicidade de memórias e narrativas do passado gera uma dinâmica particular na circulação social das memórias (Jelin, 2003, p. 37, tradução nossa).
Essa perspectiva deve ser complementada pelo fato de que, se a memória funciona como um marco na criação de um senso de pertencimento, é preciso lançar um olhar crítico sobre seu processo de criação e legitimização, uma vez que “para estabelecer os parâmetros identitários (nacional, de gênero, político ou de qualquer outro tipo), o sujeito seletivamente toma certas marcas, certas memórias que o localizam em relação ao ‘outro’” (Jelin, 2003, p. 14, tradução nossa). O problema é que certas perspectivas tentam se impor como as “verdadeiras” e isso gera tensões. Por outro lado, deve-se ter em mente que a simples compilação de dados não deve ser confundida com a memória da ditadura, uma vez que “a memória excede em muito qualquer relato factual, não importando a importância que o último venha a ter como um passo para o processo político e jurídico inicial” (Avelar, 2004, p. 64,

–––––––––––– Que bom te ver viva
43 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014.
tradução nossa).6 Avelar argumenta que “a literatura testemunhal deixou um legado muito escasso para a reinvenção da memória depois das ditaduras […]. Em outras palavras, o pior desserviço crítico que se pode fazer a esses textos, à verdade que eles contêm – factual – é tratá-los como muita crítica testemunhal tem feito: como guias históricos de alguma revolução que finalmente permitiu que o subalterno falasse livremente” (Avelar, 2004, p. 64, tradução nossa).
A tentativa de problematizar essa prática no filme não se restringe tão somente às estratégias até aqui discutidas, mas o ato de montar e desmontar os fragmentos da memória a partir da experiência de mulheres envolvidas com o movimento de resistência permite ampliar o espaço do dizível. Nesse contexto, as mulheres deixam de ser simplesmente “repositórios conservadores do arcaico nacional” e ganham livre-arbítrio no processo de transformação da nação (McClintock, 1997, p. 93, tradução nossa).7 Trata-se, por conseguinte, de uma proposta que procura interromper e contestar uma pedagogia nacionalista que legitima “uma visão homogênica e horizontal [e eu acrescentaria gendrada] associada com a comunidade imaginada da nação” (Bhabha, 2002, p. 144, tradução nossa). Depara-se, em última instância, com um rememorar em que as mulheres deixam de ser receptoras passivas e passam a ser vistas como agentes ativamente envolvidos no processo de elaboração de significados. Isso explica a necessidade de restaurar diversas formas de copresença que permitam a construção de quadros menos excludentes da memória. Pode-se mesmo dizer que a ênfase na instabilidade dos significados que se pode atribuir às experiências do passado realça a tensa dicotomia entre memória e esquecimento, remetendo para uma série de questionamentos sobre o processo de seleção e legitimação de certos quadros sociais da memória.
6 Um exemplo é o livro Brasil: nunca mais, que, organizado pela Arquidiocese de São Paulo, reúne cópias de mais de 700 processos judiciais e relatos sobre a tortura e os desaparecidos durante a ditadura militar. 7 Nira Yuval-Davis e Floya Anthias, por exemplo, designam cinco maneiras pelas quais as mulheres estão intimamente associadas ao nacionalismo: como reprodutoras biológicas, como reprodutoras de suas fronteiras étnicas e nacionais, como reprodutoras da coletividade e transmissoras da cultura, os significantes simbólicos da diferença nacional e, por último, como participantes das lutas nacionais (Yuval Davis e Anthias, 1989, p. 7). Essa percepção aponta para o caráter gendrado das nações, percebido nos "sistemas de representação cultural que limitam e legitimam o acesso das pessoas aos recursos do Estado-nação” (McClintock, 1997, p. 89).

Kátia da Costa Bezerra ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014. 44
A busca por uma nova linguagem para falar do passado também traz um novo ingrediente através da relação que se estabelece entre passado e presente. Na realidade, a pergunta que orienta o filme (“Como sobrevivemos?”) já aponta para a preocupação em interligar a experiência do presente à do passado. Um exemplo seria a correlação que se estabelece entre duas situações limítrofes, como são os casos de Regina Toscano e de Maria Luiza G. Rosa. Trabalhando com comunidades marginalizadas na Baixada Fluminense, Regina e Maria Luiza estão envolvidas com organizações de mulheres. Maria Luiza, por exemplo, faz uma correlação entre a violência da tortura e as diferentes formas de violência que fazem parte do dia a dia de muitos moradores da Baixada Fluminense. O desafio aqui reside em combater uma violência sistêmica que se traduz na falta de investimento em infraestrutura e serviços ou na ausência de políticas que poderiam propiciar uma melhor qualidade de vida para os moradores.8 O que se percebe nesse caso é que, ao entrelaçar a memória da ditadura a outras formas de violência, o filme obriga a audiência a pensar criticamente não só sobre o processo de construção da memória coletiva, mas também sobre os efeitos que a ditadura tem no momento presente. Tanto é assim que as únicas pessoas que não se sentem intimidadas ou perplexas ante o relato das torturas são os moradores da Baixada Fluminense, uma vez que, como Maria Luiza afirma, há certa identidade entre os dois grupos. Identidade essa construída a partir de certo amortecimento perante uma realidade violenta e sem sentido.
A verdade é que, ao entrelaçar as experiências do passado e do presente, mostrando a forma como a violência é parte intrínseca da estrutura social brasileira, o filme aponta para uma realidade extremamente complexa que não pode ser abarcada por uma lógica simplista e maniqueísta que se constitui a partir de categorias como “inimigo”, “vítima”, “resistência democrática” ou “o bem do povo”.9 Ao dar ênfase ao dia a dia dessas mulheres em sua constante luta por
8 De acordo com Slavoj Žižek, o foco sobre a violência subjetiva (violência promulgada pelos atores sociais) distrai a nossa atenção do verdadeiro núcleo de violência e, consequentemente, contribui para a reprodução do sistema, que permite que isso aconteça no primeiro lugar (Žižek, 2008, p. 9). Isso significa dizer que, quando a violência é percebida como circunscrita a um ato ou indivíduo, as suas dimensões socioeconômicas são obscurecidas ou se tornam invisíveis. 9 Uma prática que não está restrita ao Brasil, como advertem estudiosos como Idelber Avelar (1999) e Nelly Richard (2000).

–––––––––––– Que bom te ver viva
45 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014.
encontrar um equilíbrio que lhes permita continuar vivendo, o filme procura “combater uma ideia romântica da guerrilha”, como tão bem coloca Criméia. Isso nos ajuda a entender a forma algumas vezes agressiva com que a personagem de Irene Ravache se dirige à audiência. Em um determinado momento, por exemplo, a personagem reivindica seu direito a retomar a posse sobre o seu corpo ao argumentar em tom desafiador: “Eu gosto de trepar. Por que eu não tenho o direito de gostar? Porque marcaram o meu corpo? Não marcaram, não. É só lavar”. Ou mesmo quando questiona a forma como tradicionalmente se constroem os relatos sobre a tortura: “A tortura só pode ser descrita. Passou três dias no pau-de-arara. Ficou paralítica. Levou choque generalizado pelo corpo. Assim, rápido, curto, grosso, impessoal. Mas ninguém fez xixi no pau-de-arara, ninguém caiu do pau-de-arara, ninguém riu de ninguém”. Tal como nos depoimentos ou nas fotografias, essas intervenções procuram desestabilizar uma narrativa que procurou (e em muitos casos ainda procura) construir uma imagem épica do movimento de resistência à ditadura.
Logo, se algo marca esse ato de rememorar, é a presença de uma fala que oscila entre as esferas individual e coletiva na tentativa de ressemantizar o passado. Por essa razão, apesar de o filme trazer o choro, o medo, as contradições e o sentimento de culpa que são parte do dia a dia das ex-prisioneiras políticas, a audiência também compartilha dos momentos de alegria e das novas lutas. Em nenhum momento há a intenção de transformá-las em símbolos ou vítimas de uma resistência heroica em nome da democracia. Muito pelo contrário, depara-se com um rememorar que procura levar a audiência a questionar não só a violência do regime militar mas também o posicionamento da esquerda ao censurar ou expulsar de seus quadros os membros que, em meio à tortura, passaram informação para os torturadores. Da mesma forma, a correlação que se estabelece entre a vivência dessas mulheres ontem e hoje e o cotidiano de comunidades marginalizadas permite desnudar as mais diferentes formas de violência e seu impacto sobre os indivíduos. Não é por acaso que uma das epígrafes no início do filme, citando o psicanalista Bruno Bettelheim, informa: “A psicanálise explica por que se enlouquece, não por que se sobrevive”. É basicamente a resposta a essa pergunta que o filme tenta traçar. No entanto, para alcançar tal objetivo, a sintaxe oficial precisa ser deslocada do relato frio dos arquivos ou da retórica heroica da esquerda e trazida para a dimensão

Kátia da Costa Bezerra ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014. 46
dos indivíduos. O resultado é a presença de uma linguagem que coloca em circulação uma diversidade de verdades e silêncios, obrigando sua audiência a questionar o próprio processo de institucionalização da história – um passo crucial se quisermos um futuro diferente, como tão bem alerta Paulo Freire.
Referências
AVELAR, Idelber (1999). The untimely present: postdictatorial Latin American fiction and the task of mourning. Durham: Duke University Press.
______ (2004). The letter of violence: essays on narrative, ethics, and politics. New York: Palgrave Macmillan.
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO (1985). Brasil: nunca mais. Petrópolis: Vozes.
BAFFA, Ayrton (1989). Nos porões do SNI: o retrato do monstro de cabeça oca. Rio de Janeiro: Objetiva.
BHABHA, Homi (2002). DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation. In: The location of culture. London: Routledge.
DIAS, Reginaldo Benedito (2013). A Comissão Nacional da Verdade, a disputa da memória sobre o período da ditadura e o tempo presente. Patrimônio e memória, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 71-95.
FREIRE, Paulo (2002). Pedagogia do oprimido. 18. ed. São Paulo: Paz e Terra.
FOUCAULT, Michel (2000). Power. Essential works of Foucaut 1954-1984. v. 3. Edição de J. D. Faubion. New York: New Press.
HAAKEN, Janice (1998). Pillar of salt: gender, memory, and the perils of looking back. Brunswick: Rutgers.
HALBWACHS, Maurice (1992). On collective memory. Chicago: University of Chicago Press.
HALL, Stuart (1995). The question of cultural identity. In: HALL, Stuart et al. (ed.). Modernity: an introduction to modern societies. Cambridge: Polity Press.
HOBSBAWM, Eric (1994). Age of extremes: the short twentieth century, 1914-1991. London: Michael Joseph.
JELIN, Elizabeth (2003). State repression and the labors of memory. Minneapolis: University of Minnesota Press.

–––––––––––– Que bom te ver viva
47 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014.
MCCLINTOCK, Anne (1997). No longer in a future haven: gender, race, and nationalism. In: MCCLINTOCK, Anne; MUFTI, Aamir; SHOHAT, Ella (Eds.). Dangerous liaisons: gender, nation, and postcolonial perspectives. Minneapolis: University of Minnesota Press.
OLICK, Jeffrey K. (1998). What does it mean to normalize the past? Official memory in German politics since 1989. Social science history, Beverly Hills, v. 22, n. 4, p. 547-571.
QUE BOM te ver viva (1989). Direção e produção de Lúcia Murat. Rio de Janeiro: Taigá Filmes & Vídeos. 1 Videocassete (100 min.).
RICHARD, Nelly (Ed.) (2000). Políticas y estéticas de la memória. Santiago: Cuarto Propio.
STEPAN, Alfred (1976). The new professionalism of internal warfare and military role expansion. In: Authoritarian Brazil: origins, policies, and future. New Haven: Yale University Press.
YUVAL-DAVIS, Nira (1997). Gender & nation. London: Sage.
______; ANTHIAS, Floya (1989). Introduction. In: YUVAL-DAVIS, Nira; ANTHIAS, Floya; CAMPLING, Jo (Eds.). Women-nation-state. Basingstoke: Macmillan.
ŽIŽEK, Slavoj (2008). Violence. London: Profile.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em fevereiro de 2014. resumo/abstract
Que bom te ver viva: vozes femininas reivindicando uma outra história
Kátia da Costa Bezerra
O direito de determinar o significado da ditadura militar no Brasil tem sido o centro de uma polêmica envolvendo membros da esquerda militante e do regime militar. A linguagem usada pelos dois grupos constantemente se revolve em torno de imagens míticas de “heróis”, “vítimas” ou “para o bem do povo”. Este ensaio discute o filme Que bom te ver viva, de Lúcia Murat, que traz uma nova perspectiva para esse debate. Tendo como ponto de partida o testemunho de oito ex-prisioneiras políticas, o filme procura responder a pergunta “Como sobrevivemos?”. O ensaio discute como o filme constrói quadros de memória que vão além daqueles tidos como representativos.

Kátia da Costa Bezerra ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 35-48, jan./jun. 2014. 48
Palavras-chave: ditadura militar, mulheres, violência, livre-arbítrio, tortura, memoria.
Que bom te ver viva: female voices demanding another history
Kátia da Costa Bezerra
The right to determine the meaning of the military dictatorship in Brazil has been a constant dispute between members of the militant left and the military regime. The language used by the two groups constantly revolves around the mythic images of “heroes”, “victims”, “for the good of the people”. This essay focuses on Que bom te ver viva, by Lúcia Murat, who brings a new perspective to this debate. Taking as a point of departure the testimony of eight ex-political prisoners, the film attempts to answer the question: How did we survive?” The essay discusses how the movie builds frames of memory that go beyond those taken as representative.
Keywords: military dictatorship, women, violence, agency, torture, memory.

Revisões da masculinidade sob ditadura: Gabeira, Caio e Noll
Idelber Avelar1
Vários textos memorialísticos e ficcionais revisitaram o tema da
masculinidade durante o ocaso do regime militar, no período conhecido como Abertura, na passagem da década de 1970 para a de 1980. Contemporâneos da consolidação do movimento gay brasileiro, do começo da entrada massiva de mulheres de classe média à força de trabalho remunerada e da lei do divórcio, esses textos revisitaram, criticaram e responderam a um conjunto de operações reais e simbólicas realizadas pela ditadura militar sobre as experiências e representações do gênero.
A ditadura se ancorava, por certo, numa leitura masculinista e fálica do mundo: desbravar, entrar, penetrar foram imagens constantes na linguagem de Golbery do Couto e Silva e de outros ideólogos do regime, em especial com referência à Amazônia. A masculinidade militar era ostensivamente homofóbica, mas também, por definição, homossocial, posto que marcada pela ausência da mulher.2 A voz do regime era decididamente masculina. Na esquerda que combatia a ditadura, uma concepção franciscana de masculinidade a associava ao sacrifício e à capacidade de suportar a tortura incólume. Na cultura de massas, desde o Tropicalismo e depois com grupos como Secos & Molhados, encontravam expressão masculinidades não hegemônicas – gay, andróginas, bissexuais, travestidas. No jornalismo, inaugurava-se em 1976 a primeira coluna para o público gay, assinada por Celso Cury na Última Hora, de São Paulo, de vida breve, pois denunciada por “atentado à moral e aos bons costumes” (Green, 2006, p. 167). Processos
1 Doutor em literatura latino-americana e professor de literaturas hispano-americanas e brasileira na Tulane University, Nova Orleans, EUA. E-mail: [email protected] 2 Homossocialidade, homoafetividade e homossexualidade são termos que não se confundem ao longo deste ensaio, e devem ser tomados ao pé da letra: o primeiro termo designa os espaços regidos por mecanismos de socialização exclusivos para homens e o segundo designa um terreno de intercâmbio afetivo que pode ou não coincidir com a orientação sexual designada pelo terceiro. Com frequência – é o caso na obra de Caio Fernando Abreu, como se verá –, a homoafetividade atravessa e desestabiliza a fronteira supostamente estável entre orientações sexuais hétero e homo. Para os conceitos de masculinidades hegemônica e não hegemônica, usados neste ensaio, ver Connell (2005 [1995]).

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 50
como a crescente visibilidade das travestis e dos michês, a abertura de discotecas e saunas, e a emergência do movimento de liberação gay produziam a sensação de revolução nas concepções dominantes de masculinidade (Green, 1999, p. 251-256 e 272-77). As memórias do exílio passavam a incluir narrativas de mulheres, que relatavam desde como, nas organizações de oposição à ditadura, “a mulher funcionava como o homem da casa, ou seja, éramos nós que, por questões de segurança, mantínhamos nossos companheiros” até histórias de mulheres condenadas a uma peregrinação por serem casadas com ativistas de esquerda e portanto reduzidas a ser “sombra do companheiro”.3 Essas narrativas mostram um mundo bem diferente dos relatos masculinos do exílio, na medida em que estão consideravelmente mais atentas ao que acontece com os papéis de gênero.
A narrativa, testemunhal ou de ficção, teve em Fernando Gabeira, Caio Fernando Abreu e João Gilberto Noll três pontos de inflexão do tema na passagem da década. Gabeira foi importante inclusive na medida em que sobredimensionou seu próprio papel e conseguiu, com esse gesto, impor uma das interpretações dominantes da suposta revolução na masculinidade que teria tido lugar ali, com sua chegada do exílio, a tanga e as memórias de O que é isso, companheiro? (1979), Crepúsculo do macho (1980) e Entradas e bandeiras (1981). Naquele momento, Noll era pouco conhecido, mas já publicara um livro de contos notável, O cego e a dançarina (1980), que ganharia mais importância à luz de sua carreira de três décadas e meia ininterruptas de novelas e romances. Por sua vez, Caio Fernando Abreu, de Inventário do irremediável (1970) e O ovo apunhalado (1975) a Morangos mofados (1982), destacara zonas de indeterminação entre homo e heterossexualidade, apreendendo nelas mecanismos essenciais do funcionamento da homofobia. O exilado das memórias-testemunho, o estreante que publicara um livro de contos insólito, único para a época (não realista, não fantástico, não regionalista) e o contista que chegava ao ápice de uma carreira já então notável articularam algumas das reflexões mais originais sobre a masculinidade na virada daquela década.4 3 “Maricota da Silva: abril de 1978” e “Vânia: janeiro de 1977” (Costa et al., 1980, p. 41 e 111, respectivamente). 4 Sobre a literatura brasileira na década precedente há uma abundante bibliografia. Pela abrangência do material apresentado e pela fecundidade das hipóteses exploradas, ver Süssekind (1985) e Dalcastagnè (1996).

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
51 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
Gabeira ou a hipérbole autorrealizada Com suas memórias, sua própria carreira parlamentar posterior e o
auxílio de um filme de Bruno Barreto, Gabeira instalou um relato histórico marcado pela ideia de um antes e um depois, sendo este um momento de libertação associado pelo autor à sua própria narrativa e ao seu próprio retorno ao país. Parece-me correto dizer que Gabeira exagera seu papel, como outros estudos já demonstraram (ver em especial Ridenti et al., 1997). Mas também é correto dizer que esse exagero de certa forma deixa de sê-lo quando a narrativa produz o efeito performativo de gerar o próprio peso, a centralidade do personagem sobre quem ela antes hiperbolizara. Gabeira seria então o caso de uma narrativa autobiográfica que ganha importância exatamente na medida em que exagera o papel de seu autor – e é assim porque esse exagero se torna fundamento de uma leitura que está entre as dominantes acerca do que mudou na masculinidade no Brasil na virada dos setenta 70 para os 80.
Como enfatizava o Gabeira daquela época, havia muito a revisar na incapacidade da esquerda de lidar com questões culturais e de comportamento. Contudo, as fórmulas pop de Gabeira cumpriram o papel de reduzir os fenômenos sociais ao seu menor denominador, com o resultado de apresentar o desbunde do final dos anos 70 como uma subversão sem precedentes. Ao fazer alusão à escolha pela luta armada na década anterior, Gabeira toma o que havia sido uma sensação comum entre militantes jovens e recentes como ele e faz disso uma descrição de todo o movimento:
O sonho de muitos de nós era o de passar logo para um grupo armado. Em nossa mitologia particular, conferíamos aos que faziam esse trabalho todas as qualidades do mundo. Sair do movimento de massas para um grupo armado era como sair da província para a metrópole, ascender de um time da terceira divisão para o campeonato nacional (Gabeira, 1981, p. 86).
Na realidade, boa parte da liderança das organizações de esquerda da época tinha claro que a passagem de um movimento de massas a uma ação armada isolada por uma autointitulada vanguarda representava uma perda de ímpeto na resistência à ditadura. Não importa o quão idealizada tenha sido sua apresentação dessa escolha, o “nós” de Gabeira incluía muito menos gente do que imaginariam

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 52
aqueles que não têm notícias do papel marginal e lateral de Gabeira na resistência à ditadura (e não poderia ter sido de outra forma, dados a juventude e o caráter recente da militância do autor na época dos fatos narrados). No entanto, nenhum livro fez mais que O que é isso, companheiro? para disseminar a ideia de que as questões culturais, de comportamento e de gênero haviam sido completamente obliteradas pela esquerda nos anos 60 e emergido de forma triunfante no fim dos anos 70, em grande parte — e isso não há que se dizer explicitamente no livro — como parte da intervenção do próprio Gabeira. Além das hipérboles contidas em O que é isso, companheiro?, às quais me dediquei num trabalho anterior (Avelar, 2012),5 Crepúsculo do macho (1980), sobre seu exílio na Suécia e no Chile, e Entradas e bandeiras (1981), dedicado ao seu regresso ao Brasil, continuaram a marca registrada de Gabeira de retratar uma esquerda rançosa e homogênea contra a qual o seu discurso aparecia como expressão de uma liberação sem precedentes.
Entradas e bandeiras nos dá uma ideia bastante clara de como Gabeira via seu próprio papel. Uma forma verbal bastante reiterada no livro é o futuro do pretérito composto, através do qual o protagonista sistematicamente se coloca no lugar de seus compatriotas para fantasiar “o que eles teriam pensado”, para imaginar que eles não teriam sido capazes de compreender que sua presença era o prenúncio de uma transformação revolucionária de valores. Ao perder um voo para Aracaju, onde aconteceria um debate, Gabeira imagina “patrulhas ideológicas paradas no aeroporto, vestidas com aqueles chapéus de couro dos cangaceiros, batendo seu fuzil no asfalto da pista e gritando: quem puxa fumo, perde o rumo, quem puxa fumo, perde o rumo” (Gabeira, 1981, p. 115). Quando um amigo de esquerda lhe confia sua preocupação de que uma matéria sobre ele, publicada no jornal Última Hora, poderia não ser muito positiva, Gabeira pressupõe que se tratava de sua masculinidade polêmica:
se Última Hora fizesse alguma alusão sobre minha masculinidade, não iria me defender com o velho argumento liberal de que não se deve tocar na vida particular das pessoas […] Há muitos anos que nada tinha a ver com um sistema que oprimia as pessoas e muito menos com uma visão da sexualidade que era a outra face dessa opressão (Gabeira, 1981, p. 85).
5 Os três parágrafos que seguem, sobre Entradas e bandeiras, canibalizam trechos desse ensaio.

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
53 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
A confiança com a qual Gabeira afirma que já não tem nada a ver o sistema opressivo sexista já diz tudo o que se deve saber acerca de como o ex-guerrilheiro viu seu regresso ao Brasil.
Em temas como os movimentos ecológico, afro-brasileiro ou de mulheres, Entradas e bandeiras mostrava um exilado que voltava a um país que já não conhecia muito bem, apesar de ele não parecer tê-lo percebido. Ao relatar seu encontro com Gilberto Gil, Gabeira fala com aprovação da volta de Gil, então recente, às suas raízes africanas. Em consequência disso, Gabeira passa a manifestar seu desejo de uma presença mais decisiva do movimento negro com a seguinte pergunta: “Quando é que voltariam os amigos negros que se foram para o exterior, a fim de transmitir a experiência aprendida em outras terras?” (Gabeira, 1981, p. 120). Parece ter escapado a Gabeira a possibilidade de que os afro-brasileiros que nunca haviam saído do país já estivessem ocupados construindo um poderoso movimento cultural e político havia mais de uma década. Outro exemplo revelador de como Gabeira viu seu papel no regresso foi seu comentário sobre um debate de que participaria na Amazônia: “Ali não seria necessário falar da importância da ecologia, pois o movimento mais importante era exatamente a defesa da Amazônia” (Gabeira, 1981, p. 126).
É de se notar que um intelectual que acabava de desenvolver preocupações ecológicas não pensasse na possibilidade de que a ecologia era um tema apropriado de conversa precisamente porque ele poderia aprender algo de um movimento que tinha uma longa história e sólidos laços com seu ambiente. Inclusive a crítica de Gabeira aos sonhos grandiosos da esquerda parece tê-lo levado a uma percepção um pouco inflada de seu papel: “Minha passagem não aumentou o nível de consciência e de organização da classe operária, nem tornou diretamente mais próximo o fim do sistema capitalista. Mas conseguira introduzir uma série de temas importantes para a felicidade das pessoas, temas que não podem esperar por uma incerta e longínqua revolução proletária” (Gabeira, 1981, p. 165). Se é verdade que o parágrafo seguinte reconhece que ele não foi o introdutor desses temas, Gabeira não deixa de comentar que o que havia no Brasil antes de sua chegada eram “sementes de minhas posições”. O certo é que havia bem mais que sementes das posições de Gabeira no Brasil dos anos 70, e nesse sentido é notável que praticamente nada do mundo das masculinidades não hegemônicas que se constituíam ali tenha

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 54
encontrado eco nos textos de Gabeira.6 As declarações ou premissas de ineditismo de Gabeira também passavam ao largo do universo que a obra de Caio Fernando Abreu já havia tecido ao longo da década de 70.
Caio e a rasura da fronteira
Pode-se pensar inclusive que Caio é o antípoda de Gabeira, ou seja,
Caio é a figura cuja extrema importância na reinvenção de masculinidades não hegemônicas é multiplicada pela sua modéstia e percepção pouco inflada do seu próprio papel. Quanto a essa importância de Caio, acerta em cheio Jaime Ginzburg quando diz que
embora seja conhecido por sua ficção intimista e pela sua incursão na temática do homoerotismo, Caio Fernando Abreu ainda está por ser compreendido em um de seus lados mais fortes: a política. Escritor de resistência, não sem contradições, Caio é responsável por alguns dos principais momentos de lucidez crítica com relação à opressão do regime militar, na ficção brasileira (Ginzburg, 2012, p. 405).
Entre a importante produção de Caio no período da ditadura militar cuja análise poderia nos aproximar da compreensão que Ginzburg reclama, está o conto “Ascensão e queda de Rhobéa, manequim e robô”, uma ficção científica sobre masculinidades não hegemônicas publicada em O ovo apunhalado (1975). O texto relata uma distopia resultante de uma praga tecnológica que mata “os contaminados”. Os sobreviventes são perseguidos, expulsos e destruídos. Quando a comunidade aparentemente volta ao normal, o poder central passa a propagandear e vender partes metálicas dos corpos pertencentes à minoria supostamente extinta. Tudo funciona até que um jornalista encontra alguns possíveis sobreviventes. Inicialmente desqualificado com epítetos homofóbicos, ele prossegue na pesquisa, publica e em última instância tem sucesso, ao mostrar que o povo não havia mesmo se esquecido da “Praga Tecnológica”. Um autointitulado “movimento tecnológico” se põe de moda e começa a gerar receitas para o país.
6 Para trabalhos mais exaustivos, ver Green (1999, 2006). Em estudos como os de Green, publicados nos anos 1990 e 2000, descortinam-se com mais detalhe várias práticas dos anos 1970 das quais alguém que fazia em 1980 os reclamos de ineditismo que fez Gabeira teria que ter tido pelo menos notícia.

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
55 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
Enquanto isso, num canto escondido, os sobreviventes continuam a se reproduzir até que a polícia os encontra e os extermina, com exceção de uma jovem, Rhobéa, feita de aço e com olhos de vidro. Depois de ser lançada na prisão, sua trajetória segue o padrão estabelecido no conto: salva por um designer, ela se torna famosa e é eleita rainha das atrizes por cinco carnavais consecutivos, até que misteriosamente foge para uma ilha deserta na qual vive o resto dos seus dias. Aos rumores de que era lésbica, segue-se a publicação do diário de uma jovem, intitulado Minha vida com Rhobéa, que se torna um best-seller e leva a autora à indicação ao prêmio Nobel. O relato vai então seguindo um padrão, de exclusão seguida pela recuperação e cooptação. Quando chega a notícia de que Rhobéa cometeu suicídio, os seus restos mortais são embalsamados na praça, sua vida é lembrada em várias publicações, e as travestis passam a se inspirar nela.
Apesar de que o registro fantástico, alegórico, que encontramos nesta ficção científica não seria dominante na sua obra, “Ascensão e queda de Rhobéa” estabelecia alguns motivos que seriam reiterados na narrativa de Caio em diferentes estilos. Dedicado a Elke Maravilha, o conto põe em movimento uma dinâmica comum nas representações da exclusão na obra de Caio. A violência da marginalização, e não só a homofóbica, é representada de forma a não se limitar ao estatuto de denúncia. As histórias de Caio captam uma dialética entre exclusão e inclusão que costuma eludir a literatura mais ativista ou diretamente política. No caso de “Ascensão e queda de Rhobéa”, no entanto, a alegoria política salta ao primeiro plano: os “contaminados” são expulsos e destruídos para depois ressurgirem. Rhobéa passa por horrores indizíveis, mas sobrevive como moda apropriada pela lógica do poder e transformada em emblema lucrativo. Isso não elimina nem cancela suas possibilidades contra-hegemônicas, mas exige a retirada para a ilha e a estigmatização como “homossexual”. Exige um reposicionamento.
“Ascensão e queda de Rhobéa” mostra como os sujeitos excluídos por razões de identidade de gênero ou orientação sexual fazem da reapropriação uma de suas estratégias centrais. As travestis — membros de um dos grupos mais vulneráveis e perseguidos na sociedade brasileira e nas sociedades ocidentais — são as que mais adotam os traços da personagem principal popularizados pelo poder. Ao fazê-lo, elas os ressignificam e demonstram que a relação dos marginalizados com o poder não é de exclusão completa, se com isso pensamos que eles

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 56
ocupariam uma posição de total exterioridade em relação a ele. Elas também transformam e são transformadas pelo poder, são engolidas e expulsas e de novo engolidas num movimento narrativo em espiral. “Ascensão e queda de Rhobéa” representa essa posição de masculinidade através de uma personagem associada à homossexualidade e a uma doença contagiosa, quase uma década antes da epidemia de AIDS, que vitimaria o seu próprio autor.
Apesar de que seus livros posteriores escolheriam registros distintos, Caio voltaria a explorar ambiguidades entre inclusão e exclusão, cooptação e subversão ao longo de sua trajetória.7 Já o seu primeiro livro de contos, Inventário do irremediável, retratava uma zona de indeterminação entre a hétero e a homossexualidade que acionava irrupções de homofobia mais nítidas que aquelas que reagem a práticas e identidades gays propriamente ditas. Um experimento com esse modelo de narrativa se intitula “Madrugada” e retrata o encontro entre dois homens no bar, ouvindo um ao outro “com a sabedoria dos que não têm nada para dar”. Eles se identificam com a lucidez dos bêbados, imediatamente suspeitando que têm algo em comum. Como é de costume na ficção de Caio, essa comunidade inclui experiências dolorosas com as mulheres. Um deles suspeita que a noiva o está traindo. O outro foi casado e suspeita que as viagens da mulher eram desculpas para ver o amante. Ambos eram operários insatisfeitos. O narrador nos diz que “tudo neles era recíproco” e a intimidade entre eles começa a atiçar a homofobia dos outros homens no bar: “Não era permitido a duas pessoas se encontrarem e, ostensivas, humilharem a todos com sua infelicidade dividida” (Abreu, 2005, p. 111). A crescente hostilidade leva o dono do bar a se alinhar à maioria e pedir-lhes que saiam. O maior — de uns 1,90m – pensa em brigar, mas o outro, “mais fraco e portanto mais realista”, convence-o de que não é de interesse deles. De braço dado, saem pela madrugada.
“Madrugada” põe em cena um caso depois bem reiterado na ficção de Caio: a homossocialidade, sem alusão a homoerotismo ou qualquer outra manifestação de masculinidade não hegemônica, provoca por si só um bombardeio de homofobia. A representação de uma zona de indeterminação entre homo e heterossexualidade desestabiliza,
7 Para uma análise da ficção de Caio em relação com a implantação do dispositivo da sexualidade, ver Leal (2002).

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
57 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
chacoalha, sacode a ordem heteronormativa mais profundamente que um ativismo identitário gay. A representação da homofobia no conto ganha toda sua significação, naturalmente, do fato de que nenhum dos dois homens se identifica como gay e nada em sua interação autoriza o leitor a acreditar que sejam. Não há sequer sugestão de contato sexual ou sensual de qualquer tipo, mas a intimidade entre eles é suficiente para desatar uma reação homofóbica em pânico. Assim como os estudos críticos sobre raça demonstraram que o racismo não é a discriminação com base em uma noção previamente constituída de raça, mas o contrário, ou seja, que a própria invenção do conceito de raça é um capítulo na história do racismo. É comum em Caio que o relato sugira uma cena contraintuitiva, a saber, que a homofobia não depende em absoluto da, não mantém relação com, prática homossexual. Ela é engendrada por processos que não dependem em nada da proximidade de homens gay. Os dois personagens de “Madrugada” estabelecem uma relação que é única para cada um deles e criam um espaço no qual podem compartilhar experiências não compartilhadas antes. Algo sem precedentes acontece com seus afetos enquanto afetos masculinos. A incerteza e a instabilidade ao redor, que a cena produz no contexto heteronormativo e homofóbico, toma a forma de uma reação violenta. Nas ficções de Caio, mais que uma suposta identidade gay unitária e ativista, o que desestrutura a ordem heteronormativa é a rasura da fronteira entre homo e heteroafetividade.8 Na cena em que se dá essa rasura produz-se o golpe mais duro contra a masculinidade hegemônica.
“Aqueles dois” mostra uma versão mais elaborada dessa cena. Trata-se da penúltima história do livro Morangos mofados, volume de importância merecedora de algumas palavras a mais. Publicado em 1982 na coleção Cantadas literárias, da Brasiliense, Morangos mofados foi emblemático daquela inovadora série inaugurada por Luiz Schwarz. Com um design juvenil, estética pop, capas bem coloridas, formato inovador, a coleção lançou para um público mais amplo vozes como Ana Cristina César, Marcelo Rubens Paiva e Reinaldo Moraes, este último um bom amigo de Caio. Cantadas literárias foi uma série em claro
8 Um amplo diálogo com esse efeito produzido pela obra ficcional abriu-se, claro, com a publicação em 2002 das Cartas de Caio, selecionadas e prologadas por Ítalo Moriconi. Como nota Moriconi, essas cartas cumprem efetivamente o papel de diário enquanto Caio administrava as oscilações de suas condições físicas e estados de ânimo (Moriconi, 2002, p. 13).

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 58
diálogo com seu tempo, o da redemocratização, da consolidação dos movimentos de mulheres, afro-brasileiros(as) e LGBTs, assim como a emergência de estilos literários em consonância com uma sensibilidade pop. Os contos de Morangos mofados eram emblemáticos, já que lidavam com experiências como a descoberta sexual, a homofobia, o mundo do rock’n’roll, as drogas ou a desilusão imposta pela ditadura. A capa colorida e a linguagem informal e pop não impediria que o livro lidasse com as experiências mais traumáticas, nas quais o passado recente aparecia de forma fantasmagórica, como irrupção alucinatória. Como notou Jaime Ginzburg, em Morangos mofados, “silêncios, lapsos, ambiguidades e descontinuidades apontam constantemente para a implosão das condições necessárias para a clareza da fala, dando lugar a elaborações em que o detalhe impressionista, a metáfora e o ritmo assumem funções semânticas” (Ginzburg, 2005, p. 40). Foi o livro que catapultou Caio Fernando Abreu à condição de figura icônica de sua geração.
Em “Aqueles dois”, um narrador em terceira pessoa algo distante nos diz que Raul e Saul foram contratados separadamente numa firma. Ele nos avisa que, apesar da discrição deles, “desde o princípio alguma coisa – fados, astros, sinas, quem saberá? conspirava contra (ou a favor, por que não?) aqueles dois” (Abreu, 1982, p. 127). Como em “Madrugada”, os personagens estão saindo de relações frustradas com as mulheres. Raul vinha de um casamento fracassado de três anos, sem filhos, e Saul vinha de um “noivado tão interminável que terminara um dia”. Eles não tinham ninguém na cidade e eram ambos estrangeiros naquela repartição, um “deserto de almas”9. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado – índice daquele começo dos 80 marcado pelo aluguel de linhas telefônicas no Brasil –, um toca-discos e um sabiá de nome Carlos Gardel numa gaiola. Saul era proprietário de uma TV a cores com defeito, cadernos de desenho, tubos de tinta e um livro de reproduções de Van Gogh. Mais altos que seus colegas, “quando juntos eles aprumavam ainda mais o porte”. Eram homens bonitos, que convidavam olhares das mulheres. Nenhum dos dois tinha pinta de alguém que carimba papéis oito horas por dia. Imperceptivelmente para si próprios, começam a se comportar como se existisse uma “estranha e secreta harmonia” entre eles, mas seu contato continua discreto, apesar de cordial. 9 Como se trata de conto bastante curto, optamos por não acrescentar as referências às citações, para evitar repetição desnecessária de páginas. O mesmo vale para o conto de João Gilberto Noll “Cenas imprecisas”, analisado mais adiante

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
59 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
Um dia Saul chega à repartição atrasado e sem se barbear, e conta que havia ficado assistindo a um filme, Infâmia (The children’s hour), baseado em peça de Lillian Hellman, dirigido por William Wyler e no qual estrelam Audrey Hepburn e Shirley MacLaine. Para o leitor que conhece o filme, já se antecipa ali, en abyme, o tema do próprio conto, já que o filme narra o pesadelo vivido por duas professoras do ensino médio que são falsamente “acusadas” de serem lésbicas. Ninguém na repartição conhecia o filme, exceto Raul. Daí parte-se para o café e um dia compartilhado conversando sobre o filme. O cinema se torna um mediador na relação dos dois homens, e eles começam a desejar que os fins de semana passem depressa para que venha logo a segunda-feira que marca o reencontro. As mulheres da firma começam a planejar festas e eventos, mas eles continuam a sair juntos para falar de filmes. Depois dos primeiros drinks, finalmente conversam sobre os relacionamentos passados, fracassados, com mulheres. Os fins de semana se tornam tão longos que decidem trocar telefones. Tudo acontece bem devagar na história e o ritmo mais lento vai produzindo um efeito: a expectativa sobre o estreitamento do laço que os une. A chave da história passa a ser o fato de que nada ocorre ou, melhor dito, ocorre a homofobia antes que a homoafetividade sequer se consolide.
Numa tarde de domingo Saul decide ligar e fazer a primeira visita a Raul. Jantam juntos, conversam, trocam experiências. Raul toca o tango “Tú me acostumbraste” no violão e Saul faz amizade com o sabiá, Carlos Gardel. Retornam ao trabalho na segunda sem dizer nada um ao outro e, sem que percebam, os colegas começam o cochicho e a fofoca. No aniversário de Saul, Raul, sem um tostão, lhe presenteia a gaiola com Carlos Gardel. No aniversário de Raul, é a vez de Saul presenteá-lo com uma de suas próprias posses, a reprodução do Quarto em Arles, de Van Gogh. Agora Raul e Saul já passam os domingos juntos e um dia, por causa da chuva, Saul acaba passando a noite no sofá de Raul. Ao chegarem juntos na segunda-feira, de cabelo molhado, as mulheres deixam de se dirigir a eles. No começo de dezembro, com a morte da mãe de Raul, ele viaja por uma semana e Saul se vê incapaz de se concentrar no trabalho. Na volta de Raul, o apoio de Saul faz que ele enuncie as palavras mais ternas que trocam em todo o conto: “Eu não tenho mais ninguém no mundo”, e logo depois um “Você tem a mim agora”.
No Natal e no Ano Novo, eles de novo recusam os convites dos colegas e passam tempo juntos, trocando outro par de presentes

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 60
significativos. Raul dá ao amigo a reprodução de O nascimento de Vênus, de Botticelli, e Saul retribui com uma coletânea de Dalva de Oliveira. Depois da festa de Ano Novo, eles bebem, vão para o quarto, se despem juntos, elogiam o corpo um do outro e deitam-se em camas separadas, incapazes de dormir, observando o cigarro que o outro acende. Não demora muito para que o chefe os convoque a uma reunião em que relata ter recebido cartas que falavam de uma relação “anormal”, um “escândalo” de “psicologia deformada”. As cartas vinham assinadas por um “Guardião da Moral”. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, são despedidos. Esvaziam suas gavetas, partem e, quando Raul abre a porta do táxi para Saul, alguém faz uma brincadeira homofóbica da janela. A repartição aparentemente volta à normalidade. As últimas frases do conto são implacáveis: “Quase todos ali dentro tinham a sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram”.
A temporalidade do relato é curiosa. Os marcos na relação de Saul e Raul – as primeiras conversas, as visitas, a escolha de se manterem distantes dos colegas, a primeira troca de presentes etc. – se espalham pela superfície do texto como a criar um tempo alongado, apesar de “Aqueles dois” ser um conto curto, de 2.800 palavras. Eles são despedidos antes das primeiras férias, em janeiro, o que sugere que estavam completando um ano no emprego. O tempo acelera ou se arrasta segundo o que lhes acontece: cinco dias num escritório brutalmente desumanizador passam depressa na medida em que afloram seus sentimentos pelo outro, enquanto um mero fim de semana parece intolerável e longo antes que comecem as visitas dominicais. Por outro lado, há uma temporalidade própria à homofobia. As mulheres da repartição aos poucos passam de tentar seduzi-los a ignorá-los por completo, enquanto os homens começam na tentativa de “sacar qual é a deles” e passam a uma atitude abertamente hostil. A temporalidade da homofobia na história pode ser exemplificada com referência à proposta de Ricardo Piglia em suas “Tesis sobre el cuento”, de que um conto sempre narra duas histórias (Piglia, s/d). Os estilos e traços pessoais dos vários autores dependeriam de como decidem relacionar a história 1 e a história 2, a história de superfície e a história secreta. Se estabelecemos que a história 1 desenvolve a relação homoafetiva entre Raul e Saul e a história 2 retrata o pânico homofóbico na repartição, o que é mais notável no conto de Caio é que a história 1 não precede a história 2. Ou seja, a natureza da relação que os ata não é determinada imanentemente,

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
61 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
mas à luz da pressão do preconceito e da discriminação. Não costuma haver, nos contos de Caio, qualquer homoafetividade consolidada previamente à emergência da homofobia. O conto coloca as duas histórias em diálogo, mas a segunda – a homofobia que vai se constituindo no escritório – serve de mola propulsora da resolução da trama.
Como seria de se esperar, os artefatos culturais citados no conto adquirem, todos eles, função simbólica. O filme que inicia a relação dos dois, Infâmia, replica en abyme o destino dos personagens, perseguidos pela homofobia. No caso do filme, a acusação de que as professoras Martha e Karen teriam tido relações lésbicas termina sendo ainda mais devastadora e leva Martha ao suicídio. Para qualquer leitor com uma formação mínima na literatura nacional, o sabiá do conto evocará a “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, marco da poesia romântica nostálgica e imagem por excelência da saudade e do desejo de domesticidade. Tampouco surpreende que a canção escolhida por Raul para o violão seja o bolero “Tú me acostumbraste”, de autoria do cubano Frank Domínguez, melancólico e evocativo de um amor que transforma uma vida. O próprio nome do sabiá, Carlos Gardel, evoca também o universo do tango, gênero popular todo construído em torno a um mundo masculino do lamento e as relações frustradas com mulheres.
A reprodução de Van Gogh, guardada no quarto de Saul e depois dada a Raul com presente de aniversário, é descrita como “aquele quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, o chão de madeira”. A alusão é clara a Quarto em Arles, óleo sobre tela em três versões, a primeira de 1888, que retrata a alcova de Van Gogh na praça Lamartine, 2, em Arles, Bouche-du-Rhône. Trata-se da pintura mais emblemática do período da espera de Van Gogh pela chegada de Paul Gauguin a Paris. É considerável a especulação sobre a relação homoafetiva entre Van Gogh e Gauguin, assim como sobre a possível condição de Van Gogh de homem gay no armário. A pintura, em todo caso, retrata a espera de um homem por outro homem e um quarto, e isso é o que importa e basta aqui. Em carta de 16 de outubro de 1888 a seu irmão Theo, Vincent Van Gogh dizia que gostaria que as cores fizessem tudo no quadro. O quarto com a cama, a mesa de cabeceira, as duas cadeiras em tons básicos, tudo reforça a sensação de solidão e espera. Tanto na pintura como na música, a relação de Saul e Raul encontra alegorias que vão sendo trocadas: Saul fica com a letra de “Tú

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 62
me acostumbraste”, copiada por Raul, enquanto este fica com a reprodução de Van Gogh que pertencera a Saul.
Ao contrário de boa parte da literatura gay mais ativista, a ficção de Caio não retrata nunca a saída plena do armário ou a tomada de consciência. Não costuma haver nada de muito heroico na trajetória dos personagens de Caio. No caso de “Aqueles dois”, fundamental para o efeito da história é o fato de que sabemos que os personagens não se identificam como gays e, se os leitores e os colegas de repartição não sabem qual é a natureza daquilo que os une, eles tampouco o sabem. Estão atados por um afeto que ainda não tem nome: “Não tinham preparo algum para dar nome às emoções nem mesmo para tentar entendê-las”. Essa zona de indeterminação acaba sendo enlouquecedora para os colegas de escritório, que assumem a posição de guardiões da ordem heteronormativa. Mais ameaçador para essa ordem não é, portanto, a possível presença de dois homens gays, mas o fato de que a fronteira supostamente estável entre homo e heterossexualidade parece se desfazer. O que deixa os colegas enfurecidos é o fato de que não sabem compartimentalizar as identidades sexuais de Raul e Saul, mas a ironia extra do conto, claro, advém de que os dois personagens tampouco o sabem, ou pelo menos o relato não nos oferece indícios de que o saibam. É precisamente pela falta de conhecimento de Raul e Saul acerca de sua própria identidade – sua condição de significantes vazios, por assim dizer – que eles passam a assumir múltiplos sentidos para aqueles ao seu redor. No minuto em que a chegada de dois homens possivelmente gays obriga os colegas a falar do assunto, desmorona o pacto tácito sobre o que significa ser homem e eles reagem com violência. A literatura de Caio mostra que um dos requisitos para que se mantenha um edifício estável da masculinidade é o silêncio em torno aos rituais que a sustentam.
Noll e o sumiço do pai
A relação com o pai e as imagens de putrefação e decadência, que
seriam reiteradas na obra posterior de João Gilberto Noll, apareceriam já em “Cenas imprecisas”, relato de O cego e a dançarina que capta dimensões fundamentais da vida no Brasil sob ditadura militar. “Cenas imprecisas” oferece um impactante cenário pós-apocalíptico advindo de uma represa: “E a cidade? Olho-a também abandonada porque este rio

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
63 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
avançará e não deixará uma única casa. Os habitantes se foram. Dizem que a construção de uma represa obrigou a isso” (Noll, 1986 [1980], p. 92). A profecia é acompanhada da descrição da destruição acontecida. A voz do garoto que narra a história no primeiro parágrafo do conto alterna trechos no futuro e no pretérito, e se situa num presente que vive os efeitos da catástrofe que já aconteceu (“não vemos ninguém neste cais deserto”) e no qual outra catástrofe é anunciada como iminente (“daqui a pouco virão os funcionários da Construtora para desferir os últimos golpes preparativos antes do afogamento da cidade”). Esse parágrafo, que abre o conto em primeira pessoa, é narrado pelo filho antes de que o texto, abruptamente, sem nenhuma indicação tipográfica ou de pontuação, passe à terceira pessoa que será a forma narrativa até o final. O filho estrangula uma mulher durante a cópula, deixa uns versos que preveem o afogamento da cidade e termina tragado pelas águas. O pai é um ex-fazendeiro que agora “explora mulheres, e os homens que frequentam seu bordel prestam serviços descabidos para pagar os desejos”. O conto será, então, a história da realização dessa profecia e da busca policial pelo personagem, culpado de assassinato. A busca se dá no bordel de propriedade do pai do rapaz profeta.
A figura do profeta louco, de longa história na contística brasileira, de Machado de Assis a Murilo Rubião, aparece encarnada nesse personagem contra-hegemônico:
Mesmo sendo filho dos donos dessas terras, preferiram me ver como um louco, e meu pai foi o primeiro a atrair o internamento. O sanatório ficava em Rio D'Aurora, a 80 quilômetros daqui. Daqui a pouco virão os funcionários da Construtora para desferir os últimos preparativos antes do afogamento da cidade (Noll, 1986 [1980]).
Noll introduz essa figura no cenário surreal, alucinatório do barragismo promovido pela ditadura militar, compondo em seu relato o sombrio panorama que acompanha o negócio da construção de represas: a precarização do trabalho, o onipresente bordel, a força policial, remoções e um rastro de promessas.
“Cenas imprecisas” retrata os sobreviventes da hecatombe impossibilitados de “se integrar nos trabalhos reservados a eles”, enquanto “sonham com mentiras, vivem deitados pelos cantos, se coçando, se maldizendo”. Fica clara a menção às promessas da indústria barrageira às suas vítimas. No cenário eminentemente masculino construído por “Cenas imprecisas”, no bordel do pai, ex-dono de terras,

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 64
ele força os clientes a que “contrabandeiem armas, se suicidem para incriminar os capangas do prefeito e gozem nas mulheres doze vezes seguidas”. Na atmosfera, tom e cenário claustrofóbico e alucinatório, “Cenas imprecisas” recorda relatos publicados alguns anos antes por J.J. Veiga, mas enquanto em Veiga se vislumbrava uma origem fantástica da história, como na invasão de bois que ocupam a cidade em A hora dos ruminantes, Noll parte de uma origem mimeticamente plausível, a construção da represa, e vai compondo uma cena de terror que bordeja a inverossimilhança mágico-fantástica.
Na carta profética deixada pelo garoto louco tragado pelas águas, ele antecipava não só o afogamento da cidade, mas a cena em que os policiais se encontrariam com seu pai, este maldiria “o nome sórdido do meu filho” e desejaria que ele fosse “comido pelos bichos por aí”. A cena teria um final previsível: “o pai acalmaria o povo e os policiais oferecendo a todos uma festa no bordel onde só não seria permitido a penetração anal em homens”. O interdito homofóbico caminha de mãos dadas com a indústria da prostituição fomentada pelo barragismo, que arrasta uma legião composta por homens que viajam sós. Na carta do filho, mais marcantes que a previsão seriam “o óbvio disso tudo” e a ideia de que “sua morte [do pai] seria um ato de extrema contestação ao óbvio da vida”. Quando o protagonista escreve na carta que “sei de cor todos os passos do destino da cidade. Eu quero um outro teatro […] porque este eu conheço não sei quantos milhares de vezes”, é como se Noll dissesse ao desenvolvimentismo brasileiro e às suas ilusões de progresso: “este filme nós já vimos e eis aqui como ele termina”.
Depois da orgia, o pai também amanhece morto, “os policiais presumiram que envenenado”. Segue-se o massacre que cerra o círculo dantesco, quando a polícia busca o jovem que havia assassinado a mulher. O assassino já havia sido levado pelas águas:
No meio daquele povo arrotando azedumes da noite, estirado pelo chão e dormente de ressaca, os policiais descobriram que seria impossível encontrar o criminoso. E eles não tinham tempo de ficar mais um dia na cidade. Então resolveram fazer justiça com suas próprias mãos (Noll, 1986 [1980]).
O conto conclui com a impressionante imagem de uma longa mesa com o cadáver do pai, rodeada pelo povo do lugar. “[M]as não era como qualquer morto, ele roncava como se ainda estivesse no sono da ressaca, arrotando gases apodrecidos, sons engrolados, rajadas de blasfêmias”.

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
65 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
É como se a imagem do cadáver do pai carregasse em si toda a podridão da história, toda a desolação do lugar, toda a violência pretérita. A cena que precede “o fuzilamento de todos os suspeitos ou quase todos”, essa imagem de “réus desguaridos e policiais prometendo matar diante de um morto que ronca”, poderia ser tomada como uma alegoria composta pelos restos, frangalhos, cadáveres deixados para trás (“o filho apodrece sem sepultura ou qualquer testemunha que não os urubus”) no Brasil potência que se expande durante a década de 1970 sob a ditadura militar. O conto se reveste de uma impressionante atualidade na primeira metade da década de 2010, em que o barragismo e o projeto desenvolvimentista para a Amazônia do governo Dilma Rousseff retomam a geopolítica de Golbery do Couto e Silva, o formulador da concepção de Amazônia adotada pelos algozes da ex-guerrilheira e atual presidenta.
A representação do pai em “Cenas imprecisas” faz de sua figura uma espécie de fardo da história no contexto do desenvolvimentismo arrasa-quarteirão do regime militar. O filho prevê que o pai “será regiamente indenizado” e “comprará outras terras, terá outras riquezas”, e o pai diz aos policiais que buscam o garoto pelo assassinato que “não quero que falem nesse nome sórdido do meu filho”. Ou seja, pai e filho estão a destempo um do outro, separados por uma fissura. Ao contrário de “Alguma coisa urgentemente”, conto da mesma coleção em que Noll também retrata uma relação entre pai e filho, mas no qual aquele é um guerrilheiro contra a ditadura militar, “Cenas imprecisas” retrata um pai que é cúmplice, e não opositor da ordem estabelecida. A carta deixada pelo filho se desmancha com a primeira chuva e não é vista por ninguém, mas ali se prevê um desenlace em que o pai “acalmaria o povo e os policiais oferecendo uma festa no bordel”. Só não prevê a impossível morte do pai, provavelmente por envenenamento, em que o cadáver permanece como objeto público, sacrificial rodeado pelos sobreviventes e pela polícia. Ainda que por envenenamento e não por violência, o fato de ter sido cúmplice do projeto não impede que o pai de “Cenas imprecisas” tenha o mesmo fim do pai em “Alguma coisa urgentemente”: a degeneração do corpo seguida de morte, em um caso prevista, no outro testemunhada pelo filho.
Com contos como “Alguma coisa urgentemente” e “Cenas imprecisas”, Noll inicia uma espécie de autópsia da masculinidade hegemônica, ainda mais incisiva pelo fato de enfrentar-se com o legado

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 66
da ditadura militar sobre a decomposição dessa masculinidade. Em todo caso, tanto Gabeira como Caio como Noll apresentam respostas bem elaboradas a essa ruína: em todos eles se produz uma rasura, um borramento na fronteira entre a hétero e a homoafetividade e/ou sexualidade. Se em Gabeira ela é alardeada como mais pioneira e desestabilizadora do que realmente foi, em Caio ela parece ter sido mais política do que faria crer a imagem do escritor intimista. A ditadura, que impôs uma concepção tão fálica de mundo, representou também o começo da ruína de uma imagem hegemônica do masculino. Ou ajudou a tornar visível uma ruína que talvez já tivesse vindo de longe, da própria invenção da masculinidade enquanto tal, sempre acossada por uma crise que se confunde com sua própria existência.
Referências
ABREU, Caio Fernando (1975). O ovo apunhalado. Porto Alegre: Globo.
______ (1982). Morangos mofados. São Paulo: Brasiliense.
______ (2002). Cartas. Organização de Ítalo Moriconi. Rio de Janeiro: Aeroplano.
______ (2005). Caio 3D: O essencial da década de 1970. Rio de Janeiro: Agir.
AVELAR, Idelber (2012). Fernando Gabeira y la crítica de la masculinidad: la fabricación de un mito. In: El lenguaje de las emociones: afecto y cultura en América Latina. Edição de Ignacio Sánchez Prado e Mabel Moraña. Madri: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert.
CONNELL, Raewyn W. (2005 [1995]). Masculinities. 2. ed. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
COSTA, Albertina de Oliveira et al. (Orgs.) (1980). Memórias das mulheres do exílio. Rio: Paz e Terra.
DALCASTAGNÈ, Regina (1996). O espaço da dor: o regime de 64 no romance brasileiro. Brasília: Editora UnB.
GABEIRA, Fernando (1980). Crepúsculo do macho. Rio de Janeiro: Codecri.
______ (1981). Entradas e bandeiras. Rio de Janeiro: Codecri.
______ (1981 [1979]). O que é isso, companheiro?. 21. ed. Rio de Janeiro: Codecri.

–––––––––––– Revisões da masculinidade sob ditadura
67 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014.
GINZBURG, Jaime (2005). Exílio, memória e história: notas sobre “Lixo e purpurina” e “Os sobreviventes” de Caio Fernando Abreu. Literatura e sociedade, São Paulo, n. 8, p. 36-45.
______ (2012). Crítica em tempos de violência. São Paulo: EDUSP.
GREEN, James (1999). Beyond Carnival: male homossexuality in twentieth-century Brazil. Chicago, Londres: University of Chicago Press.
______ (2006). Frescos trópicos: fontes sobre a homossexualidade masculina no Brasil (1870-1980). Rio de Janeiro: José Olympio.
LEAL, Bruno Souza (2002). Caio Fernando Abreu, a metrópole e a paixão do estrangeiro: contos, identidade e sexualidade em trânsito. São Paulo: Annablume.
MORICONI, Ítalo (2002). Introdução. In: ABREU, Caio Fernando. Cartas. Rio: Aeroplano.
Noll, João Gilberto (1986 [1980]). O cego e a dançarina. 2. ed. Porto Alegre: L&PM.
PIGLIA, Ricardo (s/d). Tesis sobre el cuento. In: Crítica y ficción. Buenos Aires: Siglo XX, Universidad Nacional del Litoral.
RIDENTI, Marcelo et al. (1997) Versões e ficções: o sequestro da história. São Paulo: Perseu Abramo.
SÜSSEKIND, Flora (1985). Literatura e vida literária. São Paulo: Zahar.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em fevereiro de 2014. resumo/abstract
Revisões da masculinidade sob ditadura: Gabeira, Caio e Noll
Idelber Avelar
Este artigo analisa operações sobre a masculinidade realizadas por textos de Fernando Gabeira, Caio Fernando Abreu e João Gilberto Noll da passagem da década de 1970 para a de 1980. No Brasil a abertura política coincidiu com a consolidação do movimento gay, a lei do divórcio, o começo da entrada massiva das mulheres de classe média à força de trabalho remunerada, maior visibilidade das travestis e, no geral, a decadência de um modelo de homem promovido pelo regime militar. O ensaio discute as formas em que Gabeira, Caio e Noll rememoram, antecipam, alegorizam, atravessam e/ou ignoram esse contexto, e assim se situam de diversas maneiras na revisão da masculinidade que se produzia naquela virada de década. Gabeira escreve uma hipérbole sobre

Idelber Avelar ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 49-68, jan./jun. 2014. 68
o seu próprio papel que termina se autorrealizando; Caio chega ali ao ápice de uma metódica desmontagem da fronteira entre homo- e heteroafetividade; Noll inaugura o que seria um trabalho de três décadas e meia de reflexão sobre a decomposição da masculinidade, através da representação de uma de suas cenas constitutivas, o sumiço do pai.
Palavras-chave: Noll, Gabeira, Caio Fernando Abreu, masculinidade, homofobia, homoafetividade, ditadura.
Reviews of masculinity under dictatorship: Gabeira, Caio and Noll
Idelber Avelar
This article addresses the coding of masculinity in texts by Fernando Gabeira, Caio Fernando Abreu, and João Gilberto Noll at the turn of the 1970s/1980s. In Brasil the Abertura period coincided with the consolidation of the gay movement, divorce laws, the beginning of the massive incorporation of middle-class women to the wage labor force, increasing visibility of transvestites, and overall the marked decadence of the ideal man promoted by the military regime. This essay discusses the ways in which Gabeira, Caio, and Noll remembered, anticipated, allegorized, cut through, and/or ignored that context, and thus situated themselves in different ways vis-à-vis the revision of masculinity that took place at the turn of that decade. Gabeira wrote a hyperbole that became self-fulfilling, Caio reached the pinnacle of career marked by a methodic erasure of the border between homo- and heteroaffectivity, and Noll inaugurated a three-decade-long reflection on the dissolution of masculinity through the representation of one of its constitutive scenes, the disappearance of the father.
Keywords: Noll, Gabeira, Caio Fernando Abreu, masculinity, homophobia, homoaffectivity, dictatorship.

Memórias manchadas e ruínas memoriais em A mancha e “O condomínio”, de Luis Fernando Veríssimo
Leila Lehnen1
Em junho de 2012, uma amiga e colega, cuja pesquisa foca questões
de construção de memória e justiça de transição, veio me visitar em Porto Alegre. A ideia era explorar os memoriais às vítimas do regime militar na cidade.2 Nosso primeiro destino foi o Memorial aos Mortos e Desaparecidos, localizado no Parque Marinha do Brasil. O parque é muito frequentado pelos porto-alegrenses, especialmente nos fins de semana. Depois de andarmos pelo parque, perguntando a várias pessoas sobre a localização do monumento, sem muito êxito – ninguém parecia saber do que estávamos falando –, finalmente o encontramos. Localizado numa esquina pouco frequentada por passeantes, dando as costas ao parque e ao mesmo tempo visível desde a movimentada avenida Beira-Rio, o Memorial aos Mortos e Desaparecidos é, assim, tanto altamente visível como invisível (figura 1).3 Talvez por causa dessa localização como que esquizofrênica, o monumento, inaugurado em 1995, é desconhecido pela maioria dos frequentadores do parque. Seu estado de deterioração (e alguns dos usos que os transeuntes fazem dele)4 indica não somente o desconhecimento da sua presença no parque mas também a ignorância a respeito do seu significado.
O memorial, uma estrutura geométrica de metal desenhada pelo artista gaúcho Luiz Gonzaga, tem os nomes dos desaparecidos gravados na parte de trás da estrutura (figura 2), que dá a uma área com arbustos e árvores. Os nomes das vítimas da ditadura estão sendo lentamente apagados pela ferrugem. A parte dianteira, originalmente uma superfície lisa de metal, agora tem várias pichações (nenhuma delas alude à ditadura). Em outras palavras, a menos que o visitante saiba de que trata o monumento, este carece de sentido. A inscrição dos nomes
1 Doutora em literatura espanhola e brasileira e professora de literatura brasileira na University of New Mexico, Albuquerque, Estados Unidos. E-mail: [email protected] 2 Agradeço a inspiração e as valiosas observações e comentários feitos por Rebecca Atencio sobre o ensaio. 3 As fotos incluídas ao final deste texto são cortesia de Arno Carlos Lehnen. 4 A parte de trás do monumento aparenta ser frequentemente usada como mictório.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 70
dos desaparecidos na parte de trás é uma escolha estranha para um monumento cuja função é “manter viva a memória dos fatos”, segundo inscrição no próprio memorial. Na sua visibilidade e invisibilidade paralelas, o monumento exemplifica como, apesar da sua evidência (ou seja, a de uma estrutura de tamanho respeitável, localizada em um espaço público transitado), as vítimas da ditadura militar de 1964-1985 em grande parte despareceram da memória pública após a transição democrática.
O segundo destino da nossa excursão foi o antigo Departamento de Ordem Política e Social, que fica na avenida João Pessoa, 2050. Apenas recentemente esse edifício foi identificado oficialmente com a ditadura militar. Em 2012, o antigo DOPS – assim como outros lugares em e perto de Porto Alegre, tais como a ilha das Pedras Brancas, mais conhecida como a “ilha do Presídio” – deveria ter recebido uma placa com a inscrição “Aqui houve tortura”.5 Durante a ditadura, várias pessoas, consideradas “dissidentes” pelo regime foram interrogadas e por vezes torturadas nas dependências do DOPS. Mas, quando perguntamos aos funcionários na recepção sobre qualquer informação que pudessem ter a respeito do passado do edifício em que nos encontrávamos, eles pareciam não saber dessa parte infame da história do prédio. E eles também não sabiam nada a respeito de uma placa comemorativa reconhecendo o passado violento do lugar. Embora os funcionários tivessem ouvido rumores sobre violações de direitos humanos durante a ditadura, eles não necessariamente associavam esse edifício – ligado ao cumprimento da lei – a ditos abusos. No entanto, os funcionários na recepção tinham ouvido falar de outro lugar onde o DOPS tinha conduzido tortura e interrogatórios. Essa informação pareceu uma estranha forma de transferência, em que a localização de abusos cometidos no passado (ou seja, durante a ditadura) é mudada de um local a outro, transferindo assim, de certa forma, a responsabilidade por essas violações. Essa transferência sugere-nos uma forma de amnésia institucional que põe a responsabilidade das violações de direitos
5 As placas são parte do projeto Marcas da Memória, que deve identificar lugares em Porto Alegre onde o regime militar praticou a repressão. As placas serão colocadas na frente desses lugares e deverão oferecer uma breve história do que aconteceu ali durante a ditadura. Entre esses locais está o Palácio da Polícia Civil, a ilha do Presídio e o cais da praça Mauá, onde os prisioneiros embarcavam rumo à ilha. Também o Dopinha na rua Santo Antônio e o antigo quartel da polícia militar na praça Argentina devem receber as placas. O projeto é uma colaboração entre a cidade de Porto Alegre e o Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH).

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
71 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
humanos em um passado remoto, absolvendo os atores institucionais no presente de qualquer culpabilidade por essas ações.
Seguindo as indicações dos funcionários no Palácio da Polícia Civil, fomos até um casarão da virada do século, na rua Santo Antônio 600, no bairro Bom Fim (figura 3), uma rua residencial de classe média. Durante a ditadura, essa casa era conhecida como “Dopinha”. O casarão, rodeado de prédios, estava à venda. No passado recente a casa foi uma clínica infantil, além de ter abrigado outros negócios (Mitchell, 2007). Em 1964, o coronel Luiz Menna Barreto estabeleceu aqui uma filial clandestina do DOPS em Porto Alegre. O Dopinha esteve em operação até 1966, tendo sido fechado após a morte de Manoel Raymundo Soares, membro do Movimento Revolucionário 26 de Março, que foi detido e torturado nesse lugar. Em março de 2013, a cidade de Porto Alegre decidiu expropriar a casa para transformá-la em um museu dedicado à memória das vítimas da ditadura. O museu deve levar o nome do militante do VAR-Palmares e da Aliança Libertadora Nacional Luiz Eurico Tejera Lisbôa, desaparecido em 1972.
Em junho de 2012 o único indício do passado sombrio do casarão era um cartaz rasgado que indicava a importância histórica do lugar. Algumas semanas antes, em maio de 2012, o Comitê Carlos de Ré organizou uma manifestação em frente ao número 600 da rua Santo Antônio, exigindo justiça para as vítimas do regime militar. Um dos objetivos do evento era que fosse criado no local um Centro de Memória Viva da Resistência Latino Americana. O cartaz, assim como dizeres pedindo justiça para as vítimas da ditadura que estavam afixados às paredes do casarão, eram sobras dos protestos. Mas nada mais sugeria a história nefanda da casa na rua Santo Antônio.
Esses três locais são alguns exemplos de espaços que são repositórios de memórias traumáticas.6 São lugares que representam – de forma material – a violência de estado que assolou vários países do Cone Sul entre meados dos anos 60 e princípios de 90, incluindo o Brasil entre 1964-1985. Alguns, como o Dopinha e o Memorial da Resistência, na cidade de São Paulo, são lugares em que a ditadura literal e metaforicamente inscreveu uma memória infausta em paredes, tetos, portas e porões.
6 Entre estes podemos incluir o antigo prédio do DOPS, em São Paulo, que agora é sede do Memorial da Resistência.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 72
Memoriais – sejam estes construídos de forma consciente, como o monumento Tortura Nunca Mais, criado por Demetrio Albuquerque e localizado no Recife, ou lugares “encontrados”, transformados em memoriais pelo significado que adquiriram pelo seu uso, como o Dopinha em Porto Alegre – são estruturas que “comemoram o passado reconhecendo sacrifícios e perdas” (Hite, 2007, p. 7). Memoriais podem ajudar no processo coletivo – e público – da memória. Idealmente, a presença física de estruturas como estátuas, placas, edifícios vai inspirar o visitante ou o transeunte a lembrar ou a refletir sobre seu significado. De certa forma, os memoriais referidos são histórias que ajudam na “luta pela superação das violências perpetradas ao longo destes anos (da ditadura) e reforçam o compromisso do Estado e da sociedade com os valores democráticos” (Comitê Carlos de Ré, s/d). Monumentos e outras iniciativas que promovem o “trabalho da memória” (Jelin et al., 2003), tais como obras literárias, composições musicais, filmes, entre outros, cumprem duas funções. Uma é resgatar o passado através do ato de recordar. A outra é dirigida ao futuro no sentido que essas ações podem fortalecer a sociedade civil e a cultura democrática.
Não obstante, como todas as narrativas, as histórias que os monumentos e memoriais contam não têm apenas um sentido. A pesquisadora da memória Elizabeth Jelin observa que as conotações dessas estruturas podem mudar de acordo com quem as visita/observa. Por outro lado, o significado de monumentos e memoriais também muda conforme a realidade social, política e histórica. Dessa forma, ao passo que monumentos e memoriais são criados para evocar memórias, eles podem, paradoxalmente, representar justamente a perda de uma memória (histórica, social, cultural).
O que chama a atenção de marcos históricos tais como o Memorial aos Mortos e Desaparecidos em Porto Alegre e o Dopinha é – pelo menos até recentemente – sua (quase) obscuridade, a supressão do seu passado penoso. Tanto o Dopinha como outro famoso centro de tortura, a chamada “Casa da Morte”, em Petrópolis (RJ), são exemplos dessa perda de memória histórica. Assim como a ditadura gravou uma narrativa violenta nas paredes dessas duas casas, após a transição os residentes das duas moradas escreveram a história de suas vidas cotidianas em cima da narrativa de horror que antecedeu essa vida cotidiana. Em 1978, por exemplo, a família de Renato Firmento de Noronha comprou a Casa da Morte em Petrópolis, lá residindo até que

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
73 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
o domicílio fosse expropriado pela prefeitura em 2012 com o objetivo de transformar o lugar em um museu. A família Noronha vê na Casa da Morte um lar e se opõe à sua conversão em um museu. Para eles, a história violenta da casa foi reescrita, como se fosse um palimpsesto, por sua própria narrativa de churrascos nos fins de semana e de crianças brincando no quintal:
O quarto de onde o menino (o filho de Renato Noronha) contemplava a serra ao acordar é o mesmo onde Inês (Etienne) convalesceu por 40 dias do atropelamento sofrido durante sua captura, até estar em condições de ser torturada. A cozinha onde ela era obrigada a preparar nua a comida de seus algozes serviria também à inesquecível lasanha que Renato preparava para os filhos e sobrinhos nos domingos. O quarto que hoje acolhe a simpática empregada do engenheiro é aquele onde militares aplicavam choques elétricos e pentatol sódico, o soro da verdade, nos interrogatórios da guerrilheira (Marsiglia, 2012).
A justaposição entre as rotinas diárias da família e o horror da tortura e da morte violenta aponta à coexistência esquizofrênica do passado. Esquizofrênica, porque os limites entre diferentes versões/experiências do passado são tênues e, dessa forma, se confundem. Tanto a Casa da Morte, como o Dopinha, são locais esquizofrênicos da memória, onde esta é reescrita como se ditos lugares fossem um palimpsesto. Aqui a história individual/familiar é composta em cima da história pública, as rotinas do dia a dia são inscritas sobre as rotinas da violência de estado e diferentes camadas do passado se mesclam e confundem as memórias do passado ditatorial no país.
Se, de acordo com a Emenda Constitucional no 7.037, de 21 de dezembro de 2009, o direito à memória e à verdade é reconhecido como um “Direito Humano da cidadania e dever do Estado”, na diretriz no 23 do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, o chamado “PNDH-3”, então o que significa o acesso à memória para o exercício da cidadania no Brasil?
Este ensaio propõe que locais esquizofrênicos da memória – construídos como palimpsestos de várias (e muitas vezes contraditórias) versões do passado – estão conectados com o que o antropólogo James Holston (2008) denomina de “cidadania diferenciada”. Se o “direito à memória e à verdade” é uma parte integral da cidadania, e sua proteção é um dever do estado, então as memórias disjuntivas, conflitivas e

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 74
incompletas da ditadura militar, resultado em parte do silenciar proposital dos abusos cometidos durante o regime, violam um direito básico da cidadania. Disposições legais tais como a Lei da Anistia de 1979 também infringem o direito constitucional à memória e à verdade. Tais disposições evidenciam uma discrepância entre os direitos formais e substantivos da memória e, por isso, da cidadania, sendo assim um exemplo da cidadania diferenciada. Este artigo estabelece uma analogia entre os direitos diferenciados da memória e as disposições constitucionais que legalizam as diferenças sociais e civis e que, segundo Holston, são uma das características da cidadania diferenciada.7
Holston propõe que a cidadania diferenciada é central à composição política, social e civil do Brasil. Esse tipo de cidadania é um produto do que ele denomina de “democracia disjuntiva”.8 Através da análise de uma novela, A mancha, e de um conto, “O condomínio”, ambos do escritor gaúcho Luis Fernando Veríssimo, este ensaio ilustrará como direitos diferenciados à memória existem em conjunção com expressões de cidadania diferenciada.
Os dois textos de Luis Fernando Veríssimo fazem uma representação dos acima mencionados locais esquizofrênicos da memória. Esses lugares, repositórios de histórias contraditórias, promovem tanto a atividade mnemônica como a amnésia. Ambos os textos de Veríssimo demonstram como as memórias esquizofrênicas, produto de direitos diferenciados à memória, contribuem para a expressão da cidadania diferenciada. Seguindo a ordem cronológica da publicação dos textos, primeiro se discutirá “O condomínio” e depois se examinará A mancha.
“O condomínio”
Ao abordar a importância do “trabalho da memória” após períodos
de repressão política, Elizabeth Jelin (2003) sintetiza a importância desse exercício. Escreve Jelin: “No âmbito coletivo, o grande desafio é o de
7 Uma expressão da cidadania diferenciada é a disposição legal que permite que cidadãos brasileiros com diploma universitário tenham direito à prisão especial no caso de prisões provisórias, portanto antes do julgamento definitivo. Ao mesmo tempo a constituição declara que todos os brasileiros são iguais perante a lei. 8 As democracias disjuntivas são, de acordo com Holston (2008, p. 77), sistema políticos democráticos que no entanto apresentam falhas no que tange os direitos civis e que muitas vezes apresentam direitos sociais frágeis ou insuficientes.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
75 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
evitar repetições, de transpor silêncios e abusos políticos, de ser capaz de simultaneamente se distanciar de, e promover, um debate ativo e uma reflexão sobre o passado e o seu significado para o presente/futuro” (Jelin et al., 2003, p. 7). “O condomínio”, de Luis Fernando Veríssimo, publicado em 1982, três anos antes da transição democrática, indaga sobre o que acontece com memórias traumáticas em um contexto em que a vítima e o algoz têm que coexistir e em que o trabalho da memória é dissuadido. O conto, portanto, prevê a conjuntura sociopolítica da transição democrática.
Iniciada pelas autoridades militares, a “distensão” (“lenta, gradual e segura”) não abriu um espaço para a discussão do registro de violações de direitos humanos da ditadura. O governo de José Sarney, um ex-integrante da Arena – Aliança Renovadora Nacional –, tampouco tentou lidar com o legado do regime militar. Ainda que o sucessor de Sarney, Fernando Collor de Mello, tenha aberto alguns dos arquivos da ditadura, foi somente em 1995, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, que o estado brasileiro finalmente reconheceu alguns dos abusos cometidos durante a ditadura, tomando assim os primeiros passos no processo de reparações.
A Lei no 9.140, a Lei dos Desaparecidos Políticos, outorga compensação monetária aos familiares de pessoas desaparecidas pela ação do estado durante o período 1961-1976. Inicialmente a lei beneficiou os familiares de 136 desparecidos políticos. No entanto, o artigo 2 da lei estipula que esta será aplicada de acordo com o “princípio de reconciliação e de pacificação nacional, expresso na Lei no 6.683 de 28 de agosto de 1979”.
Coincidentemente, a Lei dos Desparecidos Políticos cobre os mesmos anos que a Lei da Anistia, sugerindo assim a impunidade das violações de direitos humanos cometidos entre 1961-1976 (Cano e Ferreira, 2006).9 Ainda que o governo democrático de Fernando Henrique Cardoso reconhecesse que os direitos humanos tivessem sido infringidos pela ditadura militar, ele (sua administração) continuou aceitando os parâmetros estipulados pela Lei da Anistia – em nome da reconciliação nacional. Nesse contexto, outras medidas para promover a justiça de
9 Lei no 10.536/02, de 2002, mudou o período de tempo para incluir o período entre o 2 de setembro de 1961 e o 5 de outubro de 1988.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 76
transição10 estavam fora de questão. Kathryn Sikkink (2011, p. 144) observa que o caso do Brasil é único no que se refere à justiça de transição, pois substitui o processo legal por reparações monetárias.
A Lei da Anistia foi o resultado de esforços de familiares de vítimas da repressão e contou com amplo apoio da população brasileira (Mezarobba, 2010). A lei perdoa àqueles que “no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais” (Brasil, 1979, art. 1o). “Crimes políticos” são entendidos nesse contexto como transgressões incididas tanto pelos opositores do regime como também por agentes de estado. Todavia, algumas contravenções não são cobertas pela lei. O artigo 2 da lei declara que a anistia não cobre indivíduos que “foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”.
Os dois artigos destacam a disparidade legal entre atores do estado e membros da resistência armada, que (pelo menos ao nível retórico) não se beneficiam da anistia. Enquanto os primeiros recebem perdão incondicional pelas violações contra os direitos humanos cometidos durante o regime militar, os segundos – se culpados de “terrorismo”, roubo, sequestro, e “atentados pessoais” – não se beneficiam dessa exoneração, embora seus atos possam ser considerados como justificados na luta contra a tirania e opressão (Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos). Adicionalmente, na sua versão inicial, a Lei da Anistia não beneficiou todos os exilados políticos. A lei tampouco compensava aqueles que haviam perdido empregos por causa da repressão (Cano e Ferreira, 2006).11 Ou seja, na sua versão original, a Lei da Anistia beneficiava principalmente os agentes do estado repressor. Glenda Mezarobba defende que, em 1997, a Lei da Anistia queria proteger esses agentes de possíveis processos legais por abusos de direitos humanos cometidos durante a ditadura. A lei era vista como a expressão da “anistia como esquecimento e impunidade” (Abrão e Torelly, 2012, p. 152).
10 De acordo com Ruti Teitel, a justiça de transição necessariamente implica uma dimensão jurídica. Segundo Teitel, “a concepção de justiça associada a períodos de mudança política, é caracterizada por respostas legais que confrontam os abusos cometidos por regimes opressivos anteriores” (Teitel, 2000, p. 69). 11 Como indicam Paulo Abrão e Marcelo D. Torelly (2012), o processo de transição viu a implementação de leis que retificam estas omissões.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
77 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
Como resultado, a Lei da Anistia, pelo menos inicialmente, também encorajou o silêncio por parte de grande parte do público brasileiro sobre os crimes contra os direitos humanos cometidos durante regime militar. Ao outorgar um perdão (ainda que teoricamente parcial) a ambos os lados do conflito, a Lei no 6.683 pressupõe uma espécie de amnésia coletiva das transgressões cometidas pelas forças do estado. Além disso, ao incrementar o esquecimento oficial (anistia para vítimas e algozes da ditadura), a Lei no 6.683 também estabeleceu uma escala de valores no discurso da memória. As memórias da resistência foram relegadas ao fundo do porão da história, enquanto a história oficial da ditadura continuou sendo validada pela anistia. A lei compelia as vítimas a abdicar de seu direito à memória em nome da conciliação nacional.
A Lei da Anistia continua sendo considerada válida ainda hoje, apesar das diferentes medidas legais e simbólicas que foram implementadas a partir da presidência de Fernando Henrique Cardoso para conferir justiça às vítimas da ditadura e aos seus familiares.
Vemos que, apesar de medidas como a criação de uma Comissão Nacional da Verdade em 2011, o princípio da “reconciliação nacional” que permeia a Lei da Anistia continua tendo pertinência hoje em dia. Durante o estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade, a presidente Dilma Rousseff, uma ex-militante da oposição durante a ditadura, assim como vários outros membros do governo responsáveis pela criação da comissão, repetiram enfaticamente que esta não teria poderes para julgar pessoas envolvidas com crimes de direitos humanos durante a ditadura.12
De certa forma, então, o Brasil é um paradoxo da justiça de transição. Ainda que o país tenha o maior programa de reparações depois da Segunda Guerra Mundial (Abrão e Torelly, 2012) e que, segundo Paulo Abrão, esse programa tenha aberto as portas a várias outras medidas de justiça de transição, ainda não foram tomados passos legais – ou seja, julgamentos – daqueles envolvidos em abusos durante a ditadura militar. E foi somente em anos recentes que se implementaram medidas de reparação simbólicas, tais como o estabelecimento da Comissão da Verdade, das Caravanas da Anistia e do Espaço da Memória, entre outros.
12 Em uma exceção a esta postura em 2008, o então ministro da justiça Tarso Genro sugeriu que a Lei da Anistia não devia incluir o crime de tortura. As forças armadas reagirem contundentemente ao pronunciamento de Genro, que se viu obrigado a defender a instituição militar brasileira (Sikkink, 2011, p. 158).

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 78
“O condomínio” ecoa os princípios de reconciliação nacional expressos na Lei da Anistia de 1979 e durante o processo de transição democrática. O conto de Veríssimo enfoca João, um ex-militante de esquerda que no momento do conto, ou seja, da “abertura democrática”, se muda para um luxuoso e recém-construído condomínio fechado. Um dia ele se depara com o homem que o torturou no elevador. Sérgio,13 o torturador, também vive no mesmo edifício e os filhos de ambos são melhores amigos. João confronta seu algoz numa reunião de condomínio. E Sérgio indica que também se lembra de haver torturado João, mas argumenta que, já que “tudo aconteceu há tanto tempo”, “[e]ssas coisas não têm mais importância” (Veríssimo, 1982, p. 71). Os argumentos de Sérgio repetem a lógica da Lei da Anistia, que, de certa forma, impôs um prazo de validade sobre memórias das vítimas do regime militar. As palavras de Sérgio insinuam que nem as suas ações nem as experiências de João têm relevância na atualidade. O passado não é propriamente negado, mas caduca, perdendo significância. Nesse contexto, medidas de reparação são obsoletas.14
É significativo que João não se lembre nem do seu codinome nem do codinome de seu verdugo. Essa lacuna denota a dificuldade de processar o trauma em um contexto que desencoraja o trabalho da memória. O crítico literário Jaime Ginzburg observa que “João tem abaladas sua memória, sua autoconsciência e sua relação com os outros. […] A persistência vã em lembrar o codinome dele (de Sérgio) sinaliza a enorme dificuldade, alargada pela insistência de rever a cena dolorosa (da tortura)” (Ginzburg, 2010, p. 141). Como sugere Rebecca Atencio, em comunicação pessoal, o fato de João esquecer os nomes – mesmo que sejam apodos – indica a supressão tanto das memórias pessoais como das coletivas. A amnésia também aponta ao trauma infringido pela tortura. Para Elaine Scarry (1987), a tortura pressupõe a dissolução da vivência do sujeito, incluindo a linguagem que este/a usa para criar significado e entender seu mundo. Ao silenciar as memórias do/a torturado/a, essa capacidade linguística se vê anulada de novo. João
13 O nome pode ser lido como uma alusão a Sérgio Paranhos Fleury (1933-79), o chefe do DOPS de São Paulo. 14 Esta posição muda em anos posteriores, quando o governo brasileiro, começando com Fernando Henrique Cardoso, implementa várias medidas de reparação para as vítimas do terrorismo de estado.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
79 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
sofre das sequelas dessa experiência. Ele é atormentado pela dúvida de haver ou não delatado seus companheiros de militância: “Por mais de um ano depois de ser solto João não conseguia dormir. De noite chorava no colo de Sandra. […] Não denunciei ninguém. Me quebraram mas não denunciei ninguém” (Veríssimo, 1982, p. 63, grifo no original). Ele insiste que não traiu ninguém, pelo menos não conscientemente (Veríssimo, 1982, p. 72). Apesar do seu sucesso profissional e de uma vida aparentemente exitosa, os fantasmas do passado continuam a atormentar o protagonista.
As memórias reprimidas/incompletas de João encontram um paralelo no modus operandi da distensão política orquestrada pelo regime militar. O silêncio imposto pelo estado a respeito dos abusos de direitos humanos cometidos durante a ditadura não somente invalidou as experiências, e portanto as memórias individuais das vítimas do regime, mas também impossibilitou o trabalho coletivo da memória em se tratando da violência cometida pelos agentes do estado.15
Sandra, a esposa de João, e que também militou na oposição, demonstra como essa postura é internalizada. Quando João conta para ela que se deparou com seu torturador no elevador, Sandra não entende por que seu marido está tão agitado. Em vez disso, ela quer falar sobre as cortinas e os móveis que eles têm que comprar para o novo apartamento. As memórias de Sandra são substituídas pelas preocupações do aqui e agora, preocupações estas que se centram no consumo. Enquanto as recordações de João parecem não ter lugar na realidade da distensão, as memórias – ainda que parciais – de Sérgio são uma espécie de capital que permite que o ex-torturador se reinvente como um bem-sucedido homem de negócios. Seu conhecimento agora é usado em uma empresa de segurança privada que protege a classe média e alta de uma nova ameaça: a violência das classes pobres. Sérgio oferece os serviços de sua empresa aos condôminos.
Um dos elementos da justiça de transição é a reforma institucional e o afastamento de perpetradores de cargos públicos (Abrão e Torelly, 2012). O negócio de Sérgio indica as possíveis consequências da falta de justiça de transição, nesse caso a continuação da violência por parte de agentes de estado, mas agora de forma extraoficial. Os antigos agentes
15 Como com outras medidas de reparação, o processo de memória coletiva eventualmente toma lugar. Uma das primeiras manifestações deste processo é a publicação em 1985 de Brasil nunca mais. Como indicado no artigo, mais recentemente se criam museus, monumentos, e em 2011 se estabelece a Comissão Nacional da Verdade.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 80
de estado agem dentro do setor privado, mas usam as mesmas técnicas brutais da repressão (vigilância, tortura, assassinatos extrajudiciais).
A segurança privada aponta a duas facetas da cidadania diferenciada. Em primeiro lugar, esse tipo de medida conota um contexto socioeconômico onde predomina a disparidade. A diferenciação social, por sua vez, fomenta a criminalidade ou pelo menos a ideia que esta é uma ameaça onipresente. O condomínio no conto de Veríssimo, chamado “Sunset Palace” (“Um prêmio dourado para quem subiu na vida”, Veríssimo, 1982, p. 64), fica ao lado de uma encosta onde residem membros de uma comunidade de baixa renda. Em contraste ao edifício luxuoso, a encosta está cheia de casebres que, segundo os residentes do Sunset Palace, devem ser removidos pela prefeitura num futuro não muito distante (ou pelo menos é isso que os condôminos esperam). O conto mostra como o direito à habitação é infringido pela falta de moradia adequada para aqueles que não têm meios socioeconômicos. Em segundo lugar, a remoção forçada também demonstra que ao mesmo tempo que os condôminos querem proteger os seus lares a qualquer custo, eles não aceitam que os moradores da comunidade tenham o mesmo direito. Para os residentes do Sunset Palace, qualquer meio – incluindo a justiça extraoficial e a destruição de lares alheios – deve ser usado para resguardar a (sua) propriedade.
Um dos condôminos, Miranda, descrito como pai dedicado de duas filhas adolescentes, declara que sempre apoiou o Esquadrão da Morte (Veríssimo, 1982, p. 68). O aval de Miranda a esse tipo de organização não somente alude ao seu possível apoio à violência de estado durante a ditadura mas também conota seu apoio ao uso de violência oficial e extraoficial contra aqueles que Miranda acredita que estão ameaçando seu patrimônio, entre eles, os moradores da favela ao lado.
Como Miranda, a maioria dos residentes do Sunset Palace acha que os residentes da comunidade pobre são um perigo não somente ao seu patrimônio material mas também à sua integridade física e, de certa forma, ao seu status social. Entre outras coisas, eles temem que as crianças da comunidade na encosta invadam a piscina do edifício. Os moradores da comunidade são vistos como “bandidos”, “vagabundos”, “marginais”. Essa criminalização dos pobres implica que eles perderam o seu “direito a ter direitos” (Arendt, 1951). Ou seja, eles não são vistos como cidadãos completos da nação.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
81 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) estipula não somente que esses direitos são universais, mas também que eles são indivisíveis: “Todos têm direito aos direitos professados nesta Declaração, sem distinção de qualquer tipo” (artigo 2, ver Piovesan, 2010). Em outras palavras, os direitos enunciados na Declaração são implicitamente codependentes para serem efetuados. Mas, como observa o diretório da Unesco em Brasília, no Brasil a realidade é outra. Conforme o site da instituição, no país “não há o entendimento expresso da universalidade e indivisibilidade dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais” (Unesco, [s.d.]). Ressalte-se que a falta de direitos socioeconômicos implica a deficiência de outros direitos. O relatório da Anistia Internacional de 2012 para o Brasil cita, por exemplo, a prevalência da violência policial em comunidades de baixa renda. Uma das consequências dessas agressões é que tais comunidades também têm dificuldade em obter outros direitos fundamentais da cidadania, tais como educação e acesso à saúde.
Voltando à correlação entre o uso de segurança pública e a cidadania diferenciada, o emprego de aparelhos de segurança privada também demonstra a deficiência nas instituições de segurança pública (polícia, tribunais). Nesse contexto, a segurança e a justiça em geral são acessíveis principalmente àqueles que têm os meios econômicos adequados. Em “O condomínio”, a implementação de um sistema de segurança privado é uma consequência da falta de justiça de transição que erode a confiança do público nas instituições legais (Sikkink e Walling, 2007, p. 441). Kathryn Sikkink observa que o Brasil tem apresentado piores índices de violações dos direitos humanos depois da transição democrática (Sikkink, 2011, p. 158). Sikkink atribui esse problema em parte à cultura de impunidade em relação aos crimes cometidos pela última ditadura militar.
No conto de Veríssimo, a maioria dos habitantes do Sunset Palace apoiam medidas extralegais para punir aos supostos transgressores. Um deles, Pires, proclama: “Eu acho que a coisa está chegando num ponto em que a gente tem que reagir no pau. Tem que matar meia dúzia em praça pública que aí o resto sossega. Esse negócio de direitos humanos é muito bonitinho, mas em país desenvolvido. Aqui não. Aqui é nós ou eles” (Veríssimo, 1982, p. 67). A declaração de Pires estabelece uma dicotomia entre “nós” (os habitantes do Sunset Palace) e “eles” (os moradores da comunidade vizinha) que evoca a diferenciação criada

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 82
pelas autoridades militares para justificar a repressão de dissidentes políticos. O símile é repetido por outros condôminos. Um deles, o senhor Leiva, compara os vizinhos indesejados aos “comunistas” perseguidos pela ditadura. O apoio que Miranda expressa pelos esquadrões da morte e as posturas de Pires e do senhor Leiva propõem que os “direitos” são uma prerrogativa dos cidadãos de “bem”, ou seja, aqueles que pertencem a certo estrato socioeconômico (Caldeira, 2000). Essa lógica justifica a violação dos direitos humanos de sujeitos que não se encaixam nos parâmetros da sociedade dominante. As atitudes dos residentes do Sunset Palace também recordam medidas como o AI-2 (que anulou a divisão entre o poder executivo e o judiciário) e o AI-5, durante a ditadura. Essas medidas tinham como propósito justamente a erosão dos direitos civis e políticos dos cidadãos. Mais especificamente, o artigo 4 do AI-5 permitiu que se cassassem os direitos políticos de cidadãos individuais e de políticos por até 10 anos. Essa providência, em conjunto com a anulação do habeas corpus (também determinado pelo AI-5), criou a paradoxal categoria de cidadãos sem cidadania ao abolir dois direitos fundamentais: representação legal e política.
Paradoxalmente a ditadura justificou as violações de direitos civis e políticos, alegando a necessidade de se respeitar a “autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo” (AI-5). Essa introdução ao AI-5 emprega a terminologia democrática e dos direitos humanos para justificar o estado de exceção declarado pelo regime militar (Agamben, 2005). No período pós-transicional, uma justificativa semelhante é empregada (ainda que não de forma oficial) para proteger os direitos socioeconômicos das classes abonadas.
Enquanto que os residentes do condomínio no conto de Veríssimo criticam o conceito de direitos humanos para as camadas pobres, eles demandam de forma enfática seus direitos à propriedade, à segurança, ao lazer. Ecoando a retórica do regime militar, Pires justifica sua descrença nos direitos humanos com o argumento de que ele tem o direito de defender o seu patrimônio, ou seja, os seus direitos humanos. Pires afirma: “Eu defendo o meu patrimônio. Trabalhei por ele, não tirei de ninguém, tenho direito, é meu e vagabundo nenhum vai botar a mão” (Veríssimo, 1982, p. 68). Para resguardar seu privilégio, ele não vê problema em infringir o direito fundamental de todos os seres

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
83 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
humanos, o “direito à vida, liberdade, e bem-estar pessoal” (Declaração Universal dos Direitos Humanos).
“O condomínio” exemplifica dois tipos de conflitos. Por um lado, o conto retrata a crise decorrente das desigualdades socioeconômicas. Por outro, aborda a tensão resultante da coexistência forçada de vítimas e algozes durante a transição democrática. Essa tensão é exacerbada pela impossibilidade de processar as memórias dos crimes cometidos durante o regime na esfera pública. O Sunset Palace é um lugar onde as memórias conflitivas de João e de Sérgio coincidem. Ao final, João aceita que suas memórias sejam silenciadas e se submete à ordem imposta por Sérgio. Sua aquiescência sugere que ele, ao final, se converte à ideologia da cidadania diferenciada (incluindo dos direitos à memória diferenciados). O conto termina com o protagonista reconhecendo que, apesar do seu passado de militante, ele agora é parte do status quo. O passado já não tem importância. João vê seus vizinhos na encosta do morro e tenta “discernir os seus rostos mas não enxergava a expressão de ninguém. Procurou uma maneira de mostrar que estava daquele lado do muro mas na verdade não estava, estava do lado deles. Codinome… Mas não havia maneira. Quando começou a escurecer, deixaram a piscina e entraram no palácio” (Veríssimo, 1982, p. 72). A incapacidade de João de discernir e “identificar-se” com seus vizinhos pobres conota a percepção do protagonista de que eles são, ao fim e ao cabo, uma massa anônima e, de certa forma, ameaçante.
A mancha
Publicado em 2003 pela Companhia das Letras como parte da
coleção Vozes do golpe, A mancha conta a história de Rogério, um ex-prisioneiro e exilado político. A novela começa após o retorno do protagonista do exílio. Depois da sua volta, Rogério “enriquece”. O verbo intransitivo insinua que isso se deu de forma quase involuntária. Mas a novela desmente essa percepção. Rogério está obcecado (“como uma causa”, Veríssimo, 2004, p. 71) pela ideia de prosperar cada vez mais. Ele compra prédios decrépitos, os renova e os vende por um lucro considerável: “Compro coisas passadas e transformo em coisas novas. Ou destruo e faço outras” (Veríssimo, 2004, p. 35). Sua compulsão de destruir ou renovar edifícios velhos sugere que ele tem que superar um passado traumático. A atividade de

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 84
Rogério pode ser lida como uma metáfora do processo transicional brasileiro que, até recentemente, favoreceu medidas econômicas de reparação sobre procedimentos simbólicos e/ou legais. Mas, como indica o título da novela, o passado permanece de forma residual, uma mancha que é um memento.
Enquanto “O condomínio” aborda o momento da abertura democrática, A mancha alude ao Brasil contemporâneo, com seus condomínios fechados horizontais – em vez de verticais – onde vive a classe média alta e as elites. Esses segmentos sociais, assim como os residentes do Sunset Palace, continuam a estar preocupados com o problema real e imaginado da criminalidade. O texto também faz referência à realidade política do momento, em que os ex-militantes de esquerda estão no poder. O preço que pagam por esse posicionamento são concessões ao sistema socioeconômico contra o qual lutaram. O cunhado reacionário de Rogério, Léo, afirma que não há nada mais “de direita que um esquerdista que enriqueceu” (Veríssimo, 2004, p. 40). O comentário pode ser lido como uma crítica ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, ou a membros de esquerda da elite política que se beneficiaram das reparações econômicas oferecidas pelo governo de FHC.
Um dia Rogério encontra mais um prédio em ruínas. Ao entrar em um dos cômodos, o protagonista acredita reconhecer o lugar onde fora torturado durante a ditadura. Trata-se de uma sala vazia, com carpete barato e paredes descascadas. No carpete, Rogério vê uma mancha na forma do continente australiano. O protagonista acredita que a marca foi feita com o seu sangue, que pingou no chão quando ele recebeu um soco no nariz durante o seu interrogatório.
A mancha retrata as memórias da prisão e tortura de Rogério e justapõe essas recordações à sua vida presente. Ele é casado, tem uma filha e um cunhado que se declara orgulhoso de ser reacionário. Durante a narrativa, Rogério oscila entre querer resgatar as suas memórias, o seu passado, renovando o edifício e seu desejo de esquecer-se dessa parte da sua vida (o que significaria demolir o prédio e vender o terreno). Tal conflito alude ao dilema do período pós-transicional: “ir em frente” e ignorar o passado, supostamente no nome de uma “reconciliação nacional” ou lidar com o passado para exorcizar os fantasmas da violência repressiva. O dilema reflete a crença que a justiça de transição e o reestabelecimento da democracia são

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
85 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
incompatíveis (O’Donnell, 1986). Segundo Sikkink, os estudos sobre as transições democráticas na América Latina nas décadas de 80 e 90 sugerem que medidas de justiça de transição poderiam ser uma ameaça às novas (e supostamente frágeis) democracias. No entanto, contrariamente a essa suposição, para Sikkink (2011), a justiça de transição pode fortalecer o sistema democrático.
Essa opinião está expressa também no preâmbulo do Programa Nacional de Direitos Humanos, que assevera que somente através do conhecimento abrangente sobre os crimes cometidos pelo regime militar será possível estabelecer “dispositivos seguros e um amplo compromisso consensual – entre todos os brasileiros – para que tais violações não se repitam nunca mais” (PNDH-3, Preâmbulo). Mas, demonstrando os paradoxos da construção da memória sobre o regime militar no país, o documento ao mesmo tempo delineia mecanismos para promover a recuperação dessas memórias (incluindo a criação da Comissão Nacional da Verdade) e deixa de lado toda medida judicial para atender aos crimes contra os direitos humanos cometidos pelo governo militar.
Como se sugere anteriormente, no Brasil, processos contra agentes do estado envolvidos em abusos aos direitos humanos ainda não são considerados viáveis (ou mesmo desejáveis). Até membros da Comissão Nacional da Verdade não se manifestam a favor de tais procedimentos legais. Patrick Wilcken (2012) aponta que, ao contrário de países como a Argentina e o Chile, que iniciaram processos contra membros das juntas militares (mesmo que esses processos tenham enfrentado problemas), o Brasil não somente não tomou esta medida mas mandou advogados do governo para defender na sua interpretação mais ampla a Lei da Anistia de 1979 na Suprema Corte, no Ministério da Defesa e para representar o Brasil quando este foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela desaparição de 60 guerrilheiros no começo dos anos 70.16 Em 2010 o Supremo Tribunal Federal e o Ministério da Defesa julgaram que a Lei da Anistia continuava a ser constitucional. O então ministro da Justiça, Cézar Peluso, aprovou a decisão ao dizer que o Brasil tinha tomado o “caminho da concórdia” em vez do da vingança ao lidar com seu passado ditatorial (Rangel, 2013, p. 78). 16 Em 2010 a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou que a Lei da Anistia de 1979 impedia a investigação e a punição de crimes contra os direitos humanos e que, portanto, tal lei violava a Convenção Interamericana de Direitos Humanos.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 86
Para o protagonista de A mancha, preservar o edifício onde ele acredita ter sido torturado significa transformá-lo em uma espécie de memorial. Ao transformar a ruína em algo que celebra sua experiência e a memória desta, Rogério pensa que também estará honrando seus ideais e as memórias de todos aqueles que lutaram por esses mesmos ideais. Dessa forma, Rogério se transformaria no que a crítica Elizabeth Jelin chama de “empresários da memória”, “atores que, de certa forma, lutam por definir e classificar as experiências de períodos de guerra, violência política, terrorismo de estado” (Jelin et al., 2003, p. 3). Para o protagonista, o edifício/memorial implica um reconhecimento de que “alguma coisa aconteceu. Ao país. A toda uma geração” (Veríssimo, 2004, p. 48).
Por um lado, o desejo de Rogério de transformar o prédio dilapidado em um memorial alude à diretiva 24 do Programa Nacional de Direitos Humanos, que estipula como um de seus objetivos a criação e manutenção de “museus, memoriais e centros de documentação sobre a resistência à ditadura” (PNDH-3, 2010 p. 176). Para isto, o PNDH dita que se disponibilizem meios econômicos para fomentar tais iniciativas (ponto A do Objetivo Estratégico I).
Por outro lado, o dilema de Rogério sobre se deve ou não preservar a ruína do passado reflete a demanda de conciliação (em vez de “vingança”) no período pós-transicional, e, neste contexto, a continuidade de medidas legais tomadas durante o regime militar, como a Lei da Anistia de 1979. De certa forma, essa continuação põe em cheque a premissa básica da diretiva 24 do PNDH-3, a “Preservação da memória histórica e a construção pública da verdade” (PNDH-3, 2010, p. 175) ao promover a memória seletiva (ou seja, parcial) dos crimes contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura.
Assim, a destruição do edifício permitiria ao protagonista de A mancha esquecer, deixar o passado no passado e, nas palavras de sua esposa, Alice, se “lembrar do presente”. Um presente de condomínios fechados e onde prevalece uma paz artificial entre ex-antagonistas políticos. Quando Rogério conta a Alice sua descoberta – a mancha que viu no carpete do velho edifício – ela pede ao marido que não diga nada para a filha, a fim de não estragar a harmonia familiar. Para o protagonista, esse pedido equivale à exigência de que ele ignore o seu passado e as experiências traumáticas deste. Alice acredita que essas experiências contaminam o presente, ameaçando transformar a Rogério e ao núcleo familiar em uma ruína, espelho do edifício decrépito.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
87 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
Ao tentar escavar no passado e entender o seu legado no presente, Rogério se depara com uma espécie de amnésia coletiva. Uma senhora que mora perto do prédio responde às perguntas dele sobre os antigos inquilinos dizendo: “Anos 70, meu filho. Quem é que se lembra dos anos 70? Eu não lembro mais nada” (Veríssimo, 2004, p. 23). É significativo que os únicos traços que permanecem dos antigos arrendatários, antigos documentos de aluguel, estão guardados em velhas caixas de biscoitos. O passado é contido dentro do espaço privado, doméstico, para ser revisitado individualmente – não coletivamente. Ao compensar os parentes de pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura, a Lei no 9.140 ao mesmo tempo reconhece e silencia esses crimes. Os direitos humanos são transformados em compensação monetária que deve indenizar a dor da perda. O estado, em outras palavras, se vê absolvido da culpa das transgressões que foram cometidas durante o regime militar. Sua responsabilidade é limitada a alguns cidadãos privados, não ao corpo social. O artigo 3 da Lei no 9.140 põe o ônus da prova do desaparecimento/morte de um ente familiar pelo estado nas mãos desses cidadãos privados, os familiares da vítima (Cano e Ferreira, 2006, p. 138). Ou seja, o trabalho da memória é relegado a indivíduos que buscam resgatar/manter viva a lembrança dos seus entes queridos. A sociedade não tem um papel definido nesse processo. Em outras palavras, a memória é transferida da esfera pública ao âmbito privado. A memória individual prevalece sobre a coletiva. Rogério chama essa transferência de “paz artificial”, pois somente através dessa manipulação podem os inimigos de antanho conviver e até mesmo estabelecer laços de família – como, por exemplo, no caso de Rogério e de seu cunhado.
Como várias outras narrativas latino-americanas que abordam a ditadura militar e seu espólio, A mancha emprega a ruína como uma alegoria de um passado traumático que continua a assombrar o presente (Avelar, 1999). Idelber Avelar propõe que as ruínas alegóricas desse tipo de textos se referem tanto à destruição das utopias de esquerda durante os regimes militares e seus resíduos – entre eles a lógica capitalista (ou neoliberal) que foi implementada de forma direta ou indireta por estes governos autoritários. A mancha insinua que no Brasil pós-transicional já não há lugar para projetos sociopolíticos de uma esquerda idealista, já que esta agora é parte da lógica dominante – a do mercado. Tampouco

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 88
há espaço para as memórias dessas utopias ou da sua destruição violenta pelo terrorismo de estado. Rubinho, um ex-colega de cela de Rogério, observa: “De tudo aquilo o que ficou foi a autopiedade. [...] Nada foi conquistado, nada foi purgado. Só nos quebraram” (Veríssimo, 2004, p. 33). A única coisa que sobrou dos ideais de Rogério e de Rubinho são ruínas, prédios decrépitos, e um silêncio incômodo.
Ruínas são uma alegoria tanto da ditadura quanto da pós-ditadura porque elas são “espaços dinâmicos, atravessados por diferentes narrativas culturais, palimpsestos sobre os quais as memórias e histórias são escritas e reescritas” (Lazzara e Unruh, 2009, p. 3). Ou seja, ruínas, mas também espaços da memória como memoriais e monumentos – tais como os descritos no começo deste ensaio – podem expor os diferentes discursos sobre a violência, a perda, a dor, o trauma que perseguem as vítimas do terrorismo de estado. Ao mesmo tempo, esses lugares – estejam eles intactos ou em escombros – também contêm o reverso dessas narrativas: as histórias de “heroísmo” e de redenção nacional que são contadas pelos apologistas dos regimes autoritários.
A mancha contrasta as ruínas do passado com as novas construções do presente. A trama enfoca dois espaços: o prédio dilapidado, que, como vimos, representa a memória incômoda do passado ditatorial, e o luxuoso condomínio fechado onde Léo, o cunhado de Rogério, vive. Esse local representa a nova ordem social, econômica e política. Os contrastes entre os dois espaços denotam tanto casualidade quanto continuidade. As ruínas que Rogério destrói dão lugar a novos, faustuosos condomínios. Nesse contexto, deve-se observar que o protagonista é uma espécie de animal de carniça – ele esquadrinha os jornais procurando possíveis oportunidades na seção de óbitos, falências, despejos e outras notícias que tragam indícios de problemas financeiros ou de tragédia pessoal (Veríssimo, 2004, p. 9). Seu modus operandi sugere uma ética do oportunismo que transforma sujeitos humanos em uma espécie de dejeto reciclável (Bauman, 2004).
O contraste entre edifícios decrépitos e os condomínios fechados da elite também conota um tipo de palimpsesto entre uma narrativa que fala sobre a derrota e que supõe um esquecimento dessa derrota e o discurso do “sucesso”. Este último também pressupõe dois tipos de amnésia. Por um lado, A mancha aborda o silêncio/esquecimento sobre as experiências daqueles que foram perseguidos durante o regime militar. Por outro lado, a novela de Veríssimo fala das memórias

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
89 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
saudosistas e idealizadas daqueles que apoiaram a ditadura. Neste caso, o passado é reescrito como uma narrativa de redenção (Stern, 2006).
Não é por coincidência que os condôminos amigos de Léo pertençam a uma direita reacionária. Além de Léo, somos apresentados a Cerqueira,17 um homem de negócios aposentado que declara orgulhosamente que ele “[e]ra de direita e se orgulhava disso. Marchara pelo Brasil em 64 e marcharia de novo pelos mesmos ideais. E mais. Achava que a história ainda faria justiça à revolução e ao regime militar, que tinham livrado o Brasil do comunismo e da anarquia e modernizado o país” (Veríssimo, 2004, p. 39). Na opinião de Cerqueira, os militares estavam defendendo a liberdade em 1964 (Veríssimo, 2004, p. 40). Suas palavras nos revelam a prevalência dos ideais de direita que foram o combustível do golpe. A declaração soberba de Cerqueira – em comparação com a tensão sentida por Rogério e Rubinho em relação ao seu passado – indica que para ele a memória do passado ditatorial não é motivo de vergonha e sim de nostalgia e de orgulho. Cerqueira, ao contrário de Rogério, que termina por relegar suas recordações ao silêncio, proclama que a lembrança da ditadura deve ser resgatada do opróbrio e exaltada. Temos aqui a representação dos direitos diferenciados da memória. Enquanto Rogério se vê forçado a esquecer, Cerqueira aclama as suas recordações e as de uma narrativa de “redenção” de forma pública.
Contrariamente a Cerqueira, Rogério decide deixar o passado para lá, enterrando-o no detrito do prédio que ele por fim resolve demolir. Ele se muda ao mesmo condomínio de Léo, tornando-se assim vizinho de Cerqueira. O protagonista aceita a “paz artificial” da nova ordem política e econômica – da qual, ao fim e a cabo, ele se beneficia.
Veríssimo configura os condomínios fechados como uma alegoria do Brasil pós-transicional. Esses lugares representam a nova ordem social, construída em parte em cima do silêncio em torno das violações dos direitos humanos durante o governo militar, silêncio este que fomenta uma cultura de conciliação e a “paz artificial” decorrente desta. Os condomínios fechados também simbolizam as divisões socioeconômicas do Brasil contemporâneo. Do lado de fora dos muros da comunidade
17 Os personagens de Léo e Cerqueira podem ser lidos como alusões a Léo Frederico Cinelle, o chefe do Departamento de Triagem durante a ofensiva do Araguaia, e o Major Nilton Cerqueira, que também participou dessa mesma operação e que foi responsável pela morte de Carlos Lamarca e do seu companheiro, José Campos Barreto, também conhecido como Zequinha.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 90
fechada estão aqueles que – aos olhos da classe média e alta – representam um perigo à integridade física e material destes segmentos. A separação física deste exterior ameaçador permite uma paz artificial àqueles que podem pagar por ela. Como em “O condomínio”, em A mancha, os residentes também estabelecem suas próprias leis. Os seguranças da firma privada contratados pelos condôminos têm ordens de atirar em qualquer pessoa que não pareça pertencer à seleta comunidade de moradores e dos seus convidados. Assim como “O condomínio”, A mancha sugere que os direitos humanos de uns existem à custa dos direitos de outros, dos que não se enquadram dentro de certos padrões socioeconômicos (Caldeira, 2000). Dito de outra forma, os direitos econômicos (da propriedade, por exemplo) de uma minoria prevalecem sobre os direitos sociais e civis de uma maioria.
Gostaria de encerrar este ensaio com uma breve observação sobre o significado dos memoriais hoje em dia no Brasil. Desde 2003, ano em que foi publicada A mancha, o estado brasileiro tomou várias medidas simbólicas que reconhecem e, de certa forma, tentam reparar as violações aos direitos humanos cometidas pela ditadura militar. Em 2008, a Comissão da Anistia estabeleceu as Caravanas da Anistia. As Caravanas da Anistia têm como objetivo informar o público brasileiro, em especial a geração que nasceu depois da abertura, sobre o regime militar e suas transgressões. Também em 2008 o estado de São Paulo decidiu estabelecer o Memorial da Resistência, no lugar que antes abrigava o Memorial da Liberdade (e, antes disso, o DOI-CODI de São Paulo). O Memorial da Resistência foi inaugurado em janeiro de 2009. E, como mencionado no começo deste ensaio, em novembro de 2011 a presidente Dilma Vana Rousseff inaugurou a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão, que continua vigente no momento de redação deste artigo, tem o encargo de investigar crimes contra os direitos humanos que ocorreram entre 1946 e 1988. No entanto, a Comissão não tem incumbência legal. As pessoas que forem identificadas como perpetradores de tais crimes não serão julgadas em tribunais de justiça.
Essas são apenas algumas iniciativas que, em anos recentes, têm tentado lidar com o legado da repressão efetuada pelo regime militar no país. Podemos dizer que hoje em dia a memória deste período já não é suprimida, relegada aos “porões” da memória nacional em nome de uma conciliação entre diferentes setores/atores sociais e políticos.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
91 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
Como indica a estudiosa norte-americana Rebecca Atencio (2014), o Brasil iniciou um novo ciclo da memória. As recordações sancionadas da ditadura são mais uma capa de significados no discurso mnemônico sobre a ditadura. O Dopinha de Porto Alegre, um lugar que foi uma residência, depois um centro clandestino de tortura, agora possivelmente se transformará em memorial, ganhando assim um novo significado sem que o antigo se apague das suas paredes. Não obstante, esse reconhecimento do papel do estado na violação dos direitos humanos coexiste com uma falta de (re)conhecimento sobre o período ditatorial. É o que vemos na “invisibilidade” do Memorial aos Mortos e Desaparecidos em Porto Alegre.
Uma imagem que talvez encapsule essa dialética entre visibilidade e invisibilidade é o desenho de um “desaparecido” em uma pedra na praça da Alfândega, em pleno centro de Porto Alegre (figura 4). O rosto desconhecido, anônimo, por um lado evoca a repressão e seus métodos e, por outro, faz desaparecer a pessoa retratada novamente. Fica a pergunta: quem é ele/ela? A foto também nos lembra dos “desaparecidos” do Brasil contemporâneo. Quando minha amiga e eu visitamos esse lugar no nosso tour dos memoriais da ditadura em Porto Alegre, a imagem era quase invisível no meio dos carrinhos dos moradores de rua e dos mendigos que transitam pelo centro da capital gaúcha e de todos os centros metropolitanos brasileiros.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 92
Fig. 1: Parte dianteira do Memorial aos Mortos e Desaparecidos, Porto Alegre, 2013.
Fig. 2: Parte de atrás do Memorial aos Mortos e Desaparecidos, Porto Alegre (nomes dos
desaparecidos), 2013.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
93 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
Fig. 3: Rua Santo Antônio, 600 (Dopinha), Porto Alegre, 2013.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 94
Figura 4: Praça da Alfândega, Porto Alegre, 2013.
Referências
ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. (2012). Resistance to change: Brazil's persistent amnesty and its alternatives for truth and justice. In: LESSA, Francesca; PAYNE, Leigh A. (Eds.). Amnesty in the age of human rights accountability: comparative and international perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
AGAMBEN, Giorgio (2005). State of exception. Chicago: University of Chicago Press.
ARENDT, Hannah (1951). The origins of totalitarianism. New York: Harcourt, Brace and Co.
ATENCIO, Rebecca (2014). Memory’s Turn: reckoning with dictatorship in Brazil. Madison: University of Wisconsin Press.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
95 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
AVELAR, Idelber (1999). The untimely present: postdictatorial Latin American fiction and the task of mourning. Durham: Duke University Press.
BAUMAN, Zygmunt (2004). Wasted lives: modernity and its outcasts. Oxford: Polity.
BRASIL (1979). Lei 6.683, de 28 de agosto. Concede anistia e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm. Acesso em: 10 mar. 2014.
CALDEIRA, Teresa P. R. (2000). City of walls: crime, segregation, and citizenship in São Paulo. Berkeley: University of California Press.
CANO, Ignacio; FERREIRA, Patricia S. (2006). The reparations programs in Brazil. In: GREIFF, Pablo (Ed.). Handbook of reparations. Oxford: Oxford University Press.
COMITÊ CARLOS DE RÉ. Disponível em: http://comitedaverdadeportoalegre.wordpress.com. Acesso em: 20 mar. 2013.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em: 05 mar. 2013.
GINZBURG, Jaime (2010). Escritas da tortura. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo.
HITE, Katherine (2011). Politics and the art of commemoration: memorials to struggle in Latin America and Spain. New York: Routledge.
HOLSTON, James (2008). Insurgent citizenship: disjunctions of democracy and modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Press.
JELIN, Elizabeth; REIN, Judy; GODOY-ANATIVIA, Marcial (eds.) (2003). State repression and the labors of memory. Minneapolis, University of Minnesota Press.
LAZZARA, Michael J.; UNRUH, Vicky (2009). Introduction: telling ruins. In: LAZZARA, Michael; UNRUH, Vicky (Eds.). Telling ruins in Latin America. New York: Palgrave Macmillan.
MARSIGLIA, Ivan (2012). E o direito à memória bateu à porta. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. Caderno Aliás. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,e-o-direito-a-memoria-bateu-a-porta,921878,0.htm. Acesso em: 10 mar. 2014.

Leila Lehnen ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014. 96
MEZAROBBA, Glenda (2010). Between reparations, half truths and impunity: the difficult break with the legacy of the dictatorship in Brazil. Sur - Revista internacional de direitos humanos, São Paulo, v. 7, n. 13, p. 7-25.
MITCHELL, José (2007). Segredos à direita e à esquerda na ditadura militar. Porto Alegre: RBS.
O’DONNELL, Guilermo et al. (1986). Transitions from authoritarian rule. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
PIOVESAN, Flávia (2010). Direito internacional dos direitos humanos e lei de anistia: o caso brasileiro. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo.
PROGRAMA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (PDH) (2010). Disponível em: http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh3/index.html. Acesso em: 09 mar. 2014.
RANGEL, Carolina (2013). Vingança é o objetivo. Veja, São Paulo, 29 mai. p. 76-78.
SIKKINK, Kathryn (2011). The justice cascade: how human rights prosecutions are changing world politics. New York: W. W. Norton & Co.
SIKKINK, Kathryn; WALLING, Carrie B. (2007). The impact of human rights trials in Latin America. Journal of peace research, Oslo, v. 44, n. 4, p. 427-445.
UNESCO Office in Brasilia. Human rights in Brazil. Disponível em: http://www.unesco.org/new/en/brasilia/social-and-human-sciences/human-rights. Acesso em: 10 mar. 2014.
SCARRY, Elaine (1987). The body in pain: the making and unmaking of the world. New York: Oxford University Press.
STERN, Steve J. (2006). Battling for hearts and minds: memory struggles in Pinochet’s Chile. Durham: Duke University Press
TEITEL, Ruti G. (2000). Transitional justice. Oxford: Oxford University Press.
VERÍSSIMO, Luis Fernando (1982). O condomínio. In: Outras do analista de Bagé. Porto Alegre: L&PM.
________ (2004). A mancha. São Paulo: Companhia das Letras.
WILCKEN, Patrick (2012). The reckoning. Investigating torture in Brazil. New left review, London, n. 73, p. 63-78.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em fevereiro de 2014.

–––––––––––– Memórias manchadas e ruínas memoriais
97 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 69-97, jan./jun. 2014.
resumo/abstract
Memórias manchadas e ruínas memoriais em A mancha e “O condomínio”, de Luis Fernando Veríssimo
Leila Lehnen
Este artigo propõe que locais esquizofrênicos da memória – locais construídos como palimpsestos de várias (e muitas vezes contraditórias) versões do passado – estão conectados com o que o antropólogo James Holston (2008) denomina de “cidadania diferenciada”. O artigo estabelece uma analogia entre os direitos diferenciados da memória e as disposições constitucionais que legalizam as diferenças sociais e civis e que, segundo Holston, são uma das características da cidadania diferenciada.
Palavras-chave: ditadura, memória, cidadania, Luis Fernando Veríssimo.
Stained memories and ruined memorials in A mancha and “O condomínio”, de Luis Fernando Veríssimo
Leila Lehnen
This article proposes that what it calls “schizophrenic memory sites” – places that are constructed as palimpsests of various (and, at times, contradictory) versions of the past – are connected with what anthropologist James Hoslton (2008) denominates “differentiated citizenship”. The article establishes an analogy between differentiated memory rights and the constitutional measures that legalize social and civil differences and that, according to Holston, make up differentiated citizenship.
Keywords: dictatorship, memory, citizenship, Luis Fernando Veríssimo.


Na sala de edição: “Mãe judia, 1964”, de Moacyr Scliar
Nicola Gavioli1
I
Vozes do golpe é o título de um projeto editorial realizado pela Companhia das Letras em 2004 em ocasião dos quarenta anos do golpe militar no Brasil, e constituído por quatro textos tematicamente interligados, publicados em pequenos volumes individuais (A revolução dos caranguejos, de Carlos Heitor Cony; Um voluntário da pátria, de Zuenir Ventura; “Mãe judia, 1964”, de Moacyr Scliar; e “A mancha”, de Luis Fernando Veríssimo). As contribuições de Cony e Ventura, breves relatos memorialísticos em que episódios anedóticos são inseridos na moldura da narrativa do golpe e de suas imediatas consequências, não dissimulam perplexidades e interrogações acerca da efetiva capacidade da testemunha de descrever e compreender o evento: “A memória, a nossa e a alheia, é, como se diz, traiçoeira”– escreve Ventura no prólogo – “Mas é também inventiva: não só omite como acrescenta. O que houver de falta ou de sobra neste relato pode-se atribuir a ela” (Ventura, 2004, p. 7, grifo no original). A memória é apresentada como um processo dinâmico que nos acontece e de que somos ao mesmo tempo autores. Cony conclui seu texto com a frase: “Não consegui descrever o ano de 1964 em seus contornos históricos. Limitei-me a pensar como o assombrado japonês da anedota de Hiroshima: abri uma torneira. E ainda não tive condições objetivas para compreender o que aconteceu comigo e com os outros” (Cony, 2004, p. 84). Dominar os “contornos históricos” e as “condições objetivas” seria decisivo para a compreensão do golpe. Zuenir e Cony identificam os limites internos e externos que minam a possibilidade de uma reconstrução completa do evento.
À diferença dos relatos de Cony e Ventura, identificados como “Memórias”, os livros de Scliar e Veríssimo são indicados nas capas como pertencentes ao gênero “Conto”. A vontade de distinguir nas capas os nomes dos respectivos gêneros revela a incerteza dos organizadores do projeto acerca da capacidade intrínseca desses textos
1 Doutor em literatura luso-brasileira e professor de português na Florida International University,
Miami, Florida, Estados Unidos. E-mail: [email protected]

Nicola Gavioli ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014. 100
de se revelarem aos leitores como obras memorialísticas ou literárias, aspecto interessante que sublinha a hibridez e porosidade entre essas duas tipologias textuais. Todavia, com “A mancha” e “Mãe judia, 1964” entramos distintamente no âmbito da literatura: faltam nessas narrativas considerações explícitas sobre o funcionamento e os desafios do processo mnemônico (mostradas em lugar de serem explicadas); são colocadas questões de natureza epistemológica, mas obliquamente; valorizam-se a ambiguidade e a pluralidade das vozes; exige-se do leitor uma participação ativa no ato de interpretação. Aquilo que Scliar e Veríssimo acrescentam à coletânea Vozes do golpe é uma maior inquietação em responder a perguntas como: qual é o lugar e a função das memórias traumáticas da ditadura no Brasil contemporâneo? O que fazer desse passado? Como representar ideologias antagônicas se confrontando no plano da preservação ou esquecimento da história recente? (“A mancha”); como reconhecer e como pensar, com os instrumentos da literatura, o obstinado, imaterial e sub-reptício trabalho de manipulação retórica da memória traumática das vítimas ou minorias? (“Mãe judia, 1964”).
Veríssimo explora o tema do regresso do trauma através da história de Rogério, empresário de sucesso que acredita reconhecer um dia, através da mancha num carpete no corredor de um prédio abandonado, o lugar em que, anos atrás, fora vítima de tortura. Rogério se encontra numa espécie de segundo ato da vida dele: casado e dono de uma fortuna, parece ter esquecido a violência de que foi vítima, embora seus dias sejam ritmados pela ansiedade (“Era um homem organizado, apesar da agitação constante”, Veríssimo, 2004, p. 10). O conto tem como foco a interação entre vítimas e carnífices no Brasil contemporâneo, onde é possível descobrir, no seio da própria família, participantes em práticas cruéis contra os direitos humanos nos anos de chumbo. Rogério quer saber mais, investigar responsabilidades e encontrar respostas: quem participou ou favoreceu práticas de tortura? Talvez o sogro tenha sido colaborador da ditadura. O desfecho do conto, ácido e inquietante, mostra a força destrutiva do silêncio e da hipócrita aceitação do inaceitável (“O lugar da quietude do seu sangue seria o esquecimento, embaixo da terra num bairro de surdos, quanto mais no fundo melhor”, Veríssimo, 2004, p. 68) em nome de uma tóxica paz familiar que continuará, pelo contrário, a corroer as relações entre parentes e cidadãos. A violência da performance do convívio entre torturados e torturadores, e suas consequências a longo

–––––––––––– Na sala de edição
101 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014.
prazo, é um tema forte na produção de Veríssimo, como já mostrou Jaime Ginzburg em sua análise do conto “O Condomínio”: “O apagamento da memória coletiva das referências à tortura, bem como sua banalização, potencialmente reforçam as chances de naturalizá-la e ignorar a intensidade de seu impacto. O esquecimento é, nesse sentido, em si, uma catástrofe coletiva” (Ginzburg, 2012a, p. 490-491). O perigo da banalização de experiências extremas é, como veremos, uma preocupação que atravessa o conto de Moacyr Scliar “Mãe judia, 1964”, de maneira talvez mais paradoxal, tratando-se de um texto que coloca (aparentemente) em primeiro plano a voz de uma testemunha dos eventos históricos não convencional: uma paciente psiquiátrica. Como veremos, se trata de um texto concebido com o propósito de mostrar e denunciar como funciona o dispositivo de produção de silêncio ainda atuante no Brasil contemporâneo. Como “A mancha”, esse conto faz parte de um conjunto de obras literárias, artísticas e cinematográficas recentes guiadas por uma preocupação ou teor testemunhal, uma vontade de ir além do testemunho “na sua modalidade de denúncia e reportagem” (Seligmann-Silva, 2003, p. 9), característico de numerosas obras da literatura do testimonio hispano-americana, em que “resta ainda uma forte influência da tradição de gêneros „clássicos‟ da representação, tais como a reportagem, a biografia, a hagiografia, a confissão e o testemunho bíblico” (Seligmann-Silva, 2003, p. 31). O uso das categorias de testis ou superstes não é pertinente nesses contos de Scliar e Veríssimo: seus narradores e seus protagonistas pertencem integralmente ao plano da criação literária. É, porém, a ênfase colocada nos problemas inerentes ao processo mnemônico (dúvidas, falhas, desvios, interferências externas em “A mancha”) e à possibilidade de dizer o trauma (pela distância entre evento catastrófico e a linguagem da vítima, mas sobretudo pelos perigos de apropriação e manipulação ideológica dessa linguagem, em “Mãe judia, 1964”) o que aproxima esses contos de preocupações e obsessões fundamentais da literatura do testemunho.
II
O período da ditadura militar brasileira é representado no romance
mais célebre de Moacyr Scliar, O centauro no jardim (1980), na sua dimensão claustrofóbica e paranoica de tempo do medo. Uma comunidade de burgueses morando em um espaço hermeticamente

Nicola Gavioli ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014. 102
fechado e protegido por guardas armadas se torna o espaço simbólico da narrativa para representar uma época e uma mentalidade. O conto “Mãe judia, 1964” é também ambientado num lugar enclausurado e vigiado, uma instituição psiquiátrica da Porto Alegre dos primeiros anos 1960, a Clínica Renascença. O texto se articula em três seções, sem títulos, identificados do ponto de vista gráfico (alternância de caracteres itálicos e romanos), correspondentes à introdução em primeira pessoa de narrador, um jovem médico recém-formado, à fala de uma paciente psiquiátrica (a mãe judia do título) e, circularmente, à voz do médico. Na produção de Scliar, encontramos com frequência narrativas de aprendizagem da profissão médica (Histórias de um médico em formação, 1962; Histórias de aprendiz, 2004, entre outros). Este conto começa também como uma narrativa de Bildung médica:
1964 começou mal. Acordei tarde, naquele 1o de janeiro, tarde e com uma atroz dor de cabeça. Médico recém-formado [...]. Aquele era o ano em que eu me tornaria um profissional sério [...]. Passei meses deprimido, sem saber o que fazer e tão alheado que o golpe militar nem chegou a mexer muito com minha vida. Política, em realidade, nunca me interessara muito; eu votava por obrigação e sempre ao acaso; na faculdade, era apontado como alienado pelo pessoal de esquerda e como inocente útil pelo pessoal de direita. O que não chegava a ser uma acusação; achavam que eu era assim mesmo, interessado em medicina mas desligado do mundo (Scliar, 2004, p. 7-9).
Ensimesmado e desorientado, o narrador acha emprego na Clínica Renascença, para cuidar de pacientes psiquiátricos. A diretora dessa clínica, a doutora Lucrécia, que mantém contato com políticos e grandes empresários para subir na carreira,
perguntou se eu estava envolvido com política. [...] explicou que, diante da situação do país, não queria ver nem a clínica, nem os médicos, metidos em confusão. Lembrou que, na faculdade, muitos estudantes haviam tomado posições de esquerda, o que agora se tornava perigoso (Scliar, 2004, p. 11-12).
A ambição de Lucrécia é se tornar uma psiquiatra reconhecida e celebrada em grandes congressos internacionais. Para coletar material para suas pesquisas, registra, sem pedir autorização, as falas de seus pacientes, escondendo um microfone em seu estúdio. Em particular, é uma paciente de meia-idade, judia, “que tinha sido hospitalizada por

–––––––––––– Na sala de edição
103 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014.
um surto psicótico, desencadeado pela prisão (por motivos políticos) do filho” (Scliar, 2004, p. 15-16) a se tornar objeto de seu interesse para a escrita de um artigo acadêmico sobre delírios místicos. Identificada como a “mulher da capela” pelo hábito de monologar diante de uma estátua da Virgem, repetindo “sem cessar, de forma às vezes compreensível às vezes não” (Scliar, 2004, p. 17) sua história pessoal, a voz dessa paciente é gravada por um microfone escondido na estátua. O narrador se torna cúmplice de Lucrécia. A gravação secreta é um ato autoritário, apresentado como prática de exceção em nome da pesquisa científica, que quebra regras de ética profissional médica, despertando também no leitor associações com outras formas de extorsão de informações praticada em interrogatórios durante a ditadura. Embora o material recolhido seja promissor, o projeto do artigo é logo abandonado: Lucrécia decide abandonar clínica e profissão para se tornar amante de um político importante do regime instaurado em 64. O narrador, porém, não consegue deixar de pensar nas gravações da mulher da clínica:
O que fora feito delas? Liguei para a clínica, consegui o endereço de Lucrécia em Brasília e escrevi-lhe a respeito. Semanas depois, recebi dela um texto datilografado: era a transcrição das gravações. Um lacônico bilhete dizia que o material não fora aproveitado para nenhum trabalho; mesmo assim ela lhe dera uma redação coerente e até um pouco ficcional, coisa atribuível, segundo suas palavras, a uma frustrada vocação de escritora. Enviava-me o texto apenas para que dele eu tomasse conhecimento; não deveria mencioná-lo a ninguém, muito menos as circunstâncias em que fora obtido (Scliar, 2004, p. 19-20).
A parte central do conto coincide com a transcrição datilografada das gravações orais da doente da clínica. Sabemos que o discurso oral da paciente teria características capazes de despertar, segundo Lucrécia, grande interesse na comunidade científica. A fala deveria, portanto, se destacar, apresentar peculiaridades, rupturas das convenções linguísticas, ou brechas na ordem de representação do mundo (é classificada como delírio místico); ou, pelo menos, proporcionar um efeito de estranheza no ouvinte imaginário ou no leitor. Porém, a transcrição feita pela diretora apaga (programaticamente) as qualidades distintivas dessa fala.
No livro The Wounded Storyteller: Body, Illness and Ethics, publicado nos Estados Unidos em 1995 e considerado uma referência nos estudos sobre “illness narrative” e “disability studies” (“narrativa da doença” e “estudos

Nicola Gavioli ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014. 104
sobre deficiência”), Arthur W. Frank aponta características muito frequentes na chaos narrative (narrativa do caos), um tipo de narrativa (ou antinarrativa) constituída por fragmentos e lacunas, e derivada de experiências traumáticas. Pacientes que sofreram feridas profundas no corpo e na psique (que Frank chama de “wounded storytellers”, contadores de histórias feridos, magoados) tendem a produzir um discurso desprovido de uma clara sequência narrativo-temporal, “um contar sem mediação, um falar de si sem real capacidade autorreflexiva”, caracterizado por “um presente incessante sem um passado memorável e sem um futuro que valha a pena antecipar” e pela “estrutura sintática „e então e então e então‟ [...] palavras em staccato” (Frank, 2013, p. 98-99, tradução nossa).2
O delírio místico da protagonista do conto de Moacyr Scliar é apresentado duma forma ordenada e perfeitamente inteligível: os planos temporais são claramente definidos, o texto se organiza sem repetições obsessivas. É um texto simples, que proporciona uma leitura fluente, sem aparentes desafios para o leitor. Qual é a razão? É preciso sublinhar que a clareza é um dos traços estilístico privilegiados em toda a obra do Moacyr Scliar, autor reconhecido, sobretudo, por suas habilidades de contador de histórias em sentido clássico.3 Além disso, poderia existir uma resistência, por parte de Scliar, à repetição de abusadas técnicas modernistas (pensemos na desordem de certos monólogos em romances de William Faulkner) para representar a perturbação mental. Todavia, mais interessante para nós é interpretar as características da transcrição da fala da mãe judia como o resultado de um profundo trabalho de editing por parte da diretora da clínica, simpatizante da ditadura. Nesse monólogo, os sinais da loucura da paciente são ornamentais, episódicos, literários (é mencionada, por exemplo, a interferência de objetos inanimados, bibelots de sala de estar, que querem se comunicar com a mulher), não investem na substância
2 Embora o livro de Arthur W. Frank enfoque sobretudo no discurso de pacientes emocionalmente
traumatizados por feridas e doenças do corpo, o modelo de narrativa do caos tem sido adotado na
bibliografia acadêmica também para descrever o discurso da algumas perturbações mentais como a depressão (ver, por exemplo, o ensaio de Brenda Dyer no volume Depression and Narrative:
Telling the Dark). No caso da protagonista de “Mãe judia, 1964”, permanece incerta a etiologia do
sofrimento mental (causado pelo choque emocional do aprisionamento do filho ou por uma doença psíquica mais antiga exacerbada pelo trauma?).
3 Num recente prefácio a crônicas de Scliar, Regina Zilberman (2013, p. 12) indica na simplicidade
“uma das marcas mais notáveis” da prosa de Scliar; Nelson Vieira (2009, p. 243) define como
“parábolas” o vasto conjunto da produção de Scliar.

–––––––––––– Na sala de edição
105 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014.
do discurso e a forma dele, sempre muito vigiada. Trata-se de um trabalho editorial radical, apresentado (e disfarçado) como “coisa atribuível, segundo suas palavras, a uma frustrada vocação de escritora” (Scliar, 2004, p. 19). As intervenções da diretora são reconhecíveis em diversos aspectos:
a) a linearidade da narrativa que contradiz características
típicas da fala do delírio e da perturbação psíquica (fragmentação, confusão de planos temporais, elipses);
b) a coerência lógica do discurso (apesar das digressões); respeito das relações de causa-efeito e da norma sintática;4
c) a capacidade de pensar racionalmente a etiologia da doença mental: “Depois do parto enlouqueci. Dizem que é comum, mulheres enlouquecerem depois do parto. Não sei. O fato é que eu já era meio louca e fiquei louca por inteiro, louca varrida, louca de pedra” (p. 49);
d) o uso de figuras retóricas (o humor...) para obter determinados efeitos: “Ali estava eu, entre alicates e martelos, entre latas de tinta e pacotes de pregos. Desculpa falar em pregos; sei que teu filho foi pregado à cruz... Melhor não lembrar essas coisas, não é? Respeito tua dor. Sou louca, mas não sou grossa. Sou louca, mas não sou burra” (p. 34);
e) a descrição paródica da atividade de guerrilha: “A psicóloga disse que eu precisava mudar minha aparência. [...] Impaciente, descartou meus argumentos: tínhamos de raciocinar como Gabriel, e adotar os valores dele, inclusive em termos de vestuário [...] Calçando sandálias,
4 A relação entre linguagem e eventos traumáticos (em particular as alterações da linguagem nas vítimas da tortura) foi objeto de estudo, entre outros, de Maren e Marcelo Viñar (Exílio e tortura),
Hélio Pellegrino (Brasil: nunca mais) e Jaime Ginzburg (Crítica em tempos de violência). No
ensaio “Memória da ditadura em Caio Fernando Abreu e Luis Fernando Veríssimo”, Ginzburg
enfatiza, em perspectiva adorniana, que a “opção da narrativa pelo privilégio da sintaxe
coordenativa deixa elementos independentes uns com relação aos outros. É uma visão do mundo
em mosaico, em caleidoscópio, que não se submete à lógica da causalidade e da sequência linear” (Ginzburg, 2012b, p. 427). O monólogo da mãe judia, pelo contrário, respeita causalidade e lógica.
A parataxe de muitas frases não comunica uma falta de subordinação lógica ou de hierarquia entre
as partes. O mundo, na fala da paciente, é ainda coeso e unitário.

Nicola Gavioli ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014. 106
impregnados da sujeira das ruas, da sujeira popular, teus pés mostrarão identificação com as massas. E aí chegou o momento decisivo. Dona de uma nova linguagem e de uma nova imagem, eu estava preparada para invadir o território até então hostil, nele desfraldando a bandeira que caracterizaria a minha revolucionária condição de mãe-companheira” (p. 85-86);
f) a banalização da tortura, a infantilização da oposição ao governo: “Ali estava meu filho Gabriel, meu filhinho, o rosto e os braços cheios de manchas roxas e de queimaduras de cigarro, dois dentes arrancados a soco. Mas havia pelo menos um lado bom; não haviam apurado nada contra ele, não o indiciariam. Aí me dei conta: o que eles faziam na faculdade, no Alaska, na casa de um, na casa de outro, era só aquilo, só conversa. A suposta resistência que eles e muitos outros haviam montado não passava de um castelo de cartas que agora desabava” (p. 93-94);
g) a apresentação da luta contra a ditadura como capricho revolucionário corruptor das relações familiares: “Segundo o Gabriel eu não passava de uma burguesona. Isso me caracterizava como inimiga” (p. 84);
h) a defesa da aceitação passiva da ditadura: “Imaginei que a vida voltaria ao normal. Sim, havia uma ditadura, mas, e daí? Era preciso continuar vivendo. Foi o que eu disse para Gabriel: esses caras não vão ficar muito tempo, tudo o que a gente tem de fazer é esperar um pouco, uns meses, talvez um ano” (p. 94);
i) o distanciamento da classe trabalhadora: “Eu não gostava de ver meu filho na malharia, mexendo com as máquinas ou colocando suéteres nas embalagens. Em primeiro lugar porque pretendia algo melhor para ele” (p. 56); “[...] tinha uma faxineira [...] Gabriel via nela uma representante da classe trabalhadora. A faxineira, para mim uma safada, dava trela para o guri; perguntava coisas, e até queria ler os livros dele (encenação: era meio analfabeta). Conversavam horas, nas quais, evidentemente, as vidraças ficavam

–––––––––––– Na sala de edição
107 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014.
esperando para serem limpas” (p. 68-69); “Aqui conto tudo, desde que a faxineira não esteja por perto, aquela espiã. Aquela traidora. Mulher safada. Recalcada. Repara na magreza dela, essa magreza que vem da ruindade. É dessas que não comem bem, que não bebem bem” (p. 99).
Não se trata, como notamos, de uma genérica intervenção estilística, mas de uma radical reescrita da fala da paciente, ditada por uma vontade ideológica bem definida. Scliar deixa ao leitor a tarefa de entender que a coerência e a fluidez do texto correspondem à vontade de editar (e tornar inofensiva e banal) a voz do delírio e da dor. Assistimos à domesticação da violência, da tortura, de um sistema autoritário. Apaga-se a forma que é também a substância de experiências extremas. Resulta uma versão depurada do trauma, depauperada de energia e potencial de denúncia, e incapaz de suscitar fortes reações de indignação. Scliar reproduz nesse conto uma prática violenta que, sem deixar marcas em suas vítimas, tem provocado consequências graves e duradouras na sociedade brasileira: o processo de normalização e abrandamento, através das armas da persuasão, da banalização e do silêncio, de um passado recente traumático e intolerável. Dessa prática temos numerosos exemplos: afirmar, por exemplo, hoje, cinquenta anos depois do golpe de 64, que a ditadura no Brasil foi branda em comparação com a de outros países latino-americanos, ou que a tortura foi um mal necessário, ou que a anistia foi a melhor solução para a pacificação da sociedade brasileira, significa querer enfraquecer a força dos relatos das vítimas, normalizar e justificar experiências extremas de abuso. Numa reportagem de 2012 da TV Brasil (“Crimes da ditadura”, no programa Caminhos da reportagem), o general reformado Luiz Eduardo Rocha Paiva afirma para o entrevistador: “Houve tortura. Assim como houve tortura também do lado da guerrilha. Isso ninguém fala. O torturador e o terrorista ambos são criminosos. O que eu defendo é que houve uma anistia e portanto essa anistia tem que ser respeitada”. Nesse momento, assistimos a um típico exercício de editing e banalização do passado.
Além disso, “Mãe judia, 1964” poderia ser também uma crítica de formas textuais realísticas tradicionais adotadas para representar eventos traumáticos: romances e contos que intentam descrever o horror da violência através de técnicas narrativas convencionais, por isso

Nicola Gavioli ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014. 108
tornando familiar aquilo que deveria perturbar.5 Por isso, paradoxalmente, o gesto de Lucrécia corre o risco de ser praticado, embora não intencionalmente, até por autores que repudiam a ditadura e a violência. A terceira e última parte do conto retoma o ponto de vista do médico, decidido a deixar no passado, e possivelmente esquecer, sua experiência na clínica e o monólogo da paciente:
Resolvi esquecer. Naquela época, quanto menos se sabia, melhor. Se não sabíamos de nada, se não nos interessávamos por nada, poderíamos até viver em relativa calma. Talvez acordássemos no meio da noite pensando em certo oculto microfone. Talvez isso nos desse até insônia. Mas de insônia, convenhamos, ninguém está livre (Scliar, 2004, p. 108).
Essa conclusão se aproxima do desfecho do conto “A mancha”, de Veríssimo. Em lugar da angustiado sacrifício do silêncio do protagonista de Veríssimo, que continua no convívio com o sogro colaborador da ditadura para salvar uma suposta paz familiar, minada por tensões e ameaças subterrâneas, o narrador de Scliar quer virar a página da própria vida, buscando um distanciamento dos eventos passados. Ambos os autores descrevem o gesto de performance amnésica que muitos cidadãos brasileiros quiseram adotar e mantiveram até hoje.
A atenuação da força dos relatos de vítimas de experiências traumáticas através da manipulação retórica (apresentando uma versão mais aceitável, trivial e desprovida de lacerações e efeitos permanentes da dor) é o gesto denunciado em “Mãe judia 1964”. Essa operação de banalização e subtração de informações corresponde a uma ideologia que, sob o véu da pacificação da sociedade, tem como objetivo a impunidade e a perpetuação de abusos e violências. Obras de literatura como “Mãe judia, 1964” mostram como o trabalho na sala de edição do passado persiste, sutil e obstinado, mas em formas reconhecíveis e, por isso, contrastáveis.
5 Como falar de experiências extremas da contemporaneidade através de recursos literários do
século XIX? Em seu artigo “O narrador na literatura brasileira contemporânea”, Jaime Ginzburg
aborda a rica produção de textos literários com foco em eventos traumáticos e/ou caracterizados por
narradores não tradicionais, sublinhando técnicas de representação de ruptura do modelo realista. A
escrita fragmentária é uma dessas técnicas, embora Ginzburg não lhe atribua relevância ou significado autônomos. Ela deve ser parte de uma articulação complexa: “É importante a
combinação delicada entre recursos de fragmentação, temas ligados à repressão e proposições
associadas à necessidade de repensar a história” (Ginzburg, 2012c, p. 204).

–––––––––––– Na sala de edição
109 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014.
Referências
CONY, Carlos Heitor (2004). A revolução dos caranguejos. São Paulo: Companhia das Letras.
CRIMES da ditadura (2012). Caminhos da reportagem, Brasília: TV Brasil, 10 de outubro. Programa de TV. Disponível em: < http://goo.gl/KNLQCA >. Acesso em: 5 abr. 2014.
DYER, BRENDA (2008). Winter tales: comedy and romance story-types in narratives of depression. In: CLARK, Hilary (ed.). Depression and narrative: telling the dark. Albany: State University of New York Press.
FRANK, Arthur W. (2013[1995]). The wounded storyteller: body, illness and ethics. Chicago: University of Chicago Press.
GINZBURG, Jaime (2012a). Escritas da tortura. In: Crítica em tempos de violência. São Paulo: Edusp.
______ (2012b). Memória da ditadura em Caio Fernando Abreu e Luis Fernando Veríssimo. In: Crítica em tempos de violência. São Paulo: Edusp.
________ (2012c). O narrador na literatura brasileira contemporânea. Tintas: Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane, Milão, n. 2, p. 199-221.
SCLIAR, Moacyr (1980). O centauro no jardim. São Paulo: Companhia das Letras.
______ (2004). Mãe judia, 1964. São Paulo: Companhia das Letras.
SELIGMANN-SILVA, Márcio (2003). Introdução. In: SELIGMANN-SILVA, Márcio (org.) História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: Editora da Unicamp.
VENTURA, Zuenir (2004). Um voluntário da pátria. São Paulo: Companhia das Letras.
VERÍSSIMO, Luis Fernando (2004). A mancha. São Paulo: Companhia das Letras.
VIEIRA, Nelson (2009). Contemporary jewish writing in Brazil: an anthology. Lincoln: University of Nebraska Press.
ZILBERMAN, Regina (2013). Leitura prazerosa sobre a saúde. In: SCLIAR, Moacyr. Território da emoção: crônicas de medicina e saúde. São Paulo: Companhia das Letras.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em março de 2014.

Nicola Gavioli ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 99-110, jan./jun. 2014. 110
resumo/abstract
Na sala de edição: “Mãe judia, 1964”, de Moacyr Scliar
Nicola Gavioli
Tentativas de cobrir responsabilidades dos crimes da ditadura e de alterar ou silenciar a força dos depoimentos de vítimas de violência continuam a se manifestar no Brasil contemporâneo. O propósito deste artigo é mostrar como o texto “Mãe judia, 1964”, de Moacyr Scliar, ilumina, sob a aparência de conto de aprendizagem e de monólogo de uma doente mental, uma prática violenta que, sem deixar marcas em suas vítimas, teve efeitos graves e duradouros na sociedade brasileira. O processo de normalização, através das armas da persuasão, da banalização e do silêncio, de um recente passado traumático, é mostrado aos leitores como reconhecível e por isso contrastável.
Palavras-chave: Moacyr Scliar, ditadura, manipulação, encobrimento.
In the editing room: “Jewish mother, 1964” by Moacyr Scliar
Nicola Gavioli
In contemporary Brazil, efforts continue to conceal liabilities of crimes committed during the years of dictatorship and to alter or weaken the testimony of victims who have spoken out against their perpetrators. This article explores how the short story “Jewish mother, 1964” by Moacyr Scliar, under the guise of a coming-of-age story and a monologue of a mentally ill patient, sheds light on violent practices that, without leaving visible marks on the body, have incurred serious and longstanding wounds within Brazilian society. Readers are made to see how persuasion, trivialization, and silencing are complicit in the “normalizing” of recent and traumatic histories. If made recognizable, this silencing practice could directly be challenged.
Keywords: Moacyr Scliar, dictatorship, manipulation, concealment.

Ditadura militar e literatura “parajornalística”: desconstruindo relações
Sabrina Schneider 1
Na segunda metade da década de 1970, tornaram-se populares, no
Brasil, narrativas publicadas em livro por jornalistas, geralmente focadas em temas que, na organização editorial dos grandes veículos de comunicação, caberiam ao noticiário policial. Tais obras foram chamadas de romances-reportagem. Conforme Rildo Cosson (2007), a expressão foi cunhada pelo editor Ênio Silveira como título para uma coleção da Civilização Brasileira, cujo objetivo era levar ao público histórias reais, mas de contornos ficcionais. Contudo, com o sucesso comercial obtido por Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1975), segundo número da série, o termo passou a ser adotado por resenhistas de jornais e revistas quase como sinônimo de um novo gênero, que teria sido criado pelo repórter maranhense José Louzeiro. A “fórmula” – “conteúdo jornalístico” com “tratamento literário” – foi seguida por outros repórteres, e o próprio Louzeiro lançou diversos sucessos na esteira de Lúcio Flávio, como Aracelli, meu amor (1976) e Infância dos mortos (1977), derivados de coberturas que já havia feito para jornais como Última Hora e Folha de S. Paulo.
Apesar de bem recebidos pela crítica jornalística e de terem contribuído significativamente para a movimentação do mercado editorial, os textos dos jornalistas-escritores não foram vistos de forma tão positiva pela crítica literária. Para ensaístas como Silviano Santiago, Flora Süssekind, Davi Arrigucci Jr. e Heloisa Buarque de Hollanda, que, a partir de 1979, dedicaram-se à análise da produção cultural da década, tais obras tinham uma relação mais estreita com a repressão exercida pelo regime militar do que com a literatura. Escritas e publicadas ao longo dos anos em que vigorou o Ato Institucional no 5 (1968-1978), quando os jornais estavam sob o jugo da censura prévia, teriam conferido à ficção do período um caráter parajornalístico (Santiago, 1982), já que os noticiários, cuja função seria a de “espelhar”, de maneira clara e objetiva, a realidade imediata, estavam impedidos de abordar 1 Doutora em Teoria da Literatura pela PUC-RS e bolsista de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: [email protected] ou [email protected]

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 112
adequadamente temas como a tortura nos presídios – e não nos referimos, aqui, à tortura de presos políticos, mas à violência policial exercida contra o preso comum –, a existência de grupos de extermínio – como o Esquadrão da Morte –, a corrupção nos quadros policiais e, de modo geral, a marginalização a que uma grande parcela da população vinha sendo submetida – o “milagre econômico”, como se sabe, acentuou a concentração de renda e a desigualdade social.
Além de “coladas” ao contexto imediato do leitor, o que impediria o efeito catártico (Süssekind, 1985), as narrativas de jornalistas foram acusadas de adotar uma estética ultrapassada: o realismo ou, até mesmo, o naturalismo, nos casos em que se põem a fornecer os detalhes de crimes que comoveram a opinião pública – detalhes que não puderam ser explorados pela imprensa diária –, a construir cenas nas quais atos de violência se desenrolam quadro a quadro diante dos olhos do leitor – ávido por informação – ou a descrever minuciosamente a imundície das cadeias e presídios, por exemplo. Flora Süssekind, em Tal Brasil, qual romance? (1984), enfatiza a intenção, por parte dos autores dessas obras, de oferecer uma fotografia do país ou um documento da história recente, priorizando o significado extraliterário em detrimento das opacidades, ambiguidades e conotações que seriam próprias à literatura. Para a pesquisadora, na contramão das crises pelas quais a criação ficcional vinha passando desde o início do século XX, o romance-reportagem apostava na capacidade da linguagem de apreender e representar o mundo, adotando uma prosa ilusionista e tranquilizadora – os adjetivos “burguesa”, “mimética” e “alienante” também são bastante utilizados pelos críticos – que, em lugar de abraçar a fragmentação como estratégia discursiva, pretendia ser um relato coerente – ainda que amargo – de uma realidade estilhaçada.
A colocação de Süssekind (1984) indica claramente o tom valorativo adotado pela crítica literária acadêmica ao referir-se ao romance-reportagem setentista. Porém, demonstra também o privilégio de um determinado tipo de texto em detrimento de outro, como percebe Rildo Cosson (2007). Para o pesquisador, embora isso não seja explicitado em momento algum, os ensaístas que trataram da questão tinham uma ideia muito específica de literatura, que poderíamos resumir como literatura enquanto ampliação do real ou mimesis da produção – a expressão é utilizada por Luiz Costa Lima em Mímesis e modernidade (Lima, 1980), em oposição à mimesis da representação; porém,

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
113 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
defendemos a posição de Ricoeur (2010), para quem toda mimesis é produtiva. Para Cosson, hierarquizar o literário por meio de um único traço – a elaboração da linguagem ou a densidade formal – e reduzir a ficção à metaficção é reescrever a literatura “como um discurso homogêneo, perdendo-se a possibilidade de apreender a pluralidade dos fenômenos que, como produção ou representação, são construídos no campo literário” (Cosson, 2007, p. 72). O mesmo estudioso nota que, se a crítica falou do romance-reportagem, não se deteve em sua leitura ou análise. A menção mais demorada a uma obra específica é feita por Flora Süssekind em Tal Brasil, qual romance? (1984), quando a autora, equivocadamente, aborda como romance-reportagem uma novela policial – Acusado de homicídio – publicada por José Louzeiro em 1960 – bem antes, portanto, do período compreendido pela autora em seu estudo: os anos em que vigorou o AI-5.
Ao lado do pouco ou nenhum valor artístico atribuído aos romances-reportagem, sobretudo em função do que consideravam a ausência de um trabalho de linguagem – no sentido de o romance-reportagem não problematizar a escrita, ou seja, de não descortinar os seus processos, fazendo uso da autorreferência, da intertextualidade e da metaficção, entre outros recursos –,2 os pesquisadores da área de Letras viam, nos empreendimentos literários dos jornalistas, uma tentativa frustrada de denunciar a violência do regime. Em primeiro lugar, porque não aludiam diretamente à questão central da repressão. Sobre isso, Flora Süssekind (1984), por exemplo, afirma que o romance-reportagem funcionava como espécie de “compensação simbólica”: o importante era restaurar a credibilidade do jornalista, dando ao leitor a sensação de
2 O tom valorativo da crítica acadêmica, ao referir-se ao romance-reportagem setentista, é apontado por Rildo Cosson (2007). Para o pesquisador, embora isso não seja explicitado em momento algum, os ensaístas que trataram da questão tinham uma ideia muito específica de literatura, que poderíamos resumir como literatura enquanto ampliação do real ou mimesis da produção – a expressão é utilizada por Luiz Costa Lima em Mímesis e modernidade (Lima, 1980), em oposição à mimesis da representação; porém, defendemos a posição de Ricoeur (2010), para quem toda mimesis é produtiva. Para Cosson (2007, p. 72), hierarquizar o literário por meio de um único traço – a elaboração da linguagem ou a densidade formal – e reduzir a ficção à metaficção é reescrever a literatura “como um discurso homogêneo, perdendo-se a possibilidade de apreender a pluralidade dos fenômenos que, como produção ou representação, são construídos no campo literário”. O mesmo estudioso nota que, se a crítica falou do romance-reportagem, não se deteve em sua leitura ou análise. A menção mais demorada a uma obra específica é feita por Flora Süssekind em Tal Brasil, qual romance?(1984), quando a autora, equivocadamente, aborda como romance-reportagem uma novela policial – Acusado de homicídio – publicada por José Louzeiro em 1960 – bem antes, portanto, do período compreendido pela autora em seu estudo: os anos em que vigorou o AI-5.

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 114
estar lendo “verdades” ditas claramente, ainda que tais “verdades” não tivessem muita relevância no contexto político. Assim, casos policiais eram requentados em histórias repletas de “ação, de informações e transgressões, coisas vedadas à população brasileira”:
Não dá para trazer a História brasileira à cena? Então se fala de alguns “casos”. Há desaparecidos, exilados, mortos no país? Então se fala do rapto de “Carlinhos” ou de “Aracelli”. A população está marginalizada e submetida à violência de um regime autoritário? Então se fala de Lúcio Flávio, dos presídios e da violência policial. A classe média está perplexa com o pouco proveito que tirou do Golpe militar de 64? Então se fala de Cláudia Lessin Rodrigues e de sua vida familiar. Há vontade de mostrar como o crescimento econômico do país foi todo para as mãos das camadas dominantes? Então se utiliza o caso Ângela Diniz-Doca Street para “retratar” a maneira de viver da alta burguesia (Süssekind, 1984, p. 182).3
Em segundo lugar, os críticos entendiam que o romance-reportagem deixava o leitor em uma situação cômoda: conforme Santiago (1982), toda a camada extra de valoração em torno desse tipo de narrativa – e, aqui, podemos citar as declarações de intenção, por parte dos escritores, de revelar o triste cotidiano ou combater uma injustiça; ou, ainda, os processos judiciários e apreensões policiais de que os livros muitas vezes foram alvo, caso, por exemplo, de Aracelli, meu amor – atraía a atenção e a simpatia do público mais para o autor do que para o livro em si, transferindo toda a responsabilidade da luta para o repórter, espécie de herói, enquanto o “leitor beberica no bar da esquina ou discute as dez razões para o Brasil perder a Copa” (Santiago, 1982, p. 133). Além disso, por ser mero complemento do “jornal censurado” ou da “televisão pasteurizada”, ou seja, por não questionar a técnica e a retórica dos veículos de comunicação, que naturalizam cortes, simplificam relações e ocultam seleções arbitrárias, o romance-reportagem não perturbava o leitor em sua maneira habitual de 3 Em Jornal, realismo, alegoria: o romance brasileiro recente (1979), Davi Arrigucci Jr. fala da tentativa fracassada, por parte do romance-reportagem setentista, de conciliar alegoria e impulso realista. Enquanto a representação realista tende para a particularidade concreta, na alegoria, conforme o crítico, passa-se da imagem singular para o conceito. Ele entende que em Lúcio Flávio, por exemplo, Louzeiro tinha a vontade de transcendência, de dizer a totalidade, e não apenas de “submergir na singularidade”, contando a biografia de um assaltante de bancos. “Mas construir e ver de forma alegórica é incompatível com a visão simbólica do realismo” (Arrigucci, 1979, p. 98).

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
115 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
apreender o mundo pela linguagem, o que seria de se esperar de uma obra efetivamente revolucionária, e que não apenas se declarasse como tal. Sobre isso, afirmam Hollanda e Gonçalves, em artigo originalmente publicado em 1979:
Esse recurso à linguagem do jornalismo torna-se todavia um tanto problemático se não se questiona os seus pressupostos, se não se vai além de uma inversão de conteúdos, veiculando agora temas de crítica política e social. “O que é essa técnica” seria, sem dúvida, no caso, uma pergunta oportuna. A imprensa, tal como a produz a classe dominante, já constituiu um discurso específico. Pode-se dizer que o discurso jornalístico assenta-se em técnicas de composição, montagem, texto e ilustração que asseguram um estatuto de verdade – objetiva e imparcial – ao fato relatado. Esse estatuto entretanto se define por um escamotear do “como se relata”, em favor da ilusão de uma exposição transparente do fato. Ou seja: o jornalismo, à medida que se torna cada vez mais moderno, mais perfeito, consegue promover a ilusão de uma acessibilidade imediata do real. Se a função econômica do jornal é trazer ao público os fatos a que esse público não tem acesso, sua função política é configurá-los segundo determinações ideológicas e de mercado (Hollanda e Gonçalves, 2005, p. 119, grifo nosso).
Para os dois autores, a diferença do romance-reportagem, em relação à notícia de jornal, estava apenas no envolvimento do “fato verídico” por um certo “calor humano”, pelo olhar sensibilizado do jornalista. Assim, assinalava-se para o público que não havia nenhum problema com a técnica profissional, mas apenas com a “imprensa burguesa”. “A situação é perfeita [no romance-reportagem]: a notícia livre, a informação verdadeira, isenta dos engodos jornalísticos, nesses tempos onde a lei de censura da imprensa retém 90% de informações de ‘utilidade pública’” (Hollanda e Gonçalves, 2005, p. 120). Ainda que não considerem “desprezível” a militância de autores como José Louzeiro e João Antonio – embora este não tenha publicado romances-reportagem, também era jornalista, e buscava, em seus contos, retratar o povo brasileiro e denunciar sua situação de miséria –, Hollanda e Gonçalves lembram que o “desejo de intervir no sistema não basta para que essa intervenção se dê”, e que uma literatura “populista”, “escamoteadora da linguagem” e “esquemática” pode transformar aquele a quem pretende dar voz – o “povo” ou o “marginal” – em objeto de consumo,

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 116
bem como o relato ficcional em “lugar, fetichizado, da solução de problemas políticos” (Hollanda e Gonçalves, 2005, p. 118).
Por último, a crítica literária acusava o romance-reportagem de contribuir com o projeto de criação de uma identidade nacional que vinha sendo implementado pela própria ditadura que desejava combater. Isso porque a representação literária coerente de um Brasil fraturado, ainda que esse texto-retrato, nas palavras de Süssekind (1985), fosse em negativo, e não em positivo, ia ao encontro da Política Nacional de Cultura (PNC) apresentada pelo presidente Ernesto Geisel e pelo ministro Ney Braga em 1975, cujos objetivos básicos, conforme Hollanda e Gonçalves (2005), eram cinco: o conhecimento do que constitui o âmago do homem brasileiro, a preservação da memória nacional, o incentivo à criatividade, a difusão e a integração. Por meio de tal política, o Estado deixou de ser apenas repressor para atuar como principal mecenas no campo das artes na década de 1970, criando agências, prêmios e incentivos que buscavam criar alianças com a intelectualidade. Também buscou consolidar, no campo da produção cultural, uma organização empresarial mais adequada ao capitalismo industrial no qual o país ingressava. Na área da literatura, esse “amadurecimento” das empresas e a profissionalização dos escritores, aliados ao desejo de informação – e, segundo Süssekind (1985), de “expiação” por parte da classe média, que precisava ler sobre os sofrimentos alheios para purgar-se da culpa de ter apoiado o regime em seus primórdios –, foram responsáveis pela modernização do mercado editorial, que publicou seus primeiros best sellers.
Diante de tantas características problemáticas ou questionáveis do romance-reportagem – ou “equívocos ideológicos e de linguagem” (Hollanda e Gonçalves, 2005) –, o único consolo para os críticos literários, que escreviam sobre o tema já no raiar de uma nova década, em que não mais vigorava o AI-5, estava na expectativa da redemocratização e, com ela, da libertação da literatura de sua função parajornalística e documental, que só teria sentido durante “crises agudas da censura jornalística, momento em que o leitor tem no jornal apenas a versão parcial, ou seja a falsa objetividade” (Santiago, 1982, p. 59, grifo do autor). Assim, a morte das narrativas de jornalistas, classificadas como “desvio de percurso”, como “tentativas de desficcionalizar a ficção” ou como “cacoete literário antiautoritário”, foi anunciada por praticamente todos os ensaístas que dedicaram alguma

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
117 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
atenção ao assunto. “Sem o álibi da censura e do fechamento repressivo que os 70 experimentaram, a literatura dos 80, a depender da conjunção dos astros, também tende a se repensar”, profetizaram Hollanda e Gonçalves (2005, p. 128).
Chegamos, agora, à questão para a qual realmente desejamos chamar a atenção com este artigo. Ocorre que, apesar de a morte do romance-reportagem ser ponto pacífico entre os acadêmicos da área de Letras – em manifestações recentes sobre o tema, raras em função do pouco ou nenhum prestígio da “literatura-verdade” ou “literatura do suplício” junto à crítica especializada, os estudiosos ainda têm os ensaios acima citados como referência sobre o assunto e as obras de José Louzeiro como paradigma e corpus de análise –, repórteres continuam a publicar narrativas de fôlego que desejam ultrapassar, em profundidade – e, de certa forma, em grau de fidelidade ao real –, a notícia, produto do jornalismo informativo diário. Assim como o romance-reportagem setentista, tais obras também são relatos coerentes, que pretendem mostrar a “verdade” sobre algo; da mesma forma, focam em casos singulares com a intenção de retratar determinados segmentos da sociedade ou denunciar situações recorrentes na “realidade brasileira” – para usar de uma categoria unificadora bem ao gosto dos jornalistas, assim como “país”, “povo” ou “economia nacional”. E, quase sempre, tal qual seus antecessores dos anos de chumbo, as novas gerações de jornalistas-escritores optam por assuntos retirados da crônica policial ou por episódios violentos/traumáticos – geralmente envolvendo representantes de parcelas “marginalizadas” da população –, em relatos fluentes e repletos de acontecimentos que prendem o leitor do início ao fim e “carregam nas tintas” a fim de despertar comoção e angariar solidariedade.
Sem o “álibi da censura”, que, segundo os críticos, impedia um trabalho sério por parte da imprensa, que razões teriam levado Caco Barcellos, por exemplo, a contar em livro “a história da polícia que mata”, em Rota 66 (1992)? Na obra, resultado de uma investigação de sete anos, o repórter gaúcho expõe os assassinatos cometidos pelas Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), o esquadrão da morte da Polícia Militar de São Paulo. Coincidentemente, uma das vítimas do grupo de extermínio que aparece na história é o jovem Fernando Ramos da Silva: ainda menino, ele interpretara, no filme Pixote, a lei do mais fraco (Hector Babenco, 1980), a personagem-título, retirada de um dos

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 118
romances-reportagem de José Louzeiro (Infância dos mortos, de 1977). O próprio Fernando, tal qual a personagem do livro e do filme, havia sido uma criança em situação de risco e, apesar da projeção alcançada no cinema, não conseguiu dar continuidade à carreira de ator-mirim, envolvendo-se com drogas e praticando pequenos roubos até ser fuzilado aos 19 anos, sem direito a julgamento.
Ainda na década de 1990, os abusos perpetrados por agentes do Estado foram tema de Cidade partida (1994) e Operação Rio: relatos de uma guerra brasileira (1995). O primeiro conta as experiências vividas pelo autor, o jornalista Zuenir Ventura, nos dez meses em que frequentou a favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, logo após a chacina de 21 pessoas em agosto de 1993, além de mostrar a mobilização da sociedade civil contra a violência, que levou à criação do movimento Viva Rio. Já o segundo, da repórter Juliana Resende, aborda a ocupação dos morros e favelas cariocas pelo Exército e por fuzileiros navais nos meses de novembro e dezembro de 1994, quando o governador Nilo Batista firmou um convênio com o presidente Itamar Franco para reprimir o tráfico de drogas e de armas. O problema foram os constrangimentos morais e físicos a que as populações das comunidades sitiadas foram submetidas: buscas em todos os domicílios, realizadas sempre de forma agressiva e sem ordem judicial; revista de todos os moradores que precisavam deixar a favela para trabalhar, na saída e no retorno; detenção de quem não portasse cédula de identidade; e mesmo prisões preventivas efetuadas antes da emissão dos mandados. Houve inclusive denúncias de tortura durante interrogatórios, realizados nas próprias comunidades, em centros de detenção improvisados.
Um terceiro episódio sangrento ocorrido no período – e que teve ampla repercussão na imprensa do Brasil e do mundo, levando a manifestações de artistas como o compositor Chico Buarque, o fotógrafo Sebastião Salgado e o escritor português José Saramago – também acabaria por se transformar em livro: o confronto entre integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Polícia Militar do Pará em Eldorado dos Carajás, em abril de 1996, que deixou um saldo de 19 agricultores mortos. Em O massacre - Eldorado dos Carajás: uma história de impunidade, já um exemplo da literatura jornalística do século XXI – a obra foi publicada em 2007 –, Eric Nepomuceno faz jus ao que Flora Süssekind (1984) via como “pieguice” na prosa de escritores-jornalistas como José Louzeiro, João Antonio e

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
119 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
Aguinaldo Silva, e que a ensaísta considerava mesmo uma contradição, tendo em vista a intenção, por parte dos autores, de que seus textos fossem mera radiografia ou retrato neutro:
Chegando lá, começou o penoso processo de identificação dos mortos. Nas autópsias, eles foram identificados como “ignorado número 1”, e assim, em sequência, até o número 19. Muitos estavam de tal modo deformados que só puderam ser efetivamente reconhecidos por meio de uma tenebrosa comparação com suas fotos, registradas na entrada do corpo no necrotério de Marabá. Muitos familiares desmaiaram durante o reconhecimento, ao ver o estado em que se encontravam os corpos. Essa jornada macabra só terminou ao amanhecer do dia 20 de abril. Dezesseis mortos foram enterrados em Curianópolis. Um, em Eldorado dos Carajás. Um, em Marabá. E outro – Oziel – foi enterrado em Paraupebas, numa cerimônia de demolidora emoção (Nepomuceno, 2007, p. 180, grifos nossos).
Além dos esforços para comover, sobretudo pelo apelo à adjetivação excessiva, a novíssima geração de repórteres-autores também parece não ter desistido das descrições minuciosas e, por vezes, chocantes, no intuito tanto de reforçar a veracidade do relato quanto de tornar mais vívida a experiência do leitor. A seguir, apresentamos dois trechos de O espetáculo mais triste da Terra, de Mauro Ventura, publicado em 2011. O livro conta a história do incêndio no Gran Circo Norte-Americano, ocorrido em dezembro de 1961 na cidade de Niterói, durante uma matinê de sábado repleta de crianças. Com número oficial de 503 mortos, foi o maior incêndio da história do Brasil e a maior tragédia circense da história. Nas passagens em questão, são descritos os ferimentos de uma das sobreviventes – Lenir, que perdeu o marido e os dois filhos na ocasião –, tão “monstruosa” que a própria mãe teve dificuldade para reconhecê-la no hospital, os impactos de diferentes graus de queimadura sobre o organismo humano e os procedimentos adotados pelos médicos que prestaram socorro às vítimas:
Nos primeiros dias de internação, ela estava irreconhecível. A cabeça ficara colada no ombro direito, perdera a orelha direita, e o rosto inchado exibia uma marca de sapato de quando caiu e foi pisada. Estava semiacordada quando escutou uma voz familiar dizer com segurança: – Não é essa, não.

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 120
– Mas está aqui na prancheta: “Lenir Ferreira de Queiroz Siqueira” – afirmou a enfermeira. – Mas não é a minha filha – insistiu a mulher. – Mamãe – murmurou Lenir. Ao reconhecer a voz da filha, Maria Benigna se espantou: – Nossa senhora! É ela mesma. Lenir sentia-se monstruosa. Sua mãe aproximou-se e acariciou-a. O gesto protetor fez com que ela finalmente relaxasse. Pouco depois, apagou. Suas costas estavam queimadas e demoraram a melhorar. Um pedaço de seu braço esquerdo escapou do fogo porque serviu de apoio para a cabeça de seu filho, Roberto. Sua mão direita tinha sido atingida e começou a gangrenar. Os médicos queriam amputar o braço todo de início, mas optaram por cortar primeiro o dedo indicador direito. Em seguida, o polegar. Com isso, sua mão sarou (Ventura, 2011, p. 160). A primeira medida dos médicos caso a vítima não estivesse conseguindo respirar era desobstruir as vias aéreas por aspiração, entubação, traqueostomia, umidificação dos brônquios ou oxigenoterapia. O paciente era classificado de acordo com a queimadura, em relação à extensão e à profundidade da lesão. Dependendo do autor, a classificação pode variar de três a seis graus. No [Hospital] Antonio Pedro, foi usada a de três graus, que é mais prática. Ao contrário do que muitos pensam, segue-se a ordem de gravidade crescente. No primeiro grau, o mais leve, a lesão atinge apenas a epiderme, isto é, a camada mais superficial da pele, provocando ardência, dor, calor e rubor local. No segundo grau, a parte atingida é a camada mais profunda, a derme, com inchaço e bolhas que, caso se rompam, acarretarão na exposição das terminações nervosas, causando dor intensa. No terceiro grau, a queimadura atinge toda a espessura da pele, com a destruição das terminações nervosas. A repercussão no organismo é abrangente, com perda de líquido do interior dos vasos para os tecidos vizinhos, levando a um quadro grave de desidratação. Frequentemente requer cirurgia, com enxerto de pele retirada de outras partes do corpo. O atendimento inicial cabia aos clínicos e cirurgiões gerais. Para não entrarem em choque, os doentes eram logo hidratados. Os médicos injetavam soro, sangue e plasma, de forma a compensar as

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
121 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
perdas de líquidos – quando não era possível pegar a veia, o jeito era dissecá-la, ou seja, abrir a pele e expô-la. Cobriam os pacientes com lençóis esterilizados, davam soro antitetânico e antibióticos, faziam curativos, punções e incisões, limpavam feridas, removiam tecidos e fixavam cateteres (Ventura, 2011, p. 102-103).
Como se vê, muitas são as evidências que desconfirmam o prognóstico feito pelos críticos literários no final da década de 1970 e início da década de 1980, a respeito da ausência de um lugar para o romance-reportagem fora de períodos de crise política aguda e de ameaça às liberdades de expressão e de imprensa. O que teria originado esse erro de cálculo? E, se o romance-reportagem continua sendo praticado no Brasil – e fazendo tanto sucesso quanto na década de 1970, a julgar pelas listas de mais vendidos publicadas por jornais e revistas e pelo número de edições alcançado por autores como Caco Barcellos, Fernando Morais e Laurentino Gomes, por exemplo –, por que os estudiosos da área de Letras não mais se manifestaram sobre o assunto? Ou então: por que, quando o fazem, ainda é para falar sobre José Louzeiro e outros jornalistas-escritores que publicaram durante os anos em que vigorou o Ato Institucional no 5?
Ocorre que, ao considerarem o romance-reportagem como um substituto ou complemento do jornal censurado, como mera transposição da “reportagem de jornal” para as páginas de um livro ou como narrativa de estilo direto e objetivo, em que o fato deveria chamar mais atenção do que a maneira de narrá-lo, Süssekind, Santiago e Hollanda, entre outros, não levaram em conta uma distinção básica do jornalismo, e muito cara aos membros dessa comunidade profissional: a distinção entre a notícia e a reportagem. Tal distinção reside, justamente, no tratamento narrativo, uma vez que a primeira, predominante nos jornais, não permite a inserção dos eventos em uma intriga regida pelos princípios da necessidade e da probabilidade, em que cada fato extrai sua significância do papel que exerce no todo. Na notícia, em lugar da representação de uma experiência temporal cujo sentido repousa na expectativa do fim – a narrativa enquanto a “atividade estruturante” de que fala Paul Ricoeur, em Tempo e narrativa (Ricoeur, 2010) –, o que se tem é, de fato, uma estrutura fixa: uma fórmula – a pirâmide invertida – que pode ser “aplicada” aos mais diversos assuntos, garantindo ao repórter a agilidade necessária para cumprir suas tarefas em tempo hábil, tendo em vista que, em um único

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 122
dia de trabalho, o mesmo profissional pode ser escalado para cobrir mais de uma pauta.
A pirâmide invertida consiste na construção de um parágrafo inicial ou de abertura, o lead, que deve conter os atributos concretos do fato – quem fez o que, quando, onde, como e por que –, a fim de que o leitor fique relativamente bem informado sem a necessidade de prosseguir até o fim do texto, caso não disponha de tempo para isso. No restante dos parágrafos, cada um mais ou menos independente dos demais, as informações já antecipadas no lead são desdobradas em ordem decrescente de importância, o que facilita o corte do texto “pelo pé” – ou seja, a eliminação dos parágrafos finais sem a necessidade de qualquer ajuste no restante da notícia – na hora da diagramação, caso surjam anúncios de última hora que reduzam o espaço originalmente destinado à matéria. Assim, ao passo que, em narrativas como Aracelli, meu amor, de Louzeiro, novas informações vão sendo inseridas na trama, forçando o leitor a reavaliar suas expectativas em relação ao fim e a importância dos eventos já decorridos, na notícia o que se tem é a disposição dos fatos lado a lado – inclusive de opiniões opostas sobre um mesmo tópico, por meio do registro das declarações das fontes entre aspas, em nome da “objetividade” –, e não um desenvolvimento; como se o jornalista estivesse apenas colocando todas as cartas na mesa, para que o próprio público possa fazer sua avaliação.
Aqui, cabe um parêntese: a princípio, a presença dos aspectos mais claramente discerníveis do acontecimento jornalístico no primeiro parágrafo da notícia poderia levar à falsa impressão de que estamos diante de uma mininarrativa. Afinal, a abertura do texto informativo traz, em resumo, uma ação, com seus respectivos sujeito, motivo e localização no tempo e no espaço. Contudo, preferimos considerá-la – a abertura – da mesma forma que Ricoeur (2010) considera a ação propriamente dita: como mera “indutora” de narrativa. Para o filósofo francês, toda ação é, desde sempre, dotada de aspectos simbólicos, estruturais e, sobretudo, temporais; por termos uma pré-compreensão de tais aspectos, somos capazes de compor narrativas e, consequentemente, de compreendê-las.4 O mesmo parece se aplicar ao
4Além de não ser desprovida de um aspecto temporal – se desenrola no tempo –, a ação, na experiência prática, pressupõe interação – agir é agir com outro, em situação de cooperação ou de luta, por exemplo –, motivações, objetivos, resultados – que podem ser afetados por circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, que contrariem ou confirmem as antecipações dos agentes – e

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
123 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
lead: a despeito de seus elementos constituintes, ele não cria o distanciamento necessário para a contemplação de uma vida em seu acontecer, cerne do problema do estatuto narrativo ou ficcional, conforme abordaremos mais adiante. O “quem” da matéria jornalística, apesar de sujeito na estrutura da oração, não é uma personagem ou, no dizer de Käte Hamburger (1986), uma eu-origine: consciência modelada pelo narrador (Bakhtin, 2006), e a partir da qual o universo criado pelo texto é percebido. Da mesma forma, o repórter ainda não narra, mas emite um discurso “sobre” outrem. Com o lead, ainda nos encontramos no domínio do enunciado autêntico ou da asserção da realidade, em que o emissor ou locutor faz referência a – ou fala sobre – pessoas e situações; a narrativa propriamente dita não faz referência, mas instaura pessoas e situações – sejam “reais” ou “fictícias” – em função da separação entre voz e perspectiva.5
Outra diferença fundamental entre o jornalismo informativo diário e a reportagem diz respeito à densidade da abordagem. O primeiro, em função das limitações de tempo e de recursos humanos e financeiros enfrentadas pelas empresas, bem como da concorrência e da política de perseguição ao furo – é necessário oferecer ao público acontecimentos que sejam extraordinários e exclusivos, ou seja, que não possam ser oferecidos pelas demais empresas jornalísticas –, lida apenas com efemérides ou fatos pontuais. Já a reportagem, sobretudo quando tem fôlego de romance e é publicada em livro – há publicações especializadas nesse gênero jornalístico, como a revista Piauí ou a extinta Realidade, em que é possível encontrar reportagens menos extensas –, dá ao repórter a liberdade de trabalhar uma “problemática” por ele identificada (Traquina, 2008) ou, ainda, de escolher determinado “ângulo” ou “perspectiva” para a abordagem de um assunto (Lage, 2001). É por isso que uma obra como Abusado: o dono do morro Dona Marta (2005), uma “reportagem” de Caco Barcellos, jamais poderá ser considerada simples complemento da “notícia” de jornal: embora o consequências. Quanto ao aspecto simbólico: uma ação sempre é avaliada moralmente. Essa estruturação prévia, no entanto, não é sinônimo de narrativa (Ricoeur, 2010). 5 Tal separação ocorre tanto nas intrigas em terceira quanto em primeira pessoa, em que o narrador se divide entre o “eu” que conta e o “eu” que vive as experiências contadas. Assim, é menos ao apagamento de traços de subjetividade do discurso, por meio de uma linguagem que visa à transparência, do que à inexistência de uma divisão entre o universo do contar e o das coisas contadas (Ricoeur, 2010) – divisão presente no romance-reportagem, apesar da linguagem “objetiva” – que se deve o caráter “factual” da notícia.

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 124
traficante Marcinho VP fosse figura constante nos noticiários, o que se destacava nessas notícias – o “quê” do lead – eram sempre seus crimes contra a sociedade leitora de jornais, ao passo que, no livro do repórter gaúcho, Marcinho é o herói cuja biografia serve de pretexto para que o autor conte a história de toda uma comunidade e explique, de dentro, o funcionamento de uma “boca de fumo” – foram cinco anos de pesquisa e de convivência com as personagens da obra.
Uma última contribuição da teoria do jornalismo, relacionada à diferença entre notícia e reportagem, teria sido de extrema importância na compreensão do romance-reportagem setentista pela crítica literária. Trata-se da análise do papel dos primary definers (Hall et al., 1999) na construção da realidade pelos meios de comunicação. Num modelo de jornalismo industrial, em função das limitações impostas pelo tempo, pela necessidade de otimizar os recursos humanos e pela corrida em busca do “furo” – que trará a vantagem sobre a concorrência –, às quais nos referimos acima, é grande a dependência das empresas em relação às fontes oficiais, cuja necessidade de espaço na mídia é proporcional à necessidade de produção das empresas jornalísticas. Por isso, é de praxe que as organizações designem profissionais para a cobertura rotineira dos eventos relacionados a determinadas instituições e órgãos públicos com papel decisivo nas atividades política, econômica, social ou cultural, que, além de fontes “produtivas”, são consideradas fontes com credibilidade, em virtude da importância que as pessoas costumam dar à posição. “O jornalista pode utilizar a fonte mais pelo que é do que pelo que sabe” (Traquina, 2005, p. 191).
Assim, o ritmo brutal da produção impõe, aos veículos, uma autocensura e um efeito de fechamento – no sentido da “circulação circular da informação” de que fala Bourdieu (1997), já que as empresas se estruturam de forma mais ou menos semelhante e os jornalistas são obrigados a lerem-se uns aos outros, para não serem “furados” – que não é exclusividade de períodos de suspensão dos direitos democráticos. Na busca por acontecimentos pontuais, em que os elementos básicos – quem, que, quando, onde – são facilmente identificáveis, as autoridades ligadas ao setor da segurança pública estão entre as fontes de informação mais “generosas” – no sentido de “produtivas” – com que se pode contar. Isso, aliado ao fato de que a notícia se preocupa com o que é excepcional, traçando uma linha clara entre a regra e o desvio, faz da editoria de polícia uma das mais

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
125 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
dependentes em relação aos primary definers, inviabilizando qualquer tentativa de aprofundamento ou contextualização. Quando o objetivo é o fato, e a natureza consensual da sociedade estabelece que o crime é o fato digno de ser noticiado, cai por terra a possibilidade de crítica social. Tanto que, em entrevista à revista Caros Amigos em maio de 1997, Caco Barcellos denuncia a parcialidade e a acomodação dos repórteres de polícia dos grandes veículos de comunicação do país, que preferem “acompanhar o camburão” a “esperar a polícia chegar”, ou seja, subir o morro atrás do “inusitado” ou do “desvio” – o crime – a efetivamente conhecer a realidade da favela. O livro foi justamente a forma privilegiada encontrada pelo autor para reverter essa situação.
Em nossa tese de doutorado, Ficções sujas: por uma poética do romance-reportagem (Schneider, 2013), analisamos os romances-reportagem Aracelli, meu amor (José Louzeiro, 1976), Corações sujos (Fernando Morais, 2000) e Abusado, o dono do morro Dona Marta (Caco Barcellos, 2003) como poiesis ou processo, ou seja, como construção de uma experiência temporal fictícia, tal qual proposta por teóricos como Paul Ricoeur (2010), Käte Hamburger (1986), Mikhail Bakhtin (2006) e Frank Kermode (2000). Para esses estudiosos, a configuração da intriga pelo narrador, ou seja, a organização dos acontecimentos para que façam sentido a partir do fim – já que a narrativa, conforme Ricoeur (2010, v. 1, p. 260), “advém quando a partida terminou”, possuindo, portanto, uma inteligibilidade retrospectiva que permite brincar com as expectativas do leitor –, bem como a atividade concludente do narrador em relação à personagem, criam o corte entre o tempo do narrar e o tempo das coisas narradas; ou, ainda, instauram o universo ficcional. Nesse universo do papel, as experiências ético-cognitivas e as coordenadas espaço-temporais dizem respeito não ao detentor da voz, ao emissor do discurso, mas às personagens ou eu-origines fictícias, que vivem e sentem o mundo à sua volta. A representação de personagens em ação, cujas experiências podem ser acompanhadas pelo leitor, é o que proporciona o engajamento no alheamento, ou seja, o que garante à literatura sua capacidade de ser “como a vida”, mas ao mesmo tempo possibilita ao homem contemplar a si mesmo.
Esse alheamento inexiste na notícia de jornal, que pertence ao modo de asserção da realidade (Hämburger, 1986) ou ao mundo comentado (Ricoeur, 2010). Ou seja: na notícia, em lugar de narrar, o repórter comenta ou se pronuncia sobre algo “presente”, que está a ocorrer no

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 126
mesmo plano axiológico a partir do qual ele se pronuncia, e que também é o mesmo em que se encontra o leitor. Daí a utilização de tantos marcadores temporais, como “nesta terça-feira” ou “na tarde de ontem”: o “hoje” do repórter e o do leitor são o mesmo. O que o autor da notícia espera é uma reação de seu interlocutor, ainda que isso não signifique, necessariamente, que o leitor irá tirar o telefone do gancho e discar o número da redação do jornal, a fim de entrar em um diálogo direto com o jornalista. Na maior parte das vezes, tal reação se dá na forma de conversas sobre os fatos abordados pelo noticiário do dia com outros leitores, e não faltam estudos, na área da Comunicação Social, sobre as maneiras pelas quais os veículos informativos “pautam” a discussão pública.
Na reportagem, por sua vez, o repórter não fala diretamente ao leitor; entre eles, está a intriga, na qual o único “hoje” que importa é o das personagens. É por isso que, a despeito de o tema ou problemática abordado em livro pelo jornalista dizer respeito ao contexto imediato do leitor – e nem sempre isso acontece, caso, por exemplo, de Corações sujos, em que Fernando Morais “reconstitui” eventos traumáticos ocorridos na década de 1940, nos municípios paulistas com forte presença de imigrantes japoneses –, bem como de eventuais deslizes em direção à “pieguice” ou à “estética do suplício”, a catarse, entendida como possibilidade de autocompreensão a partir da experiência do outro, não pode ser descartada. Entra em cena, no jornalismo narrativo, a “relação arquitetonicamente estável e dinamicamente viva do autor com a personagem”, à qual Mikhail Bakhtin (2006) atribui o caráter estético de um texto – e, apesar de o pensador russo não utilizar o termo, a leitura de “O autor e a personagem na atividade estética”, que integra o volume Estética da criação verbal, permite que “estético” seja compreendido no sentido de “ficcional”.
Para Bakhtin (2006), na criação verbal, diferentemente do que ocorre no mundo real – em que reagimos a determinados aspectos e atitudes do outro, em circunstâncias específicas, não podendo, portanto, ter dele mais do que impressões fortuitas ou generalizações precárias –, temos definições acabadas do homem. O narrador, situado em outro plano axiológico, possui um excedente de visão em relação às personagens que vivem as experiências narradas. Sua consciência é a consciência da consciência, pois abarca a consciência e o mundo da personagem, concluindo-os e limitando-os para uma percepção mais nítida por parte

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
127 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
do leitor. Essa limitação, que dota a personagem de características plástico-picturais, ocorre mesmo na construção de personagens biográficas ou autobiográficas. Neste último caso, o artista luta por uma imagem estetizada – ou ficcionalizada – de si mesmo, desdobrando-se em duas instâncias – narrador e personagem – para construir sua identidade, já que a consciência que vivencia a si mesma apenas de dentro, conforme Bakhtin (2006), é unidade aberta de conhecimento, incapaz de construir um quadro minimamente coerente e inteligível. Ao que tudo indica, Antonio Olyntho Marques da Rocha (1956) tinha razão ao afirmar que a ficção pode haurir seu material tanto da realidade em ato quanto da realidade em potência, mas que ambas passam pela mesma transformação, sujeitando-se às leis da descrição e da narração.6
E é exatamente isso que ocorre, por exemplo, em Abusado, o dono do morro Dona Marta (2005). Na obra do repórter Caco Barcellos, Juliano – Márcio Amaro de Oliveira, o Marcinho VP – é um todo definido. Não é apenas o traficante ou o bandido – rótulos que costumavam ser atribuídos a ele nas notícias de jornal e televisão, e que traduzem o comportamento que se espera de quem, conforme Traquina (2008), vive no lado negativo do consenso, e por isso é notícia. No relato ficcionalizado de sua vida, graças à atividade concludente do narrador – precedida da compenetração ou empatia, outra etapa do processo de estetização descrito por Bakhtin (2006) –, Juliano é também o amigo, o irmão, o namorado, o pai; o torturador impassível, mas também o torturado que teme a morte; o gerente de boca implacável e ambicioso que deseja ascender na hierarquia da organização criminosa a que pertence – o Comando Vermelho (CV) –, mas também o menino que a comunidade viu crescer e tenta acobertar por ocasião das operações policiais na favela. À sociedade, interessam os atos de Juliano que possam ameaçá-la, os atos com as quais é obrigada a operar na prática. Nas páginas dos jornais, referências à religiosidade do protagonista de Abusado soariam absurdas; em sua biografia, contudo, essas demonstrações de fé aparentemente contraditórias
6 Aliás, já em 1956, Olyntho falava em “livro de reportagem” ou “livro tipo reportagem”, que considerava um equivalente do documentário cinematográfico. Como exemplos, o crítico brasileiro aponta obras de dois escritores norte-americanos: Dez dias que abalaram o mundo (1922), de John Reed, e Hiroshima (1946), de John Hershey. Contudo, também vê Os sertões, de Euclides da Cunha, como modelo de um jornalismo que não perde o todo de perspectiva, em oposição ao jornalismo rotineiro e viciado. Para Olyntho, Euclides da Cunha soube ver, em um episódio considerado localizado e transitório, “uma constante da natureza humana, ávida de sobrenatural” (Rocha, 1956, p. 60).

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 128
são ecos dos sermões revolucionários do padre Velloso, seguidor da doutrina social da Igreja que exerceu grande influência sobre Juliano e seus amigos na adolescência.
É o tratamento narrativo, caracterizado pela construção da intriga e da personagem, que dá a Abusado e outras reportagens com fôlego de romance o seu sentido, a sua verdade. Tal verdade tem pouca relação com a fidelidade do texto ao real, ou seja, com a sua acurácia enquanto obra de cunho jornalístico. Graças à complexidade de Juliano, aliada ao arranjo dos fatos pelo narrador – que conduz a um desfecho que desde o início se mostra inevitável, apesar das inúmeras oportunidades para que o protagonista dê uma “guinada” em sua vida –, a leitura do texto executa um movimento endofórico (Winterowd, 1990), a partir do qual novas informações são buscadas no interior da própria narrativa, e não em fontes extratextuais. O pacto ficcional, portanto, supera, em importância, o compromisso com a realidade. Só assim é possível explicar que torçamos por um final feliz para Juliano – a história, no entanto, termina com a personagem na prisão –, a despeito de sua trajetória de crimes e do conhecimento prévio, pela maior parte dos leitores, de que, apenas dois meses após o lançamento do livro, Marcinho VP, 33 anos, foi encontrado em uma lixeira da penitenciária de Bangu 3, morto por estrangulamento.
Dessa forma, é preciso compreender que a prosa do romance-reportagem, apesar de “ilusionista”, não pode ter sua ficcionalidade descartada; se o romance-reportagem é “mimético”, isso ocorre na medida em que representa personagens em ação, configurando uma intriga capaz de ser seguida pelo leitor, e não em função de “retratar” ou “espelhar” uma realidade – apesar das declarações de intenção por parte de seus autores, inevitáveis em função da ideologia profissional dos jornalistas, que se organiza em torno da busca idealizada pela “verdade dos fatos”. Se repórteres continuam publicando grandes reportagens em livro, mesmo sem o “álibi” da censura, isso se dá em função de outra ditadura: a ditadura da objetividade, que converte a intenção de verdade em regras passíveis de figurarem nos manuais de redação das grandes empresas jornalísticas e permite apenas a abordagem do que é inédito, excepcional e pontual, provocando efeitos de fechamento e autocensura. A notícia, material do qual é feito o jornalismo informativo diário, não é território do narrar, mas sim do comentar, e a reação que exige do leitor, pela situação de locução que

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
129 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
cria, inviabiliza o engajamento no distanciamento inerente à mimesis como poiesis ou construção da intriga.
Entendemos que, em relação ao romance-reportagem brasileiro, deva ser adotada postura semelhante à do estudioso W. Ross Winterowd diante do chamado nonfiction novel norte-americano, expressa na obra The rhetoric of the “other” fiction (1990). Para o professor de literatura, expressões que fazem referência explícita à “factualidade” das narrativas de jornalistas, como literature of fact, faction e, sobretudo, non-imaginative literature – no Brasil, as denominações “narrativas de realidade” e “narrativas da vida real” têm se popularizado entre pesquisadores da área do jornalismo, os únicos a dedicarem atenção ao tema –, servem apenas para relegar tais textos a uma posição marginal nos departamentos de Letras – no caso dos Estados Unidos, os departamentos de Língua Inglesa –, já que sua ficcionalidade estaria garantida pela imersão do leitor no universo representado, e do qual ele – o leitor – emerge, ao final, não como conhecedor de uma série de fatos e acontecimentos, mas como possuidor de uma experiência humana. Valendo-se dos conceitos de literature of knowledge e literature of power, de Thomas DeQuincey (1985), Winterowd (1990) opõe a literatura apresentacional ou narrativa ao texto discursivo. Enquanto este último é parafraseável e dirige-se apenas ao intelecto do leitor, que pode se posicionar contra ou a favor de suas teses, a literatura apresentacional é única e dirige-se a uma razão maior, por meio dos afetos. Referências
ARRIGUCCI Jr., Davi (1979). Jornal, realismo, alegoria: o romance brasileiro recente. In: Achados e perdidos. São Paulo: Polis.
BAKHTIN, Mikhail (2006). Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes.
BARCELLOS, Caco (1997). Dedo na ferida. Caros Amigos, São Paulo, n. 2, p. 16-25. Entrevista concedida a Sérgio Pinto de Almeida e outros.
______ (2005). Abusado: o dono do morro Dona Marta. 15. ed. Rio de Janeiro: Record.
BOURDIEU, Pierre (1997). Sobre a televisão. Tradução de Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 130
COSSON, Rildo (2007). Fronteiras contaminadas: literatura como jornalismo e jornalismo como literatura no Brasil dos anos 1970. Brasília: Editora UnB.
DeQUINCEY, Thomas (1985). Confessions of an English opium-eater and other writings. New York: Carrol & Graff.
HALL, Stuart et al. (1999). A produção social das notícias: o mugging nos mídia. In: TRAQUINA, Nelson (org.). Jornalismo: questões, teorias e “estórias”. Lisboa: Vega
HAMBURGER, Käte (1986). A lógica da criação literária. Tradução de Margot P. Malnic. 2 ed. São Paulo: Perspectiva.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de; GONÇALVES, Marcos Augusto (2005). A ficção da realidade brasileira. In: NOVAES, Adauto (org.). Anos 70: ainda sob a tempestade. Rio de Janeiro: Aeroplano, Senac Rio.
KERMODE, Frank (2000). The sense of an ending: studies in the theory of fiction. New York: Oxford University Press.
LAGE, Nilson (2001). A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record.
LIMA, Luiz Costa (1980). Mímesis e modernidade: formas das sombras. Rio de Janeiro: Graal.
NEPOMUCENO, Eric (2007). O massacre - Eldorado dos Carajás: uma história de impunidade. São Paulo: Planeta.
ROCHA, Antonio Olyntho Marques da (1956). Jornalismo e literatura. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura.
RICOEUR, Paul (2010). Tempo e narrativa. 3 vols. Tradução de Cláudia Berliner e Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: WMF Martins Fontes.
SANTIAGO, Silviano (1982). Vale quanto pesa: ensaios sobre questões político-culturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
SCHNEIDER, Sabrina (2013). Ficções sujas: por uma poética do romance-reportagem. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Porto Alegre. Disponível em: <http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4719>. Acesso em: 10 mar. 2014.
SÜSSEKIND, Flora (1984). Tal Brasil, qual romance? Rio de Janeiro: Achiamé.
______ (1985). Literatura e vida literária: polêmicas, diários e retratos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

–––––––––––– Ditadura militar e literatura “parajornalística”
131 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014.
TRAQUINA, Nelson (2005). Teorias do jornalismo I. Por que as notícias são como são. Florianópolis: Insular.
TRAQUINA, Nelson (2008). Teorias do jornalismo II. A tribo jornalística: uma comunidade interpretativa transnacional. Florianópolis: Insular.
VENTURA, Mauro (2011). O espetáculo mais triste da Terra: o incêndio do Gran Circo Norte-Americano. São Paulo: Companhia das Letras.
WINTEROWD, W. Ross (1990). The rhetoric of the “other” literature. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em fevereiro de 2014. resumo/abstract
Ditadura militar e literatura “parajornalística”: desconstruindo relações
Sabrina Schneider
Este artigo busca rever a abordagem do romance-reportagem brasileiro da década de 1970 pela crítica literária acadêmica. Entende-se que, na apreciação dessas obras, considerou-se apenas a repercussão da situação política nacional – ditadura militar –, tomando-se as narrativas de jornalistas como meras substitutas do jornal censurado. Foi desconsiderada, portanto, a diferença entre notícia, produto do jornalismo informativo diário, e reportagem, gênero jornalístico que não tem lugar na grande imprensa. Na primeira não há narração, ao passo que, na segunda, a construção de personagens e a configuração da intriga garantem a instauração do universo ficcional, como querem autores como Paul Ricoeur, Mikhail Bakhtin e Käte Hamburger.
Palavras-chave: direitos humanos, acesso à literatura, escrita subalterna, cidadania autoral.
Military dictatorship and nonfiction novel in Brazil: unmaking ties
Sabrina Schneider
This article proposes a new approach to the Brazilian nonfiction novel from the seventies. It is understood that, in their appreciation of these works, academic literary critics considered only the impact of national political situation – the military dictatorship –, taking up these narratives as mere substitutes for censored newspapers. It was therefore disregarded the difference between news, product of daily informative journalism, and literary journalism, a

Sabrina Schneider ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan./jun. 2014. 132
journalistic genre that has no place in the mainstream press. While the former doesn’t include narration, the latter develops characters and builds a plot, establishing a fictional universe as accepted by authors such as Paul Ricoeur, Mikhail Bakhtin, and Käte Hamburger.
Keywords: nonfiction novel, literary journalism, military dictatorship, fictionality.

O passado subtraído da desaparição forçada: Araguaia como palimpsesto
Roberto Vecchi1
Deixaram de existir mas o existido
continua a doer eternamente.
Carlos Drummond de Andrade Araguaia, hoje, não é só mais uma página em branco da história
(ainda largamente por escrever) da ditadura militar no Brasil (1964-1985).2 É, em simultâneo, o mais espectral e, por paradoxo, se diria, o mais contemporâneo dos seus silêncios, das suas narrativas lacunosas e dispersas.
O que aconteceu naquela região do “Brasil ignoto” (para assumir uma definição clássica que remonta ao contexto encoberto de outro massacre, mais uma vez por parte do Estado republicano, aquele de Canudos em finais do século XIX na Bahia) sempre mais parece se constituir a partir da sua força de paradigma interpretativo mais amplo, sem com isso pretender transfigurar um caso trágico em um exemplo iluminador de uma totalidade histórica, um exercício sempre complexo pelo menos no plano conceitual, ainda mais naquele histórico.
No entanto, Araguaia vai além de Araguaia. Testemunham essa força simbólica, e de certo modo vicária suplementar, fatos recentes, mas que colocaram Araguaia na cena de uma visibilidade máxima e problemática, justamente porque articulada a partir de muitas faltas, omissões, apagamentos. Antes de tudo a sentença de 24 de novembro de 2010, notificada ao governo do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Gomes Lund e outros – Guerrilha do Araguaia – versus Brasil). Na sentença, o tribunal conclui que o Brasil é responsável pela desaparição forçada de 62 pessoas, ocorrida entre os anos de 1972 e 1974, na região do Araguaia. A corte também sancionou 1 Doutor em Estudos Portugueses e Brasileiros e professor associado de Estudos Portugueses e Brasileiros da Universidade de Bolonha, Bolonha, Itália. E-mail: [email protected] 2 Este texto foi, em algumas de suas partes, discutido por ocasiões de debates sobre a ditadura militar brasileira, na Europa e no Brasil. Agradeço a Jaime Ginzburg, Ettore Finazzi-Agrò, Raul Antelo, Maria Lúcia de Barros Camargo, Eduardo Schmidt Capela, Francisco Foot Hardman e Maria Betânia Amoroso pelas observações instigantes sobre o tema.

–––––––––––– O passado subtraído da desaparição forçada
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014. 134
que as disposições da Lei da Anistia que impedem a investigação de graves violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos. Depois, em março de 2012, o Ministério Público Federal assinou uma denúncia contra o coronel da reserva do Exército do Brasil, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, suspeito de ser o autor do sequestro de cinco militantes capturados durante a repressão à guerrilha. Curioso notar que Sebastião Curió, oficial que se mudou para o sul da Amazônia para coordenar a repressão contra a guerrilha, ficou tão popular na região, sobretudo como coordenador do garimpo da Serra Pelada, que se tornou epônimo de uma cidade de quase 20 mil habitantes que foi intitulada Curionópolis (como evidencia um belo livro de Leôncio Nossa, Mata! O maior Curió e as guerrilhas no Araguaia). Indícios todos, estes, que mostram uma complexidade específica do contexto do Araguaia que parece se inscrever, contrariamente ao valor historicamente exemplar acima mencionado, em figuras intransitivas ou irredutíveis para conotar o espírito de um tempo.
De fato, inúmeras são as exceções que constituem a tentativa revolucionária do Araguaia, antes de tudo a sua problematicidade em encontrar um nome próprio na cena histórica da ditadura militar brasileira, em que parece surgir sempre como um hiato, um parêntese. É suficiente ver como, no volume de certo modo oficial Direito à memória e à verdade, elaborado pela Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos Políticos, e publicado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Araguaia é introduzida como uma “suspensão” da sequência cronológica que pauta o volume (Brasil, 2007, p. 195).
Além disso, singular era a trajetória do PCdoB (Partido Comunista do Brasil, que surgiu de um racha do Partido Comunista Brasileiro em 1962), que defendia a luta armada já antes da ditadura militar. Não secundou nem o foquismo, considerado excessivamente voluntarista, nem o projeto de revolução continental, que era avaliado como externo aos valores do marxismo-leninismo. Afastara-se tanto de Cuba como de Moscou e, depois de uma breve estação de cooperação militar através do treinamento de militantes, também da China, para se aproximar da experiência isolada de um socialismo europeu de molde stalinista, como o albanês (Gaspari, 2002, p. 408-409).
Mas as singularidades não acabam aqui e, pelo contrário, redundam: num quadro dominado pela guerrilha urbana, mas que encontrava na

Roberto Vecchi ––––––––––––
135 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014.
Amazônia uma declinação própria (também com outros movimentos, como ALN, VAR Palmares, ainda que com planos só esboçados, presentes no campo), o PCdoB teve a persistência de promover, a partir de 1966, uma invisível ocupação da região chamada de Bico do Papagaio, na divisa entre Maranhão, Pará e Tocantins, marcada por agudos conflitos por questões de terra, que se estenderam até 1974, deflagrando, a partir de 1972, um conflito de guerrilha planejado como detonador de uma guerra popular.
Isolada e persistente, a guerrilha do Araguaia se enraizou profundamente no contexto comunitário da região, criando laços com os habitantes que aprenderam a conviver com “os paulistas” ou o “povo da mata”, paulistas oriundos predominantemente da classe média urbana em larga parte das filas do movimento estudantil (Brasil, 2007, p. 195). O exército desencadeou uma das mais ferozes repressões, com três expedições que chegaram a mobilizar, ao que parece, de 3 a 5 mil soldados que a partir de 1972, por quase dois anos, se lançaram sobre os grupos de guerrilha. Até o número das vítimas que foram executadas e eliminadas na guerrilha do Araguaia continua oscilante. A Comissão Especial analisou 64 casos de desaparecidos (Brasil, 2007, p. 203), 59 militantes do PCdoB (Gaspari, 2002, p. 461) e um número variável de moradores da região que apoiavam a luta. As vítimas poderiam ser – de acordo com a insuficiência documentária do caso que continua sendo objeto, inclusive depois do fim do regime militar, de uma macroscópica damnatio memoriae – em número bastante mais alto e, quase com certeza, não determinável. No entanto, esse caso aparentemente isolado do contexto das ações de resistência à ditadura concentra em si praticamente a metade do número de desaparecidos políticos (seriam 136, cf. Brasil, 2007, p. 17) dos anos do autoritarismo militar.
Mais uma singularidade do Araguaia: as caravanas dos familiares que já em 1980, ainda em tempos do regime militar, foram à região para recolher informações sobre os parentes desaparecidos apurando que havia indícios de uma vala clandestina e sinais de enterramento das vítimas dos massacres. Em seguida, sobretudo a partir dos anos 90, se sucederam missões de peritos forenses para localizar os restos mortais dos militantes mortos. Até agora foram resgatados os restos mortais só de dois militantes, Maria Lúcia Petit, em 1996, e Bergson Gurjão Farias, em 2009.
O que se executou de fato, sobretudo a partir da segunda fase da repressão, a começar de outubro de 1973, foi um massacre deliberado e

–––––––––––– O passado subtraído da desaparição forçada
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014. 136
irrestrito: a partir desse momento, não há sobreviventes ou presos, todos os integrantes dos grupos de guerrilha são mortos, e os seus cadáveres ocultados. Como observa Elio Gaspari:
A ditadura fixara um padrão de conduta. Fazia prisioneiros, mas não entregava cadáveres. Jamais reconheceria que existissem. Quem morria, sumia. Esse comportamento não pode ser atribuído às dificuldades logísticas da região, pois a tropa operava de acordo com uma instrução escrita: “Os PG (prisioneiros de guerra) falecidos deverão ser sepultados em cemitério escolhido e comunicado. Deverão ser tomados os elementos de identificação (impressões digitais e fotografia)” (Gaspari, 2002, p. 420).
Houve, portanto, um duplo ocultamento dos corpos dos inimigos mortos e dos arquivos que documentavam a violência da repressão praticada pelos militares que ficou assim, literalmente, obscena e não relatável. Em certo sentido, no quadro comparativo deste artigo, poderia surgir um traço de aproximação da estratégia de ocultamento do Araguaia com a guerra colonial de Portugal na África, submetida a um recalcamento análogo e com técnicas de certo modo comuns.
Araguaia, na verdade, acaba por se tornar a brecha que deixa entrever o rosto do horror do regime, em que a produção tanatopolítica que se articulou pela morte, a destruição e o ocultamento do corpo do inimigo é fruto de uma deliberada racionalidade.
Sendo assim, porém, as exceções do Araguaia se inscreveriam dentro de uma linha de continuidade com muitos outros contextos latino-americanos posteriores. Na verdade, há uma densidade semiótica consistente no “texto” do Araguaia, que transcende de certo modo os fatos e talvez possa explicar o seu potencial de simbolização de uma violência de Estado que se abateu em vários âmbitos do contexto histórico brasileiro da época ou também em outras épocas da repressão dos movimentos populares no Brasil. Um traço, este, que confirma a modernidade da catástrofe da desaparição forçada, assim como a formula o sociólogo Gabriel Gatti (2008, p. 32). Vamos mencionar pela ocasião, ainda que sinoticamente, alguns, inclusive para sublinhar como aqueles que podemos entender como “subtextos” da cena do Araguaia – resumíveis em três campos dominantes: culto, citação e barbárie – abrem o terreno para uma aproximação como aqui se propõe do massacre do Araguaia como um objeto criticamente denso para uma contraleitura da cena autoritária brasileira.

Roberto Vecchi ––––––––––––
137 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014.
O primeiro elemento, na verdade uma conjetura, diz respeito ao fato de que os túmulos secretos dos guerrilheiros foram deslocados ao longo das décadas que seguiram a matança, o que é coerente com o objetivo do apagamento ou encobrimento dos eventos. Mas é interessante lembrar que, como aparece em depoimentos posteriores, por ordens superiores, corpos de militantes da guerrilha do Araguaia, enterrados na mata, foram retirados das covas e levados para outros locais para evitar “romarias da população” (Michael, 2004, p. A6). Essa troca de túmulos mostra o quanto o exército se ocupava para que os mortos não se tornassem objeto de culto por parte da população, que a ação revolucionária e o apoio em prol da população não fossem mitologizáveis pelo sentimento e a fé populares.
O segundo elemento se refere a outro suplemento simbólico que se inscreve como mais um “subtexto” no Araguaia: a barbárie da decapitação dos inimigos mortos, que remete para outra cena de massacre como a destruição de Canudos relatada por Euclides da Cunha em Os Sertões, assim como as narrativas de destruição da unidade figural, corpórea do inimigo do período colonial ou das lutas contra os jagunços inclusive em tempos republicanos. Evoca, como um recuo temporal, a violência da colonização ou da colonialidade: o corpo massacrado, ou despedaçado, minado na sua inviolabilidade que é o estatuto ontológico do humano; encontra em suma na figura mitológica da Medusa, na cabeça cortada, talvez o seu emblema mais eloquente do horror como abismo que flagra e silencia a representação (Cavarero, 2007, p. 15). Ao mesmo tempo, esse “subtexto” se articula pela acumulação de outros elementos, como a exibição do corpo do inimigo morto: é o que ocorre, por exemplo, com uma das lideranças pioneira da guerrilha, Osvaldo Orlando Costa, conhecido como Osvaldão, morto em fevereiro de 1974 e depois içado por um helicóptero, de modo que as populações da região pudessem ver o seu cadáver macabramente exibido. Também nesse caso, antes de enterrá-lo, lhe foi cortada a cabeça (Gaspari, 2002, p. 406). Uma imagem, certo, mas a imago mortis do inimigo, os vestígios dos seus restos, que remete para representações capazes, como sugere Giovanni De Luna estudando as fotografias dos cadáveres da guerra, de desmontar e repensar as retóricas monumentalizadoras que se acumulam em torno dos fatos bélicos (De Luna, 2006, p. 7).
Enfim, há outro elemento subtextual que proporciona, porém, a evidência de que o Araguaia funciona como uma narrativa complexa e

–––––––––––– O passado subtraído da desaparição forçada
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014. 138
simbólica da violência do autoritarismo, que com ferramentas interpretativas adequadas deve ser repensado. É o traço, que foi evidenciado por Edgar de Decca, de como as narrativas de massacre de certo modo se citam e criam, pelo menos na cena da violência de Estado histórica no Brasil, inesperadas conexões, semanticamente relevantes, como no caso de outro massacre, o de Eldorado dos Carajás contra camponeses do Movimento dos Sem Terra que ocorreu numa região próxima do Araguaia em 1996. A narrativa desse massacre mobilizou tanto a memória coletiva que, como nota o historiador, “menos de um mês depois deste massacre foi identificada uma guerrilheira assassinada no Araguaia pelo regime militar (Decca, 1997, p. 58). A deslocação, a repetição das narrativas (e, como já lembramos, temos na literatura brasileira uma das grandes obras que não é só uma escrita da violência mas é efetivamente uma narrativa de massacre, a de Euclides da Cunha) tem como consequência a de revelar a representação do massacre, embora isso implique os riscos de distorcer os fatos – portanto impedir a sua historicização, a sua citabilidade como história encerrada – pela superposição de filtros, de véus, de mediações. Funcionaria assim como uma espécie de restituição só e parcialmente simbólica mas que, pelo mecanismo da citabilidade, da re-citação, vai formar uma trama precária mas que debilmente proporciona representação de fatos que de outro modo ficariam indizíveis.
Aqui chegamos, a meu ver, ao ponto crucial que mostra a dimensão “exemplar”, em termos teóricos, do Araguaia dentro do contexto de historicização ainda em aberto dos anos da violência do regime militar que dominou o Brasil de 1964 a 1985. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, na demanda de 2009 que originará a sentença do ano seguinte, desenvolve algumas importantes considerações de ordem conceitual sobre os temas da restituição e reparação dos danos provocados pelo Estado na repressão do Araguaia. Afirma nos artigos 228 e 244, no âmbito da obrigação de reparar:
A reparação do dano ocasionada pela infração de uma obrigação internacional requer, sempre que seja possível, a plena restituição (restitutio in integrum), a qual consiste no restabelecimento da situação anterior à violação. [...] Em atenção ao tempo transcorrido, assim como à natureza e magnitude dos danos ocasionados, a Comissão considera, no presente caso, que não é possível que haja uma restituição plena. O elenco de medidas de reparações solicitadas considerará esta conclusão (OEA, 2009).

Roberto Vecchi ––––––––––––
139 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014.
A restituição, juridicamente definida, seria, portanto, como é evidente, impossível no caso do Araguaia. Ou seja, a restituição, assim formulada, também entraria naquele léxico negativo de que fala Derrida quando aborda o tema da impossibilidade do perdão recuperando as razões sobre o imprescritível de Jankélevitch, léxico que se refere ao ser passado que não passa (Derrida, 2004, p. 51): termos como irreparável, inapagável, irremediável, irreversível, inesquecível, irrevocável, inexpiável. Mesmo que ocupem áreas semânticas limítrofes, mas não coincidentes, nessa constelação terminológica se inscreveria também a impossibilidade de uma restituição, o “irrestituível”, diríamos, do Araguaia.
O problema da restituição talvez represente, no plano conceitual, o campo mais problemático e ao mesmo tempo central da elaboração pós-autoritária que se associa à violência da ditadura militar no Brasil. Não só porque o campo intersecta inúmeros saberes (direito, psicanálise, crítica literária e cultural, filosofia política, entre outros) mas também porque um dos marcos do terror de Estado praticado no século XX no subcontinente – com a destruição total do corpo do inimigo morto e ocultamento de seus rastros –, de que o Brasil foi um dos primeiros terrenos empíricos, põe drasticamente em crise e faz colapsar a noção jurídica de restituição ad integrum que é projetada no plano da impossibilidade ou das possibilidades exclusivamente fantasmáticas.
Como pode então a restituição ser entendida? O conceito de restitutio ad integrum pertence a uma das mais antigas tutelas, já prescrita pelo direito romano, de acordo com a qual se restabelece um status quo antes que foi modificado de modo ilegítimo. Pertence aos poderes extraordinários do Praetor, que podia exercê-lo também em nome de ausentes, menores ou incapacitados (Santí, 2005, p. 88). Fora do contexto estritamente jurídico, é oportuno lembrar o debate que na década de 90 ocorreu nos estudos latino-americanos, em particular pela contribuição de críticos como Enrico Mario Santí ou Alberto Moreiras, sobre o conceito de latino-americanismo e que desenvolviam uma reflexão sutil sobre a restituição. Na reconstrução de Santí em particular, o conceito de restituição é reformulado de modo particularmente interessante. Decorre da etimologia jurídica e dos seus reusos históricos, mas logo toma uma direção própria, dialogando com a ideia de “poéticas da restituição” sugerida por Geoffrey Hartman em The Philomela Project, o projeto virado para o restauro (“restoration”) das vozes das pessoas que não podem falar (“inarticulate”) (Hartman, 1991, p. 169). Perspectiva

–––––––––––– O passado subtraído da desaparição forçada
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014. 140
interessante, esta do crítico americano, porque de certo modo se conecta com o debate sobre a possibilidade de “fala” dos subalternos que, nesses mesmos anos, a partir de um famoso ensaio de Spivak, alimenta uma discussão não menos intensa.
Hartman (1991, p. 170-174) capta que o processo de restituição, entre presenças e ausências, é inexaurível (“o processo de restituição, de corrigir os erros, parece sem fim”) e, sobretudo, o projeta no campo político, da subjetividade ética (“a new, spiritually as well as politically effective, respect”). Dentro desta visão que recorta “ficções legais” de acordo com as quais os historiadores criam personagens para as presenças-ausências do passado, Santí (1992, p. 89) tende a valorizar as “hermenêuticas compensatórias” das perdas da restituição, discutindo quais figuras são criadas para preencher as ausências implícitas nas poéticas restitutivas e elaborando a hipótese de que a restituição como prática crítica sempre é suplementar, visto que compensa lacunas anteriores, portanto excede – mais do que restaura – um original que definitivamente se perdeu e se dissolveu. O gesto crítico da restituição, desse ponto de vista, seria, portanto, sempre mais amplo em relação ao que se entende restituir, porque, preenchendo um vazio, se investiria sempre mais força (embora, pelos ocos e faltas, a força necessária seja imensurável) ou até se modificaria o objeto.
O problema da restituição, na reconceitualização latino-americanista, perante as vozes mudas, passa desse modo para a parte do intérprete e não fica do lado do objeto que, aliás, é, na maioria dos casos, fragmentário ou perdido. Dentro de uma perspectiva como essa, o que prevalece é o interesse por como a restituição ocorre, não tanto pelo que ela pode resgatar. Nesse sentido, surge uma questão próxima daquela levantada pelos estudos subalternos: a restituição, na sua tensão com outro termo afim, mas não coincidente, como é restauro (“restoration”), coloca o problema não poético, mas político do intérprete que fala “em nome de” ou de quem fala efetivamente “do ponto de vista do outro” (Santí, 2005, p. 13 e p. 18), sobrepondo a própria voz com a voz do outro. Assim, a ideia da restituição que incorporaria, como anota Alberto Moreiras, uma espécie de “surplus economy” (Moreiras, 2001, p. 154) elucida adequadamente a filologia como prática hermenêutica correlativa que põe a questão de como ler um texto (ou um passado) degradado e lacunoso, sem o trair, sem o transformar, pelo gesto da

Roberto Vecchi ––––––––––––
141 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014.
restituição não criticamente formulado ou praticado enquanto restauro, num texto contemporâneo e irredutivelmente outro.
Perante o dilema de uma restituição juridicamente impossível ou filologicamente arriscada, ao mesmo tempo vale a pena não abdicar da ideia de uma restituição do texto do Araguaia que restaure integralmente a voz das vítimas silenciadas dos massacres. Como já Gramsci tinha assinalado num texto seminal, sempre para a configuração epistemológica dos estudos subalternos, a história “desagregada e episódica” dos grupos sociais subalternos, praticamente desprovida de rastro histórico, pode ser recuperada através de um exercício criador e metódico (uma restituição, de certo modo) de investigação que aproveita indícios débeis e dispersos, escapados à intenção autoral, para construir histórias alternativas do ponto de vista não dominante (Gramsci, 1975, p. 2283).
No caso do Araguaia, o resgate de uma narrativa efetivamente restitutiva passa por uma incorporação das exceções e dos subtextos que tornam a superfície simbólica do caso extremamente intricada, constituída de uma trama densa e até hoje só obliquamente decifrável. Se por um lado não há e não haverá uma “escrita do massacre” do Araguaia como ocorreu, como regime de exceção, em Canudos, ao mesmo tempo, pelas suas peculiaridades, o Araguaia resume exemplarmente experiências históricas de violências políticas que marcaram não só o Brasil mas também outros países sul-americanos. O texto que, pelo momento, prevalece é o silêncio imposto pelo regime militar. Este também entra no processo de restituição, porque o modo como se produziu o Araguaia permite definir uma sintaxe simbólica do massacre, que assim se torna, entre ouras coisas, também uma técnica para “imaginar a comunidade”, uma narrativa identitária com a obra, o extermínio, que repete e se repete na diferença das performances – pense-se na cena da tortura ou de outros contextos repressivos do tempo – que agem sobre os corpos do inimigo.
O Araguaia como texto, como narração impossível, ou interrupções conjugadas preenchendo ficticiamente um vácuo, um oco, põe o problema do texto da desaparição política. Não no sentido de uma relação direta entre a desaparição da história (Araguaia) e a escrita da desaparição do corpo do inimigo político. Mas porque o ocultamento decorre de uma matriz comum, não só de ordem histórica, mas especificamente conceitual, como produto de uma razão semiótica que

–––––––––––– O passado subtraído da desaparição forçada
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014. 142
impossibilita ou pelo menos mina a possibilidade da narrativa pelo apagamento, a destruição lucidamente construída do signo. Por isso, o Araguaia pode ser assumido como palimpsesto crítico para talvez viabilizar uma leitura de textos (de obras) da desaparição política engendrada pela mesma violência autoritária que produziu o Araguaia como “obra”.
O tema atravessa pelo menos liminarmente numerosos outros textos, perpassa pela literatura memorialista produzida na urgência da abertura política, ou aparece em grandes romances como Sempreviva, de Antonio Callado (1981), em que a quête alucinada de Quinho, o protagonista, exilado e regressado clandestinamente para o Brasil, é originada pela desaparição e morte da companheira, a busca de outras duas guerrilheiras e a localização dos autores das atrocidades daquele tempo: a flor do título metaforiza a condição do luto irresolvível quando falta o corpo, a sua impossível fetichização mesmo como representação fetichizada ou delírio, e se naturaliza na figura da flor mortuária das “saudades perpétuas”.
Na construção de uma escrita que da história mutilada (Araguaia) abra um espaço – na verdade um limiar – na literatura, há uma obra que enreda muitas das questões de um “texto”, uma obra semiótica paradoxal, do Araguaia. Trata-se do romance de Bernardo Kucinski K., de outubro de 2011, contemporâneo da Comissão Nacional da Verdade e que na véspera dos 50 anos do golpe de estado militar inaugura uma possibilidade efetiva de escrever a desaparição política. Como um apêndice paradoxal do caso do Araguaia.
O título que remete de imediato para o labirinto distópico da narrativa kafkiana expõe logo a literariedade do projeto. Embora seja fácil pensar que a articulação se constrói sobre a substância biográfica do autor, irmão de um dos desaparecidos pela repressão política em 1974, Ana Rosa Kucinski, professora de química na USP, que com o marido Wilson Silva foi sequestrada e eliminada (as fotos de Ana Rosa apareceram, em São Paulo, na mostra Ausências, do fotografo argentino Gustavo Germano, em que se destacava o mesmo pano de fundo, o antes e o depois, o então e o agora: obra também que põe em jogo o problema conceitual da crítica pela ausência da presença, no caso da desaparição).
O livro foge à armadilha memorialista e se envereda pelo caminho da invenção: como na primeira linha da carta inicial ao leitor se postula: “Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu” (Kucinski,

Roberto Vecchi ––––––––––––
143 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014.
2011, p. 13). O laço pessoal portanto não tange a substância da narração, para deixar espaço ao outro, imenso espaço privado constituído pela invenção de K., o pai de Ana Rosa (não nomeada na narrativa). A economia da ausência enquanto material se desdobra a partir de uma ideia de acumulação, de recolha de histórias, fragmentos, contos como se uma possível homogeneidade narrativa não só fosse inviável mas mesmo que tentada desmoronasse nos restos de qualquer unidade ideal, sob o impacto fraturante da experiência traumática.
Essa acumulação de fragmentos não se submete a uma ordem que seria artificial, deixando margem a multíplices leituras ainda que dentro da moldura tênue de uma série mínima: como sempre se sanciona na carta ao leitor: “A unidade se deu através de K. Por isso, o fragmento que o introduz inicia o conjunto, logo após a abertura. E o que encerra suas atribulações está quase no final. A ordem dos demais fragmentos é arbitrária, apenas uma entre as várias possibilidades de ordenamento dos textos” (Kucinski, 2011, p. 13).
Assim, o romance parece desfazer-se na arquitetura mais precária – mas, ao mesmo tempo, muito mais densa, pela força das relações e das elipses – de uma antologia de contos (Flávio Aguiar) em que o gesto do autor se sobrepõe mais ao de um organizador de um conjunto de parte desunidas, expondo a parcialidade e a ruptura.
K. é o judeu polonês da resistência emigrado no Brasil, escritor yiddish, que percebe, no momento do sumiço e da angústia crescente pela subtração definitiva, que desconhece a filha e o mundo que ela tinha construído. A quête nesse sentido é dupla, por um lado das notícias dela – se continua ou não em vida –, por outro dos rastros que ainda que de forma dolorida a reaproximem dele, um exercício cultual e póstumo dos sinais que ela espalhara na existência, num engajamento com o mundo que tinha passado completamente despercebido pelas distâncias e distrações de K. No entanto, apesar dos esforços, da corja de corruptos e falsos ajudantes que alimentam esperanças irreais, a restituição ad integrum é impossível, mas outras formas restitutivas se delineiam como resultado de um trabalho suplementar, do preenchimento de objetos que se perderam para sempre. Poder-se-ia pensar que pela figuração literária tal processo recompositivo ocorre. Mas assim seria um postiço, um fetiche de algo que deixou de ser pela violência enorme que se abateu sobre ele. No entanto, o que se torna

–––––––––––– O passado subtraído da desaparição forçada
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014. 144
evidente é que o gesto da restituição é um gesto de autor (praetor), que ocorre pelo próprio repúdio da arte e de outras formas cultuais.
O que ocorre com K. é uma iniciação através de algumas dilacerações: o abandono da literatura (que não encontra palavras que expressem a indizibilidade do trauma), o abandono da religião (da comunidade hebraica, que, pela ausência do corpo, recusa uma matzeivá simbólica), o abandono do livro (pelo tipógrafo que lhe nega esse enterro figurado porque o considera subversivo), o abandono de uma sociedade, de um país que, insensível aos horrores, monumentaliza a memórias dos algozes e não das vítimas.
A iniciação que funciona como uma “verdadeira simulação” (Baudrillard, 1988, p. 23) pela força do traumatismo estético da experiência histórica proporciona outro elemento suplementar: através do tropo da prosopopeia, ou seja, do objeto inanimado, que tem nome e fala, figuras abjetas da repressão como Sérgio Paranhos Fleury, o delegado coordenador do DOPS e todo o grupo de algozes paulista, encontram, enquanto máscaras, rostos, atos e palavras do horror em alguns fragmentos impressionantes.
K., assim, assume sua função suplementar e parcial em relação a um resgate do passado, mas se trata da maior recomposição possível, se configura como uma “poética da restituição” no sentido de Geoffrey Hartman, que no entanto, ao deixar emergirem despojos de um passado recalcado, aciona um dispositivo de reparação, como se depreende na denúncia não dos responsáveis dos crimes mas da sociedade que os treinou e os protegeu e que ainda conserva ativa, apesar de temporariamente não em função, a máquina efetiva e não só ideológica que tornou possível, num passado recente, a prática da violência de estado contra cidadãos inermes cuja destruição foi lucidamente planejada.
Como o Araguaia, enquanto texto, K., que não poupa críticas e denúncias a 360 graus e constrói uma ideia alternativa de patrimônio (um patrimônio que com Aby Warburg se pode chamar de patrimônio de sofrimento), narrativizando rastros e sinais que assim podem criar uma outra narração do passado dentro de uma poética restitutiva próxima, por morfologia e conteúdo de uma demanda de reparação a partir de um uso poético muito cuidadoso das ausências que são o legado da época autoritária.
O que se depreende destes casos textuais (Araguaia e K), também pela sanção prevista pelo dispositivo da demanda citada anteriormente, é

Roberto Vecchi ––––––––––––
145 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014.
de certo modo a simetria inclusive, mais uma vez etimológica, que combina “reparar” e “restituir”, este na acepção filológica que estamos discutindo: ambos com um prefixo recursivo, o primeiro termo é um composto do verbo latim “parare” no sentido de dispor, o segundo do verbo “statuere” que significa fazer com que algo (que foi posto ou disposto) fique estável e firme. Um sentido que, ainda que só no plano linguístico, mas com projeções também naquele conceitual, pauta as relações entre reparação e restituição mostrando uma conexão que os encadeia (numa ordem menos esperada) e os põe numa relação funcional.
O que a restituição do texto do Araguaia ou de Ana Rosa Kucinski põe de certo modo em jogo é uma filologia, por assim dizer, das ausências a partir das quais procura depreender não tanto uma verdade do texto (que fica ancorada à circunstância ou à ideologia), mas o seu significado como resultado da sua sintaxe linguística (Santí, 2005, p. 89). Nessa linha, seria preciso definir as técnicas que deveriam ser aplicadas, filologicamente, ao texto lacunoso dessa página de história. Dentro de um repertório amplo e largamente interdisciplinar, se podem mencionar exemplos como a gramatologia de Derrida, que, pela lógica do suplemento, propõe tornar a presença o rastro do que não está, da ausência, ou, no campo das artes plásticas, a obra de Christian Boltanski, que também se concentra sobre a presença de uma ausência, ou a sua visibilidade, como acontece na obra La maison manquante (Assmann, 2002, p. 415).
A restituição exige, portanto, complexas operações críticas, inclusive epistemológicas, sobre como, a partir da sua insuficiência e ao mesmo tempo porosidade, pode contribuir a alimentar um trabalho, enlutado e residual, de outro modo impossível, sobretudo na ausência dos despojos ou de restos materiais. Desse modo, se redefinem as práticas, efetivas e simbólicas, de restituição (em relação também com outras práticas culturais e cultuais, como o restauro, a reintegração, o resgate ou a inviabilidade da própria ideia jurídica de restitutio ad integrum). No âmbito dos estudos latino-americanos, políticas conceituais metaforicamente conexas com a responsabilidade “filológica” da restituição textual se diferenciaram, por exemplo, do trabalho de restauração impossível de algo que definitivamente se perdeu, porque exibem um excesso ou um suplemento em relação ao objeto que as origina. Assim é possível referenciar o texto sobre a violência da ditadura militar no Araguaia como um esforço político de vocalização

–––––––––––– O passado subtraído da desaparição forçada
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014. 146
dos silêncios do passado, portanto da abertura de campo para outra poética de restituição.
A possibilidade de escrever outra narrativa passa, no entanto, pelo desocultamento do passado, no sentido da localização de despojos e da abertura dos arquivos do exército, ou seja, por uma reparação-restituição, hoje, essencialmente documentária. Porque, como afirma a sentença de 24 de novembro de 2010, sobre o Araguaia, o “Estado deve continuar desenvolvendo as iniciativas de busca, sistematização e publicação de toda a informação sobre a Guerrilha do Araguaia, assim como da informação relativa a violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010, XXII, 16). Tal atitude marca o fato de que, pela primeira vez, uma sentença internacional reconhece que, para as vítimas e as suas famílias, o direito à informação deve ser considerado por si mesmo um dos direitos humanos a serem reconhecidos.
Assim, em nome de um “direito humano à verdade”, os textos das desaparições políticas poderiam ser restituídos, apesar de suas lacunas ou faltas, sobretudo na impossibilidade de uma escrita integral dos massacres que se consumaram durante a ditadura, como fato racional, sistematicamente ocultado pela ditadura, que procurou apagar todos os seus vestígios materiais. Por paradoxo, no entanto, o Araguaia, pela sua força simbólica enquanto palimpsesto não inteiramente apagado, mas encoberto ainda por outra voz dominante, poderia reemergir como outra escrita, proporcionando uma narrativa exemplarmente reveladora de outras violências do Estado, nos anos ainda bastante sombrios da ditadura militar. Mais do que qualquer monumento, a sua possibilidade de ser citada enquanto narrativa torna a sua restituição, ainda que parcial ou marcada pelos riscos de expressar tempos outros e não o tempo próprio, um ato obrigatório e não secundário para a fundação de uma memória comunitária também dos anos obscenos e mudos, pelo menos do ponto de vista das vítimas, do horror.
Referências
ANDRADE, Carlos Drummond de (1983). Poesia e prosa organizada pelo autor. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.

Roberto Vecchi ––––––––––––
147 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014.
ASSMANN, Aleida (2002). Ricordare: Forme e mutamenti della memoria culturale. Bologna: Il Mulino.
BAUDRILLARD, Jean (1988). La sparizione dell’arte. Tradução para o italiano de Elio Grazioli. Milano: Politi.
BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (2007). Direito à memória e à verdade. Elaborado pela Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: SDH/PR.
CAVARERO, Adriana (2007). Orrorismo ovvero della violenza sull’inerme. Milano: Feltrinelli.
DECCA, Edgar Salvadori de (1997). Quaresma: um relato de massacre republicano. Anos 90, Porto Alegre, v. 5, n. 8, p. 45-61.
DERRIDA, Jacques (2004). Perdonare. Milano: Raffaello Cortina.
DE LUNA, Giovanni (2006). Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporánea. Torino: Einaudi.
GASPARI, Elio (2002). A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras.
GATTI, Gabriel (2008). El detenido desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad. Montevideo: Trilce.
GRAMSCI, Antonio (1975). Ai margini della storia (storia dei gruppi sociali subalterni). Quaderno 25 (XXIII) 1934. In: Quaderni del Carcere. Edição organizada por Valentino Gerratana. Vol. 3. Torino: Einaudi.
HARTMAN, Geoffrey H. (1991). The Philomela Project. In: Minor prophecies. The literary essay in the culture wars. Cambridge, London: Harvard University Press.
KUCINSKI, Bernardo (2011). K. São Paulo: Expressão Popular.
MICHAEL, Andréa (2004). Exército transferiu os corpos de guerrilheiros do Araguaia. Folha de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. Caderno Brasil, p. A3.
MOREIRAS, Alberto (2001). The exhaustion of difference. The politics of Latin American cultural studies. Durham: Duke University Press.
OEA (2009). Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso 11.552 - Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia). Contra a República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/demandas/11.552%20Guerrilha%20do%20Araguaia%20Brasil%2026mar09%20PORT.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2014.
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (2010). Sentença de 24 de novembro. Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil.

–––––––––––– O passado subtraído da desaparição forçada
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014. 148
Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2014.
SANTÍ, Enrico Mario (1992). Latinamericanism and restitution. Latin American literary review, Chicago, v. 20, n. 40, p. 88-96.
______ (2005). Sor Juana, Octavio Paz, and poetics of restitution. In: Ciphers of History. Latin American readings for a cultural age. New York, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em fevereiro de 2014. resumo/abstract
O passado subtraído da desaparição forçada: Araguaia como palimpsesto
Roberto Vecchi O artigo aborda o tema da desaparição forçada no contexto do autoritarismo militar no Brasil definindo em primeiro lugar o caráter problemático da restituição de uma memória dos desaparecidos a partir da inviabilidade da categoria jurídica de restitutio ad integrum. O palimpsesto histórico a ser pensado nesta perspectiva é aquele da guerrilha do Araguaia, que foi apagada dos mapas da história do Brasil. O caso leva à problematização do conceito de restituição dentro do debate contemporâneo que o aproxima do ato de autor e o reconfigura dentro de uma perspectiva de subjetividade ética, analogamente ao que acontece com outro conceito chave da contemporaneidade, aquele de testemunha. A literatura se presta assim a se tornar um fértil campo onde repensar a restituição. O caso literário aqui considerado é o romance K., de Bernardo Kucinski, que, assumindo explicitamente um pacto ficcional, consegue subtrair à destruição sem ruína da desaparição forçada uma memória precária mas possível do passado traumático.
Palavras-chave: ditadura, guerrilha do Araguaia, Bernardo Kucinski.
The subtracted past of the forced disappearance: Araguaia as a palimpsest
Roberto Vecchi The article approaches the aporetic topic of the forced disappearance in the context of military authoritarianism in Brazil, primarily setting the problematic character of the restitution in the case of the political “desaparecidos” deriving

Roberto Vecchi ––––––––––––
149 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 133-149, jan./jun. 2014.
from the impossibility of the legal category of “restitutio ad integrum”. The historical palimpsest to be thought in this perspective is the case of the Guerrilla of Araguaia that was completely erased from the maps of the Brazilian history. The case opens the discussion on the concept of restitution in the contemporary theoretical debate. It is configured similar to the act of author, inscribed in a perspective of ethical subjectivity, similarly in this sense to what happens with another key concept of contemporaneity: the witness. Literature can be assumed in this perspective as a fertile field through which rethinking restitution. The literary case considered in the article is the novel K., by Bernardo Kucinki. Explicitly assuming a fictional pact, it makes possible to subtract – from a destruction without ruins – the precarious but possible memory of the traumatic past of the forced disappearance.
Keywords: dictatorship, Araguaia guerrilla, Bernardo Kucinski.


Relíquias da casa velha: literatura e ditadura militar, 50 anos depois
Tânia Pellegrini1
Perdoem a cara amarrada, Perdoem a falta de abraço, Perdoem a falta de espaço,
Os dias eram assim. [...]
E quando brotarem as flores E quando crescerem as matas E quando colherem os frutos
Digam o gosto pra mim.
Ivan Lins e Vítor Martins
Um parâmetro Decorridos cinquenta anos do golpe militar de 1964 – já cristalizado
como matéria histórica e tema que tem me acompanhado ao longo de décadas –, é possível repensar questões importantes ainda hoje para a crítica cultural e literária. De modo geral, posso afirmar, desde logo, que a ditadura permanece como uma espécie de parâmetro inescapável para a compreensão de tudo o que veio depois, uma espécie de casa velha a que sempre se volta à procura de vestígios, resquícios e pistas talvez ainda reveladoras, apesar dos inúmeros inventários, balanços, mapeamentos e sínteses escritos depois.
Estudando-os, pois já constituem ampla bibliografia,2 é possível encontrar uma série de pontos recorrentes, mesmo sendo seus objetivos e pressupostos críticos bastante diversificados. Além de a censura ser um tópico que recebeu muita atenção, sobretudo no que se refere a sua influência em autores e obras, o método usual de dividir longos períodos em décadas é predominante, com qualificativos já sedimentados; desde os “dourados” anos 1960, considerados o ponto inicial do processo, passando pelos “anos de 1 Doutora em teoria e história literária e professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, Brasil. Docente permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos de Literatura e do Programa de Pós-graduação em Sociologia da mesma universidade. E-mail: [email protected] 2 Ver uma relação dos mais citados, certamente incompleta, na bibliografia geral.

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 152
chumbo” da década de 70, seguindo pela “década perdida” dos anos 80 e pela do “desencanto” dos anos 90, chega-se ao “século XXI” – prematuramente assumido por vários críticos como corte temporal significativo –, em que se antevê um admirável mundo de novas tecnologias e subjetividades encapsuladas em violência e plasma, refletidas nas produções culturais. Em resumo, um longo período de consequências, cujas causas principais teriam forte relação com o tempo da ditadura militar brasileira.
E realmente foi esse o tempo em que se gestaram projetos e situações determinantes para uma espécie de ponto de inflexão no curso e na dinâmica do processo de desenvolvimento cultural do país, que vinha se fazendo em ritmo pausado. Dentre esses arranjos, cabe de fato destacar a ação da censura, pois a truculência de seu aparato, incidindo diretamente sobre a produção simbólica, inspirou um sem-número de investigações posteriores a sua vigência, que procuraram esmiuçar, na filigrana de cada criação artística, suas marcas reais ou imaginárias. O que parece ter ficado um pouco de lado ou, melhor dizendo, o que chamou pouco a atenção dos pesquisadores de literatura foi seu arcabouço institucional, enquanto pedra angular de toda a estruturação do campo cultural no período. Operada com eficiência e agilidade, sobretudo nos anos mais duros do regime, a censura forneceu a camuflagem necessária para a firme ancoragem de um novo modo de produção cultural no Brasil, interligado ao que se passava internacionalmente, sendo que, no nível da criação, com o amparo de políticas recém-criadas, incentivou direta ou indiretamente uma série de soluções temáticas e formais novas ou mesmo antigas, então revisitadas, em todas as áreas culturais.
Nesse sentido é que este ensaio – amparado em consulta a jornais e revistas de várias décadas, além de revisitar parte da produção crítica sobre o tema e de retomar também minhas próprias pesquisas anteriores3 – procura traçar uma visão geral das relações entre as ações específicas do regime militar para o campo cultural com modificações significativas nas matrizes preexistentes na prosa de ficção, sobretudo temáticas, que foram traduzindo o mal-estar e a perplexidade geradas naqueles anos difíceis, bem como suas derivações até os dias de hoje. 3 Refiro-me aos meus livros Gavetas vazias: ficção e política nos anos 70 (1996) e A imagem e a letra: aspectos da ficção brasileira contemporânea (1999) e a alguns escritos esparsos.

Tânia Pellegrini ––––––––––––
153 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
Tempos difíceis
Tomando, então, a censura como ponto inicial, pode-se dizer que, de
modo geral, a visão mais linear a seu respeito tende a fixar os anos 1970, os “anos de chumbo”, como aqueles em que ela atuou com maior peso, determinando uma espécie de estética do reflexo, na medida em que efetivamente impôs seus “padrões de criação”, como se sabe, cortando, apagando, proibindo ou engavetando incontáveis peças, filmes, canções, novelas de TV, artigos de jornal e obras literárias. Por essa lente, toda a produção que conseguiu vir à luz já conteria, refletida em sua forma, elementos que visavam burlar a percepção do censor, numa espécie de código cifrado que só aos iniciados seria dado deslindar.
Mesmo sob censura, porém, entre as famosas receitas culinárias truncadas, figuras e símbolos, poemas variados e os versos d’Os lusíadas, que enchiam as páginas proibidas, muitos jornais e revistas de grande circulação na época, termômetros sensíveis das mudanças culturais, bem como artigos e ensaios acadêmicos, consagraram as expressões hoje emblemáticas “vazio cultural” e “geleia geral”, indicando um ácido pessimismo: nada se estava produzindo ou não correspondia mais a padrões reconhecíveis aquilo que se produzia. Apostava-se, inclusive, que, no fim desse tempo tão duro, tanto as gavetas dos criadores quanto as dos censores estariam irremediavelmente vazias. Ledo engano, pois a grande produção desses anos, como se viu depois, traz marcas e cicatrizes, sobre as quais foi possível refletir.
Nos jornais alternativos de então, os “nanicos”, como eram chamados, tais como Opinião, Movimento, Verso, Em tempo, Pasquim e outros – que conseguiam juntos, só com venda em bancas, uma circulação superior a das revistas Veja e Manchete –, abrigava-se a produção mais crítica, com nomes respeitáveis de todas as áreas culturais. Por exemplo, Otto Maria Carpeaux, num breve balanço sobre a produção cultural de 1972, “Arte e sobrevivência”, para Opinião, escreveu:
Os descontentes com esse estado de coisas costumam denunciar um grande responsável: a censura. Certamente a censura não é a amiga desinteressada da literatura, das artes, do teatro, do cinema; e tem aversão marcada contra as ciências sociais. Mas muito mais forte que a censura afigura-se-me a autocensura. E a autocensura sempre se inspira no medo da censura. Seu motivo

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 154
principal é o instinto de autoconservação econômica, que desaconselha os conflitos, preferindo às artes e às ciências conflitantes, o comodismo e a apatia (Carpeaux, 1973, p. 6).
Visto de hoje, já com distanciamento maior (talvez sempre não de todo suficiente), sabe-se que o centro do problema não é exatamente esse, que existem aí mais nuances e matizes, envolvendo questões estruturais ligadas ao projeto econômico e político do regime e evidenciando um planejamento estratégico específico para a área cultural, encarada então como elemento catalisador para os objetivos de modernização, integração e segurança nacional do país, além de sua inserção no ritmo do capitalismo internacional. Por conseguinte, pensar que a institucionalização da censura foi o único fator a incidir sobre a produção cultural é olhar para um lado da questão, é girar o eixo interpretativo para um lado só, ou, dito de outro modo, é tomar a parte pelo todo.
No meu modo de entender, um dos aspectos mais importantes para uma visão ampliada do fenômeno – deixando de lado análises tópicas de autores e obras, pois não é disso que se trata aqui – refere-se à consolidação dos esquemas mercantis de produção cultural e literária, ou seja, à consolidação de uma indústria cultural brasileira, que se efetivou à sombra da censura. Assim, parece claro que reduzir as características dos produtos dessa indústria, durante a ditadura, apenas à influência de uma censura que se queria contornar, é deixar de lado o formidável processo de gradativa e inexorável transformação nos modos de produção cultural como determinante das novas tendências que se gestavam, e que podem ficar mais claras com um exame das ações governamentais nesse âmbito. Evidentemente, essa determinação não foi uma rua de mão única, pois todo processo desse tipo comporta tensões inescapáveis, uma vez que envolve diferentes instâncias e mediações de criação, produção, veiculação e consumo.
O planejamento da cultura, entendido nesses termos, pode ser demonstrado a partir da criação do Conselho Federal de Cultura, já em 1966, e da análise dos documentos ali produzidos, que visavam estabelecer as bases de uma Política Nacional de Cultura, criando órgãos governamentais com essa finalidade. No entanto, as ações governamentais não constituíram uma política homogênea nem linear, estando permeadas de ambiguidades e contradições. Os trabalhos do Conselho Federal de Cultura demoraram bastante e, em 1973, foi promulgado o documento Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura,

Tânia Pellegrini ––––––––––––
155 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
seguido de outro, a Política Nacional de Cultura, em 1975. Enquanto esses documentos eram elaborados, o governo ocupava-se com procurar neutralizar, usando censura e repressão, a produção cultural da esquerda, barulhenta e ativa, o que levou Roberto Schwarz a escrever que o país “estava irreconhecivelmente inteligente” (Schwarz, 1978, p. 61), expressão que frequenta quase todos os textos críticos referentes ao período.
Essa “inteligência” insuflava, então, uma generosa ebulição dos processos criativos, de sentido amplo e de alta voltagem ideológica, pelo menos até a promulgação do Ato Institucional no 5, em 1968. Até então, literatura, teatro, música, cinema e educação buscavam “conscientizar o povo”, estabelecendo um circuito coletivo de comunicação e de troca de experiências que, se por um lado acreditava serem os intelectuais e artistas os faróis do povo, por outro, a despeito disso, estabelecia mediações e constituía uma promessa de socialização da cultura e de modernização em termos democráticos (Galvão, 1999). Com relação a esse panorama, Marcelo Ridenti argumenta:
Vislumbrava-se uma alternativa de modernização que não implicasse a submissão ao fetichismo da mercadoria e do dinheiro, gerador de desumanização. A questão da identidade nacional e política do povo brasileiro estava recolocada: buscava-se ao mesmo tempo recuperar suas raízes e romper com o subdesenvolvimento, o que não deixa de ser um desdobramento à esquerda da chamada era Vargas, propositora do desenvolvimento nacional com base na intervenção do Estado (Ridenti, 2010, p. 88, grifo meu).
Como eu disse, já são relíquias de uma casa velha, porém, de acordo com meu foco de interesse, é importante retomá-las e destacar que, depois do AI-5, “legalizando” a censura, a primeira metade da década de 1970 foi marcada por um esforço explícito do governo4 para neutralizar a produção cultural de esquerda, com vistas a assumir definitivamente o processo cultural, em uma etapa subsequente.
É nesse contexto que a intervenção do Estado evidenciou, sobretudo por meio da Política Nacional de Cultura, de 1975, em primeiro lugar, uma disposição de subsidiar atividades culturais que vinham
4 O Decreto-Lei, de 26 de janeiro de 1970, do Presidente Emilio G. Medici, dispõe, no seu artigo 1o: “Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação” (Reimão, 2011, p. 124).

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 156
encontrando dificuldades crescentes de sobrevivência em função de critérios estritos do mercado, principalmente a conservação do patrimônio histórico e artístico nacional, já catalogado como museológico e cheio de simbologia, ou atividades eruditas como ópera, balé, música clássica etc.. Atividades, por assim dizer, “neutras” e de ínfima penetração popular, pois, de acordo com Sergio Micelli, “o patrimônio constitui, [portanto], o repositório de obras do passado sobre cujo interesse histórico, documental e por vezes estético, não paira qualquer dúvida. Trata-se de obras e monumentos que, no mais das vezes, já se encontram dissociados das experiências e interesses sociais que lhes deram origem” (Micelli, 1984a, p. 28).
Em segundo lugar, como sublinha o mesmo Micelli, em outro artigo, o governo deixava a cargo da empresa privada as melhores oportunidades de investimento e faturamento no campo da produção cultural mais dinâmica:
Parece haver, assim, uma segmentação irreversível do mercado de bens culturais. Cabe aos grandes empreendedores particulares explorar as oportunidades de investimento naquelas atividades e frentes de expansão capazes de assegurar as mais elevadas taxas de retorno sobre o capital, tais como os fascículos, a televisão, as estações de rádio FM, discos, as fitas cassete ou o videocassete, destinado aos modernos meios de reprodução eletrônica (Micelli, 1984a, p. 26).
Combinam-se, por conseguinte, fatores diversos, e, nos dois documentos governamentais acima citados, Natália Morato Fernandes sublinha o claro objetivo de desbaratar a cultura de oposição:
O documento de 1973 parte da caracterização ampla de cultura e busca articular participação e desenvolvimento. [...] Dá, portanto, certa ênfase ao caráter espontâneo do processo cultural, do qual deveria participar o cidadão comum. [...] a ênfase no cidadão comum, que é apresentada como componente antielitista, tem, na verdade, “a função de tornar dispensáveis as elites indesejáveis” que se identificariam com os segmentos sociais adversos ao regime (Fernandes, 2013, p. 181).
É importante frisar que Fernandes utiliza análises já elaboradas por Gabriel Cohn e é ele quem, referindo-se à Politica Nacional de Cultura, destaca a combinação entre uma concepção essencialista e uma concepção instrumental da cultura, pois já não se invocam mais as

Tânia Pellegrini ––––––––––––
157 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
exigências de segurança e fortalecimento nacionais, a essência do regime; afirma-se agora que o desenvolvimento brasileiro não é apenas econômico, mas social, sendo que dentro dele “há um lugar de destaque para a cultura” como instrumento político-social. Propõem-se, assim, o incremento da participação no processo cultural, o incentivo à produção e a generalização do consumo: “Caberia ao Estado criar os mecanismos necessários para assegurar o acesso de todos ao ‘consumo’ de bens culturais, estimulando assim a consolidação do mercado para tais produtos” (Cohn, 1984, p. 88).
A Política Nacional de Cultura expressa o clima da “abertura lenta, gradual e segura” iniciada no governo Geisel, não só pelo que significa para a área cultural especificamente mas porque a insere no âmbito maior das estratégias de Estado, considerando-a também como um produto com valor estabelecido até no mercado internacional, o que, para o Brasil da época, ainda não era algo que se levasse tão a sério, devido ao viés nacionalista dominante. Ou seja, passa-se então a considerar a “brasilidade cultural” como um produto de exportação já bem mais elaborado e rentável do que as bananas de Carmem Miranda.
Sempre à sombra da censura, que só foi extinta em 1979, com o fim do AI-5,5 criaram-se diversos órgãos de estímulo e ao mesmo tempo de controle, tais como o Concine (Conselho Nacional de Cinema), em 1976, e a Funarte (Fundação Nacional de Arte), em 1975, reformulando-se outros, como a Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes), que fora fundada em 1969. Articulam-se, portanto, nesses documentos, metas muito claras de consolidação da indústria cultural no Brasil, que já existia de forma incipiente, com muito de artesanal e voluntário, desde décadas anteriores (lembre-se, por exemplo, da “era do rádio”), e cuja importância política, institucional e econômica, nesse momento, é estratégica para o projeto modernizador do regime.
Com relação à literatura ou, mais propriamente, ao mercado editorial, destaca-se a iniciativa do Instituto Nacional do Livro (criado em 1937, no governo Vargas), de fomentar durante a ditadura militar uma política de subsídios, iniciando o financiamento de parte das tiragens de livros técnicos, didáticos e paradidáticos, o que gerou um aumento palpável da produção. Essa política de subsídios, além de se
5 Emenda Constitucional no 11, de 13 de outubro de 1978, revogando o Ato a partir de 1o de janeiro de 1979.

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 158
dirigir majoritariamente para as editoras de livros didáticos, estendeu-se para editoras de outro tipo, com o apoio a traduções de livros estrangeiros e a publicações de diversos livros de ficção, inclusive por meio de coedições e de subsídios para a implementação de um parque gráfico moderno (Calabre, 2005).
Sergio Micelli enfatiza que, no todo, “foi a única vez na história republicana que o governo formalizou um conjunto de diretrizes para orientar suas atividades na área cultural, prevendo ainda modalidades de colaboração entre os órgãos federais e de outros ministérios [...]” (Micelli, 1984b, p. 57).
Artistas e intelectuais de todas as áreas percebem com clareza os rumos do processo então instaurado. Em um debate organizado pelo alternativo Opinião, “Dez anos de cinema nacional”, do qual participaram vários cineastas, dois anos antes da emissão da Política Nacional de Cultura, portanto, Zelito Viana já comenta com objetividade:
No Brasil cresce cada vez mais a dependência de qualquer atividade econômica em relação ao Estado. E o cinema também é uma atividade econômica. O Estado interfere cada vez mais fortemente tanto nas empresas privadas que fazem cinema quanto premiando, financiando e orientando a atividade de qualquer um. Essa influência cresceu sobretudo a partir de 1967, quanto o INC [Instituto Nacional do Cinema] foi criado. [...] Por outro lado, atravessamos hoje no Brasil uma fase industrial muito desenvolvida, fato que vai se refletir no campo do cinema. [...] A capitalização intensiva e extensiva que daí deriva, com novos critérios seletivos, vai funcionar também como um poderoso fator que redefine as condições e as possibilidades do nosso cinema (Viana, 1973, p. 7).
Tempos ambíguos
No quadro acima delineado, é importante levar em conta que o
processo de organização e controle da cultura, estabelecido nos documentos de 1973 e 1975,6 coincidiu com a elevação do padrão de vida das camadas médias da população, que aos poucos vinha se constituindo como um público novo e ampliado para os modernos bens 6 Uma análise mais detida desses documentos, que não é nosso objetivo aqui, pode levantar ainda muitas outras interpretações importantes para o processo de industrialização da cultura no Brasil de então.

Tânia Pellegrini ––––––––––––
159 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
culturais, sobretudo os ligados à comunicação, acentuando-se seu crescimento a partir do “milagre econômico”, do início dos anos 1970. Nesse contexto, portanto, a censura funcionou claramente como uma espécie de expressão ideológica do tipo de orientação que o Estado pretendia imprimir à cultura, num momento de descenso forçado da produção engajada e participante dos anos 1960, tornando evidente o esforço do regime para assumir tal espaço, como uma das táticas da estratégia maior de derrotar a esquerda, legitimar-se perante a opinião pública e modernizar o país. Fernandes também considera esse ponto:
Assim, mesmo quando esteve preocupado com a criação de órgãos e instituições culturais oficiais, responsáveis pela implementação de uma Política Nacional de Cultura – pautados pelo referencial da tradição e com o objetivo de proteger e ao mesmo tempo incentivar a cultura e a identidade nacionais – os governos militares estavam dando as condições para a consolidação da indústria cultural no país (Fernandes, 2013, p. 188, grifo meu).
Empenhado em fragilizar a produção cultural de esquerda do período anterior, como destaquei, o Estado firmou sua política específica, calcada na ideologia de integração e de segurança nacionais. Estabeleceu-se, dessa forma, uma contradição aparente. Enquanto criava órgãos estatais de estímulo à cultura e investia em infraestrutura por meio de empréstimos e subvenções (por exemplo, para a modernização das gráficas, editoras, emissoras de rádio e TV, além de crédito para aquisição popular de aparelhos), reforçando a necessidade de organização em moldes empresariais, em que a profissionalização e o mercado eram os pontos cruciais, o Estado controlava com a censura, atendendo assim tanto aos seus próprios interesses quanto aos da indústria cultural em expansão. Na verdade, a contradição não existe. Trata-se de uma chave que gira para os dois lados: ambiguamente impede um tipo de orientação, a de conteúdo ideológico de esquerda, promovendo uma espécie de “higienização”, que interessava à ideologia da segurança nacional, mas incentiva outro, aquele que prega Pátria, Deus, moral e bons costumes.
É necessário lembrar que a ideologia de Segurança Nacional constituiu a base do pensamento da ditadura militar em relação à sociedade, concebendo o Estado como uma entidade política que detinha o monopólio da faculdade de coagir, ou seja, de impor até pela força as normas a serem obedecidas, para ser percebido como o centro de todas as

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 160
atividades sociais relevantes; daí a preocupação com a integração, fundamentada em uma instância que pudesse integrar, a partir de um centro, diversidades e divergências. Nesse sentido, a cultura tornara-se efetivamente preocupação estratégica e questão de poder, tanto por sua força simbólica quanto pelo potencial econômico: “integrar para não entregar” foi um dos lemas importantes do regime. Nesse sentido, é precisa a observação de Renato Ortiz:
Não se pode esquecer que a noção de integração estabelece uma ponte entre os interesses dos empresários e dos militares, muito embora ela seja interpretada pelos industriais em termos diferenciados. Ambos os setores veem vantagens em integrar o território nacional, mas enquanto os militares propõem a unificação política das consciências, os empresários sublinham o lado da integração do mercado (Ortiz, 1988, p. 118).
Em resumo: criações específicas em todas as áreas foram censuradas, fortalecendo-se o controle estatal sobre produção e circulação de bens culturais, mas sua produção geral cresceu e firmou-se, amparada pelo “projeto modernizador” do governo militar, que envolveu a consolidação de um setor industrial moderno no país, de fato iniciado em décadas anteriores, incluindo agora a crescente penetração, em nossa economia, de capitais externos associados às empresas nacionais, inclusive as que produziam cultura. Mas os investimentos maiores, no período em questão, ficaram a cargo do Estado, sendo que, depois de consolidados, os empreendimentos passaram para o setor privado ou seu controle foi assumido por grupos particulares, como concessão pública. Segundo Micelli:
Os projetos em pauta teriam contribuído para ampliar a presença governamental justamente naquelas áreas da produção cultural que dispõem de um mercado consumidor em expansão e de cuja rentabilidade comercial dependem as maiores redes privadas de entretenimento e informação atuantes no país (Micelli, 1984b, p. 63).
Dessa maneira, ocorreu muitas vezes um processo duvidoso de “troca de favores”, como no caso das estações de rádio e emissoras de televisão, em que uma das moedas de troca era a censura à programação. A propósito, Flora Süssekind destaca três estratégias diferentes na implementação do expansionismo cultural dos governos militares, aglutinadas no que chamo “troca de favores”: “o desenvolvimento de uma estética do espetáculo, uma estratégia

Tânia Pellegrini ––––––––––––
161 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
repressiva ladeada pela determinação de uma política nacional de cultura e um hábil jogo de incentivos e cooptações” (Süssekind, 1985, p. 13). Assim, a combinação de censura e cooptação, por meio de estímulos e favores, além da política específica para a cultura, que apontei, estabeleceu um campo de forças muito claro, no interior do qual a “estética do espetáculo” imprimiu sua marca indelével, principalmente pela difusão da imagem televisiva como a maior plataforma de informação e entretenimento do país de então, na “certeza de um controle social efetivo em cada casa que possuísse o seu aparelho transmissor” (Süssekind, 1985, p. 13).
Enfatizo que, até então, a televisão era o veículo cuja relação entre criação e mercantilização fazia-se mais evidente e direta, pelo fato de transmitir ao mesmo tempo publicidade, informação e cultura, para todas as classes sociais. O “espetáculo” – que utilizo nos termos de Guy Debord –7 vai traduzindo assim as transformações econômicas, políticas e sociais do país e conquistando novas faixas de público, pois estas são vitais para a sobrevivência não só da televisão, de implantação ainda recente, como do projeto modernizador do governo e do próprio regime. Nesse aspecto, “integrar” significa, por meio dos estímulos específicos do espetáculo, incorporar setores marginais ao mercado, padronizar aspirações e preferências, diluir ou elidir diferenças, erodir tradições regionais, homogeneizar sonhos e gostos, modernizar hábitos e estabelecer preferências, de acordo com as necessidades criadas pelo próprio mercado de bens materiais e simbólicos. É Arnaldo Jabor quem enfatiza esse ponto, com ironia, comparando televisão e cinema:
O cinema não vai tirar da TV o seu público, que é uma coisa conquistada. A TV é um problema político, não um problema cultural, é um problema de segurança nacional. A TV é a arma mais importante da integração nacional e não estou querendo competir com a TV, que não sou otário (Jabor, 1973, p. 8).
No cerne do “problema político” representado pela TV, não se pode deixar de mencionar, mesmo que rapidamente, a telenovela brasileira, que passa a ser parte intrínseca da estrutura montada, por seu poder de estabelecer interlocuções imaginárias e relevantes com o público, expressas por meio de mecanismos e convenções formais
7 “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação entre pessoas, mediada por imagens” (Debord, 1997, p. 14).

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 162
profundamente moldados pela “estética do espetáculo”. O risco para o regime era sua capacidade não apenas de representar a realidade, mas de construí-la, em direções muitas vezes imprevistas e não planejadas; e, embora sempre procurando não fugir completamente dos padrões morais, éticos e políticos estabelecidos, sua narrativa, sendo ficcional, poderia suscitar leituras diversificadas, uma vez que toda ficção tece complexas relações com a subjetividade do receptor. Assim, colocava-se de fato como um problema de segurança nacional e foi um dos produtos culturais mais censurados do período.8
O cinema, por sua vez, sempre muito vulnerável aos interesses mercantis, por ser uma atividade que exige grandes investimentos, enfrentou como pôde as questões quase incontornáveis da sua introdução definitiva no esquema industrial. Segundo Fernão Pessoa Ramos,
a questão da introdução no esquema industrial foi, no decorrer dos anos 60/70, o verdadeiro to be or not to be do cinema nacional. O Cinema Novo, por exemplo, debate-se em vão, durante anos, contra a indústria cultural e acaba no final tendo de ceder a seus atrativos. O dilema dos primeiros filmes (como atingir o povo sem passar pela indústria) é substituído pela afirmação de que o mercado (e a distribuição industrial) é um mal necessário (Ramos, 1986, p. 3).
Material e ideologicamente controlados, portanto, os produtos culturais foram acentuando cada vez mais seu caráter de mercadoria, a ponto de ser comum empregar o termo “mecenas” para o Estado, aquele que pagava, mas exigia fidelidade em troca (Holanda e Gonçalves, 1980). É o que enfatiza Millôr Fernandes: “É claro que o governo só financia as obras e os artistas que lhe interessam. Porque os intelectuais que demonstrarem qualquer sinal de rebeldia não serão financiados” (Fernandes, 1983, p. 7).
Em suma, os interesses gerais do Estado e dos novos empresários da cultura tornaram-se os mesmos; a questão da censura foi conjuntural, mas foi à sua sombra e com seu auxílio que se pôde formar e fortalecer um mercado integrado de bens culturais, peça agora importante no processo de internacionalização da economia do país.
Desse modo, é lícito dizer que, no conturbado processo de construção de uma moderna indústria cultural no país, a “estrutura
8 Vale citar como um exemplo Roque Santeiro, de Dias Gomes, censurada no dia de ir ao ar o primeiro capítulo, em 1975. Foi readaptada e veiculada depois, em 1985 e 1986.

Tânia Pellegrini ––––––––––––
163 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
profunda” da censura foi mais essencial e atuante que a aparente: enquanto esta se preocupava com cortes e vetos a criações específicas, aquela buscava uma espécie de equalização do controle estatal sobre todo o processo cultural, de maneira a eliminar aos poucos os vestígios de formas de produção artesanais, só possíveis num Brasil “pré-moderno”, que se queria superar, incompatível com o processo de globalização que já então acelerava os passos.
Novos tempos
No contexto geral acima descrito, desfaz-se a última ilusão de
independência da cultura em relação à economia; até então, vista unicamente como “criação de espírito”, em graus diversos nas diferentes áreas, parecera permanecer sempre imune aos avanços do mercado, que lá fora já dava as cartas havia muito tempo. O resultado da política sistemática do regime para a área cultural foi a definitiva impressão do selo do mercado na criação, substituindo o ritmo lento de décadas anteriores, ainda com muito de precário e artesanal, por uma grande pressa produtiva, no atendimento e formação de públicos potenciais. Pode-se afirmar que, desde então, o mercado passou a ser definitivamente um elemento constitutivo da produção cultural, exercendo uma profunda influência, de fora do âmbito artístico, entranhando-se nas configurações de conteúdo e forma.
No que se refere à literatura, como já apontei, o setor livreiro aumentou exponencialmente o número de edições, de títulos e de exemplares publicados, beneficiando-se das políticas de incentivo, que também estimularam a produção de papel e baratearam seu custo, além de subvencionar a importação de máquinas mais modernas. Uma das iniciativas do governo foi a criação da Embralivro, “que tencionava criar dois mil pontos de vendas de livros em todo o território, agilizando a distribuição, desde então diagnosticada como o principal gargalo da indústria editorial” (Micelli, 1984b, p. 63).
Grande parte dos autores nacionais começa a aprender a encaixar sua produção nesses novos parâmetros, por dois motivos: têm que competir num mercado inflado por produtos estrangeiros (cresceu muito o número de best-sellers traduzidos), bem adequados ao gosto do novo público, já formado basicamente pela TV, se possível conseguindo auxílio do Instituto Nacional do Livro para publicação; ao mesmo

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 164
tempo, procuram enganar a censura – os mais progressistas –, para não compactuar com ela. Isso terá uma profunda implicação na forma e no conteúdo dos textos, cuja análise caso a caso já constitui uma ampla e variada fortuna crítica.
A destacar é que, às voltas com a nova situação, adotam-se atitudes e se produzem textos que, grande parte das vezes, foram respostas pessoais inseridas nesse campo de forças exterior ao plano estético, como se viu, com pressões e limites bem determinados. Estes têm a ver com o desenvolvimento específico do mercado livreiro, sempre instável, com altos e baixos sucessivos que também refletem as peculiaridades do leitorado brasileiro, reconhecidamente pouco afeito à leitura, devido a causas conhecidas e discutidas de longa data:9 a educação precária, o ensino deficiente, a existência rarefeita de bibliotecas, os baixos salários, o alto preço do livro, a influência da televisão etc.. E o resultado de tudo isso, para a criação literária, segundo o diagnóstico de Lygia Fagundes Telles, no início da “década perdida”, é:
O que acontece, atualmente, é que a literatura brasileira está no seu pique, cresceu assustadoramente o número de escritores. Mas a verdade é que a maior parte está em encalhe, são muito ruins. Eu recebo livros muito ruins, já publicados e não os consigo ler. Hoje em dia todo mundo quer escrever. Se o homem está impotente, ele resolve escrever um livro. Se a mulher foi abandonada, ela resolve escrever um livro. É claro que entre os novos tem muita gente de potencial. Apesar de todas as dificuldades, o mercado sempre estará aberto para a boa literatura (Telles, 1981, p. 8).
Concorde-se ou não com a percepção da autora, naquele momento, a reorganização da produção cultural e literária, com todas as implicações nacionais do processo, na verdade também reflete a formidável reorganização da cultura nos países capitalistas em geral, a cujo ritmo o Brasil se ajusta, o que já é discutido por intelectuais e estudiosos. Em um debate sobre identidade cultural, também no Folhetim, em 1981, Roberto Schwarz declara:
De certo modo, estamos assistindo à liquidação da esfera da cultura como ela era definida tradicionalmente em nossa
9 Essas causas atualmente assumem outro peso e outros contornos, devido ao surgimento da internet, o que já demanda critérios de análise adequados à nova situação.

Tânia Pellegrini ––––––––––––
165 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
sociedade. Sinais dessa modificação: os assuntos culturais mais discutidos e que chamam mais atenção dos intelectuais são assuntos da esfera dos mass media. [...] Hoje se discute telenovela com a mesma paixão intelectual com que, noutro momento, se discutiriam os romances de Graciliano Ramos. Da mesma forma, aparece no processo a desaparição da fronteira entre os diversos gêneros artísticos [...] o que significa, na verdade, uma ampla reorganização da esfera da cultura no conjunto da civilização capitalista (Schwarz, 1981, p. 6).
Nesse mesmo debate, o poeta Cacaso acrescenta considerações que tangenciam a mesma realidade, mas caminha em sentido oposto:
Atualmente, o mercado é a grande justificativa para a criação brasileira. Eu não vejo mais hoje em dia, na década passada e na que começa agora, não vejo nenhum tipo de ideologia forte motivando a criação. Vejo muito o criador de cultura, o artista diante do mercado. [...] Quer dizer, o fato de você mergulhar no mercado capitalista, a partir de um certo momento, isso é traduzido em liberdade para quem cria, porque você pode ter uma área maior de manobra e de autocontrole da criação, o que vem do fato de você ter remuneração objetiva pelo seu trabalho (Cacaso, 1981, p. 7).
Se Schwarz vê a imersão no mercado como perda, ou melhor, como uma modificação substancial no próprio conceito de cultura, Cacaso analisa-a como ganho objetivo, isto é, como liberdade de criar garantida pelo mesmo mercado, sobretudo porque já não existe mais o forte apelo ideológico que alimentara a criação em décadas anteriores. De qualquer modo, essa interpretação diferente do mesmo fenômeno indica que se coloca uma nova realidade para o setor, aos poucos construída durante o regime militar, e da qual, naquele momento, poucos tinham clareza quanto ao verdadeiro significado. Desde Baudelaire, que perdeu seu “halo” de poeta na rua enlameada, passando por Benjamin, que a retoma como “aura”, a discussão desse tema está posta. Menos acalorada atualmente, é necessário dizer, sobretudo porque, terminado o regime militar, o Brasil já estava solidamente instalado no mercado internacional de bens culturais e aos poucos foi se perdendo a hesitação peculiar às avaliações feitas no calor da hora, dando lugar à certeza que o sucesso do projeto, agora realizado, conseguiu estabelecer: criação é produção. Referendando todo o percurso acima descrito, a revista Leia Livros, que circulou de 1978 a 1990, especializada em livros e autores

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 166
(o que também é significativo da saúde do mercado naquele momento), publica no editorial, em 1990:
O fenômeno ainda é localizado e só contempla uma pequena elite. Mas os primeiros passos já foram dados e não resta dúvida de que a profissionalização do escritor é um processo que está em curso. [...] E o mais importante é que não se trata de um fenômeno contingencial, que muda ao sabor dos ventos da economia ou da política nacional. Porque o que parece estar em jogo aqui é uma mudança de mentalidade, a emergência de uma nova e moderna concepção das relações entre autor e editor e a conscientização de que as normas do mercado, que regem outros setores da produção, também devem vigorar no mundo dos livros (Escrever, 1990, p. 3).
Considerando a data dessa assertiva, a última frase é fundamental para entender o alcance do processo efetivado ao longo de 25 anos, desde 1964: as ações empreendidas pelo Estado militarizado, no campo cultural como um todo, conjugadas com as condições internacionais de desenvolvimento do capitalismo, foram fortes o suficiente para conseguir penetrar no coração da instância criativa, consolidando uma mudança de mentalidade – já em gestação anteriormente – também na esfera literária, agora pautada indelevelmente pelas normas do mercado. Pode-se dizer assim que, a partir da ditadura militar, o Brasil ingressou definitivamente na pós-modernidade – aqui entendida como Fredric Jameson a define –,10 com todas as conhecidas peculiaridades nacionais das transformações ocorridas e que só serão acentuadas a partir de então.
Essas peculiaridades relacionam-se ao fenômeno de aparente aceleração da história global, impulsionado pela proliferação de imagens e simulacros, pela abundância de informações, por uma nova relação com o tempo e o espaço daí decorrentes, com a multiplicação de estímulos e referências reais, imaginárias e simbólicas, com uma espécie de flutuação de percepções e sensibilidades, que geram novas “estruturas de sentimento”, para dizer como R. Williams (1979), no início quase intraduzíveis literariamente, mas que aos poucos encontram modos expressivos adequados. Dessa maneira, sobretudo quando termina a
10 “Cabem aqui algumas palavras sobre o emprego apropriado deste conceito [...] cuja principal função é correlacionar a emergência de novos traços formais na vida cultural com a emergência de um novo tipo de vida social e de uma nova ordem econômica – chamada, frequente e eufemisticamente, de modernização, sociedade pós-industrial ou sociedade de consumo, sociedade dos mídia ou do espetáculo, ou capitalismo multinacional” (Jameson, 1985, p. 17).

Tânia Pellegrini ––––––––––––
167 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
ditadura, acentuam-se as interações entre aspectos globais, identidades regionais e locais, questões de gênero e raça, desafiando conceitos estanques e formalizando-se esteticamente, mas adequando-se também com frequência ao gosto de um mercado já internacionalizado.
Tempos modernos
É no interior desse quadro, portanto, que acredito terem ocorrido
mudanças de fato significativas para a literatura, pois a consolidação da indústria cultural conseguiu estabelecer parâmetros e paradigmas para as décadas subsequentes, já então direcionando a produção para diferentes “nichos de mercado”, tanto no que se refere aos temas quanto aos resultados formais, os quais, desde então, passaram a sofrer, como nunca antes, o impacto das mais diferentes soluções abrigadas sob a “estética do espetáculo”, principalmente as visuais, que se expandem celeremente.
Ora, a literatura sempre manteve estreito vínculo com a visualidade, devido ao seu diálogo histórico com a pintura, a fotografia e o cinema, por exemplo, e sempre esteve, também, ligada a mecanismos de compra e venda. Mas agora as coordenadas do mercado, cuja linguagem explícita é a imagética, impõem-se como parâmetro quase unidimensional; parafraseando Debord, acima citado, o espetáculo, que domina tudo, é, na verdade, o mercado, em tal grau de acumulação que se transformou em imagem. Pode-se dizer, então, que sua estética é a imagética, a da reprodução do existente, para que ele perdure e se acumule sempre mais, predominantemente em termos quantitativos e adequados à ideologia do consumo.
Assim, temas e soluções literárias “novas” encontradas ou recuperadas nos anos do regime, tanto como expressão individual, no corpo a corpo com a censura, quanto traduzindo as influências vindas de fora, de algum modo já atuantes, passam a ser imitadas e reduplicadas depois, sendo rapidamente diluídas as fontes que lhes deram origem. As aspas em “novas” a meu ver são necessárias, pois a ausência delas só se justificaria se o termo traduzisse uma transformação radical, a substituição de algo por outra coisa completamente diferente, e não se referisse a modificações, alterações, retomadas, apropriações ou outros termos equivalentes, estes sim adequados para definir a maior parte dessa produção.

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 168
Refiro-me em especial às principais matrizes, representadas – apenas como exemplo –, por João Antônio, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca, consolidadas durante os anos da ditadura, tematizando a exclusão social e a violência urbana, seja com “microficções”, como Trevisan, ou com brutalismo direto, como Fonseca; daí deriva uma enxurrada de autores levantados pelo mercado e pelos efeitos visuais da fatura, como Marçal Aquino, Marcelino Freire, Marcelo Mirisola e outros, pertencentes ao que se chamou de “Geração 90”.11 Refiro-me também a Ignácio de Loyola Brandão, cuja herança modernista que ressoa nas ousadias formais de Zero (1975), como a apropriação do rumor da rua e a atomização do discurso, vem sendo mimetizada por Luiz Ruffato e Lourenço Mutarelli; à própria Clarice Lispector, de quem se veem sonâncias e dissonâncias nas inúmeras vozes femininas que enchem as prateleiras das livrarias, os blogs e as redes sociais; a Graciliano Ramos, que, retirado da década de 1930, ainda hoje alimenta o neorregionalismo de Milton Hatoum e Ronaldo Correia de Brito.
Não utilizo aqui categorias valorativas para esses autores, e nem é o caso, mas destaco que se inserem em um processo construído sempre de continuidades, mais que de rupturas, como se pode verificar num exame mais acurado de seus textos. Cada uma dessas matrizes citadas estabelece-se como continuidade no interior da série da literatura de ficção, sendo possível estabelecer sua linhagem desde que começou seu processo de formação; e é inegável que cada momento histórico a ela soma novos aspectos temáticos e formais, como influência interna e/ou externa. Lembrem-se as vanguardas do início do século passado instaurando a fragmentação na linearidade discursiva e a desconstrução do enredo; a sondagem psicológica insuflando uma nova capacidade de penetração ao realismo; a crise da representação inspirando a desconfiança na suficiência do real; a incorporação consciente de outras linguagens, como a fotografia, o cinema, a propaganda, isso tudo para ficar apenas nas matrizes do século XX.
Chamo matrizes as formações literárias duráveis, que permanecem ao longo do processo histórico, às quais se acrescentam ou das quais se retiram, sem afetar seu núcleo, aspectos circunstanciais, devidos a cada momento, sendo que tais aspectos têm maior ou menor densidade ou 11 Denominação criada pelo mercado para agrupar escritores considerados “jovens”, que se expressam em temas e soluções formais diversificadas, embora tenha sido a representação da violência que garantiu maior visibilidade.

Tânia Pellegrini ––––––––––––
169 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
força na dependência dos fatores externos em jogo.12 O núcleo dessas matrizes duráveis, na literatura brasileira em prosa, parece ser o realismo,13 que persiste nas suas expressões urbanas e regionais, introspectivas ou não, para usar a terminologia consagrada.
Naquilo que me interessa, pode-se dizer que o período da ditadura militar teve força e densidade suficientes para, por meio de seu aparato político e jurídico autoritário e totalizador, constituir aspectos circunstanciais nacionais combinados com a conjuntura internacional de desenvolvimento da cultura, os quais, incidindo sobre a literatura, possibilitaram o ressurgimento de matrizes temáticas e expressivas modificadas, que foram sendo retomadas, revisitadas e adaptadas nas décadas subsequentes, num processo contínuo de continuidades e rupturas, mais ou menos intensas. Dessa forma, como sublinhei, o adjetivo “novo” dificilmente pode ser aplicado a qualquer aspecto; o que se pode chamar de novo, todavia, é a amplitude e intensidade do modo mercantil de produzir literatura – modo que não é novo em si –,14 algo antes desconhecido no panorama nacional, consolidado então, a que, nos dias de hoje, acrescenta-se a visualidade e a volatilidade intensas propiciadas pela tecnologia eletrônica.
Nesse sentido, importa historicizar e periodizar também o termo contemporâneo, no que se refere à cultura e à literatura, utilizado, a meu ver, com excessiva fluidez nos textos críticos em geral, sem o devido agendamento histórico. Com base na definição de matriz, aqui colocada, proponho entendê-lo como um conceito de periodização, que se inicia, no Brasil, com o regime militar e seu “projeto de modernização”, acima exposto, propiciando um notável processo de mudança nos modos de produção cultural, artística e literária, que passaram a ser industriais e mercantis, incidindo direta e indiretamente sobre as matrizes literárias preexistentes. Obviamente não existe uma relação determinista nessa incidência, mas uma tensão inescapável entre ela e as subjetividades 12 É clara aqui minha adesão aos conceitos de dominante, residual e emergente, de Raymond Williams. 13 Também de Raymond Williams é o conceito de realismo que utilizo: “Nenhum elemento, seja a sociedade ou o indivíduo, é prioritário. A sociedade não é um pano-de-fundo contra o qual as relações pessoais são estudadas, nem os indivíduos são meras ilustrações de aspectos dos modos de vida. Cada aspecto da vida pessoal é radicalmente afetado pela qualidade da vida geral, mas a vida geral, no seu âmago, é totalmente vista em termos pessoais.” (Williams, 2001, p. 304). Essa utilização fica mais clara em meu texto “Realismo: postura e método” (Pellegrini, 2007). 14 A história do livro e da leitura pode comprovar isso.

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 170
autorais, por sua vez também tensamente inscritas nessas formações densas e complexas.
Em artigo publicado no caderno “Mais!” do jornal Folha de S. Paulo, em 2000, fazendo um balanço da literatura dos anos 1990, Flora Süssekind constata já uma “geminação entre o econômico e o cultural” muito distante dos aspectos de resistência e solidariedade interna vividos durante a ditadura. Escrevendo durante o crescimento da política neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, ela percebe, quinze anos depois do fim da ditadura, o sucesso daquele projeto cultural, influenciando as configurações do que denomino matrizes literárias.
Se, de 1964 a 1984, durante a ditadura, os traços eram a resistência cultural, a solidariedade interna antiditadura [...] passa-se a viver, mesmo entre os setores mais críticos da sociedade, sob uma despolitização generalizada e diretamente proporcional à disseminação de uma financeirização todo-poderosa – a invocação recorrente às leis do mercado acoplada à experiência neoliberal (Süssekind, 2000, p. 8).
Essa financeirização – que é, na verdade, a velha mercantilização elevada ao seu patamar mais alto – consegue desmontar os parâmetros de conteúdo e forma, para remontá-los em novas combinações, mais adequadas aos valores que se impõem e às subjetividades que se formam nesse quadro. Cria-se assim uma aparente instabilidade, resultado das tensões dos elementos em jogo, que quase se afigura como crise, mas na verdade é apenas uma adequação posterior às coordenadas definidas no momento da ditadura, com seus constrangimentos claros e objetivos. Literariamente traduzida pela critica em geral como aquilo que se costuma chamar pluralidade ou multiplicidade, seja de temas ou de soluções expressivas, essa “crise” articula-se como a apresentação de uma variedade prismática que de fato é a retomada de antigas matrizes, apenas recompostas de outra maneira, ou da mesma maneira com outras cores e matizes. Devido à complexidade do problema aí posto – que não pretendo resolver aqui –, pode-se dizer, com Fábio A. Durão, que a multiplicidade,15 também assumida como categoria crítico-analítica, é “um lugar-comum [que se] adequa ao espírito do nosso tempo: ela tem ares democráticos”. Isso porque:
15 Acrescento pluralidade.

Tânia Pellegrini ––––––––––––
171 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
A multiplicidade funciona assim como um óleo lubrificante, não só para a maquinaria universitária, mas para a indústria da cultura como um todo. O paradoxo não deixa de ser interessante: o pressuposto da multiplicidade é aquilo que faz com que todos os textos [...] assemelhem-se, com que todos se tornem iguais em sua suposta diferença (Durão, 2013).
Tempos pós-modernos
É nesse sentido que talvez não seja equivocado afirmar que a prosa
brasileira pós-ditadura continua “em trânsito”, pelo fato de retomar sempre, pluralizando-as ou multiplicizando-as, no sentido apontado, matrizes que a acompanharam desde a sua formação, como o realismo, incorporando alterações e efeitos conjunturais. O problema é que, muitas vezes, tenta-se conciliar o inconciliável: o sentido de tradição que impulsionou a retomada delas, com todo seu lastro simbólico e ideológico, e, por meio da readequação de uma série de elaborações formais ainda relacionadas às inovações modernistas (elisões, cortes, diluições, fragmentações, etc.), nunca abandonadas, naquele momento francamente contrárias à reificação da arte, ensaiar uma aparente resistência à mercantilização, que passou a dar as cartas desde então.
Trocando em miúdos, parece-me lícito afirmar que, terminado o regime militar, em 1985, além de já estabelecer uma confortável intimidade com o mercado, revigorado pelos incentivos de todos os tipos, como se viu, a ficção abandona a anterior disposição de resistência, em grande parte comprometida com um ideário político de esquerda, registrado nos seus testemunhos, confissões, romances-reportagens etc., de forte cunho realista, cujos expoentes foram Fernando Gabeira, Renato Tapajós, Aguinaldo Silva, Ivan Ângelo e outros.
Não que tenham desaparecido, durante esse tempo, processos de formalização mais sofisticados, de cunho introspectivo, como os sempre citados Quatro olhos, de Renato Pompeu, e Armadilha para Lamartine, de Carlos Süssekind, considerados “novos” então. Acentuam-se outras soluções temáticas de recorte urbano, evidentemente ditadas não apenas pelo mercado mas por coordenadas sociais e políticas que se relacionam, inclusive, a impulsos internacionais: a voz das minorias (mulheres, negros, homossexuais), o universo das drogas, da violência e da sexualidade, num tom geral que expressa o “desencanto” do final do século com as esperanças goradas de um país que se sonhara mais justo.

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 172
É preciso frisar que o abandono do ímpeto da resistência é apenas relativo, pois ela ainda pulsa, só que mais atomizada, calcada em micropolíticas individuais, bem distantes da utopia coletiva de antes; assinale-se que aí se representa a afirmação daquelas vozes “outras” abafadas, que conseguem aos poucos um espaço de locução, inclusive como decorrência da própria organização desses segmentos sociais enquanto movimento político emergente “pós-abertura”; não se trata mais de resistir à ditadura militar, mas a uma hierarquia ancestral em que predomina o discurso branco, masculino e cristão; são, portanto, outros sujeitos que se expressam, em dicções marcadas por uma diferente perspectiva, pois muitas vezes vêm de outro lugar social. Mas aí também se instala o mercado editorial, que avidamente descobre nessas temáticas fatias de mercado promissoras.16
Como exemplo, destaquem-se o gradativo alteamento e modulações das vozes femininas, que estimulam interpretações críticas de interesse, como constata a revista Leia livros, já em 1990:
Foi nos libertários anos 60 que se começou a levantar a poeira dos séculos e a se cunhar expressões como “olhar feminino”. Nos anos 80, como tudo indica, a questão não se esgotou, embora tenha adquirido outros contornos. [...] A escrita feminina obedeceria a uma outra lógica, onde o sujeito narrativo não é íntegro, pleno, e por vezes se projeta no objeto, “coisificando a palavra” (Luzvarghi, 1990, p. 28).
O mesmo acontece com a escrita dos homossexuais, registrada como ascendente e digna de nota, analisada no número seguinte da mesma revista: “Se existe uma característica homossexual na literatura, ela apareceria numa maneira ambígua de se expressar. [...] O homossexual vive num estado constante de ambiguidade” (Rosenbaum, 1990, p. 15).
Não se trata aqui de aprofundar tais questões, mas de destacar que essa literatura, também de caráter múltiplo, estrutura-se tensamente com base em matrizes já atuantes no Modernismo e suas marcas mais relevantes, em geral, são a distensão do limite entre realidade e imaginação, a recusa ao realismo puro, documental, sem escapar,
16 Cresce aos poucos o espaço ocupado individualmente, com autoras como Ana Miranda, Zulmira Ribeiro Tavares, Marilene Felinto e outras. Já nos anos 2000 explodem várias coletâneas de contos, organizadas por Luiz Ruffato: 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (2004) e Mais 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, ambas da editora Record, em que os títulos falam por si.

Tânia Pellegrini ––––––––––––
173 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
porém, de suas refrações: a subversão proposital dos parâmetros tradicionais de narração; a utilização de ambivalências e sugestões, pautando a representação em contradições, subvertendo padrões tradicionais de entendimento e explorando níveis de consciência e de linguagem. Tais características também frequentaram a ficção produzida durante a ditadura, mas com menor incidência, como indiquei; o que se percebe, mais ou menos a partir dos anos 1990, ou da “década do desencanto”, é a centralidade da expressão subjetiva, o que já é um sintoma de época.
Assumida como centro do mundo, a subjetividade, como princípio estruturante, manifesta-se em uma espécie de esgarçamento da realidade circundante, desde que o foco de interesse passa a ser o próprio eu e aquilo que nele se reflete, pois é a medida de todas as coisas; surgem e se afirmam como padrão personagens sintonizadas com transformações nos conceitos e escalas de valor; na verdade, são revivescências das antigas matrizes introspectivas formalizadas no Modernismo, que se consolidaram sobretudo com Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector – não por acaso mulheres –, que agora se reconstroem em desencanto e niilismo, com sensível atenuação do sentido crítico de antes. Fredric Jameson (1985) refere-se a esse tipo de narrativas como pastiches – descontando-se a acidez do termo –, frutos da visão esquizofrênica provocada por um mundo em que o sujeito se reduplica na imagem cindida de si mesmo.
Leyla Perrone-Moisés (2012), todavia, identifica nessa mesma matriz uma espécie de resistência possível, na medida em que percebe em alguns autores e em seus recursos de fatura um traço muito forte de desconfiança, uma espécie de revivescência da “era da suspeita”, definida por Natalie Sarraute, pois, segundo ela, desconfia-se do eu, do narrador, das histórias como representação e da literatura como instituição, além de se rejeitar o excesso de informação, de consumo e de imagens. São os que ela chama de “escritores exigentes”, uma minoria, entre os quais alinha Nuno Ramos, Evando Nascimento, Julián Fuks e Alberto Martins. E acrescenta:
E para quem escrevem esses escritores exigentes? Certamente para um número restrito de leitores, tão inteligentes e refinados quanto eles [...]. Eles sabem que não entrarão nas listas dos mais vendidos, como aqueles que satisfazem os anseios de entretenimento dos

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 174
leitores de romances, esses mesmos tão poucos num país iletrado como o nosso (Perrone-Moisés, 2012, p. 5).
Seja como pastiche ou exigência, mas contrastando com a sutileza das subjetividades, emerge da matriz fonsequeana, que já era a tradução moderna17 da violência constitutiva da sociedade brasileira, desde a sua fundação, o realismo bruto dos guetos e das favelas. É outro tema que se aprofunda, expressando as ambíguas relações entre a modernização brasileira e a violência, acentuadas durante a ditadura e depois. Violência e degradação misturam-se à presença maciça da cultura popular urbana, pervadindo as vidas de personagens sem presente e sem futuro. Esses temas aparecem vazados nas mais diversas maneiras de encarar a linguagem como representação, mas a principal está centrada no pacto realista, quase o registro in natura da ocorrência quotidiana. Importa aí o significante unívoco e a veracidade do sujeito narrador, trabalhando com matrizes da antiga denúncia social, também facilmente apropriável pela indústria, devido à aproximação expressiva com os discursos e recursos da mídia, do cinema, da propaganda.18 É a estética do espetáculo dando-se a ver como documento “real”, embora represente um aporte social significativo de subjetividades gestadas em meio à pobreza e à exclusão das periferias, como mais uma das vozes antes inaudíveis a conclamar coesões identitárias. A esse entrelaçamento dos códigos, o literário e o imagético, aos poucos, acrescenta-se mais um, o da internet, que explode definitivamente as fronteiras entre o “literário” e o “não literário”, na medida em que tudo se resume à necessidade de comunicação rápida e facilmente inteligível entre todos, aliando recursos de todos os suportes. Literatura, no início do novo século, mais que mercadoria, passa a ser mercadoria digitalmente comunicável.
Publicidade, diversidade, pluralidade, multiplicidade, visibilidade. Seja qual for o sentido que se dê a esses termos, é inegável que, a despeito de si mesmos, tornaram-se centrais para o exercício da crítica hoje, pois são o âmago do próprio ato criativo, como característica da própria linguagem enquanto resultado dos processos de subjetivação contemporânea, 17 Utilizo “moderno” como um conceito de periodização, relacionando-o ao pós-moderno posterior. 18 Foi Cidade de Deus (1997), de Paulo Lins, o primeiro a explorar esses aspectos. Seguem-se Estação Carandiru (1999), de Dráuzio Varela, e Capão Pecado (2000), de Ferréz, todos de grande êxito editorial, a ponto de gerar adaptações cinematográficas e seriados de televisão e (re)criar uma denominação própria, “literatura marginal”, já com ampla bibliografia crítica. Desenvolvi esse tema em “Vozes da violência na cultura brasileira” (Pellegrini, 2008).

Tânia Pellegrini ––––––––––––
175 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
submetida aos estímulos da “condição pós-moderna”. São termos que correspondem a traços temáticos e formais facilmente detectáveis em qualquer narrativa e cunhados para qualificar modelos textuais passíveis de aplicação e reaplicação de antigas matrizes, cujas modificações mais agudas deram-se durante a ditadura militar, com a gradativa consolidação da indústria cultural e do mercado literário, de acordo com o projeto do regime. Desde então, ao longo do caminho, de mistura com alguma “exigência” – minoritária, mas que garante esperança – foram sendo incorporadas soluções de aplicação pouco problemática, bem adequadas a contratos com grandes editoras e ao mercado externo, bem como à rarefação perceptiva e conceitual do leitorado interno, domesticado pela própria indústria e pela indigência educacional do país, que essa indústria, hoje poderosa, com o empenho da ditadura, ajudou a sedimentar. Relíquias de uma casa já velha de cinquenta anos.
Referências
CACASO (1981). A democracia passa pela discussão do pluralismo cultural. Folha de S. Paulo, São Paulo, Folhetim Brasil, p. 6-9, 5 abr.
CALABRE, Lia (Org.) (2005). Políticas culturais: diálogo indispensável. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa.
CARPEAUX, Otto M. (1973). Arte e sobrevivência. Opinião, Rio de Janeiro, n. 9, p. 6, 1 a 8 jan.
COHN, Gabriel (1984). A concepção oficial da política cultural nos anos 70. In: MICELLI, Sergio (org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel.
DEBORD, Guy (1997). A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto.
DURÃO, Fábio Akcelrud (2013). Crítica da multiplicidade. Cult, São Paulo, n. 182, ago. Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2013/09/critica-da-multiplicidade>. Acesso em: 10 mar. 2013.
ESCREVER vale a pena (1990). Leia Livros, n. 138, p. 2, abr.
FERNANDES, Millôr (1983). Os intelectuais e a política. Folha de S. Paulo, São Paulo, Folhetim, p. 7-8, 23 out.
FERNANDES, Natália A. Morato (2013). A política cultural à época da ditadura militar. Contemporânea: revista de sociologia da UFSCar, São Carlos, v. 3, n. 1, p. 173-192.

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 176
GALVÃO, Walnice Nogueira (1999). Musa sob assédio. In: Desconversa. São Paulo: Companhia das Letras.
HOLANDA, Heloísa B.; GONÇALVES, Marcos A. (1980). Política e literatura: a ficção da realidade brasileira - anos 70. Rio de Janeiro: Europa.
JABOR, Arnaldo (1973). Dez anos de cinema nacional. Opinião, Rio de Janeiro, n. 32, p. 6-8, 11 a 18 jun.
JAMESON, Fredric (1985). Pós-modernidade e sociedade de consumo. Novos estudos CEBRAP, n. 12, p. 16-26.
LUSVARGHI, Luiza (1990). Feminino plural. Leia, n. 135, p. 28-29, jan.
MICELLI, Sérgio (1984a). Teoria e prática da política cultural oficial no Brasil. Revista de administração de empresas, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 27-31.
______ (1984b). O processo de construção institucional na área cultural federal (anos 70). In: MICELLI, Sergio (org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel.
ORTIZ, Renato (1988). A moderna tradição brasileira: Cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: Brasiliense.
PELLEGRINI, Tânia (1996). Gavetas vazias: Ficção e política nos anos 70. Campinas: Mercado de Letras; São Carlos: Ed. UFSCar.
______ (1999). A imagem e a letra: aspectos da ficção brasileira contemporânea. São Paulo: Mercado de Letras; Fapesp.
______ (2007). Realismo: postura e método. Letras de hoje, Porto Alegre, n. 42, p. 135-155.
______ (2008). Despropósitos: estudos de ficção brasileira contemporânea. São Paulo: Annablume; Fapesp.
PERRONE-MOISÉS, Leyla (2012). A literatura exigente. Folha de S. Paulo, São Paulo, Ilustríssima, p. 4-5, 25 mar.
RAMOS, Fernão P. (1986). Uma forma histórica de cinema alternativa e seus dilemas na atualidade. In: Vinte anos de resistência: Alternativas da cultura no regime militar. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo.
REIMÃO, Sandra (2011). Repressão e resistência: censura a livros na ditadura militar. São Paulo: EDUSP, Fapesp.
RIDENTI, Marcelo (2010). Brasilidade revolucionária. São Paulo: Editora UNESP.
ROSENBAUM, Yudith (1990). Filhos do terceiro sexo. Leia, n. 136, p. 28-29, fev.

Tânia Pellegrini ––––––––––––
177 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014.
SCHWARZ, Roberto (1978). Cultura e política, 1964-69. In: O pai de família e outros ensaios. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
________ (1981). A democracia passa pela discussão do pluralismo cultural. Folha de S. Paulo, São Paulo, Folhetim, p. 6-9, 5 abr.
SÜSSEKIND, Flora (1985). Literatura e vida literária: polêmicas, diários & retratos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
________ (2000). Escalas e ventríloquos. Folha de S. Paulo, São Paulo, Caderno Mais!, p. 8, 23 jul.
TELLES, Lygia Fagundes (1981). O editor, na versão do autor. Folha de S. Paulo, São Paulo, Folhetim, p. 8, 22 fev.
VIANA, Zelito (1973). Dez anos de cinema nacional. Opinião, Rio de Janeiro, n. 32, p. 6-8, 11 a 18 jun.
WILLIAMS, Raymond (1979). Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: J. Zahar.
______ (2001). The long revolution. Canada: Broadview Press.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em janeiro de 2014. resumo/abstract
Relíquias da casa velha: literatura e ditadura militar, 50 anos depois Tânia Pellegrini
Este ensaio, amparado em consulta a jornais e revistas de várias décadas, além de revisitar parte da produção crítica sobre o tema e de retomar minhas próprias pesquisas anteriores, procura relacionar as ações específicas do regime militar para o campo da cultura com a efetiva consolidação da indústria cultural brasileira. O pressuposto é que essa consolidação engendrou, de forma tensionada, modificações significativas nas matrizes preexistentes na nossa ficção, sobretudo temáticas, que foram traduzindo o mal-estar e a perplexidade geradas naqueles anos difíceis, bem como suas derivações até os dias de hoje.
Palavras-chave: ditadura militar, indústria cultural, matrizes literárias.
Relics of the old house: literature and military dictatorship, 50 years after Tânia Pellegrini
This essay tries to relate specific actions of the military regime in the field of culture to the effective consolidation of a cultural industry in Brazil. It is based

–––––––––––– Relíquias da casa velha
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 151-178, jan./jun. 2014. 178
on a more or less alleatory search in newspapers and magazines of the period. It also revisits the critical literature about the subject and retakes my own previous researches. The assumption is that the cultural industry consolidation has produced in a tensioned way, significant modifications in the preexistent matrixes of Brazilian fiction, mainly in its themes, which translated the mallaise and perplexity of those difficult years, as well as their derivations to this day.
Keywords: military dictatorship, cultural industry, literary matrices.

(Des)memória e catástrofe: considerações sobre a literatura pós-golpe de 1964
Ettore Finazzi-Agrò1
O apagamento da memória coletiva das referências à tortura, bem como sua banalização, potencialmente reforçam as chances de naturalizá-la e ignorar a intensidade de seu impacto. O esquecimento é, nesse sentido, em si, uma catástrofe coletiva.
Jaime Ginzburg Hoje, cinquenta anos depois, tudo parece ter voltado no álveo da
História – todo o passado aparenta, então, se ter resumido numa listagem crua de fatos, num arquivo anônimo de nomes, silenciando, assim, centenas de histórias, apagando a memória viva das vítimas, limpando o sangue derramado, ocultando os corpos massacrados. Hoje, com efeito, parece que a violência e a repressão não estão mais na ordem do dia dos Estados ou ficam à margem na agenda dos governos, deixando espaço apenas para uma reconstrução “imparcial” do acontecido, para uma análise fria das causas e das consequências da ditadura. Hoje, de fato, aquilo que resta daquele ato brutal de supressão da democracia que foi realizado pelo golpe militar de 1964 é a contagem dos mortos e dos desaparecidos, sem levar em conta, senão de modo marginal, a dor procurada, o sofrimento daqueles que, inermes ou em armas, se opuseram a um Estado que fazia da exceção a sua regra.
Hoje, a violência ou é, por assim dizer, naturalizada, ou é pensada como um fenômeno dependendo do Fado, ou seja, do arbítrio de deuses transitórios e vingativos ou do capricho imperscrutável do Acaso, quase como se ela não fosse o produto da ação devastadora dos homens e dos governos, da hýbris que sempre se associa à vontade de poder e de domínio, à cobiça de quem esmaga e destrói para obter um lucro (simbólico ou material, pouco importa). Aquilo de que não se fala nem se deveria falar é, justamente, o nefas, ou seja, os gestos nefandos que, no Brasil, a Lei da Anistia – emanada em 1979 pelo regime militar ainda
1 Doutor em letras e professor de literaturas portuguesa e brasileira na Faculdade de Letras e Filosofia da Sapienza – Universidade de Roma, Roma, Itália. E-mail: [email protected]

–––––––––––– (Des)memória e catástrofe
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014. 180
vigente – procurou apagar, deixando que a história fosse escrita pelos carrascos ou pelas vítimas, pela voz impudica dos torturadores e pela vergonha dos sobreviventes. Quanto à guerrilha do Araguaia, por exemplo, o famigerado Major Curió, com suas entrevistas recentes, e a falecida Elza Monnerat, com os seus depoimentos quase esquecidos, poderiam representar, como tantos outros entre opressores e oprimidos, os polos opostos, os nomes em dissonância dessa verdade outra, que cruza e embaralha a verdade da História a tornando, justamente, um emaranhado de histórias ou de narrativas sem nenhuma lógica consequencial. Nesse sentido, a meu ver, é só numa dimensão ficcional, é só no âmbito da literatura que podemos surpreender o nefas habitando nas dobras da História oficial, chegando assim a entrever aquele inter-dito que sempre se diz na defasagem e/ou na conjuntura entre duas versões contrapostas do mesmo acontecimento.
De resto, a violência como manifestação extrema e esmagadora do Outro nunca encontrou uma forma tão contundente de denunciar a opressão e o massacre dos inermes como aquela do discurso literário: pense-se apenas nos testemunhos da Shoah e em não só como ela não representou o abismo e o fim da poesia, segundo a conhecida hipótese de Adorno, mas, pelo contrário, como apenas a literatura conseguiu dizer aquela verdade que, no âmbito histórico, balançava (e que, de forma macabra, continua balançando) entre a afirmação e a negação, entra a denúncia documentada e a ultrajosa incapacidade de admitir o horror extremo dos “campos”. Nesse sentido, são apenas os sobreviventes, para utilizar os termos de Primo Levi, que conseguem tomar a palavra em nome e por conta dos afogados, daqueles que não têm mais voz, das verdadeiras e já mudas testemunhas – daqueles, enfim, que pela condição de degradação em que permaneceram, experimentaram até o fim e o fundo a destruição daquilo que, no homem, marca a sua humanidade. Não por acaso Giorgio Agamben, na esteira justamente de Levi, identificou essa paradoxal “im-possibilidade” do testemunho na figura do assim chamado “muçulmano”: aquele que vivenciou por completo o horror do holocausto, porque, usado frequentemente nos campos como Sonderkommando, habitou a ambígua condição de vítima e de cúmplice, sobrevivendo num estado que era, ao mesmo tempo, de não vida e de não morte – suspenso, enfim, naquele estado de “vida nua” que, uma vez atingido, consegue, por um lado, dar acesso ao papel de testemunha

Ettore Finazzi-Agrò ––––––––––––
181 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014.
integral, proibindo, pelo outro, a esse homem reduzido a pura essência biológica de testemunhar.
Exatamente pelo fato de não viver, mas de sobreviver apenas – presos no mecanismo da desumanização, engolidos pelo redemoinho do horror e demorando na soleira entra o humano e o animal –, só os “muçulmanos” seriam os detentores daquela verdade suprema ou ínfima que os supérstites, então, podem sim recontar ao mundo, sem todavia ter garantias tanto de ser considerados confiáveis por todos, quanto de conseguir relatar de forma exaustiva aquilo a que assistiram, porque o deles é justamente um conto, uma narrativa em que a realidade, por quanto ela possa ser relatada de modo objetivo, passa todavia através do filtro da subjetividade, se tornando, declaradamente ou não, ficcional. Não por acaso, os grandes livros sobre a Shoah, a partir de É isto um homem? e passando, por exemplo, pelas obras de Imre Kertész, são na sua maioria relatos que mantêm a estrutura romanesca.
Voltando ao caso brasileiro e aos anos da ditadura militar, embora a razão e a sucessão dos fatos – para além da dimensão e amplitude dos fenômenos de repressão – delineiem uma situação bem diferente daquela que se tinha dado na Europa pouco mais de vinte anos antes, encontramos todavia a mesma dificuldade da História em dar conta, de forma exaustiva, daquilo que realmente aconteceu e, sobretudo, em dar voz àqueles que não sobreviveram, aos que se afogaram no vórtice de violência provocado pelo Estado autoritário. Nesse sentido, o mérito das grandes sínteses historiográficas, assim como o empenho das organizações tentando resgatar a memória das vítimas, é com certeza enorme (estou pensando, em particular, nos quatro livros que compõem o ciclo sobre a ditadura escritos por Elio Gaspari, ou ao louvável trabalho levado adiante por livros e/ou movimentos como Brasil: Nunca Mais), mas, apesar da sua fidelidade aos acontecimentos, apesar do seu escrúpulo documentário, essas obras não conseguem, a meu ver, mostrar de modo completo não aquilo que realmente aconteceu, mas a dor e o sangue, as lágrimas e as feridas que se abriram no corpo da Nação e na lembrança traumática dos sobreviventes. Aquilo que falta, mais uma vez, é a comoção pelos corpos torturados, pelas pessoas massacradas, pela dor dos sobreviventes – aquilo que falta, enfim, é o pathos que sempre acompanha a tragédia e a sua encenação: aquela compaixão “sororal” diante dos mortos, em suma, que, como no drama de Antígona, não consegue ter respostas, não abre para nenhuma kátharsis,

–––––––––––– (Des)memória e catástrofe
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014. 182
apresentando-se, por contra, como o Imprescritível que impossibilita a absolvição e a desculpa – indulto e perdão que permanecem, aliás, os altos e louváveis objetivos das Comissões de Verdade instaladas no Brasil com em várias outras regiões do mundo.
Nesse sentido, a literatura cumpre um papel de suplência em relação à historiografia, conseguindo, às vezes, dizer o abjeto (para utilizar um termo evocado por Márcio Seligmann-Silva, 1999), conseguindo nos entregar aquela verdade nefanda e inter-dita que o relato ou a crônica dos acontecimentos não podem e, talvez, não devem dizer: que História seria, com efeito, aquela em que o autor manifesta o seu horror ou a sua comoção diante de fatos que ele deveria, em princípio, apenas relatar de forma lógica ou até “apática”? Entre as obras literárias tentando, pelo contrário, nos comunicar os extremos da violência, eu tomaria como exemplo um livro que, desde a sua publicação, dividiu a crítica entre aqueles que o consideraram um texto mostrando uma escassa “preocupação literária” (Süssekind, 2004, p. 76) e aqueles que sublinharam, por outro lado, a sua força representativa provindo “da qualidade estética da linguagem utilizada” (Candido apud Silva, 2008, p. 236-39): duas leituras, como se vê, contrapostas que não discutem, de modo explícito, o núcleo testemunhal ou político da obra, emitindo, todavia, julgamentos antitéticos sobre o seu valor literário. O livro em questão é Em câmara lenta, de Renato Tapajós, publicado em 1977 e logo censurado, e no qual, como numa cena em slow-motion (donde o título do livro), nos é apresentada, no capítulo final, primeiro a captura e a terrível tortura – cheia de detalhes cruentos – de uma jovem guerrilheira (“ela”, no romance), que afinal morre, assim como morre, logo a seguir, numa cilada da polícia o seu companheiro de luta (nomeado apenas como “ele”). Se o episódio da tortura é contado na terceira pessoa, de forma aparentemente hiper-realista, a morte a tiros do seu companheiro começa na primeira pessoa para acabar, no momento em que “ele” é atingido por uma “rajada da metralhadora”, com uma voz na terceira pessoa, constatando, como num amen fechando o livro, que “a deserção definitiva tinha sido realizada” (Tapajós, 1977, p. 176).
Sem querer entrar na polêmica sobre o valor estético da obra (que já envolveu críticos ilustres como aqueles que mencionei), acho que posso apenas sublinhar como o livro de Tapajós, testemunha e sobrevivente da repressão, escolhe a forma ficcional – embasada justamente nessa contínua mudança do ponto de vista – para dizer o horror dos anos da

Ettore Finazzi-Agrò ––––––––––––
183 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014.
ditadura. Optando pela representação imagética ou até cinematográfica para denunciar a violência e o trauma, o escritor não pode, a meu ver, se filiar no âmbito da “literatura-verdade” (Süssekind, 2004, p. 73 e seguintes), mas naquele do tratamento poético e, por isso mesmo, subjetivo da realidade. Como escreveu Markus Lasch num ensaio recente – na esteira, aliás, das importantes observações sobre o mesmo texto de um crítico do porte de Jaime Ginzburg:2
O que opera no livro de Renato Tapajós são os procedimentos misteriosos da literatura, de poder tornar real o que é apenas ficcional e ficcional o que foi demasiado real. Foi aparentemente o poder da literatura que permitiu ao autor representar aquilo que se nega à e nega a representação. E é o poder da literatura que, por um breve momento, nos faz intuir comovidos o que, a rigor, não tem explicação (Lasch, 2010, p. 290).
Só o dispositivo literário e a sua potência (eu não usaria, aqui, a palavra “poder”) conseguem, então, falar, tanto em prosa quanto em verso, do interdito, conseguem nos fazer intuir pela comoção e, eu acrescentaria, pela compaixão o inexplicável da violência, sem regra e sem medida, do homem sobre e contra o homem, se opondo assim ao dispositivo político-repressivo.
Eu diria, mais ainda, que em obras como Em câmara lenta (que desde a capa, aliás, se denomina como “romance” e não como “crônica” ou “depoimento”) aquilo que ressalta não é tanto a crueza da escrita e a precisão, quase insuportável, da descrição da tortura e da morte quanto a raiz humana, intencional e propriamente política, do Mal. Uma encenação da violência, portanto, que é possível encontrar em muitos outros textos literários (estou pensando, entre inúmeros exemplos de descrições de torturas, num trecho de As meninas, de Lygia Fagundes Telles3) e que acaba por tirar o gesto agressivo tanto da sua qualificação
2 Vejam-se os seus fundamentais ensaios: “Imagens da tortura: ficção e autoritarismo em Renato Tapajós” e “Escritas da tortura”, agora republicados em Ginzburg (2012, p. 455-491). 3 Transcrevo a seguir o trecho de As meninas apenas para mostrar como a cena da tortura incluída no livro de Tapajós não é absolutamente uma exceção na literatura pós-64: “Enrolaram então alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica: deram-me choques inicialmente fracos que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois, obrigaram-me a tirar a roupa, fiquei nu e desprotegido. Primeiro me bateram com as mãos e em seguida com cassetetes, principalmente nas mãos. Molharam-me todo, para que os choques elétricos tivessem mais efeito. Pensei que fosse então morrer. Mas resistia e resisti também às surras que me abriram um talho fundo em meu cotovelo. Na ferida o sargento Simões e o cabo Passos enfiaram um fio. Obrigaram-

–––––––––––– (Des)memória e catástrofe
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014. 184
técnica – o mecanismo e a estratégia repressivas – quanto da sua explicação natural – o mal como fenômeno fatal e incontrolável, dependendo apenas de uma vontade imperscrutável e meta-histórica.4 Considerando, de fato, o sofrimento infligido enquanto produto de uma causa imponderável e anônima, teremos como resultado a justificação e a irresponsabilidade daqueles que provocam o sofrimento e a impossibilidade para as vítimas de denunciar o acontecido. O verdadeiro culpado seria, nessa perspectiva, sempre uma instância outra e superior que se subtrai ao julgamento, justamente pelo fato de agir “em força de lei” e de obedecer a um poder sem vulto e sem nome – e onde não se pode nomear o carrasco, quando não se consegue dar uma identidade ao responsável não há nem mesmo a possibilidade de atribuir e punir a culpa.
Para retomar a metáfora trágica, ao contrário do respeito cego e impiedoso da Lei por parte de Creonte, a pietas mostrada por Renato Tapajós diante dos corpos trucidados o leva a reclamar, em voz alta, o respeito que se deve a eles. E, se anônimo e cruento é o Poder, anônimos e inspirados pela mesma cruel determinação são os personagens que a ele se contrapõem: jovens sem nome combatendo movidos por um ideal ambíguo e inexequível, para a realização de uma utopia destinada à derrota e, justamente, à “deserção definitiva”. Nenhum nome, de fato, é possível numa situação em que carrascos e vítimas são os emblemas de uma humanidade denegada: como no romance mais conhecido de Primo Levi, assim naquele de Tapajós o que está em questão é a própria humanidade de um sujeito reduzido a um “isto”, a uma pura indicação, a um puro dêictico, como dêicticos – assumindo, então, um significado transitório e sem referência senão ao próprio discurso que os contém –
me a então a aplicar os choques em mim mesmo e em meus amigos. Para que eu não gritasse enfiaram um sapato dentro da minha boca. Outras vezes, panos fedidos. Após algumas horas, a cerimônia atingiu seu ápice. Penduraram-me no pau-de-arara: amarraram minhas mãos diante dos joelhos, atrás dos quais enfiaram uma vara, cujas pontas eram colocadas em mesas. Fiquei pairando no ar. Enfiaram-me então um fio no reto e fixaram outros fios na boca, nas orelhas e mãos. Nos dias seguintes o processo se repetiu com maior duração e violência. Os tapas que me davam eram tão fortes que julguei que tivessem me rompido os tímpanos: mal ouvia. Meus punhos estavam ralados devido às algemas, minhas mãos e partes genitais completamente enegrecidas devido às queimaduras elétricas” (Telles, 1985[1973], p. 135). 4 Quanto ao valor tecnológico atribuído à tortura e/ou à sua assimilação aos fenômenos “naturais” no Brasil da ditadura, veja-se ainda Ginzburg (2012, p. 484-491).

Ettore Finazzi-Agrò ––––––––––––
185 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014.
são os pronomes pessoais “ele” e “ela”, emblemas de uma opção política apagando qualquer identidade pessoal.
Por outro lado, não se pode esquecer que o esmagamento dos dois protagonistas chega, acompanhado por um leitor compadecido, até a morte de ambos, como se o autor quisesse comprovar ou antecipar a hipótese sobre a possível impossibilidade e sobre a impossível possibilidade do testemunho, assim formulada por Agamben:
Exatamente pelo fato de o testemunho ser a relação entre uma possibilidade de dizer e o seu ter lugar, ele pode se dar apenas através da relação com uma impossibilidade dizer – ou seja, apenas como contingência, como um poder não ser. [...] O testemunho é uma potência que se dá realidade através de uma impotência de dizer e uma impossibilidade que se dá existência através de uma impossibilidade de falar. Esse dois movimentos não podem nem se identificar num sujeito ou numa consciência, nem se apartar em duas substâncias incomunicáveis. Essa inseparável intimidade é o testemunho (Agamben, 1998, p. 135-36).
Nessa perspectiva, um escritor/testemunha/partícipe como Tapajós não nos dá, apenas, “em câmara lenta” a descrição pormenorizada da tortura e da morte da mulher, mas nos apresenta, em câmara subjetiva, também a cilada e a morte de quem está nos falando. Em ambos os casos temos a ver com situações “impossíveis” ou “inverossímeis”, dado que se conta em detalhe uma tortura a que o autor não assistiu e um assassinato que é contado pelo próprio sujeito assassinado. Isso mostra, justamente, o caráter contingente – e, afinal, necessariamente e integralmente ficcional – do testemunho, balançando, como na hipótese de Agamben, entre uma possibilidade de falar (a do escritor, sobrevivente e supérstite, que de fato fecha o romance com uma frase em off pronunciada/escrita por ele) e a impossibilidade de o fazer de forma integral (os que morrem não poderiam, evidentemente, testemunhar ou descrever a sua própria morte).
No âmbito da literatura produzida durante ou sobre a época da ditadura militar, o livro de Renato Tapajós, constitui, nesse sentido, uma espécie de unicum, visto que, pelo menos que eu saiba, não existe alguém que se tenha adiantado até os limites da expressão e do exprimível, chegando a “representar aquilo que se nega à e nega a representação”, para retomar as palavras de Markus Lasch. Prescindindo, mais uma vez, do valor estético do romance, creio que o

–––––––––––– (Des)memória e catástrofe
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014. 186
texto de Tapajós mereça ser lembrado exatamente por causa dessa vontade de dizer o indizível ou o nefando, de tornar possível, “diante do extremo”, a impossibilidade do testemunho. Existem, com certeza, muitas obras de grande impacto, descrevendo, de forma direta e autobiográfica ou de modo indireto e paradoxal, os sofrimentos infligidos pela ditadura militar (estou pensando, no primeiro caso, em livros de memórias como O que é isso companheiro?, de Fernando Gabeira, ou como Os carbonários, de Alfredo Sirkis; no segundo, em obras irônicas como A festa, de Ivan Ângelo, ou como Confissões de Ralfo, de Sérgio Sant’anna – que traz, não por acaso, o subtítulo “uma autobiografia imaginária”). Acho todavia que o romance de Tapajós guarda a especificidade, por um lado, de ir além da autobiografia e da crônica e, pelo outro, de ficar muito aquém do tratamento irônico de uma realidade opressiva e oprimente, para nos mostrar a dedo o destino trágico de “ele” e “ela”, para indicar os corpos machucados e abandonados, para dar voz aos mortos que permanecem as testemunhas integrais e mudas de uma História confiada apenas aos supérstites.
São muitas, de resto, as obras que nos falam da dor dos sobreviventes – obras muito diferentes cujo único objetivo, porém, é o de denunciar, em diversos registros, de modo crítico e também autocrítico, as mazelas da ditadura e, às vezes, os erros daqueles que a ela se opuseram, de forma armada ou não. Em geral, porém, trata-se de obras escritas e/ou publicadas nos anos da abertura do regime militar ou, como no caso do envolvente K, de Bernardo Kucinski, depois da derrota da ditatura: esse estar fora do período mais duro da repressão e da censura (depois do AI-5) não tira nada ao valor das obras, mas constitui, a meu ver, já uma tentativa de elaboração do trauma, enquanto o romance de Tapajós nos faz continuamente reviver os atos sangrentos da repressão e os gestos desesperados da luta.
Um discurso à parte mereceriam, na minha opinião, romances como Bar Don Juan e Reflexos do baile, de Antonio Callado, não, talvez, apenas pelo fato de serem obras de maior qualidade em relação às outras, mas pelo fato de terem sido escritas e publicadas no calor da hora. O primeiro romance, com efeito, foi editado em 1970, num momento, então, de forte repressão e de censura de qualquer expressão antirregime. O fato surpreendente de não ter sido proibido mostra apenas o descuido e a ignorância dos censores, visto que o romance se abre, justamente, onde se conclui Em câmara lenta, ou seja, com uma cena

Ettore Finazzi-Agrò ––––––––––––
187 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014.
onde um homem e uma mulher relembram a tortura dele e a violência carnal dela, às quais o casal tinha sido submetido duas semanas antes, durante um interrogatório por parte da polícia militar. Bar Don Juan, como aliás muitos dos livros escritos por Callado, é um romance coral, se apresentando como crônica de uma geração – aquela que, utilizando o título de um famoso romance de Pepetela, poderíamos denominar “a geração da utopia”, ou seja, dos jovens que, fascinados pelo mito da revolução cubana e pela figura do Che Guevara, imaginaram poder derrubar o regime militar brasileiro, exportando a insurreição marxista em todas as regiões da América Latina.
Callado descreve a parábola dolorosa desses homens e mulheres, na sua maioria intelectuais, que lutaram até a derrota contra um Poder que, na realidade, demostrou ser ferozmente determinado e muito bem organizado – do ponto de vista, mais uma vez, tecnológico –, ao contrário das expectativas sem fundamento daqueles que sonharam com uma vitória da luta armada. Nessa descrição indignada, não falta ainda certa dose de ironia, típica do escritor, que já circulava no seu romance mais conhecido, Quarup, de 1967, e que vai se manifestar, de modo ainda mais claro, no romance seguinte, Reflexos do baile, de 1976, em que o período da ditadura é encarado de forma declaradamente paródica e paradoxal, na imagem grotesca do seu aparato repressivo e na fragmentação ilimitada das vozes dos carnífices e das vítimas, que se entrecruzam ou se distanciam sem parar.
Para recompor o quadro da ditadura e dos seus efeitos, essa mudança contínua tanto do registro expressivo quanto do ponto de vista parece fundamental rumo a uma representação participada e, ao mesmo tempo, estranhada de uma época de atrocidades e de projetos de resgate sempre falhados. Nesse sentido, os textos literários, em relação aos depoimentos pessoais ou aos documentos colecionados pelos historiadores, guardam uma vantagem evidente: aquela margem de liberdade que permite aos escritores mergulhar no horror ou se distanciar dele para denunciar o grotesco que muitas vezes se associa ao nefando.5 De resto, o testemunho é sim marcado pela “fiabilidade” ou
5 Quanto à Shoah, podemos lembrar, por exemplo, as considerações avançadas por Márcio Seligmann-Silva: “Apenas a passagem pela imaginação poderia dar conta daquilo que escapa ao conceito. Semprún e outros sobreviventes da Shoah sabem que aquilo que transcende a verossimilhança exige uma reformulação artística para a sua transmissão, Mas a imaginação não deve ser confundida com a “imagem”: o que conta é a capacidade de criar imagens, comparações e

–––––––––––– (Des)memória e catástrofe
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014. 188
pela “con-fiança”, mas em qualquer depoimento ecoa ainda e sempre a origem latina do auctor fio, ou seja, a fórmula antiga pela qual alguém se declarava “autor” e garantia de uma verdade que dependia da sua interpretação dos fatos. Nessa perspectiva, como escreveu ainda Agamben, “o testemunho [...] implica sempre uma dualidade essencial, em que uma insuficiência ou uma incapacidade são integradas e validadas” (Agamben, 1998, p. 140).
O papel da literatura é, justamente, centrado nesse irremediável dualismo, ou melhor, nesse habitar instâncias opostas, conseguindo exprimir o inexprimível através de uma contínua alteração ou alternância de registros (do trágico ao cômico), por meio de uma mudança vertiginosa dos pontos de vista (do mais aleatoriamente subjetivo ao mais rigorosamente objetivo), sem que isso tire nada à função testemunhal dos textos. Mais uma vez, o valor estético das obras produzidas no e sobre o período da ditadura militar não depende tanto do grau de fiabilidade delas quanto da capacidade do autor de fazer passar, através da sua escrita e das imagens por ele produzidas, uma verdade material – “física”, eu diria – da qual nenhuma História poderia dar conta senão traindo ao seu estatuto epistemológico. De fato, aquilo que as muitas histórias sobre a repressão e a tortura conseguem nos legar é, justamente, a dor e o sangue, a vergonha e a insensatez de um mundo social e político que, cinquenta anos atrás, se enviesou, perdeu o seu eixo, vivendo num perene estado de exceção e tornando o Mal e a Violência as únicas regras de uma conduta sem regras, visando apenas ao aniquilamento das diferenças e impondo o domínio biológico sobre a vida dos “outros” – dos inconformados, de sujeitos que perderam o seu estatuto humano se tornando apenas “eles”.
Referências
AGAMBEN, Giorgio (1998). Quel che resta di Auschwitz: l’archivio e il testimone. Torino: Bollati Boringhieri.
CALLADO, Antonio (1982[1970]). Bar Don Juan. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
sobretudo de evocar o que não pode ser diretamente apresentado e muito menos representado” (Seligmann-Silva, 2003, p. 384)

Ettore Finazzi-Agrò ––––––––––––
189 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014.
______ (1977). Reflexos do baile. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
GINZBURG, Jaime (2012). Crítica em tempos de violência. São Paulo: EDUSP, Fapesp.
LASCH, Markus (2010). Em câmara lenta: representações do trauma no romance de Renato Tapajós. Remate de males, Campinas, v. 30, n. 2, p. 277-291.
SELIGMANN-SILVA, Márcio (1999). Do delicioso horror sublime ao abjeto e à escritura do corpo. In: ANDRADE, C. et al. (orgs.). Leitura do ciclo. Florianópolis: Abralic.
______ (2003). O testemunho entre a ficção e o “real”. In: SELIGMANN-SILVA, Márcio (org.). História. Memória, literatura: o testemunho na Era das Catástrofes. Campinas: Editora da Unicamp.
SILVA, Mário Augusto Medeiros da (2008). Os escritores da guerrilha urbana: literatura de testemunho, ambivalência e transição política (1977-1984). São Paulo: Annablume, Fapesp.
SÜSSEKIND, Flora (2004). Literatura e vida literária: polêmicas, diários & retratos. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG.
TAPAJÓS, Renato (1977). Em câmara lenta. 2. ed. São Paulo: Alfa-Omega.
TELLES, Lygia Fagundes (1985[1973]). As meninas. 26. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em janeiro de 2014. resumo/abstract (Des)memória e catástrofe: considerações sobre a literatura pós-golpe de 1964
Ettore Finazzi-Agrò
O texto pretende repensar, na esteira de uma tradição crítica consolidada, o papel da literatura na representação e na denúncia dos atos de repressão realizados pelo regime militar brasileiro a partir de 1964 e, com maior contundência e força, a partir de 1968, depois da promulgação do AI-5. Nesse âmbito, a função das histórias – contadas por diversos autores e por alguns dos sobreviventes da repressão – parece ser, sobretudo, aquela de desenvolver um papel de suplência da História, no sentido de mostrar, de modo eficaz e através da ficção, o nefando que caracterizou em particular a tortura e o assassinato dos opositores. O estatuto da literatura – a sua capacidade de dizer aquilo que é

–––––––––––– (Des)memória e catástrofe
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 179-190, jan./jun. 2014. 190
interdito à historiografia, a possibilidade de recriar o real através da imaginação – permitiu, de fato, a muitos escritores testemunhar o horror e a violência que marcaram o regime instaurado no Brasil cinquenta anos atrás, chegando a nos dar a representação “física” da dor e do sangue derramado por um Poder agindo em estado de exceção.
Palavras-chave: ditadura militar, literatura brasileira, testemunho. (Des)memory and disaster: reflexions on the literature after the coup d’état of 1964
Ettore Finazzi-Agrò
The text aims to rethink, in the wake of an established critical tradition, the role of literature in the representation and complaint of acts of repression carried out by the Brazilian military regime since 1964, and with greater forcefulness and strength, since 1968, after enactment of Institutional Act n. 5. In this context, the stories – told by many authors and some of the survivors of repression – seem to play an important role in supplying the deficiencies of the History, in order to show, effectively even if through fiction, the nefas that characterized in particular torture and murder of opponents. The status of literature – his ability to say what is forbidden to historiography, the possibility of recreating the real through imagination – drove, in fact, many writers to witness the horror and violence that marked the regime established in Brazil fifty years ago, even giving us the “physical” representation of pain and blood generated by a power acting in a “state of exception”.
Keywords: military dictatorship, Brazilian literature, testimony.

outros


Os males do Brasil são: a doença como elemento distintivo da condição de ser brasileiro
Ermelinda Maria Araújo Ferreira1
A saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que falta... A literatura é delírio e, a esse título, seu destino se decide entre dois polos do delírio. O delírio é uma doença, a doença por excelência a cada vez que erige uma raça pretensamente pura e dominante. Mas ele é a medida da saúde quando invoca essa raça bastarda oprimida que não para de agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo o que esmaga e aprisiona e de, como processo, abrir um sulco para si na literatura... Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa criação de uma saúde, ou essa invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida. Escrever por esse povo que falta... (“por” significa “em intenção de” e não “em lugar de”.)
Gilles Deleuze
A Virgem vai pelo caminho Visitar Jesus, e Jesus perguntou: O que é aquilo? - E a Virgem lhe respondeu: - O inferno que vós salvais! - Com que se curaria? - Com o unto de porco e pó da guia. - Em honra de Deus e da Virgem Maria.
Espólio de medicina popular portuguesa, recolhido por Michel Giacometti
Eu insulto o burguês-funesto! O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições! Fora os que algarismam os amanhãs! Olha a vida dos nossos setembros! Fará sol? Choverá? Arlequinal! Mas as chuvas dos rosais O êxtase fará sempre Sol!
Mário de Andrade
1 Doutora em letras e professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE, Brasil. E-mail: [email protected]

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 194
Este ensaio nasceu da intenção de comparar as recolhas de dados
sobre a medicina empírico-tradicional em Portugal e no Brasil, por iniciativa de dois etnomusicólogos: Michel Giacometti (Córsega, 1929, e Faro, 1990), naturalizado português, cujo acervo, recentemente descoberto, foi reunido no volume Artes de cura e espanta-males (2009); e o brasileiro Mário de Andrade (São Paulo, 1893-1945), autor do livro Namoros com a medicina (1937), que contém dois artigos, “Terapêutica musical” e “A medicina dos excretos”. A similaridade desses trabalhos aponta para o interesse de ambos os pesquisadores pela cultura popular – em particular aquela relacionada ao entendimento espontâneo do povo luso-brasileiro sobre os males do corpo e da alma, e de suas estratégias instintivas, analógicas e/ou empíricas de tratamento e de cura –, instigando o leitor à verificação dos processos de transferência das tradições fomentadas no ideário lusitano antigo, perpetuadas no Brasil rural e no Brasil urbano não beneficiário das conquistas da medicina científica moderna.
A comparação entre os livros – elaborados em torno dos fichamentos exaustivos de seus autores sobre as definições populares de doenças e de práticas terapêuticas em sua maioria marcadas por influências do imaginário europeu medieval, enriquecidas na colônia pela contribuição dos hábitos das culturas indígena e africana – revelou-se difícil por se tratar, em grande parte, de enumerações de sintomas relacionados ao mau funcionamento dos diversos sistemas fisiológicos, e das mezinhas, práticas, ditos e crendices associados pelo povo ao restabelecimento do equilíbrio e do bem-estar do organismo comprometido por esta ou aquela razão. Embora muitas vezes curiosos, a mera explanação desses relatos seria pouco relevante para nós, se resultasse apenas num comentário sobre as peculiaridades e excentricidades dessa medicina.
A exploração do tema por sua vertente histórica também nos seduziu, mas encontramo-la já primorosamente desenvolvida, entre outros, no excelente ensaio do médico e escritor Pedro Nava, “Introdução ao estudo da História da Medicina Popular no Brasil” (2003), que nos apresenta, minuciosamente, os fundamentos culturais da medicina popular brasileira desde a sua influência portuguesa, a partir de considerações sobre as obras de Frei Manoel de Azevedo, Fonseca Henriques, Curvo Semedo e Bernardo Pereyra. Diz Nava que:

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
195 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
A medicina popular do português, transportada pelo navegador, pelo degredado, pelo soldado e pelo colono, aqui iria ser o elemento mais forte e dominante da nossa arte curativa popular. Essa influência sente-se até hoje – pura e quase livre de deformações na sua transmissão escrita e interpolada de contribuições indígenas e negras, no espírito com que é ministrada pelos nossos curandeiros e recebida pelos pacientes (Nava, 2003, p. 171).
É notória a relevância dada pelo médico à importância da religiosidade sempre presente no desenvolvimento da medicina portuguesa, pois, “quanto mais um grupo cultiva os seus sentimentos de solidariedade, tanto mais numerosos serão os meios por que ela se manifestará e, portanto, mais ricas e cheias de recursos a sua medicina douta e popular. Um povo cruel, rude ou indiferente nunca poderá ter uma Arte superior” (Nava, 2003, p. 172), diz ele, assinalando que:
À medida que se lhe firmava o pensamento cristão, ao influxo do apostolado exercido em sua terra, desde o século XIII, pelos monges e frades cistercienses, dominicanos e franciscanos, multiplicavam-se na mesma os lazaretos, as corporações de “mesteres”, as confrarias, os hospitais, e depois as Misericórdias – por intermédio das quais eram praticadas a caridade e a fraternidade no sentido evangélico. Dentro destas casas progrediria a medicina erudita do país, ela também inseparável, nos seus melhoramentos, dos princípios éticos inspiradores dos médicos. E ao lado destas casas da bondade coletiva, ao lado do surto da medicina oficial nelas radicado – criava-se, à base da bondade de cada um, o imenso arsenal de conhecimentos sintomáticos, de tratamentos empíricos e sobrenaturais de que a medicina popular portuguesa é um dos exemplos mais extraordinários (Nava, 2003, p. 172).
Boa parte do trabalho de Pedro Nava é dedicado à análise da “medicina expiatória e imunda”, coincidindo com a natureza das recolhas feitas por Michel Giacometti em Portugal e por Mário de Andrade no Brasil. Essas recolhas assinalam, no remédio estercorário popular, o entendimento da doença como um castigo, de onde advém a ideia da penitência e da expiação como base da cura. A prodigiosa quantidade de imundícies que entram em certas fórmulas da farmacopeia portuguesa – urina, saliva, fezes humanas e de animais, cabelos, unhas e ossos, anotadas nas mais de cinco mil fichas recolhidas por Giacometti – tem ascendência muito legítima no emprego que o selvagem fazia da banha de cobra, de jacaré, do cuspe, da urina e do

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 196
esmegma, e no que o africano fazia de numerosas peçonhas e porcarias de origem animal, anotadas por Mário de Andrade e discutidas por Pedro Nava. Para o médico, esse conjunto de conhecimentos rudimentares deve ser encarado como um fenômeno extraordinariamente complexo, de vivo interesse para o sociólogo, o etnólogo e o sanitarista.
A doença como metáfora
A medicina de base natural, a arte de linha hipocrática que levantou
a observação metódica contra a imaginação desordenada, a física contra a metafísica e o prodígio do comum contra os milagres de essência sobrenatural sempre lutou contra a ideia da origem diabólica ou divina dos males, e sempre agiu contra a sedimentação da doença como estigma. Entretanto, essa é uma luta constante, ainda não superada apesar do grande avanço da medicina científica e tecnológica, como analisa Susan Sontag em Doença como metáfora (1977), ao investigar a semelhança dos mecanismos de estigmatização de doenças epidêmicas e sem cura desde a antiguidade – lepra, sífilis, tuberculose – até a modernidade, quando um diagnóstico de câncer ou de Aids são tratados como uma sentença de morte de cunho obsceno: de mau agouro, lúgubre, abominável, repugnante aos sentidos, aos quais se deve associar um sentimento de vergonha e de culpa:
A persistência da ideia de que a doença revela e pune a frouxidão moral e a devassidão pode ser observada de outra maneira: verificando-se a constância das descrições da desordem ou da corrupção como uma doença. A metáfora da peste é tão indispensável quando se trata de julgar de modo sumário as crises sociais que sua utilização praticamente não diminuiu durante a era em que as doenças coletivas não eram mais abordadas de modo tão moralista (Sontag, 2007, p. 121).
Se isso é verdadeiro em relação à medicina moderna, tanto mais persiste nos rincões geográficos e culturais em que o entendimento dos sofrimentos físicos e mentais e de seus possíveis tratamentos ainda persistem solidamente inscritos numa concepção animista do mundo, da qual se originam os mitos. E um dos mitos que a ideia de um Brasil atrasado (e, portanto, doente, e, portanto, culpado, e, portanto, merecedor do sofrimento) veio sedimentando desde a modernidade foi o do fracassado, portador da patologia da ignorância sobre os avanços do mundo dito civilizado, e dos danos que o seu alijamento na partilha das

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
197 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
conquistas econômicas e tecnológicas do ocidente viria a causar, comprometendo a saúde da nação.
Esse mito ganhou força simbólica na obra de Monteiro Lobato, através do personagem Jeca Tatu – do seu livro Urupês (1918), que contém histórias do trabalhador rural paulista, mas que acaba criando uma caricatura generalizada do matuto do interior –, cuja postura e comportamento diante da vida eram severamente condenados, quando submetidos à comparação com um modelo de “evolução” baseado na imagem do self-made man americano, alvo da admiração daquele grande modernista brasileiro. Inicialmente concebido para criticar a passividade do homem do campo, o Jeca ganha novos contornos durante as campanhas sanitaristas do início do século XX no Brasil, quando passa a ser utilizado pelo autor como arauto da esperança de redenção do brasileiro pela ciência médica. A “causa” da passividade do brasileiro do campo encontra finalmente uma explicação – a doença –, e uma esperança de cura pela educação, adoção de hábitos de higiene e mudança de hábitos alimentares. A imagem redimível ou redimida do caboclo – agora próspero, saudável e rico – passa, então, a circular em folhetins, e o “Jeca Tatuzinho” acaba se tornando o garoto propaganda do Almanaque Fontoura – financiado pelo medicamento que prometia a cura do “amarelão” (ancilostomíase), transmitido por ovos de parasitas depositados nas fezes, comum em regiões com precárias condições de saneamento, e responsável pelo estado anêmico que justificava a apatia do caboclo. A força do Jeca também foi comprovada pelo seu importante papel na popularização das campanhas de vacinação que tanta resistência produziram nos centros urbanos brasileiros na época.
A ciência do início do século XX e a ciência social institucionalizada no Brasil a partir dos anos 30 podem ser consideradas as linguagens, por excelência, do processo de construção nacional. Constitutiva da matriz dualista, a ciência buscava identificar os sintomas de nossa cultura, submetendo-os ao espelho crítico de um outro civilizado, resultando num instrumento do projeto modernizador que nos garantiria uma almejada sintonia com o progresso. Nísia Trindade Lima e Gilberto Hockman analisam como os textos dos higienistas das três primeiras décadas do século XX ultrapassaram os limites do debate sobre saúde e fomentaram representações mais amplas sobre a sociedade. No artigo “Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são”, eles se reportam especialmente à visibilidade do movimento pró-

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 198
saneamento durante a Primeira República, com a construção de imagens fortes sobre o Brasil e os brasileiros, e à influência do diagnóstico sobre a nação feito pelos higienistas em textos literários e de divulgação. A imagem dominante de um Brasil doente mostra que
o movimento pelo saneamento teve um papel central e prolongado na reconstrução da identidade nacional a partir da identificação da doença como elemento distintivo da condição de ser brasileiro. [...] O Brasil foi pensado pelas suas ausências e o homem brasileiro como atrasado, indolente, doente e resistente aos projetos de mudança. [...] Questões como raça e herança colonial assumem crescente importância nas controvérsias que marcam as três últimas décadas do século XIX e as três primeiras décadas do século XX (Lima e Hochman, 2000, p. 314).
Para alguns intelectuais do período, “o traço negativo do brasileiro radicava-se na herança ibérica com sua tradição estadista e pouco propensa à iniciativa individual”. Outros atribuíam o atraso à “composição étnica da população”, em que predominavam mestiços e raças consideradas inferiores (Lima e Hochman, 2000, p. 314). O jeca como efígie nacional
Apesar dos esforços da medicina e dos intelectuais progressistas
como Monteiro Lobato no sentido de mitigar os sofrimentos do contingente populacional considerado “esquecido”, a figura do Jeca Tatu original acabou se instaurando e consolidando uma imagem negativa não só do homem do campo, oriundo do interior de São Paulo, mas, sobretudo, do homem natural das regiões que não passaram por processos equivalentes de modernização e enriquecimento. A figura-síntese do habitante dessas regiões, em particular a região nordeste do Brasil, passa a ser a do sujeito detentor de uma condição mórbida constitucional. Ecoando a definição de Euclides da Cunha em Os Sertões (1902) – cujo bordão “O sertanejo é, antes de tudo, um forte” esbarra na definição de um personagem caquético e miserável (o “Hércules-Quasímodo”) –, o Jeca acaba contribuindo para a instauração de uma caricatura perversa, estabelecida a posteriori pelo monumental romance de 30 nordestino, cuja grandeza foi forjada, paradoxalmente, sobre a legitimização e popularização de um estigma, com graves consequências para a construção da identidade do homem do Nordeste.
Desde O Quinze (1930), de Rachel de Queiroz, passando por Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, até Morte e vida severina (1955), de

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
199 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
João Cabral de Melo Neto, o intelectual nordestino, no afã de denunciar o seu pessimismo sobre as mazelas sociais da região, acaba varrendo qualquer crença na possibilidade de uma transformação positiva do Brasil por via da modernização. A essa crença não se soma, porém, nenhuma investigação sobre possíveis atenuantes, ou sobre valores intrínsecos desse povo e de seu modo de vida. O nordestino passa a ser definido apenas pelo que não é, como o primeiro Jeca Tatu de Lobato. À revelia, talvez, das intenções de seus autores, o romance de 30 se estabelece como uma literatura do ressentimento, que nada vê de positivo no sertanejo além de servir de fermento para a projeção nacional da cultura erudita que dele se alimenta.
Luís Bueno, em Uma história do romance de 30 (Bueno, 2006, p. 77) dedica um capítulo à análise da “figura-síntese” desta geração: o fracassado, mostrando como os modernistas de 22, em particular Mário de Andrade, citado como “o primeiro a apontar a recorrência dessa figura, para reprová-la” (Bueno, 2006, p. 74), criticaram a tendência derrotista que se instaurou na literatura brasileira com o romance regionalista, associada a uma ideia profundamente negativa de identidade nacional. Bueno se contrapõe à tendência de identificar nesse pessimismo o índice de uma “nacionalidade desarmada para viver”, como sugere Mário de Andrade:2
Ao contrário, trata-se de uma nacionalidade que pretende mostrar sua força e seu aparelhamento para a vida ao encarar e incorporar o fracasso ao invés de escapulir para outros planos – para o plano que
2 Em artigo escrito (em 28 de abril de 1940) para a coluna “Vida literária”, que mantinha no Diário de Notícias carioca, Mário de Andrade já alertava: “É estranho como está se fixando no romance nacional a figura do fracassado. Bem, entenda-se: pra que haja drama, romance, há sempre que estudar qualquer fracasso, um amor, uma terra, uma luta social, um ser que faliu. Mas o que está se sistematizando, em nossa literatura, como talvez péssimo sintoma psicológico nacional, absolutamente não é isso. Um D. Quixote fracassa, como fracassam Otelo e Mme. Bovary. Mas estes são seres dotados de ideais, de grandes ambições, de forças morais, intelectuais ou físicas. São, enfim, seres capacitados para se impor, conquistar, vencer na vida, mas que diante de forças mais transcendentes, sociais ou psicológicas, se esfacelam, se morrem na luta. E não estará exatamente nisto, neste fracasso, na luta contra forças imponderáveis e fatais, o maior elemento dramático da novela? Mas em nossa novelística o que está se fixando não é o fracasso proveniente de forças em luta, mas a descrição do ser incapacitado para viver, o indivíduo desfibrado, incompetente, que não opõe força pessoal nenhuma, nenhum elemento de caráter, contra as forças da vida, mas antes se entrega sem quê nem porquê à sua própria insolução. Será esta, por acaso, a profecia de uma nacionalidade desarmada para viver?” (Andrade apud Bueno, 2006, p. 75).

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 200
os próprios romancistas de 30 chamariam de meramente estético, por exemplo (Bueno, 2006, p. 79).3
Além disso, ele assinala que o interesse pelo fracassado teria sido responsável pela incorporação das figuras marginais ao romance, o que considera “uma das maiores conquistas do romance de 30 para a ficção brasileira” (Bueno, 2006, p. 80). Bueno cita como exemplo dessa postura a literatura de Eça de Queirós,
para quem o debruçar sobre as desgraças do presente é uma forma de entreabrir as cortinas e vislumbrar o futuro. É exemplar, nesse sentido, o encerramento de O crime do padre Amaro, em que o atraso português aparece contraposto ao avanço da França sacudida pela revolução e ao Portugal das conquistas marítimas cantado por Camões (Bueno, 2006, p. 78).
Esse “otimismo vicariante” de Bueno, porém, não é reconhecido nem mesmo pelos portugueses. Eduardo Lourenço, por exemplo, identifica na obra de Eça um “alegorismo-compensatório da generalizada consciência, entre a intelligentsia lusitana, de uma desvalia trágica, insuportável, da realidade nacional sob todos os planos” (Lourenço, 1991, p. 96), que ele identifica como obsessiva:
Nunca geração portuguesa se sentira tão infeliz – tão funda, sincera e equivocamente infeliz – por descobrir que pertencia a um povo decadente, marginalizado ou automarginalizado na História, e recebendo passivamente do movimento geral do que chamam extasiados A Civilização não só máquinas, artefatos, modas, mas sobretudo ideias... (Lourenço, 1991, p. 90).
3 Diz Bueno que: “Em Mário de Andrade, o uso artístico da ‘língua brasileira’ extrapola em muito o mero questionamento de aspectos retrógrados da gramática tradicional, convertendo-se numa espécie de atualização radical de potencialidades da língua falada. E como os intelectuais de 30 vão avaliar esse procedimento? Não foi manifestação isolada a avaliação de Orris Barbosa em Momento, segundo a qual ‘Macunaíma foi uma tentativa de romance nacional, em linguagem de experiência, empanturrada de símbolos complicados. Não pegou.’ [...] E José Lins do Rego: ‘O movimento literário que se irradia do nordeste muito pouco teria que ver com o modernismo do sul. A língua que Mário de Andrade quis introduzir em Macunaíma é uma língua de fabricação; mais um arranjo de filólogo erudito do que um instrumento de comunicação oral ou escrito. O livro de Mário de Andrade só foi bem entendido por estetas, por eruditos, e o seu herói é tão pouco humano e tão artificial quanto o boníssimo Peri, de Alencar. Macunaíma é um Peri que se serviu da ruindade natural, em vez da bondade natural. Este livro é um repositório do folclore, o livro mais cerebral que já se escreveu entre nós'” (Bueno, 2006, p. 61).

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
201 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
Ao contrário de Bueno, Lourenço não vê na mitificação desenvolvimentista da Geração de 70, incensada sobre a devastadora denúncia da pátria bisonha e atrasada, mais que um equívoco de jovens, reconhecido pelo próprio Eça em sua maturidade.
Médicos escritores modernos como Miguel Torga e Fernando Namora reforçarão em suas obras a percepção de particularismos da saúde do povo português segregado nas aldeias, e da beleza de sua forma de viver independente de comparações e analogias desenvolvimentistas – uma visão que ecoa os versos do pastor pessoano Alberto Caeiro: “Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo/Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer,/Porque eu sou do tamanho do que vejo/E não do tamanho da minha altura” (Pessoa, 1969, p. 208). Ecoa ainda a reflexão de José Saramago (1995) sobre a fragilidade dos avanços modernos, que podem ruir a qualquer momento, devolvendo a humanidade às suas origens e atestando a cegueira do progresso indiscriminado, que vem sendo apontado como o único caminho para a “salvação” ocidental. Muito antes deles, porém, já se ouvia a indignada voz do camoniano Velho do Restelo aos navegadores portugueses:
E ponde na cobiça um freio duro, E na ambição também, que indignamente Tomais mil vezes, e no torpe e escuro Vício da tirania infame e urgente; Porque essas honras vãs, esse ouro puro, Verdadeiro valor não dão à gente. Melhor é merecê-los sem os ter, Que possuí-los sem os merecer (Camões, 1962, p. 419).
Talvez venha daí a perspectiva antagônica que se percebe na tonalidade bem-humorada do ensaio de Mário de Andrade (similar à das recolhas de Michel Giacometti em Portugal) sobre a medicina excretícia no Brasil, quando comparada à ojeriza ao esterco humano contaminado por parasitas, tornado símbolo do movimento progressista alavancado por Monteiro Lobato. Enquanto este traduzia a visão de um Brasil doente, o outro insistia na imagem de um Brasil são, amparado no conceito do elemento lustral dos dejetos, seja pela “realidade fecundante do adubo”, seja pelo “uso da refinação do açúcar com bosta de vaca”:
Sem dúvida, não vou até afirmar que destas associações de imagens, o povo tire a inspiração primeira que o levou ao emprego medicinal dos excretos. Mas estes exemplos de sua vida cotidiana, esta manifestação

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 202
objetiva do poder vivificador e purificador dos excretos, devem ter agido, a meu ver, na imaginação popular influenciável, como provas decisivas do valor terapêutico dos excretos, e contribuído para a conservação contemporânea da medicina excretícia (Andrade, 1972, p. 66).
Macunaíma e a fábula da cigarra e da saúva
Foi sobre essa percepção, portanto, que decidimos redigir este breve
ensaio, no qual tencionamos mostrar a contribuição positiva dessas recolhas, no contexto da produção de seus autores, para a construção de leituras alternativas ao avassalador discurso desenvolvimentista – herdeiro, talvez, do espírito das Conferências do Casino de 1871 em Portugal – que se alastrou no Brasil desde fins do século XIX. A perspectiva distanciada e irônica de Mário de Andrade sobre a hegemonia desse discurso acabou gerando uma saudável reação: a criação de um mito antagônico ao Jeca Tatu, o excêntrico e escrachado Macunaíma, “herói sem nenhum caráter”, destinado a defender o direito do brasileiro de recusar a identidade jeca à qual parecia condenado pela intelectualidade da época. Como dizem Nísia Trindade Lima e Gilberto Hockman:
As visões sobre as mazelas do Brasil se dão dentro de um enquadramento dualista habitado por pares indissociáveis tais como litoral-sertão, saúde-doença e moderno-atrasado. [...] No caso brasileiro, a higiene, entre outros discursos de base científica, teve forte presença nas interpretações sobre os dilemas e as alternativas colocadas para a construção da nação. A ideia de males não apresenta, dessa forma, apenas uma analogia com o discurso médico, mas trata-se de uma alusão às doenças como obstáculo ao progresso ou à civilização (Lima e Hockman, 2000, p. 314-315).
É sabido que os modernistas da Semana de Arte de 1922 hostilizaram Lobato por várias razões, criando mesmo um mal-estar que contribuiu para a sua “demonização” no cenário intelectual da época, o que não fez justiça à imensa contribuição desse autor para o melhoramento do país em várias frentes. Entretanto, numa perspectiva um tanto isolada e inusitada, Mário de Andrade parecia perceber a natureza perversa e mesmo deletéria da imagem do Jeca Tatu, se alçado soberanamente a efígie do Brasil. Cremos que foi em resposta a esse incômodo que ele buscou engendrar um outro mito, fundado em suas sólidas pesquisas sobre as origens dos nativos destas terras e de outras que para ela migraram, e na valorização de seus modos de ser específicos, ainda não contaminados pelo ressentimento de

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
203 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
“não-ser” (europeu ou norte-americano) que acometia Lobato.4 Macunaíma (1928) afigura-se uma resposta alegre e bem documentada ao Jeca Tatu, funcionando como um arauto talvez mais realista e promissor da esperança no futuro da pátria do que o personagem de Lobato, e numa correção dos excessos da visão desenvolvimentista do próprio Lobato – cujos trejeitos eivados de provincianismo o arrogante e híbrido Macunaíma chega a cacoetar em algumas passagens da novela.
A preguiça parece ser o elemento dialógico mais importante entre Jeca e Macunaíma. Enquanto é atacada e condenada como vício no primeiro, passa a ser apreciada e exaltada no segundo. A tradução de Makunaíma, na Venezuela e na Guiana, de onde veio a lenda original, é o “Grande Mau”. O nome dessa entidade era tão potente que os missionários jesuítas usaram-no para traduzir o nome de Deus para os índios. Era o “Grande Mau”, poderoso e transformador, que ressuscitava os mortos. O personagem brasileiro, porém, estaria mais para um “Pequeno Mau”, um entrave à lógica do mundo moderno, fincadas as raízes de seu entendimento e de sua conduta noutra lógica, mais afeita à do homem do campo, do índio e do negro iletrados, porém espertos, donos de uma sabedoria cada vez mais inapreensível pelo Brasil urbano, erudito e civilizado que se anunciava no início do século XX. Uma sabedoria lânguida, divertida, matreira e resistente; sobrevivente, mesmo, que evoca a antiga fábula da cigarra e da formiga para valorizar o ócio em lugar do negócio, o prazer em detrimento do trabalho, a alegria sobre a obrigação. Daí a frase característica do personagem: “Ai, que preguiça!”. Como na língua indígena o som “aique” significa “preguiça”, Macunaíma seria duplamente preguiçoso. Não por acaso, a imagem da formiga é um importante topos nesse livro,
4 Esse ressentimento provincianista atribuído a Monteiro Lobato é bem percebido no trecho do conto “Jeca Tatuzinho”, veiculado no Almanaque Fontoura, que descreve a transformação do caboclo após o tratamento médico: “Em pouco tempo, os resultados foram maravilhosos. Jeca adquiriu um caminhão Ford, e em vez de conduzir os porcos ao mercado pelo sistema antigo, levava-os de auto, num instantinho, buzinando pela estrada afora, fon-fon! fon-fon!... As estradas eram péssimas; mas ele consertou-as à sua custa. Jeca parecia um doido. Só pensava em melhoramentos, progressos, coisas americanas. Aprendeu logo a ler, encheu a casa de livros e por fim tomou um professor de inglês. Quero falar a língua dos bifes para ir aos Estados Unidos ver como é lá a coisa. O seu professor dizia: O Jeca só fala inglês agora. Não diz porco; é pig. Não diz galinha! É hen... Jeca só fumava charutos fabricados especialmente para ele, e só corria as roças montado em cavalos árabes de puro sangue. Quem o viu e quem o vê! Nem parece o mesmo. Está um “estranja” legítimo, até na fala” (Lobato, 1924).

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 204
dialogando com a imagem do caboclo apático e doente da obra de Lobato, retratado como vítima dos insetos:
Jeca só queria beber pinga e espichar-se ao sol no terreiro. Ali ficava horas, com o cachorrinho rente; cochilando. A vida que rodasse, o mato que crescesse na roça, a casa que caísse. Jeca não queria saber de nada. Trabalhar não era com ele. Perto morava um italiano já bastante arranjado, mas que ainda assim trabalhava o dia inteiro. Por que Jeca não fazia o mesmo? Quando lhe perguntavam isso, ele dizia: ‒ Não paga a pena plantar. A formiga come tudo. ‒ Mas como é que o seu vizinho italiano não tem formiga no sítio? ‒ É que ele mata. ‒ E por que você não faz o mesmo? Jeca coçava a cabeça, cuspia por entre os dentes e vinha sempre com a mesma história: ‒ Quá! Não paga a pena... ‒ Além de preguiçoso, bêbado; e além de bêbado, idiota, era o que todos diziam (Lobato, 1951, p. 329-331).
Ao contrário do Jeca Tatu de Lobato, do Juca Mulato de Menotti del Picchia e de outros personagens semelhantes, o Macunaíma de Mário de Andrade não parece encarnar uma praga nacional, mas algo diferente. Sua preguiça é alvo de uma atenção particularizada e não submetida à avaliação comparativa e valorativa com o modelo ideológico e econômico estrangeiro, europeu ou norte-americano, como nos demais exemplos criados pelos modernistas de então, em franca campanha contra a idealização romântica do indígena e do caboclo. O movimento higienista dos anos 1920, na contracorrente do movimento indigenista romântico, revelou um Brasil desconhecido para os brasileiros da cidade, trazendo a informação de que, mesmo os sertões mais saudáveis do Nordeste e do Sul eram “verdadeiros matadouros”, quando ainda se supunha que os sertões brasileiros eram sanatórios miraculosos, a cujos ares nem a própria tuberculose resistia.
Em plena atmosfera de entusiasmo pela ciência – no diálogo que os cientistas e médicos sanitaristas travam em fins da década de 1910 com as interpretações ufanista e romântica sobre a natureza e o homem brasileiros, momento em que ganha destaque a ideia do sertão como sinônimo de doença e, também, de uma natureza agressiva ao homem –,5 5 Apesar do discurso desenvolvimentista, Lobato reflete uma perspectiva ecologicamente correta ao descrever, na revista Saúde, órgão da Liga Pró-Saneamento do Brasil, as razões do adoecimento do

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
205 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
Mário de Andrade toca uma nota dissonante em seu romance. Nele, a saúva aparece como um símbolo ambíguo: menos percebida como praga da agricultura, cujo papel “anticivilizatório” adviria de sua ação efetivamente deletéria no campo, destruindo as plantações e causando prejuízos, ela é identificada como um “inseto operário” que se confunde com o próprio trabalhador incansável sempre a postos, metáfora do empreendedorismo e do desenvolvimento, e antípoda da cigarra, portanto, irresponsável e afeita à preguiça, à passividade e à diversão.6
Talvez por isso também seja ambíguo o dístico com que o “Imperador Macunaíma” conclui o parágrafo de sua famosa “Carta pras Icamiabas”, onde dá notícias ao povo indígena das contradições que encontra na grande cidade de São Paulo, particularmente no trecho em que avalia as condições de saúde dessa população:
Porém, senhoras minhas! Inda tanto nos sobra, por este grandioso país, de doenças e insetos por cuidar! [...] Tudo vai num descalabro sem comedimento, estamos corroídos pelo morbo e pelos miriápodes! Em breve seremos novamente uma colônia da Inglaterra ou da América do Norte!... Por isso e para eterna lembrança destes paulistas, que são a única gente útil do país, e por isso chamados de Locomotivas, nos demos ao trabalho de metrificarmos um dístico, em que se encerram os segredos de tanta desgraça: “Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são” (Andrade, 1978[1927], p. 105).7
homem brasileiro: “Por que degenera ele justamente onde por impulsão ambiente, deveria altear-se ao apogeu? Por que na Amazônia, onde tudo alcança o máximo, só ele dá de si o mínimo? E como resposta: O homem com o civilizar-se, afastou-se da natureza. Desrespeitou-a, infringiu-lhe as leis. A consequência disso foi o enfraquecimento” (Lobato apud Lima e Hochman, 2000, p. 318). 6 Como diz Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil: “Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos: o certo é que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem” (Holanda, 2004, p. 31). 7 Com essa frase, “Macunaíma” assinou o livro de visitas do Instituto Butantan, o orgulho dos paulistas – o slogan recupera conhecido poema de Gregório de Matos (1636-1695), em que o poeta satírico baiano enumera as vilezas do país, terminando cada estrofe com o irônico refrão: “Milagres do Brasil são” (Matos, 2002, p. 45). Remete, também, à frase do cronista Saint-Hilaire: “Ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil” . A história do Instituto Butantan confunde-se com a história da modernização do Estado de São Paulo. Seu surgimento deveu-se a uma epidemia de peste bubônica no Porto de Santos. Seu diretor, Adolfo Lutz, mandou para essa cidade o assistente Vital Brazil, que em pouco tempo diagnosticou a doença e, em conjunto com o médico Osvaldo Cruz, criou um plano para controlá-la. Entretanto, devido principalmente à expansão da cafeicultura, os trabalhadores rurais viam-se frequentemente submetidos a acidentes ofídicos. As serpentes venenosas transformavam-se em um grande problema que, juntamente com a peste bubônica, atentava contra o desenvolvimento paulista. Vital Brazil, a par de toda essa

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 206
Num sentido literal, as formigas devoradoras das culturas agrícolas seriam equivalentes aos demais insetos e “lacraias” que infestariam o país, favorecendo a transmissão de doenças e dificultando o progresso da nação. Num sentido figurado, porém, as “saúvas” seriam sinônimo das mesmas “locomotivas” – os paulistas, “única gente útil do país” –, ironicamente tomados, aqui, como determinantes dos males do “Brasil são” (onde o verbo passa a ser lido como adjetivo): o Brasil até então saudável, o Brasil das Icamiabas e do próprio Macunaíma, que já não pode se reconhecer em sua própria terra sem ter de apelar para os trejeitos estrangeiros, expressos na linguagem pernóstica e hipócrita que passa a adotar para falar com a sua tribo. A carta satiriza os beletristas parnasianos, tão comuns na época, e os academicismos e pedantismos da língua escrita e da dicção culta de origem lusitana, vaidades às quais o próprio narrador da missiva, o “Imperador”, parece vulnerável.8
Esta demarcação linguística, menos do que corroborar o impulso antilusitanista dos primeiros modernistas brasileiros – como costuma ser interpretada –, teria talvez o objetivo de acentuar deliberadamente a inevitável distância entre o intelectual e o cidadão comum, e de explicitar a consciência de Mário de Andrade, nem sempre partilhada pelos seus pares, da impossibilidade de “falar pelo povo”, apesar do seu desejo de falar “em defesa deste povo”. Essa consciência só encontraria eco na intelectualidade brasileira muito mais tarde, nas obras de autores como Guimarães Rosa, Osman Lins e Clarice Lispector. Guimarães Rosa, por exemplo, com o seu fulgurante “Ser-tão” diadorínico (1956) – deliberada mais-valoração do sertanejo na literatura –, encontra a vereda de um feminino que se insinua leve, poético, lírico, derramando um olhar
problemática, concomitantemente aos estudos sobre a peste, iniciou as suas pesquisas sobre o ofidismo, tema então pouquíssimo conhecido. O extenso trabalho que desenvolveu pesquisando esse assunto fez com que o Butantan rapidamente se especializasse no conhecimento herpetológico, bem como na produção de soros antiofídicos, tornando-se uma entidade ímpar em todo o mundo. Posta no livro do instituto especializado no tratamento de venenos e peçonhas, a frase de Mário de Andrade teria reforçado o seu duplo sentido. 8 Não só o “Imperador” das Icamiabas se confessa vulnerável a esta vaidade, mas o próprio autor, com a sua consciência artística agudíssima, admite deliberadamente que “forçou a nota” em Macunaíma, conforme o condenavam os críticos da época – “acusação” que ele assume como um elogio: “Essa censura que o senhor me faz de ter uma língua que não é de ninguém, mas “artificial”, é perfeitamente justa sob o ponto de vista da arte como da ciência da linguagem” (Andrade apud Bueno, 2006, p. 61, nota de rodapé 24). Observe-se que Mário de Andrade não identifica o elemento colonizador com o português, mas prefere unificar todos os falantes da língua portuguesa sob uma mesma ameaça: a de sucumbirem, novamente, ao domínio da Inglaterra ou da América do Norte.

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
207 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
indiscutivelmente verde e fecundante sobre a paisagem devastada, fingindo ser homem, marrom e cangaceiro apenas para ludibriar a tirania do “gênero Rio-baldo” (ou regionalista) e de seu “pacto Hermo-gênico” (ou demoníaco) com a mentalidade crítica brasileira de seu tempo. Feminino que Osman Lins recupera na figura da miserável Maria de França, personagem da escritora nordestina Júlia Marquezim Enone, inédita e parafraseada postumamente pelo seu biógrafo, autor do romance A rainha dos cárceres da Grécia (1976), e que Clarice Lispector corrobora na figura da pobre Macabéa, personagem de A hora da estrela (1977), cujo silêncio contribui para denunciar a apropriação que o escritor Rodrigo S. M. faz de sua desgraça em benefício próprio.
A descaracterização da cultura popular, portanto, e a força de constrangimento social da cultura dominante, inapreensível pelo povo, parece ser o mote do romance de Mário de Andrade, que inverte o sentido das cartas dos cronistas coloniais, que escreviam a Portugal para narrar suas descobertas e dar contas dos resultados dos investimentos da Coroa nas navegações. A “Carta pras Icamiabas”, ao contrário, é cinicamente endereçada às índias pelo seu rei, como pretexto para extorquir dinheiro de suas súditas, revelando o processo de aculturamento do índio na cidade grande e sua degeneração moral, que é entendida como parte de uma enfermidade adquirida pelo contato do nativo com o meio urbano e com seus valores distorcidos.
Conclusão
Em O que é medicina popular, Elda Rizzo de Oliveira comenta que não
existe um modo único, original e ideal, válido para todas as pessoas e classes sociais, de criar suas estratégias de vida, inclusive as de cura. Nos grupamentos civilizados, onde passa a imperar a medicina acadêmica e erudita – com seus hospitais e laboratórios dotados de tecnologias sofisticadas, com seus agentes formados e medicamentos industrializados –, a medicina popular torna-se uma alternativa a ser vivida, ilegalmente, apenas pelas populações pobres, analfabetas, que moram nas regiões do interior do Brasil, e que, por ignorância, dispõem de recursos precários ministrados por seus agentes, pejorativamente identificados como “charlatães”: garrafadas, chás, benzimentos, rezas, banhos, massagens

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 208
etc.; os quais, por carecerem de fundamento científico, são considerados “imposturas” – quando não crimes passíveis de pena.9
Previsto pelo Código Penal Brasileiro, o “curandeirismo” – ou “a prática de prescrever, ministrar ou aplicar habitualmente qualquer substância, bem como usar gestos, palavras ou qualquer outro meio para fazer diagnósticos ou promover a cura sem habilitação médica” (Brasil, 1940, artigo 284) – desautoriza não só os agentes populares da saúde, como também rejeita seus hábitos e saberes muitas vezes antigos, herdeiros de diferentes traços culturais (mágicos, indígenas, africanos, ibéricos), nem sempre utilizados com os propósitos e o entendimento da medicina moderna – cujo principal objetivo é suprimir os sintomas e curar as desordens orgânicas para devolver o sujeito à linha de produção. A saúde, como qualquer mercadoria, é considerada um “bem” nas sociedades modernas, a ser rapidamente restituído ao sujeito que precisa voltar ao mercado de trabalho.
Nas sociedades arcaicas ou rurais, porém, a experiência da dor e do sofrimento é vivida de outra maneira, numa comunidade acolhedora que partilha as necessidades e aflições dos indivíduos através de uma vivência comunitária e solidária, concebida como um prolongamento da vida no campo, e movida por formas específicas de atuação, utilidade e validade. Segundo Elda Rizzo de Oliveira:
Estas medicinas são afirmadoras e recriadoras da cultura popular. Veiculam diferentes sistemas de classificação de doenças e de fenômenos orgânicos, e produzem estratégias de cura muito específicas, pautadas por uma prevenção, um diagnóstico e um enfrentamento significativos apenas como parte da compreensão que seus sujeitos têm da vida, do mundo, das necessidades, dos valores e das relações sociais. São parte de sua visão de mundo, permanentemente recriada e reinventada (Oliveira, 1985, p. 32).
9 Em “Introdução ao estudo da história da medicina popular no Brasil”, Pedro Nava alerta: “Dentro do sem-número de charlatães e de curiosos que no nosso interior e nas nossas cidades concorrem com o médico, é preciso distinguir o espertalhão, o contraventor, o explorador da ingenuidade e da crendice do povo – da figura mais complexa do curandeiro que exerce por uma espécie de gosto inato, de tendência e de vocação. Se o primeiro só cuida de aguçar a sua capacidade para o engano e o dolo, o segundo consegue muitas vezes uma prática que não é para desprezar numa terra onde vastas zonas do interior não contam com qualquer assistência médica governamental ou civil. O gosto do povo concorre também para o aparecimento destes tipos que lhe são muito mais próximos e acessíveis que o profissional, cujos serviços têm preços que os transformam em mercadoria proibida para o grosso de nossa população” (Nava, 2003, p. 207).

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
209 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
A curiosa ambiguidade do dístico de Mário de Andrade no livro Macunaíma nos leva a pensar sobre a percepção que o escritor traduzia sobre o duplo desafio do Brasil naquelas primeiras décadas do século XX: o de se modernizar, absorvendo a inspiração das “formigas” diligentes, mas mantendo o respeito à cultura já existente e à realidade do país em sua extensão e diversidade. Seria isso o que o levaria, talvez, a desconfiar do excesso de “diligência” dessas mesmas formigas, tomadas como representantes simbólicas da modernidade e de suas contradições. Por essa razão, Macunaíma talvez possa ser lido como uma crítica satírica à condenação dos modernistas do brasileiro “típico”, definido por sua miscigenação e indolência – condições tidas como responsáveis pela “patologia do subdesenvolvimento”. Na ótica de Mário de Andrade, a sensualidade e o aspecto lúdico do “brincar” figuram entre as principais qualidades desse povo – em outros contextos repudiado justamente por suas características inatas, desmerecidas quando da comparação com modelos estrangeiros. Isso faria de Macunaíma uma alegoria sobre a identidade nacional em que a fábula da preguiça adquire uma expressão positiva e heroica – não por incensar a inatividade, afundar na insalubridade e entregar-se à implacabilidade do destino –, mas por reativar uma memória supostamente original de um brasileiro nativo em harmonia com a natureza e ignorante das mazelas e angústias de um sistema econômico alheio às suas ambições, e de uma filosofia de vida cujo sentido lhe escapa.
Em O normal e o patológico, Georges Canguilhem define como “doença do homem normal” o distúrbio que, com o tempo, “se origina da permanência do estado normal, da uniformidade incorruptível do normal, a doença que nasce da privação de doenças, de uma existência quase incompatível com a doença” (Canguilhem, 2010, p. 246). O ser humano privilegiado por uma experiência de bem-estar resultante de seu acesso a boas condições de vida: moradia, alimentação, vacinação, esportes, lazer etc. – consequência do desenvolvimento econômico e das conquistas da ciência sobre a natureza – só sabe que é “normal” quando percebe que nem todas as pessoas são como ele e, por conseguinte, reflete que é capaz de ficar doente, assim como “apenas o ignorante pode se tornar sábio”.
Esse convívio da parcela favorecida da sociedade com a diversidade de condições de que padece o resto da humanidade gera uma insegurança nesses indivíduos, determinando uma nova “patologia”.

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 210
Canguilhem afirma que “a doença do homem normal é o aparecimento de uma falha na sua confiança biológica em si mesmo” (Canguilhem, 2000, p. 245). É essa desconfiança, contudo, que pode despertar a sua consciência e sensibilidade para uma realidade que o transcende. Segundo a medicina popular – nascida no seio das culturas mais vulneráveis às agressões naturais, e, portanto, mais habituadas ao exercício da solidariedade diante de um mundo ameaçador e adverso –, essa desconfiança pode mesmo ser considerada uma manifestação de saúde, num sentido mais amplo do que aquele avaliado apenas pelas condições de higidez orgânica e fisiológica. Refletindo esse amadurecimento, a literatura contemporânea de língua portuguesa, em seus melhores expoentes, parece tender a uma reinvenção promissora e salutar quando – em lugar de condenar a nossa suposta danação à identidade jeca ou valer-se dela para rechaçá-la – prefere optar por invocar a beleza e a força deste “povo que falta”.
Referências
ANDRADE, Mário (1978). Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Edição crítica de Telê Porto Ancona Lopez. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos.
________ (1972). Namoros com a medicina. São Paulo: Martins.
________ (1993). A divina preguiça. In: Vida literária. Edição de Sonia Sachs. São Paulo: Hucitec, EDUSP.
BRASIL (1940). Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 10 mar. 2014.
BUENO, Luis (2006). Uma história do romance de 30. São Paulo: EDUSP; Campinas: Unicamp.
CAMÕES, Luís de (1962). Os Lusíadas. São Paulo: Melhoramentos.
CANGUILHEM, Georges (2010). O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
CUNHA, Euclides da (1985). Os sertões. Rio de Janeiro: Tecnoprint.
DELEUZE, Gilles (2008). A literatura e a vida. In: Crítica e clínica. São Paulo: Editora 34.

Ermelinda Maria Araújo Ferreira ––––––––––––
211 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014.
GIACOMETTI, Michel. Artes de cura e espanta-males. Espólio de Medicina Popular recolhido por Michel Giacometti. Organização de Ana Gomes de Almeida, Ana Paula Guimarães e Miguel Magalhães. Lisboa: Gradiva, 2010.
HOLANDA, Sérgio Buarque de (2004). Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.
LIMA, Nísia Trindade; HOCKMAN, Gilberto (2000). Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são... Discurso médico-sanitário e interpretação do país. Ciência & saúde coletiva, v. 5, n. 2, p. 313-332. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n2/7098>. Acesso em: 10 fev. 2014.
LINS, Osman (1976). A rainha dos cárceres da Grécia. São Paulo: Melhoramentos.
LISPECTOR, Clarice (1977). A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco.
LOBATO, Monteiro (1924). Jeca Tatuzinho. Disponível em: <http://lobato.globo.com/misc_jeca.asp>. Acesso em: 10 mar. 2014
________ (1951). Urupês. In: Obras completas de Monteiro Lobato. v. l. São Paulo: Brasiliense.
LOURENÇO, Eduardo (1991). Da literatura como interpretação de Portugal. In: O labirinto da saudade. Lisboa: Dom Quixote.
NAVA, Pedro (2003). Capítulos da história da medicina no Brasil. São Paulo: Ateliê.
NETO, João Cabral de Melo (1978). Morte e vida Severina e outros poemas em voz alta. Rio de Janeiro: José Olympio.
OLIVEIRA, Elda Rizzo de (1985). O que é medicina popular. São Paulo: Abril Cultural; Brasiliense.
PESSOA, Fernando (1969). Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.
QUEIROZ, Rachel de (2005). O Quinze. São Paulo: José Olympio.
RAMOS, Graciliano (1977). Vidas secas. Rio de Janeiro: Record.
ROSA, Guimarães (2004). Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
SARAMAGO, José (1995). Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras.
SONTAG, Susan (1997). Doença como metáfora. São Paulo: Companhia das Letras.
Recebido em julho de 2013. Aprovado em dezembro de 2013.

–––––––––––– Os males do Brasil são
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 193-212, jan./jun. 2014. 212
resumo/abstract
Os males do Brasil são: a doença como elemento distintivo da condição de ser brasileiro Ermelinda Maria Araújo Ferreira
Este ensaio nasceu da intenção de comparar as recolhas de dados sobre a medicina empírico-tradicional em Portugal e no Brasil, por iniciativa de Michel Giacometti, naturalizado português, cujo acervo, recentemente descoberto, foi reunido no volume Artes de Cura e Espanta-Males (2009), e do brasileiro Mário de Andrade, autor do livro Namoros com a Medicina (1937). A similaridade desses trabalhos aponta para o interesse desses pesquisadores sobre a cultura popular – em particular aquela relacionada ao entendimento espontâneo do povo luso-brasileiro sobre os males do corpo e da alma, e de suas interpretações metafóricas e estigmatizantes sobre a doença como um mal social. A partir daí, pretendeu-se tecer uma análise sobre a construção e desconstrução de mitos identitários brasileiros como Jeca Tatu e Macunaíma, analisando seus antecedentes no imaginário literário português e suas repercussões na moderna literatura nacional.
Palavras-chave: identidade nacional, literatura e regionalismo, medicina popular, Mário de Andrade, Michel Giacometti.
“Os males do Brasil são”: the disease as a distinctive feature of the condition to be Brazilian Ermelinda Maria Araújo Ferreira
This essay was born of the intention to compare the data collections on the empirical-traditional medicine in Portugal and Brazil, on the initiative of Michel Giacometti, naturalized Portuguese, whose work , recently discovered , was collected in the volume Artes de Cura e Espanta-Males (2009), and the Brazilian writer Mário de Andrade, author of Namoros com a Medicina (1937). The similarity of these works points to the interest of these researchers on popular culture - in particular that related to the spontaneous understanding of the luso-brazilian people about the evils of body and soul, and its stigmatizing and metaphorical interpretations of illness as a social evil. From there, it was intended to make an analysis of the construction and deconstruction of Brazilian identity myths as Jeca Tatu and Macunaíma, analyzing their background in Portuguese literary imagination and its impact on modern Brazilian literature.
Keywords: national identity, literature and regionalism, popular medicine, Mário de Andrade, Michel Giacometti.

O Japão na literatura brasileira atual Marcel Vejmelka1
O Japão entra na cena literária brasileira na passagem do século
XIX para o XX. Com o início das relações diplomáticas entre os dois países – a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 1895 –, viajantes brasileiros relatam as suas impressões do Japão. É uma produção limitada, muito influenciada pelos modelos europeus contemporâneos, nomeadamente o Japonismo e o Orientalismo. Nomes de destaque nesse contexto são o escritor Aluísio Azevedo com O Japão (Azevedo, 1984[1897-99])2 e o historiador Manuel de Oliveira Lima com No Japão: impressões da terra e da gente (Lima, 1903).
Nas décadas seguintes, o Japão não tem presença marcada na literatura brasileira, com exceção de uns poucos personagens nipônicos retratados em romances e contos da época do Modernismo, como vestígios da massiva imigração japonesa no Brasil a partir de 1908 (Waldmann, 2010).
O que não se encontra é uma presença de escritores nipo-brasileiros para além dos círculos limitados das comunidades japonesas ou nipodescendentes. Trata-se de uma produção que só a partir dos anos 1980 começa a se perfilar enquanto “literatura”, com intenções e ambições para além da memória da comunidade imediata, e mesmo assim continua limitada à (auto)biografia de imigrantes ou à memória mais generalizada da imigração, sempre com uma circulação à margem do sistema literário brasileiro.3
Tanto no caso americano como no brasileiro, sentimos que estes romances foram produzidos com o objetivo principal de resgatar a memória da imigração japonesa. Embora obras de ficção, contém um forte componente de realidade nesses romances, que contam histórias de exclusão, isolamento, discriminação, exploração [...],
1 Doutor em estudos latino-americanos, professor de português e espanhol na Faculdade de Tradução, Linguística e Estudos Culturais (FTSK) da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz em Germersheim, Alemanha. E-mail: [email protected] 2 A respeito desse livro curioso dentro da produção literária de Aluísio Azevedo, ver Vejmelka (2013a). 3Acervo literário da imigração japonesa no Brasil, do Instituto Paulo Kobayashi em São Paulo. Disponível em: http://www.ipk.org.br.

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 214
adaptação e vitória. São testemunhos dos conflitos, dramas pessoais, dificuldades e sacrifícios enfrentados pelo homem comum em sua luta diária pela sobrevivência e adaptação a uma cultura completamente estranha (Stevens, 2004, p. 2).
O romance mais destacado na crítica literária é certamente Sonhos bloqueados, de Laura Honda-Hasegawa (1991); como estudo histórico é marcante O imigrante japonês, de Tomoo Handa (1987) – este sim inicia uma produção acadêmica hoje bastante impressionante em termos quantitativos e qualitativos. Na fronteira entre o ficcional e o documentário se situa o livro-reportagem de Fernando Morais (2000), Corações sujos, sobre o episódio da Shindo Renmei na história da imigração japonesa no Brasil após o fim da Segunda Guerra Mundial, transformado em filme por Vicente Amorim em 2011, também com certo sucesso de público.
Dessa forma, apesar da existência de vários romances sobre a temática, a produção não ganhou uma posição de destaque no quadro da literatura brasileira, enquanto conjunto de obras consagradas e integradas na formação de uma tradição literária (Candido, 2000).
No caso do Brasil, são poucas e recentes as publicações de escritoras nisseis; selecionamos os seguintes livros, todos escritos a partir dos anos 80: Ipê E Sakura: Em Busca Da Identidade (Hiroko Nakamura), Sob Dois Horizontes (Mitsuko Kawai), Canção Da Amazônia (Fusako Tsunoda), Sonhos Bloqueados (Laura Honda-Hasegawa), Horas E Dias Do Meu Viver (Chikako Hironaka) e Antologia da Poesia Nikkei (Stevens, 2004, p. 2). 4
O primeiro romance de um nipo-brasileiro e de temática nipo-brasileira a ganhar certo destaque nacional é Nihonjin, de Oscar Nakasato (2011), ganhador do prêmio Jabuti como melhor romance em 2012. Trata-se de uma premiação muito polêmica nesse caso específico e, em termos gerais, também com maior significado comercial e imediato do que simbólico e literário.
No plano analítico é de constatar que Nihonjin não rompe com a tradição interna da produção literária nikkei no Brasil. Narra, da
4 O impressionante volume comemorativo Imigrantes japoneses no Brasil contém somente um ensaio sobre literatura. Ali, Berta Waldmann apresenta um panorama muito reduzido de personagens japoneses na literatura brasileira do século XX. Não por acaso, ela encontra a presença mais significativa em O sol se põe em São Paulo, de Bernardo Carvalho (Waldmann, 2010).

Marcel Vejmelka ––––––––––––
215 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
perspectiva de um sansei,5 a história da vida do avô, integrante da principal leva de imigrantes japoneses na década de 1920; uma biografia marcada pela determinação de preservar a identidade japonesa e pela progressiva resignação de não poder mais voltar à pátria. A composição narrativa percorre, em sete capítulos, os momentos mais marcantes – e mais explorados na literatura – da presença japonesa no Brasil: as esperanças dos imigrantes na viagem para o Brasil, a lavoura de café na fase inicial, a ruptura fundamental entre a geração dos imigrantes e seus descendentes já integrados na cultura brasileira – uma ruptura que fica mais radical durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra durante o episódio trágico da Shindo Renmei –, e finalmente o “regresso” dos descendentes para a terra natal de seus avôs e bisavôs como decasséguis, mão de obra barata para as fábricas japonesas.6 Pela sua perspectiva fechada, é pouco provável que Nihonjin inicie uma integração mais forte e substancial da produção nipo-brasileira no sistema literário brasileiro, estabelecendo diálogos variados entre essa temática e esse grupo de autores com o conjunto da literatura brasileira.
Em contrapartida, há uma presença notável de temas japoneses na atual literatura brasileira – sem que os autores tenham ligação biográfica com o Japão –, um fenômeno certamente ligado ao centenário da imigração japonesa no Brasil, em 2008, mas que apresenta leituras,
5 O conceito “nikkei” abrange todos os emigrantes japoneses e seus descendentes, no sentido de “de origem japonesa”; a expressão “issei” denomina a geração dos próprios emigrantes do Japão: “nissei” é a primeira geração nascida no estrangeiro, “sansei” a segunda (os netos). 6 Na Argentina, o romance Gaijin, de Maximiliano Matayoshi (2003), aparece numa constelação análoga, tendo recebido certa projeção nacional com o prêmio Primera Novela Alfaguara em 2003 e permanecendo o único romance destacado sobre a imigração japonesa no país. Entretanto, Gaijin trata muito mais da questão da integração de uma identidade de origem (a japonesa) numa identidade de chegada (a argentina), ao contrário de Nihonjin, que se atém principalmente à problemática da identidade anacronística e, afinal, perdida. Nos EUA há um quadro marcadamente diferente, com uma produção literária bastante contínua – a “Japanese-American literature” –, interligada com as literaturas de outras comunidades de imigrantes asiáticos e com visibilidade nacional cada vez maior. Essa tradição se inicia, ainda isolada, em 1957 com No-no Boy, de John Okada (1981). Paradoxalmente, é nesse contexto de produção literária que surgiram as obras mais complexas e significativas a respeito da imigração japonesa no Brasil e do fenômenos dos decasséguis, ambas escritas por Karen Tei Yamashita: Brazil-Maru, de 1992, conta a história de uma colônia japonesa no Brasil, transcendendo o significado meramente documental, explorando conflitos humanos universais. Os contos de Circle K cycles (Yamashita, 2001), retratam de forma experimental o fenômeno dos decasséguis, em que os nipobrasileiros descobrem a sua “brasilidade” no Japão. A recepção internacional dessa literatura se inicia atualmente com os romances de Julie Otsuka, When the emperor was divine, de 2002, e The Buddha in the attic, de 2011, ganhador do Prix Femina Étranger na França em 2012 e traduzido para o francês e o alemão (Otsuka, 2002, 2011).

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 216
interpretações e representações da cultura japonesa bem variadas, complexas e “integradoras” dessa temática no contexto literário brasileiro. São leituras do Japão que ainda têm ligação com a dimensão histórica da imigração japonesa no Brasil e com questões da identidade brasileira, mas que tratam principalmente de significados universais das culturas japonesa e brasileira no contexto do século XXI.
Os exemplos escolhidos para a análise dessa representação da cultura japonesa na literatura brasileira atual são quase “notórios”: O sol se põe em São Paulo (2007), de Bernardo Carvalho, Rakushisha (2007), de Adriana Lisboa, e O único final feliz para uma história de amor é um acidente (2010), de João Paulo Cuenca. A seguir vou tratar dos aspectos da história da imigração japonesa, da temática da viagem e das relações intertextuais com obras da literatura japonesa nessas obras. Os três aspectos estão presentes nos três romances de formas diferentes e marcam o deslocamento realizado dentro desses textos e por eles. Esses romances se integram assim numa tendência transnacional que se constata de forma geral na literatura brasileira atual (Cury, 2007, p. 12; Schulze, 2013).
O sol se põe em São Paulo
No romance de Bernardo Carvalho a imigração japonesa no Brasil
ocupa um lugar central, tanto no plano dos personagens como no simbólico. O sol se põe em São Paulo trata de questões da culpa originada na Segunda Guerra Mundial e transplantada ao Brasil com a imigração. Num movimento circular, essa culpa motiva o narrador nipo-brasileiro – de quarta geração – a viajar ao país de seus antepassados – e de volta ao Brasil –, para desvendar os segredos em volta das pessoas portadoras dessa mesma culpa.
Na primeira parte conhecemos, junto com o narrador e ainda no Brasil, a história, situada no Japão, de Setsuko, uma velha proprietária de um restaurante no bairro da Liberdade, em São Paulo. O triângulo amoroso que Sestuko recupera narrando leva a sucessivas trocas de identidades, nas quais um homem escapa do serviço militar e outro homem morre no seu lugar na Segunda Guerra Mundial, para que um oficial culpado de crimes de guerra assuma a identidade original deste último e se esconda no Brasil, onde o primeiro – também com nova identidade – o descobre e mata.

Marcel Vejmelka ––––––––––––
217 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
Essa trama de mortes e vidas trocadas se entrelaça com o mundo literário. Setsuko conta a sua parte da história a um conhecido escritor japonês, que a transforma em folhetim, interrompido no meio, a pedido da própria Setsuko, após o suposto suicídio do principal protagonista da história na vida real. A segunda parte narra a ida do narrador ao Japão, para tentar amarrar os fios soltos das histórias que escutou, após o sumiço de Setsuko, para no final perceber que a sua tarefa é justamente terminar o romance interrompido pelo escritor japonês.
Nesse plano, o romance dialoga com a obra de Jun’ichiro Tanizaki (1886-1965), nomeadamente com o romance As irmãs Makioka (Sasameyuki, de 1943-48, Tanizaki, 2005) e o ensaio Elogio da sombra (In’ei raisan, de 1933, Tanizaki, 1999),7 e de forma geral com as caraterísticas temáticas, estruturais, composicionais e atmosféricas da obra do escritor japonês (Chiarelli, 2007).8 O leitor pode identificar tópicos como os sentimentos contraditórios, as obsessões sentimentais e sexuais, o fingimento existencial dos protagonistas e também dos narradores, e a daí resultante ambiguidade do discurso narrativo. Um exemplo marcante disso é o romance A chave (Kagi, de 1956, Tanizaki, 2000), em que um casal idoso estabelece um diálogo secreto por meio de seus diários, contendo os sentimentos e as fantasias sexuais que não conseguem se dizer diretamente. Um jogo que no fim leva à morte e possivelmente ao assassinato, e que se reencontra na trama concebida por Bernardo Carvalho, em que os protagonistas mantêm um jogo semelhante de enganos, máscaras e histórias inventadas ou mentiras repetidamente modificadas e renovadas.
Dentro da diegese, o jogo intertextual recorre a formas tradicionais como a inclusão de Tanizaki como personagem do relato de Setsuko (Carvalho, 2007, p. 80-81), a menção de algumas obras suas quando lidas por Setsuko ou pelo narrador, para ser ampliado com a criação, dentro dessa trama, do folhetim fictício que o personagem Tanizaki começa e interrompe no romance.9 Esse elemento estabelece a ligação com a
7 Carvalho recorre à tradução portuguesa de Margarida Gil Moreira, não à versão brasileira de Leiko Gotoda, com o título de Em louvor da sombra (Tanizaki, 2007). 8 Bernardo Carvalho classifica esse recurso como “pastiche” da escrita de Tanizaki (Resende, 2007). 9 Há também referências ao escritor Yukio Mishima (1925-1970), cuja suposta visita clandestina aos círculos nacionalistas das comunidades japonesas no Brasil é mencionada por alguns personagens (Carvalho, 2007, p. 25).

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 218
segunda dimensão importante do recurso intertextual utilizado por Carvalho, o teatro kyōgen.10 Conta o narrador a sua conversa com Setsuko:
“Kyogen”. Era o título da história que o escritor abandonou no nono capítulo, a pedido de Michiyo. “Kyogen, como no teatro?”, perguntei. “Como no teatro. Kyogen quer dizer farsa, artimanha, simulação. Esse romance que nunca foi escrito e que nunca terminou,” disse Setsuko (Carvalho, 2007, p. 84).
Esta referência se espalha pelo texto, partindo do título do romance fictício, passando pelo personagem Masukichi, ator de kyōgen e parte do triângulo amoroso, também pela tarde em que o narrador assiste a apresentação teatral em Osaka, e culminando como projeção dos princípios estéticos de Tanizaki, retomados e retrabalhados por Bernardo Carvalho.11
Curioso pelas implicações do mundo de kyōgen para a sua busca, o narrador assiste a uma apresentação, que o faz refletir sobre a sua condição de estranho e estrangeiro no Japão. A experiência da incompreensão linguística se transforma em sensação de cegueira e invisibilidade, levando à dissolução do ser, espelhada nos acontecimentos no palco:
Praticamente, não havia movimento. Tudo era lento demais. Tudo vinha do texto. E eu não falava japonês. […] Sob os meus olhos, os personagens conviviam como se estivessem em planos separados, uns não viam os outros, uns não ouviam os outros. E eu não entendia nada. […] Eu podia me identificar tanto com o menino invisível como com o mago ou com o guerreiro cego. No Japão, eu não via, mas também não era visto (Carvalho, 2007, p. 123-124).12
10 Assim, Bernardo Carvalho retoma um elemento muito presente na obra e no pensamento estético de Tanizaki. As irmãs Makioka no romance do mesmo título, o casal em A chave e o narrador do Diário de um velho louco (Tanizaki, 2002), por exemplo, são aficionados do kabuki. No ensaio “Geidan” (“Elogio da mestria”, de 1933), Tanizaki digressa sobre o kabuki e o bunraku enquanto artes cênicas japonesas por excelência (Ruperti, 2009). 11 Em um texto sobre a “descoberta da Ásia” por Bernardo Carvalho em Mongólia e O sol se põe em São Paulo analiso mais detidamente essa relação intertextual com Tanizaki (Vejmelka, 2013b). 12 Essa cena sintetiza o conflito identitário do narrador, que rejeita a sua ascendência japonesa (como também a sua vocação literária). Seu conflito é complementado pela trajetória de sua irmã, que deixou o Brasil em busca de melhores perspectivas de trabalho como decasségui no Japão (Tsuda, 2003; Costa, 2007).

Marcel Vejmelka ––––––––––––
219 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
Fora essa retomada simbólica do mundo do teatro a partir da estética de Tanizaki, a manifestação mais substancial e interessante do diálogo mantido por Carvalho, ao meu ver, são a citação e os comentários que o narrador faz do ensaio O elogio da sombra, de 1933:
Num ensaio muito conhecido, O elogio da sombra, publicado em 1933, quando já tinha trocado Tóquio pelo Kansai e seus interesses literários migraram das influências ocidentais para as tradições japonesas, o escritor dizia: “Se, por alguma infelicidade, o teatro nô viesse [...] a recorrer aos meios modernos de iluminação, é certo que, sob o choque dessa luz brutal, suas virtudes estéticas iriam pelos ares. É, portanto, absolutamente essencial que o palco do nô seja mantido na sua obscuridade original” (Carvalho, 2007, p. 112).
Essas reflexões de Tanizaki a respeito do palco do nō dialogam com a descrição que o narrador faz da apresentação de kyōgen (Carvalho, 2007, p. 123-124), além de retomarem as frequentes idas ao teatro cultivadas pelos personagens de Tanizaki. As categorias estéticas da “obscuridade”, da “sombra”, da “incerteza” e da “insinuação”, defendidas por Tanizaki como modelos “japoneses” em oposição aos “detalhes nítidos e iluminados” na arte ocidental, entram em O sol se põe em São Paulo enquanto elementos estruturais.13 Todos os planos narrativos do romance representam uma escrita sobre segredos e mistérios que, ao final, não podem nem devem ser desvelados ou explicados (Carvalho, 2007, p. 112).
A opacidade referida anteriormente aparece ao longo de todo o romance, encobrindo situações obscuras, verdades frágeis, versões que se desmentem a cada tanto. As imposturas e farsas se sucedem, encenando a visão do mundo como teatro. A verdade está no jogo, nas máscaras dos personagens (Chiarelli, 2007, p. 77).
13 Assim, Carvalho realiza uma leitura do escritor representativo pelo conflito inerente da modernização japonesa no século XX (Suzuki, 1996), uma conflitividade entre tradição e modernidade, o Japão e o Ocidente também presente em O elogio da sombra. Leila Lehnen estabelece um paralelismo parecido entre a obra de Tanizaki e o romance de Carvalho: “Se nos livros de Tanizaki esse conflito se dá no confronto entre as tradições japonesas e a ocidentalização do país, no romance de Carvalho, a dicotomia é entre a cultura brasileira e a herança japonesa. Em ambos os casos, no entanto, a ambivalência cultural produz um sentimento de alheamento e de procura de referentes para contrapor tal ansiedade” (Lehnen, 2012, p. 125).

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 220
Rakushisha O romance Rakushisha, de Adriana Lisboa, leva já no título a sua
principal referência intertextual. “Rakushisha”, traduzido como “cabana dos caquis caídos”, é o nome da casa em Quioto onde em 1691 o poeta Matsuo Bashō passou alguns dias escrevendo o seu Diário de Saga, o Saga nikki. Rakushisha está construído em volta desse diário – bastante curto, composto por poemas e notas em prosa –, que é reproduzido no romance na íntegra e em tradução feita pela própria autora.14 O diário – o último de um total de cinco diários de viagens na obra de Bashō – é reproduzido na sua ordem cronológica, intercalado e dialogando com as páginas do diário que a protagonista carioca Celina começa a escrever também em Quioto:
Celina lê o diário do poeta e, por ele inspirada, escreve o seu próprio diário; Haruki ilustra o livro, traduzindo em imagens o texto do poeta, ou antes, suplementando-o com desenhos que dialogam com sua ascendência japonesa e sua origem brasileira e com a “tradução” de afetos com relação à mulher japonesa que traduz os poemas para o português (Cury, 2012, p. 22).
Uma imagem formulada repetidamente no diário de Celina condensa a estreita e intensa relação entre os dois diários: “Sobre a mesa estão apenas o meu diário e o diário de Bashō” (Lisboa, 2007, p. 61); “Na mochila, Celina levava seu diário e o diário de Bashō” (Lisboa, 2007, p. 114).
Adriana Lisboa também integra um nipo-brasileiro ao romance, mas, ao contrário de Bernardo Carvalho, só como personagem secundário cujo encontro com as raízes no Japão fica delegado ao segundo plano, exercendo funções complementares para a dupla viagem de Celina, ao encontro com seu passado pessoal e a obra de Bashō. Mais importante, no protagonista Haruki, ilustrador de graphic novels, é a dimensão da leitura visualmente traduzida, um aspecto complementar à leitura e escrita de Celina.
Assim já se pode determinar a relação entre lugar e viagem, leitura e escrita, presente nos diários de Bashō e retomada por Adriana Lisboa, como base estética e estrutural do romance Rakushisha. “Aproximo-me do livro. O diário de Bashō em Saga. […] Aproximo-me do diário de
14 Tradução realizada, como informa Adriana Lisboa, com consultas ao original e às traduções para o francês (por René Sieffert, Bashō, 2001) e o inglês (por David Landis Barnhill, Bashō, 2005).

Marcel Vejmelka ––––––––––––
221 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
Bashō, cuja tradução para o português Haruki se prepara para ilustrar e que foi motivo de sua viagem ao Japão” (Lisboa, 2007, p. 33-34).
Um terceiro plano narrativo, além dos dois diários, relata as viagens dos dois protagonistas e, principalmente, a vida anterior de Celina e da sua filha morta Alice. Na síntese dos três planos, o romance se aproxima das bases estéticas e espirituais de Bashō: as viagens ao lugar distante são, antes de tudo, viagens a lugares carregados de história e literatura, os utamakura:
Bashō tendia a escrever sobre lugares na natureza transmitidos pela literatura, provendo assim a sua experiência da natureza com profundidade cultural. Dessa maneira, as suas viagens à natureza e à cultura também eram viagens ao passado e uma forma de torná-lo presente (Barnhill, 2005, p. 5).15
Mais do que enfrentar as suas raízes japonesas, no Japão Haruki enfrenta seu amor desesperado por uma mulher casada e solidifica a sua identidade enquanto artista gráfico. Essa mulher é justamente a tradutora do Saga nikki para o português, versão que Haruki irá ilustrar. Esse “acaso” o leva a viajar ao “país de Bashō” e refletir sobre a condição de ser, de forma universal.16
Em Quioto Celina passa vários dias numa reclusão “ambulante” que lembra os dias passados por Bashō na “cabana dos caquis caídos”, entre passeios pela cidade, a leitura do diário de Bashō e a escrita de seu próprio diário.
Gosto dessa familiaridade da estranheza, de que de repente me dou conta. Gosto de me sentir assim alheada, alguém que não pertence, que não entende, que não fala. De ocupar um lugar que parece não existir. Como se eu não fosse de carne e osso, mas só uma impressão, mas só um sonho, como se eu fosse feita de flores e papéis e um tsuru de origami e o eco do salto de uma rã dentro de um velho poço
15 Tradução nossa. No original: “Bashō tended to write of places in nature handed down through literature, giving cultural depth to his experience of nature. As such, these journeys into nature and culture were also journeys into the past as well as a way of making the past present.” 16 A tradutora Yukiko Sakade quase não aparece no romance, só nos pensamentos de Haruki e Celina, mas está constantemente presente através da tradução que ela fez do diário de Bashō. Dessa forma, a figura da tradutora é quem possibilita e motiva os acontecimentos dentro do romance, quem dialoga permanentemente – mesmo em silêncio – com os protagonistas e o leitor. Também é através dessa figura que a autora se faz presente dentro do romance, por meio da tradução que a identifica com a sua protagonista tradutora.

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 222
ou o eco dos saltos de uma mulher na calçada e as evocações de Sei Shonagon e de Bashō, séculos depois (Lisboa, 2007, p. 89).17
Assim Celina aprende a encarar e superar a dor causada pela morte da filha e a separação do marido (culpado pela morte da filha), aceitá-las e integrá-las no caminho de vida pela frente.18 Esse processo se sintetiza na visita de Celina à Rakushisha, no exato lugar da gênese do livro que a inspira e guia, acompanhada pelos dois diários que ela carrega na bolsa. Então, ela consegue chorar pela filha, pelo marido, por ela mesma; ela perdoa o marido, encontra a paz interior. O leitor pode fechar o círculo e voltar a uma das primeiras anotações no diário de Celina, sintetizando o significado da sua viagem:
A viagem nos ensina algumas coisas. Que a vida é o caminho e não o ponto fixo no espaço. Que nós somos feito a passagem dos dias e dos meses e dos anos, como escreveu o poeta japonês Matsuo Bashō num diário de viagem, e aquilo que possuímos de fato, nosso único bem, é a capacidade de locomoção. É o talento para viajar (Lisboa, 2007, p. 11).
Assim o tópico da viagem e o da leitura/escrita se entretecem na composição de Rakushisha, como fica bem visível na imagem final, que estabelece um paralelismo temporal e significativo entre os dois protagonistas viajantes:
No trem de regresso a Kyoto, passa veloz a paisagem diante dos olhos de Haruki. Mas é só uma impressão. O tempo parou por tempo indeterminado.
17 Outra referência intertextual, muito menos extensa, mas igualmente forte, é o Livro de cabeceira – o Makura no sōshi –, de Sei Shōnagon, que Celina lê na tradução inglesa (Sei Shonagon, 2006) e cujas listas elaboradas conforme critérios específicos inspiram uma série de anotações no diário de Celina, que em forma de listas juntam as possibilidades do que foi, do que não é e do que poderia ter sido (Lisboa, 2007, p. 94). Celina também comenta as listas do Livro de cabeceira: “Sei Shōnagon e suas listas: coisas que não podem ser compradas (verão e inverno. Noite e dia. Chuva e sol). Coisas deprimentes (um cão uivando durante o dia). Coisas odiosas. Coisas raras (evitar manchas de tinta no caderno em que copiamos histórias, poemas ou coisas do gênero). Coisas que estão perto embora estejam distantes. Coisas que estão distantes embora estejam perto. Coisas que perdem ao ser pintadas (flores de cerejeira, rosas amarelas). Coisas que ganham ao ser pintadas (um cenário de inverno muito frio; um cenário de verão indizivelmente quente)” (Lisboa, 2007, p. 88). 18 Pelo menos implicitamente há uma referência ao objetivo budista de superar, em vida, a dor e o sofrimento. Em L’Empire des signes (Império dos signos), de 1970, Roland Barthes, de forma um pouco radical, postula a equivalência entre o budismo zen e o haiku (Barthes, 2007, p. 100).

Marcel Vejmelka ––––––––––––
223 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
Na Cabana dos Caquis Caídos, Celina caminha por entre os pequenos monumentos de pedra do jardim. Enquanto ela caminha, o tempo parou por tempo indeterminado (Lisboa, 2007, p. 123).
No nível simbólico, Adriana Lisboa retoma a tradição do hokku ou haiku representada por Bashō:19 Celina memoriza e medita um kigo, uma palavra associada a uma das estações do ano, elemento obrigatório nesses poemas de abertura ou prelúdios para textos mais extensos (Barnhill, 2004, p. 4): “Tsuyu: chuva de ameixa, ensinaram para Celina. Porque era a época em que as ameixas amadureciam” (Lisboa, 2007, p. 92). “Tsuyu” denomina a época da chuva na primavera, fim de maio e início de junho, a época em que Celina está em Quioto, em que também Bashō esteve na Rakushisha, e é um símbolo da “impermanência” muito usado por Bashō e que funciona como um leitmotiv para os passeios de Celina. Ela espera a chuva de primavera, que não vem, como as lágrimas que não consegue chorar até o final do romance.
A imagem da chuva, presente no último poema contido no Diário de Saga, passa a ser também o final do romance:
CHUVAS DE VERÃO / PAPÉIS ARRANCADOS / MARCAS NAS PAREDES SAMIDARE YA / SHIKISHI HEGITARU / KABE NO ATO (Lisboa, 2007, p. 128)
Nesse contexto, chama atenção que no romance se reproduza um nome japonês em ideogramas. Num de seus passeios por Quioto, Celina visita o “Caminho do Filósofo”, o “Tetsugaku no michi”, nome japonês que ela decora e vai repetindo no caminho como um mantra. Também decora a escrita, para poder seguir a sinalização:
Gestos enfáticos e palavras que eu não compreendia tentavam me ajudar. Entendi vagamente a direção em que devia seguir. Ameaçava chover. Acabei decorando a grafia do nome e conseguindo acompanhar as placas por conta própria: 哲学の道 (Lisboa, 2007, p. 57).20
19 Assim Adriana Lisboa se insere também, de forma particular, na já tradicional recepção do haiku na literatura brasileira (Franchetti, 2008, p. 257). Entretanto ela inova essa tradição, centrando a sua reflexão na obra em prosa de Bashō. 20 Adriana Lisboa parece experimentar aqui com algumas reflexões formuladas por Roland Barthes sobre a abertura do significado no haiku, sobre a experiência enriquecedora da diferença em confronto

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 224
A chuva esperada vai cair, durante alguns minutos, enquanto Celina
reflete sobre o sentido de seu estar nesse lugar. Esse recurso de marcar e sublinhar a diferença do lugar, da língua, da cultura chama atenção por ser o único momento em que Adriana Lisboa recorre à escrita japonesa, que em outros momentos é mencionada e descrita, mas nunca reproduzida. Os ideogramas que denominam o “Caminho do Filósofo” voltam a aparecer no final do romance, fechando o livro como uma coda, agora na forma tradicional japonesa, na vertical, e sem outra explicação.
O único final feliz para uma história de amor é um acidente
João Paulo Cuenca abre o seu romance com o mesmo recurso de
marcar a distância e estranheza: na página de rosto reduplicada consta, sem explicação ou contextualização, a tradução do título para o japonês em ideogramas: 愛の物語の唯一のハッピ一エンドは事故である.21 Em Cuenca, porém, essa diferença explicitada tem outra intenção e outro efeito, ela não é retomada ao longo do romance, nem em termos semânticos nem formais, nem em alusões gerais aos ideogramas japoneses. Num primeiro momento ela causa a sensação de incompreensão absoluta de um estrangeiro no Japão, no plano estrutural ela funciona como uma máscara, símbolo das numerosas e variadas máscaras dos quais se reveste o romance.
Cuenca suprime no seu texto toda ligação entre o Brasil e o Japão, seja através de personagens, elementos da trama ou outras referências (com a única exceção da menção irônica à música de João Gilberto, Cuenca, 2010, p. 45). Único personagem não japonês é a polaco-romena Iulana Romiszowska, máscara do autor que reflete a sua posição e perspectiva enquanto estrangeiro no Japão.22
Aqui está ela, na mesma imitação ordinária de Dunkin’ Donuts perto da estação de Shinjuku [...] onde ouvimos juntos, pela primeira vez, o músico brasileiro João Gilberto cantar com sua voz noturna (Cuenca, 2010, p. 105-106).
com a língua, os ideogramas, a estética no Japão – a libertação através da incompreensão, para abrir caminho a um sentido mais profundo, para além da linguagem (Barthes, 2007, p. 99-100.). 21 Na transcrição: “ai no monogatari no yuitsu no happy end wa jiko de aru”. 22 Na entrevista em vídeo, produzida no âmbito do projeto Amores Expressos, Cuenca explica a sua “necessidade” de contar com esse personagem estrangeiro no romance.

Marcel Vejmelka ––––––––––––
225 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
Fora Iulana, os personagens e a trama se situam exclusivamente no contexto japonês – Cuenca usa inclusive dois narradores japoneses, Shunsuke e Yoshiko –, outra máscara num romance escrito por um autor brasileiro de passagem em Tóquio.23 É esse contexto extraliterário que configura o Japão representado em O único final feliz... O romance se centra completamente no presente – numa refração da visão ocidental projetada nas expectativas de personagens japoneses: um mundo marcado pela alienação radical das pessoas, presas entre as obrigações profissionais e as tentações do consumo, tópicos já “tradicionais” na visão ocidental de um Japão hipermodernizado e artificial na sua radicalidade: Tóquio aparece como um monstro gigantesco, devorador de almas humanas, contendo uma massa uniforme que trabalha e dorme e cujo lado obscuro e abjeto fica visível através das obsessões cultivadas por baixo da aparente ordem e limpeza. Essa imagem confusa contextualiza o motor principal da trama, indicada no título do romance:
Com o tempo, embarquei no submarino com meu pai e juntos passamos a navegar atrás do nosso objeto de estudo pela cidade das pessoas invisíveis, pela cidade onde gente de toda a nossa grande nação japonesa vem para ser esquecida, pela cidade assimétrica que carrega em si todas as outras e nenhuma delas. Nesses momentos, o sr. Lagosta Okuda diz em seus sonhos palavras que entram nos meus: – Um dia você entenderá que o único final feliz possível para uma história de amor é um acidente sem sobreviventes. Sim, Shunsuke, meu estorvinho, meu pequeno fugu idiota: um acidente sem sobreviventes (Cuenca, 2010, p. 14-15).
O romance faz uso de numerosas e variadas referências à cultura popular e mediática japonesa e universal (com influências japonesas), o texto parece intencionar esse exagero de alusões e citações, em que é impossível identificar ou enumerar todas, e em que cada leitor as vai produzindo de forma diferente. A descrição de Tóquio é, sobretudo, atmosférica, contém elementos de filmes como Blade runner (Ridley 23 Comenta João Manuel dos Santos Cunha que Cuenca estaria “narrando em língua portuguesa como se fosse idioma estrangeiro (Cunha, 2012, p. 204). Outras máscaras no nível dos personagens são, por exemplo: o narrador Shunsuke, que vive por trás de máscaras, inventa vidas e nomes para si, se esconde na central de observação (a “sala do periscópio”) construída por seu pai; este, o sr. Okuda, aparece como lagosta enorme, a boneca Yoshiko é a máscara (o novo suporte) da esposa morta do sr. Okuda, a dançarina Kazumi é uma pessoa reduzida à aparência, o sonho erótico de seus clientes, e os lugares são, na percepção do narrador, cópias malfeitas de modelos ocidentais.

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 226
Scott, 1982) ou também Lost in translation (Encontros e desencontros, Sofia Coppola, 2003), alternando o incomensurável e monstruoso com a contemplação fascinada do incompreensível.
A narradora “secundária” é a luvdoll Yohiko, especialmente fabricada para o pai do narrador, sr. Okuda: uma síntese de cyborg com consciência humana, um golem contendo as cinzas da esposa falecida do sr. Okuda, a portadora da alma da falecida, ou então uma yurei, uma alma feminina penada da tradição japonesa. Também aqui é possível estabelecer ligação com a replicante Rachael, que se crê humana, no romance Do androids dream of electric sheep?, de Philip K. Dick (de 1968, Dick, 2007) e na versão cinematográfica Blade runner, ou, na personagem inversa, a policial Motoko Kusanagi, no anime Ghost in the shell, de Mamuro Oshii (1995), uma mulher com corpo completamente artificial:
Quando falou da mulher pela primeira vez, o sr. Okuda pôs a mão na minha cabeça e disse que eu era a sra. Okuda renascida, já que ela não estava mais nascida, e eu sim, eu que sou o meu corpo, que é vivo, e que com ele tenho um só propósito, o mesmo que possuía a sra. Okuda. […] Não entendi bem o que é chorar, mas acho que foi para isso que o sr. Okuda colocou dentro de mim a urna com as cinzas da sra. Okuda na cerimônia do meu hatsumyia mairi, feito com a ajuda do sr. sacerdote no santuário que o sr. Okuda mandou construir no jardim despois que a mulher morreu. Hoje o yurei da sra. Okuda está comigo, ele diz (Cuenca, 2010, p. 50).
Diferentes cenas recorrem a elementos estéticos da cultura visual japonesa: no capítulo 23 – num episódio emulador do gênero televisivo e cinematográfico do Tokusatsu, caracterizado pelos efeitos especiais – o pai do narrador aparece com a sua máscara de lagosta, e o “monstro Gyodai aumentador de monstros do império interplanetário Daiseidan Gozuma” (Cuenca, 2010, p. 112) o aumenta com seu raio. Então o gigantesco monstro-lagosta destrói Tóquio, lembrando os filmes – clássicos e atuais – de Godzilla.
O exemplo mais claro e denso da dimensão intermedial do romance é a cena central e várias vezes repetida da explosão no metrô, que utiliza recursos gráficos dos mangá e anime, numa espécie de escrita visual, que combina a descrição detalhada e em câmera lenta da explosão, destruição e morte com a citação ou variação do quadro “La salle de

Marcel Vejmelka ––––––––––––
227 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
ballet de l’Opéra, rue Le Pelletier”, de 1872, de Degas –24 uma sala com bailarinas fazendo exercícios num prédio a lado da linha do metrô, a última imagem captada pelo narrador antes da explosão.
Ainda que o narrador eleve a destruição em câmera lenta a uma espécie de epifania estética e a declare uma experiência aurática […], esta afirmação é subvertida ao longo do romance, através da descrição da explosão; duas vezes repetida e não idêntica. Assim, a representação da explosão está sob o signo da reprodutibilidade e variabilidade, aludindo evidentemente não só ao acontecimento em si, mas, sobretudo, também à representação em si, fortemente marcada por referências intermediais. […] Uma referência que pode ser identificada aqui, são os filmes de catástrofes e ficção científica com a sua “estética da destruição” (Schulze, 2013, p. 308, tradução nossa).
No plano narrativo, tudo isso – e muito mais nesse tecido denso de referências, variações e jogos – fica submetido à interiorização cada vez mais radical do narrador, que faz com que afinal nada escape da suspeita de tudo ser o resultado de um delírio desesperado de Shunsuke:
Enquanto amanhece, a minha vida se bifurca. Há uma versão que segue normalmente quando entro num táxi, vou para casa, durmo três horas, tomo um banho gelado e vou ao escritório, onde abro a gaveta e tomo duas pílulas para dor de cabeça. Antes do escritório, para poupar a corrida de táxi, ainda poderia passar essas horas de sono num hotel-cápsula aqui em Kabukicho ou no sofá privativo de um cybercafé. Mas o caminho que devo pegar é outro (Cuenca 2010, p. 44).
Há aqui, por exemplo, referências ao romance American psycho, de Bret Easton Ellis (1991; também em filme de Mary Harron, 2000) ou ao filme Fight club, de David Fincher (1999), em que protagonistas medianos, funcionários anônimos, fogem das suas vidas reais, canalizando as suas paixões a agressões reprimidas em delírios marcados pelo excesso e a violência.
Assim, o Japão representado por Cuenca é um Japão mediático, captado nos meios literários, gráficos e audiovisuais japoneses e 24 “A referência ao mundo pictórico de Degas numa espécie de tableau vivant na janela de um prédio em Tóquio possui uma virada irônica, pois se trata de uma transferência cultural invertida, já que o pintor impressionista era fortemente influenciado pelas estampas em madeira japonesas e é considerado integrante do chamado Japonismo” (Schulze, 2013, p. 315, tradução nossa).

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 228
ocidentais (influenciados por aqueles), num jogo interminável de projeções e percepções mútuas, assim como de amálgamas de elementos culturais, que ficou caraterístico pela relação entre o Ocidente e o Japão.
Conclusão
O Japão retratado nos três romances varia conforme o enfoque e as
fontes ou os intertextos atualizados pelos autores. Um certo número de tópicos constantes na percepção internacional do Japão está presente nos três livros: Tóquio como megacidade e tecnópolis incompreensível e assustadora, como lugar fora do tempo ou premonição do futuro. Entretanto, mesmo em Tóquio os romances “descobrem” vestígios do passado e representantes do Japão tradicional. Esse lado tranquilo, “sábio” e fascinante da cultura japonesa fica mais visível dentro da arte (no teatro, nas leituras literárias), dentro das casas (ultrapassando o limite da mera observação “por fora”, por exemplo, nos rituais do sr. Okuda, na casa do casal que traduz a carta de Setsuko, na conversa de Haruki com um editor) e em outras cidades, como Osaka ou Quioto.
Essa dimensão da alteridade serve para articular dois movimentos, aparentemente em direção oposta, mas também complementares: o movimento da reflexão da identidade a partir do confronto com o Outro, e o movimento de adentramento no Outro, para ali descobrir e revelar aspectos que dizem respeito à universalidade da natureza humana e seus conflitos existenciais. Os três romances aqui apresentados permitem uma percepção do leque das combinações propostas por eles em conjunto.
A variação já fica visível nos títulos: enquanto O sol se põe em São Paulo combina a alusão invertida ao Japão (o sol poente) com a referência ao Brasil, Rakushisha funciona, de forma lacônica e descontextualizada, como referência intertextual, com uma palavra japonesa indicando o lugar da escrita do seu intertexto; e O único final feliz para uma história de amor é um acidente evita qualquer referência japonesa, reforçando o efeito de estranhamento com o título extraordinariamente extenso e enigmático.
Além da busca do narrador pelo seu lugar entre o Brasil e o Japão, no sentido de uma poética da alteridade (Olivieri-Godet, 2007, p. 251), O sol se põe em São Paulo articula questões e problemas existenciais, como

Marcel Vejmelka ––––––––––––
229 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
a culpa e a transmissão da culpa, em diálogo íntimo com os poderes da literatura enquanto leitura e escritura.
Adriana Lisboa não enfoca a questão da identidade nacional ou transnacional. O pano de fundo histórico serve somente como impulsor para duas viagens em busca de um caminho existencial. O romance explora assim a relação entre lugar e memória, leitura e escrita, todos condensados no indivíduo em busca de si mesmo.
Apropriando-se de espaços tão diferentes ao torná-los próximos, habitando-os com histórias e culturas diversas, o texto de Lisboa, de certa maneira, se desloca da série literária estritamente nacional, permitindo um olhar, digamos, mais universal e móvel sobre o que se convencionou chamar de nacionalidade. Além disso, a construção do relato, por meio do cruzamento de narrativas, de tempos e locais tão variados e em moventes, dialoga com os conceitos mais contemporâneos de espaço (Cury, 2012, p. 24).
De forma muito parecida com Carvalho, talvez ainda mais existencial, ela explora as possibilidades da literatura como elemento integrado e integrador da vida. Cuenca não menciona o tópico da identidade ou problemáticas relacionadas com ela. Apresenta-nos um panorama confuso e complexo de um mundo sem rumo nem preocupação pelo próprio ser. O que está em jogo no romance é a possibilidade ou impossibilidade da atuação individual consciente: o narrador Shunsuke permanece suspeito de imaginar ou inventar o que conta, sua história é a luta para evitar ou escapar do final “decretado” pelo seu pai (o acidente sem sobreviventes); a narradora Yoshiko, por sua vez, implicitamente formula a questão da consciência e identidade humana. A literatura ainda está presente através de nomes de escritores mencionados, mas as referências atualizadas e relações fundamentais se estabelecem com os produtos da cultura popular e “pop” – num jogo sutil que questiona os seus significados profundos.25
Talvez essas diferenças se possam sintetizar da seguinte forma: Bernardo Carvalho explora o Japão com e acompanhado pela literatura, em combinação com uma reflexão metaliterária; Adriana Lisboa descobre o Japão através da literatura (da leitura, da escrita e da tradução), numa 25 Entretanto, Cunha detecta uma relação intertextual interessante para o nosso contexto, ao determinar o romance A chave, de Tanizaki, como referência também de Cuenca, através dos trechos narrados por Yoshiko, que representariam uma espécie de diário digital da boneca viva (Cunha, 2012, p. 209).

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 230
meditação literária; e João Paulo Cuenca entra num jogo denso com o Japão enquanto universo mediático.
Três romances brasileiros retomam aspectos muito diferentes da cultura japonesa, de diferentes épocas, níveis e meios – literatura clássica e moderna, teatro tradicional, pintura clássica e mangá, anime e filmes, completando um grande círculo de formas de aproximação e diálogo, também de apropriação – no sentido de criatividade.26 Demostram assim a abertura temática, técnica e espacial da produção literária atual no Brasil, também e sobretudo a consciência e autoestima com que esses autores enfrentam o desconhecido, o estranho e o Outro. Lidos de uma perspectivas duplamente exterior – numa leitura feita desde fora do Brasil – esses diálogos brasileiros com a cultura japonesa revelam uma lição valiosa e difícil de sensibilidade cultural. Conseguem assim, cada romance de sua maneira bem particular, aproximar o Japão – e cada romance o “seu” Japão particular – aos leitores num registro crítico e estético universal.
Referências
AZEVEDO, Aluísio (1984). O Japão. São Paulo: Kempf.
BARNHILL, David Landis (2004). Introduction: The haiku poetry of Matsuo Bashō. In: BASHŌ, Matsuo. Bashō’s haiku: selected poems by Matsuo Bashō. Tradução, anotação e introdução de David Landis Barnhill. New York: State University of New York Press.
______ (2005). Introduction: Basho’s Journey. In: BASHŌ, Matsuo. Bashō’s journey: the literary prose of Matsuo Bashō. Tradução, anotação e introdução de David Landis Barnhill. New York: State University of New York Press.
BARTHES, Roland (2007). L’empire des signes. Paris: Seuil.
BASHŌ, Matsuo (2001). Journaux de voyage. Tradução de René Sieffert. Paris: Publications Orientalistes de France.
______ (2005). Saga diary (Saga nikki). In: Bashō’s journey: the literary prose of Matsuo Bashō. Tradução, anotação e introdução de David Landis Barnhill. New York: State University of New York Press.
26 A respeito da percepção mútua entre o Japão e o Ocidente no contexto da modernidade, ver Hardach-Pinke (1991) e Schubert (1991).

Marcel Vejmelka ––––––––––––
231 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
CANDIDO, Antonio (2000). Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Martins.
CARVALHO, Bernardo (2007). O sol se põe em São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras.
CHIARELLI, Stefania (2007). As coisas fora do lugar: modos de ver em Bernardo Carvalho. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 30, p. 71-78.
COSTA, João Pedro Corrêa (2007). De decasségui a emigrante. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão.
CUENCA, João Paulo (2010). O único final feliz para uma história de amor é um acidente. São Paulo: Companhia das Letras.
CUNHA, João Manuel dos Santos (2012). Enredados em Tóquio: voyeurismo e perversidade em O único final feliz para uma história de amor é um acidente. Nonada, Belo Horizonte, n. 15-19, p. 199-214.
CURY, Maria Zilda Ferreira (2007). Novas geografias narrativas. Letras de hoje , Porto Alegre, v. 42, n. 4, p. 7-17.
______ (2012). Cartografias literárias: Tsubame, de Aki Shimazaki, e Rakushisha, de Adriana Lisboa. Interfaces Brasil/Canadá, n. 12-14, p. 17-34.
DICK, Philip K. (2007). Do androids dream of electric sheep? In: DICK, Philip K. Four novels of the 1960s. New York: Library of America.
ELLIS, Brat Easton (1991). American psycho. New York: Vintage.
FRANCHETTI, Paulo (2008). O haicai no Brasil. Alea, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 256-269.
HANDA, Tomoo (1987). O imigrante japonês. São Paulo: T.A. Queiroz.
HARDACH-PINKE, Irene (1991). Die Entstehung des modernen Japan und seine Wahrnehmung durch den Westen. In: Hardach-Pinke, Irene (ed.). Japan: eine andere Moderne. Tübingen: C. Gehrke.
HONDA-HASEGAWA, Laura (1991). Sonhos bloqueados. São Paulo: Estação Liberade.
LEHNEN, Leila (2012): Pôr do sol global: itinerários urbanos e identidade globalizados em O sol se põe em São Paulo, de Bernardo Carvalho. In: DALCASTAGNÈ, Regina; MATA, Anderson Luís Nunes da (orgs.). Fora do retrato: estudos de literatura brasileira contemporânea. Vinhedo: Horizonte.
LIMA, Manuel de Oliveira (1903). No Japão: impressões da terra e da gente. Rio de Janeiro: Laemmert.

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 232
LISBOA, Adriana (2007). Rakushisha. Rio de Janeiro: Rocco.
MATAYOSHI, Maximiliano (2003). Gaijin. Buenos Aires: Alfaguara.
MORAIS, Fernando (2000). Corações sujos. São Paulo: Companhia das Letras.
NAKASATO, Oscar (2011). Nihonjin. São Paulo: Benvirá.
OKADA, John (1981). No-no boy. Seattle: University of Washington Press.
OLIVIERI-GODET, Rita (2007). Estranhos estrangeiros: poética da alteridade na narrativa contemporânea brasileira. Estudos de literatura brasileira contemporânea, Brasília, n. 29, p. 233-252.
OTSUKA, Julie (2002): When the emperor was divine. New York: Knopf.
______ (2011). The Buddha in the attic. New York: Knopf.
RESENDE, Beatriz (2007). Entrevista com Bernardo Carvalho. Revista Z Cultural, Rio de Janeiro, v. VII, n. 2. Disponível em: <http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/entrevista-com-bernardo-carvalho>. Acesso em: 10 mar. 2014.
RUPERTI, Bonaventura (2009). Tanizaki and the way of art (Geidō): traditional arts and performance skills. In: BIENATI, Luisa; RUPERTI, Bonaventura (eds.). The grand old man and the great tradition: essays on Tanizaki Jun’ichirō in honor of Adriana Boscaro. Ann Arbor: University of Michigan.
SCHUBERT, Volker (1991). Moderne ohne Individualität? In: HARDACH-PINKE, Irene (ed.). Japan: eine andere Moderne. Tübingen: C. Gehrke.
SCHULZE, Peter W. (2013). Bild- und Klangkonfigurationen: Intermediale Räume bei João Paulo Cuenca und Carola Saavedra. In: KLENGEL, Susanne et al. (eds.). Novas vozes: Zur brasilianischen Literatur im 21. Jahrhundert. Frankfurt: Vervuert; Madrid: Iberoamericana.
SEI SHŌNAGON (2006). The pillow book. Tradução e anotação de Meredith McKinney. London: Penguin.
STEVENS, Cristina Maria Teixeira (2004). A interface gênero/etnia na ficção de nisseis brasileiras e estadunidenses. Labrys: estudos feministas, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 2-20.
SUZUKI, Sadami (1996). Tanizaki Jun’ichiro as cultural ciritic. Japan Review, Quioto, n. 7, p. 23-32.
TANIZAKI, Jun’ichiro (1999). Elogio da sombra. Tradução de Margarida Gil Moreira. Lisboa: Relógio d’Água.

Marcel Vejmelka ––––––––––––
233 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014.
______ (2000). A chave. Tradução de Jefferson José Teixeira. São Paulo: Companhia das Letras.
______ (2002). Diário de um velho louco. Tradução de Leiko Gotoda. São Paulo: Estação Liberdade.
______ (2005). As irmãs Makioka. Tradução de Leiko Gotoda, Kanami Hirai, Neide Hissae Nagae e Eliza Atsuko Tashiro. São Paulo: Estação Liberdade.
______ (2007). Em louvor da sombra. Tradução de Leiko Gotoda. São Paulo: Companhia das Letras.
TSUDA, Takeyuki (Gaku) (2003). Homeland-less abroad: transnational liminality, social alienation, and personal malaise. In: LESSER, Jeffrey (ed.). Searching for home abroad. Japanese Brazilians and transnationalism. Durham: Duke University Press.
VEJMELKA, Marcel (2013a). O Brasil no espelho de Amaterasu. O Japão de Aluísio Azevedo. Brasiliana, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 401-433.
______ (2013b). Die Erfahrung des Eigenen durch die Fremde: Bernardo Carvalho erkundet Asien. In: KLENGEL, Susanne et al. (eds.). Novas vozes: Zur brasilianischen Literatur im 21. Jahrhundert. Frankfurt: Vervuert; Madrid: Iberoamericana.
WALDMANN, Berta (2010). Terra à vista: anotações sobre a presença de japoneses na literatura brasileira. In. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; TAKEUCHI, Marcia Yumi (orgs.). Imigrantes japoneses no Brasil: trajetória, imaginário e memória. São Paulo: EDUSP.
YAMASHITA, Karen Tei (1992). Brazil-Maru. Minneapolis: Coffee House Press.
______ (2001). Circle K cycles. Minneapolis: Coffee House Press.
Recebido em novembro de 2013. Aprovado em dezembro de 2013. resumo/abstract
O Japão na literatura brasileira atual
Marcel Vejmelka
Há uma presença notável de temas japoneses na atual literatura brasileira, sem que os autores – no caso Bernardo Carvalho, Adriana Lisboa e João Paulo Cuenca – tenham ligação biográfica com o Japão; um fenômeno que apresenta leituras, interpretações e representações da cultura japonesa bem variadas,

–––––––––––– O Japão na literatura brasileira atual
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 213-234, jan./jun. 2014. 234
complexas e “integradoras” dessa temática no contexto literário brasileiro. Trata-se de leituras do Japão que ainda têm ligação com a dimensão histórica da imigração japonesa no Brasil e com questões da identidade brasileira, mas que tratam principalmente dos significados universais das culturas japonesa e brasileira no contexto do século XXI.
Palavras-chave: Japão, intertextualidade, Bernardo Carvalho, Adriana Lisboa, João Paulo Cuenca.
Japan in contemporary Brazilian literature
Marcel Vejmelka
In contemporary Brazilian literature there is a remarkable presence of Japanese topics, by writers without any biographical relationship to Japan – in our case Bernardo Carvalho, Adriana Lisboa, and João Paulo Cuenca. This phenomenon offers varied and complex readings, interpretations and representations of Japanese culture, which by this means is “integrated” into the Brazilian context; readings of Japan which still maintain a connection with the legacy of Japanese immigration to Brazil as well as with issues of Brazilian identity, but which deal primarily with universal signifiers of Japanese and Brazilian culture in the 21st century.
Keywords: Japan, intertextuality, Bernardo Carvalho, Adriana Lisboa, João Paulo Cuenca.

Back to the roots? Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação
Henry Thorau1
Antônio é um cara bem legal, bem bonitão, tem uns 28 anos, veste
um terno bem chique, gravata bem chique. “Ele está formado – acabou de terminar a Faculdade de Direito – e está superbem, porque conseguiu uma vaga no ‘Curso Preparatório pro Concurso para Diplomata de Melanina Acentuada do Itamaraty’” (Anunciação, 2010, p. 20). Em seu primeiro dia de aula no curso, Antônio toma o café da manhã, apanha a pasta de estudos e prepara-se para sair. Nesse momento está de volta André, primo com o qual divide a casa, eterno estudante de direito que prefere gastar sua energia em farras noturnas. Ele diz: “Desista de sair da casa” (p. 21), mas Antônio não compreende e quando indaga sobre o motivo dessa advertência, André anuncia: “Saiu uma medida provisória!” (p. 22). Como Antônio continua sem entender, o primo esclarece:
Saiu uma Medida Provisória do Governo! […] Cidadãos com traços e características que lembrem, mesmo que de longe, uma ascendência africana, a partir de hoje, 13 de maio de 2015, deverão ser capturados e deportados para os países africanos, como medida de correção do erro cometido pela então Colônia Portuguesa, e continuado pelo Império e pela República Brasileira. Erro esse que gerou quatro séculos de trabalhos gratuitos realizados por uma população injustamente transferida de suas terras de origem, para as terras brasilianas. Com o intuito de reparar esse gravíssimo erro cometido pela União, essa Medida prevê a volta desses cidadãos, e de seus descendentes, para terras africanas em caráter de urgência (Anunciação, 2010, p. 25).
No barzinho onde André costuma tomar chope, apareceram policiais com uma cópia da Medida Provisória na mão e lhe pediram que os acompanhasse até a delegacia. Lá ele foi informado por uma socióloga que o processo de retorno para a África obedecia às convenções humanas e democráticas, e ela lhe apresentou um catálogo com opções
1 Doutor em cultura brasileira e portuguesa e professor na Universidade de Trier (Cátedra Carolina Michaelis de Vasconcelos), Trier, Alemanha. E-mail: [email protected]

Henry Thorau ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014. 236
de países africanos para onde ele poderia ser enviado. Segundo a socióloga, ele, André, poderia escolher o país, ou melhor, o país africano de origem da família dele. Ao que André responde: “Desde quando sabemos onde estão nossos supostos familiares africanos?” (p. 24). Então ela resolveu sugerir um país: Namíbia. E André reage assustado: “Não! Não! Namíbia, Não! Esse país foi colonizado por alemães. Nada contra os alemães, mas eu não falo alemão!” (p. 26).
Esse suposto post-colonial encounter muito especial faz parte do texto da peça de teatro Namíbia, Não!, da autoria de Aldri Anunciação, o qual eu conheci em Berlim, quando ele esteve na cidade a fim de pesquisar material para sua monografia de bacharelado. Naquela ocasião, entrevistou-me para seu trabalho, intitulado Dramaturgia brasileira no teatro alemão. Jovem baiano, nascido em 1977, Anunciação é dramaturgo e ator, tendo atuado em cinema e também em produções de diretores de teatro muito bem conceituados no Brasil, como Gabriel Villela e Pedro Paulo Rangel. Sua formação universitária o habilitou como bacharel em Teorias Teatrais pela Universidade do Rio de Janeiro (Unirio), em 2006.
O seu texto Namíbia, Não!, de 2010, foi selecionado, nesse mesmo ano, para o II Ciclo Negro Olhar, evento patrocinado pela Funarte, no Rio de Janeiro. Ainda em 2010, a peça ganhou – junto com as de mais outros dois autores –, entre 67 textos teatrais, o Prêmio FAPEX2 de Teatro 2010 em Salvador. A estreia nacional da peça montada a partir do texto de Anunciação, no Teatro Castro Alves, em Salvador, na Bahia, no dia 17 de março de 2011, contou com a direção de Lázaro Ramos. O autor protagonizou o personagem Antônio, formado em direito e que conseguiu uma vaga no Curso Preparatório pro Concurso para Diplomata de Melanina Acentuada do Itamaraty.
Namíbia, Não! é sua primeira peça. Para mostrar e valorizar melhor o conteúdo, a estrutura, o conceito dramatúrgico do “texto teatral em um ato” (Anunciação, 2010, p. 15), é preciso voltar ao passado na história do teatro brasileiro. Historicamente, o colonial encounter pode ser lido, também no Brasil, como uma construção de fantasias de conquista e de domesticação europeias. No Romantismo – isto é, depois da fase de opressão e do quase total extermínio dos índios e ainda na época da escravatura –, as classes dominantes encenavam uma tentativa de harmonização, de conciliação, mais
2 Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão Universitária.

–––––––––––– Back to the roots?
237 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014.
ainda, de uma fusão das etnias, entre europeus e “habitantes indígenas”. O conceito-chave era o Indianismo.
Essas ideias também se refletiram na literatura da época. Como exemplo mais célebre é citado sempre o romance O guarani, de José de Alencar – de 1857, ano da publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França –, no qual um fazendeiro acaba aceitando o amor da sua filha branca com um bon sauvage. Já a população negra servia como fundo pitoresco, colorindo os bastidores, nitidamente na pintura de gênero.3 E na literatura dramática, o negro só aparecia esporadicamente como semiprotagonista em comédias de costume, como o escravo Pedro em O demônio familiar, a quem o patrão diz:
Toma: é a tua carta de liberdade, ela será a tua punição de hoje em diante, porque as tuas faltas recairão unicamente sobre ti: porque a moral e a lei te pedirão uma conta severa de tuas ações. Livre, sentirás a necessidade do trabalho honesto e apreciarás os nobres sentimentos que hoje não compreendes (Alencar, 1965, p. 805).
O demônio familiar, também da autoria de José de Alencar, estreou em 1857, no mesmo ano em que foi publicado O guarani. A peça fez muito sucesso, foi vista como “a primeira alta comédia original que aparece na cena brasileira” (Faria, 1987, p. 40). Ainda hoje, de vez em quando, a obra é encenada em palcos brasileiros. Augusto Boal, um dos diretores do Teatro de Arena e fundador do Teatro do Oprimido, não a valorizou muito nos anos 1960: “Ah sim, a peça esquece-se de debater a escravatura” (Boal, 1977, p. 47). Pergunto: mas, em Arena conta Zumbi – o assim chamado primeiro musical brasileiro, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, com música de Edu Lobo, estreado em 1965, quer dizer, mais de cem anos depois – debate-se a escravatura? Vamos ver isso mais adiante.
Em papéis subalternos, e assim literalmente inofensivos, pessoas de “melanina acentuada” sempre encontraram e encontram até hoje, cinicamente, cenicamente e desumanamente, seu “lugar adequado” como “boa alma”, “boa ama” (que expressões feias!). São vítimas bem-vistas do riso de recalque de impulsos sexuais. Bem-amada e bem tolerada sempre foi a mulata como “la serva padrona”… Na cama e nos livros dos pais e filhos da casa grande (seja urbana ou campestre). Porém,
3 A expressão pintura de gênero teve origem na pintura holandesa do século XVII e se refere às representações da vida cotidiana, do mundo do trabalho e dos espaços domésticos.

Henry Thorau ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014. 238
causou escândalo o romance A mulata (1896), de Carlos Malheiro Dias, em que um homem branco, sexualmente dependente de uma mulata, termina se autodestruindo. Contudo, o romance navegava em plena onda do romance naturalista da virada do século; era a época do amor de perdição.
A “contrapartida homossexual” – sim, isso foi possível em 1895 – representava o romance psicologizante curto. O bom crioulo, de Adolfo Caminha, tematizou o amour fou entre um marinheiro negro e um grumete branco: o negro é machão, ciumento que mete medo e, ao mesmo tempo, causa compaixão. O negro e a negra aparecem como ameaça e sedução do “continente escuro” – para parafrasear, ampliar e tomar literalmente o conceito de Sigmund Freud sobre a sexualidade feminina. Décadas mais tarde, a mulata virou o “milagre de peito e bunda”, símbolo de sexo folclórico em guias turísticos a partir dos romances de Jorge Amado, como Gabriela, cravo e canela (1960). E o homem negro virou objeto de desejo na comunidade gay internacional, e mesmo nos textos poéticos etnológicos do escritor alemão Hubert Fichte. Todas essas são formas de exploração neocolonialista externas ou internas, abertas ou encobertas.
Os textos literários brasileiros, inclusive os do teatro e cinema, bem como as mídias em geral, sempre estiveram marcados pelo enlace entre diferença sexual e cultural. Sobretudo as mulheres negras lésbicas e homens negros gays foram e, infelizmente, ainda estão sendo enfocados como sintoma de patologia social, como tela de projeção negativa.
Um exemplo marcante dessa vertente é mostrado no filme Madame Satã (2002): um flashback que nos leva para a vida noturna dos anos 1930 no Rio de Janeiro. O protagonista é um ex-favelado, expulso da família pelos pais, que virou uma das mais famosas drag queens da época, transformando-se, a cada noite, em Josephine Baker. Com o objetivo de mostrar a ascensão e a queda, a vida autêntica de João Francisco de Santos (que nasceu em 1900 e morreu em 1976) nos anos totalitários do getulismo, o filme mostra a perpetuação dos clichês e estereótipos, o lado escuro do negro sensual, agressivo e violento, o negro e a negra como monsters of sex and crime. Imagens essas que, ainda hoje, os representantes do Movimento Negro se veem na dificuldade de desconstruir na memória coletiva.
A história demonstra os laços estreitos e contínuos entre race e gender na cultura e arte brasileiras, e mostra, também, como esses conceitos foram utilizados e muitas vezes até abusados na construção discursiva

–––––––––––– Back to the roots?
239 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014.
de identidade nacional. Nos debates do Modernismo nos anos 1920 – que se por um lado perpetuou a imagem do bon sauvage, por outro, a contracenou com a imagem do “comedor de gente” e da “criação do mundo” brasileiro autêntico por meio do canibalismo –, a população negra em princípio não apareceu no palco da história, nem foi mencionada. Só nos anos 1930 o Poder tentou fazer um ajuste populista do tema racial – no sentido mais amplo. Basta mencionar a meta da “democracia racial” – inventada por Gilberto Freyre –, nivelando as diferenças. As categorias do branqueamento, da mestiçagem e da morenidade – o ideal da integração do híbrido e do outro, sintetizado no sincretismo – criaram a imagem estilizada do homem cordial, que pouco correspondia à realidade empírica vivida.
Na luta contra o imperialismo estadunidense dos anos 1960 e 70, o teatro desempenhou, no processo de autoconscientização, um papel muito importante no Brasil (e também em outros países latino-americanos, como, por exemplo, na Colômbia). No já mencionado musical brasileiro Arena conta Zumbi, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, estreado no dia 1o de maio de 1965 no Teatro de Arena em São Paulo, a luta dos negros da República dos Palmares em Alagoas contra os Senhores de Portugal foi adaptada ao século XX, transformada em resistência contra o imperialismo ianque. Em outras palavras, a causa dos negros foi utilizada como parábola, com a “linguagem escrava”4 brechtiana e, em uma leitura marxista, “trans-funcionalizada”5 em luta contra o capitalismo (global) da modernidade. Esse é um dos exemplos mais marcantes de abuso, ou digamos, de exploração ideológica, de exclusão – em nome da inclusão.
Se o sociólogo Abdias do Nascimento (1914-2011), um dos pais do Movimento Negro no Brasil, fundador do Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro em 1944, tivesse publicado sua antologia Dramas para negros e prólogo para brancos não em 1961, mas em 1965, Arena conta Zumbi provavelmente não teria entrado. O Teatro Experimental do Negro, o primeiro teatro, como disse Abdias, “de negros e para negros”, teve que fechar suas portas nos “anos de chumbo”. Abdias exilou-se, mas a antologia ficou e continua sendo o primeiro
4 O termo original de Bertolt Brecht é “Sklavensprache” – no nosso contexto até parece um jogo de palavras de uma comicidade involuntária e cínica. 5 Se assim se pode traduzir o termo original brechtiano “umfunktioniert”.

Henry Thorau ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014. 240
livro mais significativo sobre a temática até 2011, ano em que foram publicados os quatro volumes de Literatura e afrodescendência no Brasil, obra organizada por Eduardo de Assis Duarte (2011).
Revelar “a voz autêntica do negro, como raça e como homem de cor: a vida social”, “restaurar, valorizar e exaltar a contribuição dos africanos à formação brasileira”, eis as metas da antologia de Abdias do Nascimento (1961, p. 9 e p. 19). Nelson Rodrigues entrou nessa antologia dedicada ao Teatro Experimental do Negro com a sua tragédia Anjo negro, uma das primeiras peças redigidas por um autor branco na qual um negro desempenhou o papel principal. Escrita em 1946, a “tragédia em 3 atos” estreou em 2 de abril de 19486 no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, com direção de Zbigniew Ziembinski. Anjo negro tratou abertamente da “luta de sexo” entre uma mulher branca e seu marido negro como “tema racial”, assunto que, como escreveu Sábato Magaldi em 1965 na introdução de Teatro Completo II, de Nelson Rodrigues, “no Brasil existe quase sempre velado” (Magaldi, 1965, p. 23).
E os outros autores da antologia? Com exceção da farsa Auto da noiva (1946), de Rosário Fusco, o enredo de todas as oito obras restantes tem um fim trágico. Ou então são dramas históricos ou mitológicos ou histórico-mitológicos, como Além do Rio (1961), de Agostinho Olavo, uma transposição do mito da Medeia para o Brasil da época colonial. Na maioria, são dramas sociais da época, cuja ação se passa no interior ou na cidade (subúrbio e favela). Se não me engano, só duas peças evitam, literalmente falando, o “preto e o branco”, o conflito entre os dois lados nitidamente opostos (Filhos de Santo, 1948, de José Morais Pinto, e Aruanda, 1946, de Joaquim Ribeiro). A maioria também evita mostrar a exploração brutal, “injustiças flagrantes” (Fernandes, 1972, p. 22), debatendo mais “injustiças disfarçadas” que não aparecem tão facilmente na superfície, mas que estão perturbando a mente e o comportamento social dos e das protagonistas e criam complexos de inferioridade e violações emocionais. Ninguém escapa dessa “obsessão tremenda de tudo quanto é branco” (Silveira, 1961, p. 390), constata o poeta negro João da Cruz e Sousa no texto O emparedado, de Tasso de Silveira, ainda em 1949. Na maioria das peças, as tentativas de arrebentar as grades da própria limitação, de transgredir o limite, são castigadas.
6 Depois de dois anos de proibição pela censura.

–––––––––––– Back to the roots?
241 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014.
Na opinião de Florestan Fernandes, Nelson Rodrigues é o único autor que conseguiu uma superação das “barreiras de cor”, mesmo que só simbolicamente, na mutação do comportamento, em uma escala de auto-ódio, via adaptação para a autoconfiança, e a conquista de autoestima do negro (Fernandes, 1972, p. 9). Como modelo serviu The emperor Jones, de Eugene O’Neill, de 1921, a primeira peça norte-americana com um protagonista negro forte, invertendo as condições de dependência. A “experiência” falhou no contexto dos acontecimentos políticos dos anos 1960 e 70, com o “preconceito de não ter preconceito” (Fernandes, 1972, p. 23). Ainda na abertura política, o discurso oficial dificultou uma discussão não emocional, pragmática, do problema racial. Mesmo no movimento estudantil no Brasil, a causa negra, pelo que sei, durante muitos anos quase não existiu. Também depois da queda da ditadura, pouco mudou na violência estrutural (“strukturelle Gewalt”, nas palavras de Johan Galtung), apesar de muitos esforços do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNU) e do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, criado em 1984.
Só na década de 1980 e mais na de 90 apareceram novas formas de representação, tentativas de emancipação. Contudo, no início elas eram, na sua agressividade e no seu caráter “exclusivo” – e isso são processos psicológicos e sociais compreensíveis –, sobretudo reproduções das projeções discriminatórias da iconografia do “outro”. Um dos primeiros dramaturgos negros que conseguiram superar esse esquema é Luiz Silva, nascido em 1951, mais conhecido sob seu nome de autor: Cuti. Os temas básicos de suas peças também são autoafirmação, respeito, autoestima, mas de uma forma mais sutil. Os personagens refletem mais, fazem uma introspeção psicológica como se fossem regressões para vidas antepassadas, descobrindo personalidades intrusas, digamos sombras jungianas, como no monodrama Dois nós na noite. As peças de Cuti fazem parte hoje do repertório do teatro negro do Brasil, e em 1991 também foram publicadas em livro, como Dois nós na noite e outras peças de teatro negro-brasileiro, em São Paulo. Trata-se de uma vertente avançada do teatro psicológico.
Voltemos dessas digressões para Namíbia, não!, uma obra avançada no sentido psicológico e sociológico, mas também dentro de uma onda de, digamos, repolitização do teatro.
Estamos novamente no apartamento de Antônio e André. De repente ouve-se o som de um helicóptero sobrevoando o bairro. Escutam-se

Henry Thorau ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014. 242
gritos de uma senhora na rua. Antônio e André correm até a janela. A senhora acabou sendo capturada por policiais. Senhora (off): “Soltem-me! […] Eu não tenho a Melanina Acentuada… nem exaltada! […] Eu sou parda, tá entendendo? Parda!” (Anunciação, 2010, p. 62-63). Ouvem-se os sons de um carro fechando portas, sons de carro dando partida e indo embora, cheio de pessoas capturadas (p. 67). Isso faz lembrar, para o leitor alemão, cenas da deportação dos judeus para os campos de concentração.
Dois nós na noite também podia ser o subtítulo ou o lema de Namíbia, não!. Antônio e André escondem-se, fecham-se no apartamento, trancam as portas para não serem capturados. De repente ouvem-se pedradas na janela, e um homem, um vizinho, lá fora gritando: “Saiam daí […] por causa de vocês a rua inteira está sem luz. O governo diz que a luz só volta quando não morar nem mais um de Melanina Sublinhada na rua” (p. 69). É a voz da opinião pública? Onde estão os manifestantes que normalmente apoiam, de forma “politicamente correta”, todos os oprimidos do mundo? Onde estão os defensores dos Direitos Humanos, da Human Rights Watch?
Antônio apenas comenta: “… a Comunidade Internacional? (irônico) A Comunidade Internacional… A triste onipresente impassividade…” (olha a plateia) (p. 97). Atônitos, André e Antônio assistem à televisão: estão sendo transmitidas reportagens sobre “a chegada do primeiro avião trazendo os cidadãos brasileiros de Melanina Acentuada capturados no Brasil” (p. 60). O repórter (voz em off) comenta: “Os nativos de Angola também estão presentes. Mas a recepção não é nada agradável. (Sons de multidão agressiva)… Eles protestam com faixas […] parece que um cidadão angolano protesta com armas… e grita pela não entrada de brasileiros no país” (p. 61).
O que é real, o que é verossímil, o que é puro histerismo ou paranoia? Assistimos a uma alucinação? Antônio acalma André: “Você cochilou e teve um pesadelo, primo!” (p. 76). O que se passa com uma espantosa velocidade é uma mistura entre Huis clos (Sartre, 1944), teatro panfletário, parábola e teatro do absurdo à la Ionesco do século XXI,7 uma utopia negativa que dá arrepios – “o tempo em que se passa a ação da peça será sempre cinco anos à frente do tempo atual” (p. 19).
7 Evocando Rhinocéros, de Ionesco: “sons em off de elefantes barrindo desesperados, como que em uma caçada” (Anunciação, 2010, p. 82). Ou: “Lá fora, a neve cai com mais intensidade” (p. 83).

–––––––––––– Back to the roots?
243 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014.
A eficiência e a crueldade de Namíbia, não! devem-se também ao fato de a obra se apresentar como uma comédia de boulevard, e não como uma obra de agit-prop, não como teatro explicitamente político, nem como drama social. Encontramo-nos além da literatura “marginal” no sentido mais amplo, além das conhecidas caraterísticas típicas de luta do teatro negro. Trata-se de um tema muito sério com os instrumentos do teatro de boulevard, da comédia de costumes, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, o que perturba o público. Nesse aspecto, Aldri Anunciação filia-se à vertente do diretor e dramaturgo George Tabori (1914-2007).
Os dois protagonistas Antônio e André não são outcasts, não são “dois perdidos numa noite suja” (Plínio Marcos), não são “capitães de areia” (Jorge Amado), não têm nenhum “manual prático do ódio” (Ferréz) debaixo do braço. Eles não precisam de rituais que ataquem a cultura burguesa, não têm uma mentalidade suburbana, mas urbana, não se gabam de um linguajar próprio, não representam o “código restringido”, mas se articulam no “código elaborado”. A ação não se passa na periferia, mas sim no centro social e cultural.
A peça evita, consequentemente, elementos folclóricos do morro, do afrossincretismo, do carnaval, mas também não entra no campo da sexual otherness, de certas construções de virilidade e de feminilidade. Ela não se define dentro do esquema da alteridade e da diferença cultural. Ao contrário. Os dois protagonistas funcionam perfeitamente na sociedade, eles representam a normalidade. A diferença se reduz unicamente à cor. A cor é o crime! Esse fato real-simbólico aumenta o medo dos antagonistas, que define a ameaça para o sistema estabelecido.
E é exatamente isso o que torna a peça tão inquietante. Aldri Anunciação articula uma problemática muito séria com diálogos eloquentes, jogos de palavras, com slapstick, com sarcasmo e ironia ferozes, até no cenário e no figurino. Como o próprio autor atuou na estreia, o texto cênico e o texto literário reforçaram mutuamente o conceito estilístico. Os elementos cômicos funcionam como estratégias subversivas. Dramaturgicamente falando, assim a “queda trágica” do herói, a catástrofe tem muito mais efeito. Aldri Anunciação realizou, com o riso do palhaço e, desse modo, com “humor negro”, uma comédia negra nunca vista no Brasil.
No final, André “começa a maquiar o rosto com uma espécie de pancake branco” (p. 85), como se fosse uma alusão intertextual à conclusão do texto teatral Sortilégio (1951), de Abdias do Nascimento,

Henry Thorau ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014. 244
que pressagia: “ninguém escapa da sua cor”. Já o diretor e dramaturgo George Tabori escolheu como lema para a sua farsa Mein Kampf (Minha luta, 1987) versos de um poema do poeta alemão Friedrich Hölderlin: “Fazendo piadas sempre, sempre troçando? Vocês precisam! Oh, amigos! Isso me atinge na alma, pois só o desespero força a tanto!” (Hölderlin, 1946, p. 302, tradução nossa).
Referências
ALENCAR, José de (1965). O demônio familiar. In: Ficção completa e outros escritos. Vol. III. Rio de Janeiro: Aguilar.
ANUNCIAÇÃO, Aldri (2010). Namíbia, Não! Texto teatral em um ato. In: VERAS, Marcelo (org.). Prêmio Fapex de Teatro 2010. Salvador: Edufba.
DUARTE, Eduardo de Assis (org.) (2011). Literatura e afrodescendência no Brasil. 4 vols. Belo Horizonte: Editora UFMG.
BOAL, Augusto (1977). Técnicas latino-americanas de teatro. Rio de Janeiro: Hucitec.
CUTI (1991). Dois nós na noite e outras peças de teatro negro-brasileiro. São Paulo: Eboh.
FARIA, João Roberto (1987). José de Alencar e o teatro. São Paulo: Perspectiva, EDUSP.
FERNANDES, Florestan (1972). O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Difel.
HÖLDERLIN, Friedrich (1946). Die Scherzhaften. In: Sämtliche Werke. Vol 1 [1798-1800]. Stuttgart: Cotta; W. Kohlhammer.
MADAME Satã (2002). Direção e produção de Karim Ainouz. Brasil: Lumiére. DVD (105 min.).
MAGALDI, Sábato (1965). Introdução. In: RODRIGUES, Nelson. Teatro quase completo. Vol. II. [S. l.: s. n.]
NASCIMENTO, Abdias do (1961). Prólogo. In: NASCIMENTO, Abdias do (org.). Dramas para negros e prólogo para brancos. Rio de Janeiro: Edição do Teatro Experimental do Negro.
SARTRE, Jean-Paul (1944). Huis clos. Suivi de les mouches. Paris: Gallimard.

–––––––––––– Back to the roots?
245 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 235-245, jan./jun. 2014.
SILVEIRA, Tasso de (1961). O emparedado. In: NASCIMENTO, Abdias do (org.). Dramas para negros e prólogo para brancos. Rio de Janeiro: Edição do Teatro Experimental do Negro.
Recebido em junho de 2013. Aprovado em novembro de 2013. resumo/abstract
Back to the roots? - Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação
Henry Thorau
Este artigo analisa como a “comédia negra” Namíbia, Não!, do jovem dramaturgo baiano Aldri Anunciação, elabora as últimas consequências da famosa democracia racial brasileira e dos direitos humanos, e como vai até os limites do discurso pós-colonialista “politicamente correto” no Brasil do século XXI.
Palavras-chave: teatro negro, teatro político, comédia, movimento negro, pós-colonialismo, racismo, Aldri Anunciação.
Back to the roots? - Namíbia, Não!, by Aldri Anunciação
Henry Thorau
This article analyzes how the “black comedy” Namíbia, Não!, by the young playwright Aldri Annunciation, from Bahia, elaborates the last consequences of the famous Brazilian racial democracy and of the human rights, and how it goes until the limits of the “politically correct” post-colonialist discourse in Brazil of the XXI century.
Keywords: Black theatre, political theatre, comedy, Black movement, post colonial studies, race and gender, Aldri Anunciação.


O baú da República: mobilidades e memórias em Leite derramado
Tatiana Sena1
O romance Leite derramado, de Chico Buarque, foi publicado em 2009,
exibindo uma estratégia editorial arrojada, que incluiu a criação de duas capas, texto de orelha do livro assinado pela crítica literária Leyla Perrone-Moisés e divulgação através de mídias sociais, além da participação do autor na Festa Literária Internacional de Parati (Flip) daquele ano, ao lado do escritor Milton Hatoum. O romance também foi destaque em resenhas dos principais suplementos literários brasileiros, obtendo análises elogiosas de críticos renomados.
Todos esses elementos agregaram ainda mais valor editorial ao lançamento do “novo livro do Chico”, como o público leitor referia-se à obra, exprimindo as expectativas e as curiosidades em torno dela. Essa repercussão conduziu o livro à lista dos mais vendidos daquele ano, confirmando o êxito do romance, que, além disso, angariou os principais prêmios referentes ao ano de 2009, como o Portugal Telecom de Literatura (2010) e o Jabuti (2010) como “Livro do ano de ficção”, embora tenha sido apenas o segundo colocado na categoria “Melhor romance”, fato que desencadeou algumas polêmicas no universo literário brasileiro.2
O processo criativo de Leite derramado, segundo depoimentos de Chico Buarque em entrevistas, levou em consideração dois aspectos. O primeiro desafio seria diferenciar-se do romance anterior, Budapeste, aclamado pelo público e pela crítica. Se neste a preocupação foi conhecer outros lugares, em Leite derramado, o escritor buscou visitar outros tempos. O desejo pela investigação temporal encontrou em uma antiga composição musical, “O velho Francisco”, a matriz narrativa que Chico Buarque utilizaria no novo romance.3 Nessa canção, o sujeito 1 Doutoranda em Literatura Comparada no Programa Estudos Literários da UFMG, Belo Horizonte, Brasil. Bolsista CNPq. E-mail: [email protected] 2 O grupo editorial Record, em carta aberta, atribui a critérios “midiáticos” e “políticos” a escolha de Leite derramado como “Livro do ano”, em detrimento do romance Se eu fechar meus olhos agora, de Edney Silvestre, publicado pela referida empresa e que havia obtido o primeiro lugar na categoria “Melhor romance”. 3 Segundo Wagner Homem (2009, p. 250), essa composição foi inspirada por um sonho que Chico Buarque tivera, descrito da seguinte forma ao jornalista Humberto Werneck: “Uma preta velha que

Tatiana Sena ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014. 248
enunciador é um velho escravo alforriado, que narra emaranhada e incertamente as peripécias de sua vida.
O modo de narrar dos velhos funciona como motivação formal e estilística na elaboração de Leite derramado, cuja técnica literária explora os decursos da memória, entrelaçando temporalidades pessoais e sociais. Como destacou Ecléa Bosi (1987), a memória dos velhos se distingue por seu interesse consciente pelo passado. Nesse processo de rememoração, desfigura o passado pela ação de filtros subjetivos diversificados.
Chico Buarque constrói uma narrativa em que as oscilações da memória individual do velho centenário Eulálio Montenegro d’Assumpção, narrador-protagonista do romance, podem ser lidas em contraposição aos lapsos da memória nacional da forma republicana, que em 2009, ano de publicação do romance, completou 120 anos de implantação. Os entrelaçamentos discursivos entre literatura, música, sociologia e história produzem uma sofisticada crítica aos impasses da República brasileira.
No romance, a história de declínio de uma família oligárquica repõe a questão da República, pelo prisma de uma narrativa derrisória. Chico Buarque retoma um motivo literário bastante produtivo nas literaturas latino-americanas, expondo as vicissitudes de uma saga familiar, alinhando-se assim a uma tradição literária que inclui Cem anos de solidão, de Gabriel García Marquez, e Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro.
A história do Brasil encontra na literatura um espaço privilegiado de reinvenção, no qual a rememoração de episódios consagrados ou esquecidos da história nacional frequentemente possibilita a reativação diferencial de sentidos que se plasmam e se antagonizam na memória cultural do país, tornando visíveis conflitos, impasses e vozes recalcadas nas versões oficiais do discurso brasileiro.
Wolfgang Iser destacou que a presença do real é identificável no texto ficcional, mas que este não se esgota nessa referência. Para Iser, essa realidade replicada pode ser compreendida como “atos de fingir”, cuja operação estabeleceria relações recíprocas entre o real, o fictício e o imaginário, através da “transgressão de limites” (Iser, 1996, p. 14) promovida pelo texto literário.
contava uma história num fundo de cozinha e pedia, com a voz cava e arrastada: ‘Fecha a porta! Fecha a porta’”.

–––––––––––– O baú da República
249 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014.
Alicerçando-se nos postulados teóricos de Iser, é possível dizer que a realidade representada em Leite derramado recortou, selecionou, condensou e reorganizou referências de sistemas contextuais preexistentes, literários e sociais, colocando-se como uma forma de “acesso ao mundo” (Iser, 1996, p. 16).
Eulálio parece relatar sua história a mais de uma pessoa. Todavia, não sabemos ao certo se elas não são apenas imaginárias. Seus interlocutores mais recorrentes seriam uma suposta enfermeira e a filha Maria Eulália, mas ele também se dirige a pacientes nas enfermarias ou a qualquer passante nos corredores do hospital, assim como se dirige delirantemente à mãe morta. A ação do romance está compreendida entre os anos de 1907 e 2007, período do centenário de Eulálio. Porém, através de intensivas rememorações, Eulálio busca reconstituir uma ancestralidade que remontaria ao século XVI, conforme o seguinte excerto:
Então começo a recapitular as origens mais longínquas da minha família, e em mil quatrocentos e lá vai fumaça há registro de um doutor Eulálio Ximenez d’Assumpção, alquimista e médico particular de dom Manuel I. Venho descendo sem pressa até o limiar do século XX, mas antes de entrar na minha vida propriamente, faço questão de remontar aos meus ancestrais por parte de mãe, com caçadores de índios num ramo paulista, num outro guerreiros escoceses do clã dos McKenzie (Buarque, 2009, p. 184-185).
A despeito dessa prospecção genealógica, convém não perder de vista o pano de fundo da vida propriamente dita de Eulálio, que se desenrola do governo de Afonso Pena até a gestão do presidente Lula. As oscilações entre figura e fundo permitem analisar as interações entre sujeito e história social.
Sugestivamente, no aniversário de seu centenário, Eulálio recebe da namorada de seu tataraneto uma garrafa de Château Margaux 1989. Esse vinho francês, de safra datada de 1989, mesmo ano das comemorações pelo centenário da República no Brasil, parece ironizar a matriz política francesa, tão cara aos republicanos brasileiros, desdenhando assim das promessas não efetivadas de “liberdade, igualdade e fraternidade”, como o Hino da República vaticinava, embora seus enunciadores nem cressem que “escravos outrora tenha havido em tão nobre país”, como foi destacado por Lilia Schwarcz (2008).
Repensar a tradição republicana a partir da literatura abre um campo de problematização diferencial para as discussões em torno da formação

Tatiana Sena ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014. 250
política brasileira e, principalmente, acerca da própria literatura, de seus nexos e/ou atritos com a perspectiva hegemônica da modernização desenvolvimentista nacional executada pelos governos republicanos.
Em algumas obras literárias das últimas décadas, a exemplo de Dois irmãos, de Milton Hatoum, Cidade de Deus, de Paulo Lins, e O filho eterno, de Cristóvão Tezza, a presença em negativo da narrativa da República coloca em tensão os enredos através da irrupção de outras temporalidades, que compõem o tempo “heterogêneo, irregular e denso” da nação contemporânea (Chatterjee, 2004, p. 74). De maneira sugestiva, essas produções literárias trabalham com a ideia de outros Brasis e de outras repúblicas, percepção que encontra ressonâncias também em análises teóricas atuais.
Como destacou o pesquisador Newton Bignotto, muitos romances contemporâneos, centrados no universo urbano, retomarão tais questionamentos, a fim de “mostrar como a narrativa da República esteve presente ao longo do século XX como uma questão fundante de nossa experiência histórica, mesmo se o que constatamos é o enorme vazio que parece povoar nosso universo simbólico e imaginário” (Bignotto, 2000, p. 11).
Em vista do exposto anteriormente, buscarei acompanhar os decursos temporais e espaciais da trajetória de Eulálio Montenegro d’Assumpção, delineando uma “topoanálise dos espaços da intimidade” (Bachelard, 1978, p. 253) desse velho centenário, a fim de entrecruzá-la com os espaços da história social. Como um arqueólogo dedicado, Eulálio desencava lembranças, a ponto de não saber “em qual camada da memória” (Buarque, 2009, p. 139) se encontrava. Por mais que esprema sua memória até o “bagaço”, Eulálio garante que ainda tem na “cabeça um baú repleto de reminiscências inéditas” (p. 185). O baú de Eulálio guarda também lembranças e esquecimentos da República.
Os itinerários memorialísticos de Eulálio o conduzem à fazenda da infância, ao casarão de Botafogo, ao chalé de Copacabana, aos apartamentos, primeiramente no bairro de Copacabana e depois no bairro da Tijuca, e, finalmente, à casa de um cômodo na periferia da cidade do Rio de Janeiro. Essas estações da memória são percorridas através dos devaneios do narrador, preso à cama de um hospital público.
Como destacou Foucault em conferência em 1967, “a época atual seria talvez de preferência a época do espaço” (Foucault, 2009, p. 411). Nas últimas décadas do século XX, esse prognóstico mostrou-se

–––––––––––– O baú da República
251 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014.
acertado, confirmando o predomínio da categoria do espaço na vida comum dos indivíduos e na produção do saber contemporâneo, processo que concorreu para a disseminação de um vocabulário marcadamente espacial.
Como apontou Ferrara (2008), a noção de espaço é construída na contemporaneidade pelas interconexões entre comunicação e cultura. Segundo Cury, “as questões relativas ao espaço são de fundamental importância para a produção cultural” (Cury, 2007, p. 8). Em textos ficcionais contemporâneos, a cidade foi elaborada não apenas como tema mas também como motivo de investigação formal.
Em Leite derramado, os itinerários de Eulálio, predominantemente na cidade do Rio de Janeiro, são bem eloquentes das mobilidades espaciais, subjetivas e sociais, configurando-se como uma errância, que pode ser compreendida a partir da “ideia de deslocamento físico ou mental, voluntário ou involuntário”, conforme assinalou Olivieri-Godet (2010, p. 189). No caso de Eulálio, sua errância é negativa e involuntária.
A narração principia com uma promessa: “Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância, lá na raiz da serra” (Buarque, 2009, p. 5). Nesse período, existem duas indicações espaciais relevantes para a compreensão sobre quem narra a história. A primeira delas é o advérbio de lugar “daqui”, a segunda indicação é a fazenda.
No longo parágrafo, que forma todo o primeiro capítulo, a localização dêitica é esclarecida. O narrador se encontra internado em um hospital. Diferente dos narradores tradicionais, na análise de Walter Benjamin (1994), nem mesmo a proximidade com a morte garante a Eulálio Montenegro d’Assumpção autoridade narrativa, visto que o discurso crítico da obra, elaborado indiretamente, concorre para questioná-lo. Como apontou Schwarz, a montagem do romance deixa visíveis as fissuras da “autoexposição ‘involuntária’ de um figurão”, acrescentando ainda que o “pressuposto dessa solução formal” exige uma “certa conivência maldosa entre o autor e o leitor esperto” (Schwarz, 2009).
Chico Buarque apoia-se também no sistema contextual literário, já que o “figurão” foi um tipo de personagem bastante explorado nas obras de Machado de Assis. Através dessa elaboração literária, é possível abordar “o homem da elite brasileira que detinha certo conhecimento livresco e que tentava obter vantagens imaginárias e reais apoiado nisso, restando, no entanto, o conflito de estar sempre isolado num país periférico” (Lima, 2010, p. 1169).

Tatiana Sena ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014. 252
Sua condição de enfermo situa-o numa posição limiar entre os “dois reinos”, pensando-se na leitura de Susan Sontag, para quem “a doença é o lado sombrio da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa”, existindo assim uma “dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes” (Sontag, 2007, p. 11). Nesse lugar extremo, o narrador desvincula-se das exigências sociais e pode falar sem restrições sobre o que pensa e sente. Por estar acamado, numa quase imobilidade, o narrador confidencia: “[É] triste ser abandonado assim falando com o teto” (Buarque, 2009, p. 139).
É possível compreender o exercício rememorativo de Eulálio através da categoria de “intra-moção”, na expressão cunhada por Nubia Hanciau e que Cury retomou para falar de
romances que, tematizando deslocamentos espaciais (e temporais), também encenam uma busca subjetiva, um movimento “para dentro” na busca do espaço interior de seus narradores e personagens/protagonistas, discursos de memória em que estranhamente é a representação do presente o objeto de disputa (Cury, 2007, p. 12).
A rememoração coordena simultaneamente o movimento introspectivo e o movimento retrospectivo, retirando o narrador da inércia e da apatia que o internamento prolongado ocasiona. Eulálio movimenta-se numa trajetória para dentro e para trás e perde-se em rotas interiores, palmilhando antigas paisagens de um passado reconstituído.
A partir da concepção benjaminiana de alegoria como ruína, é possível dizer que as temporalidades inscritas em Leite derramado plasmaram imagens derrisórias, recuperadas pela memória e revistas com avidez por Eulálio. Segundo Benjamin, “como ruína, a história se fundiu sensorialmente com o cenário. Sob essa forma, a história não constitui um processo de vida eterna, mas de inevitável declínio” (Benjamin, 1984, p. 200).
A linguagem alegórica diz o outro pelo que falta, pela perda, impossibilitando o fechamento do sentido do texto. Como ressaltou Jeanne-Marie Gagnebin, “a linguagem alegórica extrai sua profusão de duas fontes que se juntam num mesmo rio de imagens: da tristeza, do luto provocado pela ausência de um referente último; da liberdade lúdica, do jogo que tal ausência acarreta para quem ousa inventar novas leis transitórias e novos sentidos efêmeros” (Gagnebin, 1994, p. 45). Em Leite derramado, luto e jogo (re)ativam imagens pretéritas e confundidas da história de Eulálio e da história da República no Brasil.

–––––––––––– O baú da República
253 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014.
A doença de Eulálio pode ser entendida como uma alegoria para o estado terminal de uma mentalidade obsoleta, alicerçada em valores provenientes de instituições coloniais, cujo patriarcalismo e escravismo instituíram o “romance doméstico” brasileiro (Sommer, 2004). No hospital, local limite, Eulálio narra o declínio, a morte, a ruína. Por isso, sua promessa no início da narrativa dirige-se para a fazenda onde viveu uma infância que considera feliz, justamente por ainda estar intacta a visão de mundo norteadora de sua existência.
Como a narrativa de Eulálio evidencia, através de sua suposta promessa a uma enfermeira que talvez o ouvisse, a fazenda era um espaço de prestígio e de poder. Ele expõe em minúcias as regalias de que ela iria dispor, caso aceitasse sua proposta: “Você vai dispor dos rendados, dos cristais, da baixela, das joias e do nome da minha família. Vai dar ordens aos criados” (Buarque, 2009, p. 5). Em outra passagem, o narrador acrescenta:
Meu avô foi um figurão do Império, grão-maçom e abolicionista radical, queria mandar todos os pretos brasileiros de volta para a África, mas não deu certo. Seus próprios escravos, depois de alforriados, escolheram permanecer nas propriedades dele. Possuía cacauais na Bahia, cafezais em São Paulo, fez fortuna, morreu no exílio e está enterrado no cemitério familiar da fazenda na raiz da serra, com a capela abençoada pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Seu ex-escravo mais chegado, o Balbino, fiel como um cão, ficou sentado para sempre sobre a tumba dele (Buarque, 2009, p. 15-16).
A fazenda da serra é a relíquia do avô e a marca do passado colonial e imperial, monumento de uma configuração de poder marcadamente racista. A partir das contribuições teóricas de Foucault (1999, 2008), compreendo o racismo como um dispositivo biopolítico, que permitiu ao Estado moderno exercer a função de morte. Na teoria clássica da soberania, o direito de vida e de morte sobre o súdito pertencia ao soberano. Entretanto a soberania como modalidade de poder seria ineficiente para reger uma sociedade em via de industrialização. Para Foucault,
uma das mais maciças transformações do direito político do século XIX consistiu, não digo exatamente em substituir, mas em completar esse velho direito de soberania – fazer morrer ou deixar viver – com outro direito novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai

Tatiana Sena ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014. 254
ser um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso: poder de “fazer” viver e de “deixar” morrer (Foucault, 1999, p. 287).
Dessa forma, fizeram-se necessárias duas acomodações dos mecanismos de poder: a primeira disciplinadora (tecnologia disciplinar) e a segunda reguladora (tecnologia biopolítica), ambas centradas no corpo. Esse processo concorreu para a formação de um discurso específico, cuja linguagem codificou moralmente os traços fenotípicos diferenciais, a fim de regulamentar um efeito político.
Embora a fazenda seja um local constantemente relembrado na moderna literatura brasileira, como é o caso de Menino de engenho, de José Lins do Rego, são tornadas invisíveis as marcas da violência e do terror escravista, que acabam por se inscrever fantasmaticamente na narrativa álacre do ponto de vista senhorial.
A riqueza da família Assumpção foi construída através do tráfico escravagista, tendo sido seu bisavô um “barão negreiro” (Buarque, 2009, p. 62), envolvido na captura de “peças” em Moçambique, embora o narrador faça questão de enfatizar que “o dinheiro dos Assumpção sempre foi limpo” (Buarque, 2009, p. 78). A insígnia desse poder está materializada no chicote com correia trançada de couro de antílope e com uma flor-de-lis gravada no cabo, considerada uma “relíquia familiar” (Buarque, 2009, p. 102), transmitida através de gerações.
Significativamente, o pai de Eulálio guardava esse chicote na biblioteca, “atrás da enciclopédia Larousse” (Buarque, 2009, p. 102). A flor-de-lis é um símbolo francês e adornava instrumentos de torturas do terror escravista. O Código Negro (Code Noir), instituído por Luís XIV, no seu artigo 38, prescrevia como punição para escravos fugitivos a marcação em brasa da flor-de-lis nas costas.
Chico Buarque aproxima-se de Machado de Assis na perlaboração da memória da escravidão, destacando sua resiliência, haja vista “os passados não ditos, não representados, que assombram o presente histórico” (Bhabha, 2005, p. 34). Não se pode perder de vista que a escravidão como instituição social organizou a vida econômica e política na terra que viria a ser designada como Brasil desde o século XVI.
Se “a escravidão levou consigo aparelhos e ofícios”, como ironicamente sugeriu Machado de Assis, em 1906, no conto “Pai contra mãe”, bem mais duradouros se mostram os valores e as práticas que estruturaram aquela instituição social, visto que, extinta por decreto,

–––––––––––– O baú da República
255 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014.
seus códigos e sistemas não deixaram de lastrear o cotidiano brasileiro nos contextos pós-abolicionistas, reemergindo em formas diferenciadas.
Em Leite derramado, existe uma “negação de contemporaneidade” (Fabian apud Mignolo, 1995, p. 11) evidente na relação intersubjetiva entre as gerações de Eulálios e Balbinos. O narrador relembra os açoites que o avô infligia ao “velho Balbino”:
O Balbino nem era mais escravo, mas dizem que todo dia tirava a roupa e se abraçava num tronco de figueira, por necessidade de apanhar no lombo. E vovô batia de chapa, sem malícia na mão, batia mais pelo estalo que pelo suplício. Se quisesse lanhar, imitaria seu pai, que quando pegava negro fujão, açoitava em grande estilo. O golpe mal estalava, era um assobio no ar o que se ouvia, meu bisavô Eulálio apenas riscava a carne do malandro com a ponta da correia, mas o vergão ficava sempre (Buarque, 2009, p. 102).
No romance Leite derramado, as construções subjetivas pautadas na relação com o outro subalterno são inegáveis. Como o narrador explica, o escravo Balbino adotou o sobrenome Assunção, “na forma assim mais popular, [...] como a pedir licença para entrar na família sem sapatos” (Buarque, 2009, p. 18), acrescentando que “[c]urioso é que seu filho, também Balbino, foi cavalariço do meu pai. E o filho deste, Balbino Assunção Neto, um preto meio roliço, foi meu amigo de infância” (Buarque, 2009, p. 18). A “amizade” entre os dois foi construída na fazenda, onde Eulálio pedia um “favor à-toa”, a fim de agradar a “índole prestativa” de Balbino (Buarque, 2009, p. 19).4
Discursos históricos, como os escritos de um ilustre abolicionista, podem ajudar a compreender como, mesmo para aqueles favoráveis à “emancipação”, a dependência subjetiva do escravo era inegável. Em O Abolicionismo, ensaio publicado em 1883, por exemplo, Joaquim Nabuco afirmou que a emancipação dos escravos garantiria “a eliminação simultânea dos dois tipos contrários, e no fundo os mesmos: o escravo e o senhor” (Nabuco, 2003, p. 39). O mesmo Nabuco, em Minha formação, autobiografia publicada em 1900, confidenciaria que, extinta a escravidão, experimentou uma “nostalgia singular”, traduzida como “saudade do escravo” (Nabuco, 1900, p. 216).
4 Impossível não ressaltar a repetição dessa cena formativa em Memórias póstumas de Brás Cubas, designadamente no capítulo “O menino é pai do homem”, no qual Brás Cubas se dispõe a explicitar alguns lineamentos da sua infância, de como cresceu “naturalmente”.

Tatiana Sena ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014. 256
Em Leite derramado, embora a miragem fausta da fazenda tenha se esboroado: “E mesmo a fazenda na raiz da serra, acho que desapropriaram em 1947 para passar a rodovia” (Buarque, 2009, p. 7), as configurações de poder engendradas no contexto colonial e imperial lastreiam, de maneira diferenciada, o cotidiano da República.
É extremamente significativo que a instituição da forma republicana tenha acontecido no ano seguinte à Abolição. A Proclamação da República marcou um ponto de inflexão na história política brasileira, visto que a opção pela simbologia do progresso e do futuro ficou evidente, assim como ficou explícito o recalcamento da memória da escravidão, como um passado a ser totalmente esquecido. A memória da escravidão é um fantasma na narrativa nacional republicana.
Em vista disso, vale a pena acompanhar as idas e vindas da memória senhorial plasmada por Eulálio. Da grande fazenda à casa de um só cômodo no subúrbio, delineia-se uma mobilidade descensional. Leite derramado é mais uma narrativa da decadência. Chico Buarque insere-se, diferencialmente, numa tradição literária bastante fecunda na literatura brasileira, como já Antonio Candido destacou: “Sempre me intrigou o fato de um país novo como o Brasil, e num século como o nosso, a ficção, a poesia, o teatro produzirem a maioria das obras de valor no tema da decadência – social, familiar, pessoal” (Candido, 1979, p. VII).
Embora a voz narrativa pertença a um herdeiro nostálgico de seu prestígio, a construção discursiva do romance não referenda essa perspectiva, explicitando os dilemas éticos nessa trajetória em que a proeminência autoatribuída não condiz mais com o tratamento recebido por outras pessoas.
Outra estação nesse itinerário rememorativo é o casarão neoclássico de Botafogo, construído pelo pai de Eulálio, resíduo da belle époque da República Velha. O luxo e a ostentação objetivam civilizar o Rio de Janeiro pela reprodução de um modelo urbano cuja referência é a França. Como o narrador faz questão de descrever: “Ali há quartos enormes, banheiros de mármore com bidês, vários salões com espelhos venezianos, estátuas, pé-direito monumental e telhas de ardósia importadas da França” (Buarque, 2009, p. 6).
Assim como a fazenda, o casarão não existe mais enquanto tal, como Eulálio depois recorda: “Há palmeiras, abacateiros e amendoeiras no jardim, que virou estacionamento depois que a embaixada da Dinamarca mudou para Brasília” (Buarque, 2009, p. 6). Eulálio registra

–––––––––––– O baú da República
257 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014.
as perdas e as transformações dos locais onde sua memória perscruta as imagens do passado: “Aliás, bem em cima do nosso próprio terreno levantaram um centro médico de dezoito andares, e com isso acabo de me lembrar que o casarão não existe mais” (Buarque, 2009, p. 6).
O pai de Eulálio foi um “notável da República” (Buarque, 2009, p. 57), para quem as portas estiveram “apenas encostadas”, devido ao nome influente da família, Assumpção, com “p” mudo, para diferenciar-se dos “populares” como Balbino. Contudo, o espólio da família Assumpção foi liquidado com a quebra da Bolsa de Nova York, iniciando o declínio financeiro.
Dentre todos os espaços que Eulálio revisita na narração, o chalé de Copacabana é o seu “lugar de memória” (Nora, 1993) por excelência, consagrado à lembrança de Matilde, “uma garota incrivelmente desejável, feita de quase nada”, como a descreveu Schwarz (2009). Porém, justamente por essa evanescência, Matilde é obsessivamente perseguida por Eulálio, que insiste em reter seu corpo e fixar sua imagem. Depois de casados, foram viver no chalé, onde se agarravam “na cozinha, na sala, na escada, horas e horas no banho” (Buarque, 2009, p. 63).
Após a inexplicável desaparição de Matilde, a lembrança da esposa o assaltava em cada cômodo da casa, para onde levou algumas mulheres, que inclusive usaram a roupa de Matilde, numa tentativa de preencher o vazio provocado pela sua ausência. Sem a mulher, “o chalé outrora tão solar foi se deteriorando” (Buarque, 2009, p. 94), rodeado pelos edifícios altos e luxuosos que requalificaram urbanisticamente o bairro de Copacabana. A despeito dessas transformações na paisagem, era “a sombra de Matilde” (Buarque, 2009, p. 94) que Eulálio via projetada sobre o chalé.
Por insistência da filha, Maria Eulália, que desde a adolescência achava “meio jeca” morar numa casa com quintal, Eulálio desfaz-se do chalé: “Então me rendi, vendi a residência dos meus sonhos” (Buarque, 2009, p. 124). Dessa residência, o narrador conservou a mobília antiga, o retrato do avô e, como confidenciou: “[A]pós alguma hesitação, levei também o armário com os vestidos da minha mulher, o criado-mudo com suas joias na gaveta” (p. 124).
Na demolição do chalé, a casa, o corpo e as lembranças do narrador se confundem, numa amálgama afetivo. As residências arruinadas – fazenda, casarão, chalé – compõem uma geografia imaginária de escombros, que o narrador revolve, à procura dos fragmentos de uma felicidade pretérita.

Tatiana Sena ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014. 258
Da janela do meu prédio vizinho, eu assistira à demolição do chalé, vi cheio de pudor meu quarto com Matilde destelhado, vi ruir nossa laje, nossas paredes se desmanchando em pó e as fundações quebradas à picareta. No lugar dele subiu um edifício modernista, tomei por uma delicadeza do arquiteto a construção suspensa sobre pilotis, para não soterrar de vez minhas recordações (Buarque, 2009, p. 151).
A arquitetura modernista substitui a arquitetura neoclássica da primeira remodelação urbana realizada pelo governo republicano, marcando um novo ponto de inflexão da empreitada modernizadora do país. A nova arquitetura funcionalista, de matriz corbusieana, é a expressão do futuro nos projetos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. As edificações, elevadas por pilotis, projetam-se no espaço como imponentes marcos dos artifícios modernizantes.
Todavia, Eulálio estava preso às casas antigas, de tempos passados. Com a demolição do chalé, Eulálio mudou-se para um edifício de apartamentos, não sem muita resistência, já que considerava essas habitações “promíscuas”. É o fim da exclusividade, por mais luxuoso que seja o condomínio, por mais que supostamente se esteja entre pares, já que a lógica dos signos de distinção não é mais a mesma. Uma cena é exemplar desses estranhamentos:
O edifício tem lá sua classe, com o hall de entrada metido a art déco, os vizinhos são discretos, os porteiros limpinhos. Trata-se enfim de um ambiente seleto, e era natural que me causasse espécie entrar comigo no elevador um grandalhão com cara de nortista, nariz chato, pele grossa. Indiquei-lhe o elevador de serviço, mas ele me deu as costas e apertou o botão do meu oitavo andar (Buarque, 2009, p. 141-142).
O grandalhão com cara de nortista era um “jogador de futebol meio caboclo” (Buarque, 2009, p. 143) e não apenas se dirigia ao andar “dele” como também namorava sua filha Maria Eulália. Todavia, esse apartamento na Zona Sul ficaria para trás, substituído por um apartamento na Tijuca, bairro da Zona Norte, já que Eulálio começou a ser desprezado socialmente, além de ter recebido queixas do condomínio, como explicou o narrador: “Porque o Xerxes, quando bebia, costumava bater na minha filha, mas em bairros mais populares cenas do gênero são corriqueiras, não escandalizam ninguém” (p. 143).

–––––––––––– O baú da República
259 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014.
O apartamento da Tijuca seria arrombado pela polícia, à procura do neto comunista, alvo da repressão da ditadura militar. Posteriormente, Eulálio foi desapropriado desse apartamento, devido à cobrança de uma dívida contraída pelo seu tataraneto, que dera o imóvel como caução ao agiota, pastor Adelton. Num gesto de compaixão com os velhos moradores, o já então centenário Eulálio e a filha, o pastor Adelton ofereceu “um teto provisório”. “Tratava-se de uma casa de um só cômodo pegada à sua igreja nos arredores da cidade” (Buarque, 2009, p. 176).
A narração de Eulálio para essa migração é emblemática. A outra paisagem se descortina, conforme o seguinte trecho: “A diferença era que ao nosso redor a cidade agora não acabava mais, grassavam casebres de alvenaria crua e sem telhado, onde antes havia clubes campestres e chácaras aprazíveis” (Buarque, 2009, p. 177). A perplexidade de Maria Eulália com a precariedade das habitações e com os novos vizinhos merece do pai um comentário: “São os pobres, expliquei, mas para minha filha eles podiam ao menos se dar o trabalho de caiar suas casas, plantar umas orquídeas” (p. 177).
O valão era um rio quase estagnado de tão lamacento, quando se deslocava dava a impressão de arrastar consigo as margens imundas. Era um rio podre, contudo eu ainda via alguma graça ali onde ele fazia a curva, no modo peculiar daquela curva, penso que a curva é o gesto do rio. E assim o reconheci, como às vezes se reconhece num homem velho o trejeito infantil, mais lento apenas. Aquele era o ribeirão da minha fazenda na serra raiz (Buarque, 2009, p. 177-178).
O périplo descensional se completa com o retorno à terra que esconde os escombros da fazenda da “feliz infância”. Descendente direto da aristocracia rural, o corpo envelhecido e pauperizado de Eulálio serve como metáfora de uma classe senhorial descentrada. Por isso mesmo, é compreensível sua confissão: “[...] me trouxe um certo conforto saber que debaixo do meu chão estava o cemitério onde meu avô repousava” (Buarque, 2009, p. 178). Em outra passagem, o narrador chega até a brincar que de tanto o vira-lata cavoucar a terra, “exumaria os ossos do meu avô, e de lambuja os de Balbino seu escravo” (p. 179).
No banheiro dessa casa modesta, Eulálio buscará a “derradeira visão de Matilde” (Buarque, 2009, p. 137), esfregando-se contra a parede chapiscada, a fim de espreitar a imagem fugidia de sua esposa ausente. O narrador assevera: “Digo aos senhores que conheci o vasto mundo, vi

Tatiana Sena ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014. 260
paisagens sublimes, obras-primas, catedrais, mas ao fim e ao cabo meus olhos não têm recordação mais vívida que a de uns cavalos-marinhos nos azulejos do meu banheiro” (p. 180). Atrás dessa visagem, desequilibra-se, quebrando a perna direita. Conduzido ao hospital público, Eulálio devaneia, narra sua vida, buscando alcançar a sombra de Matilde.
Matilde, essa personagem “feita de quase nada” (Schwarz, 2009), de hábitos culturais considerados reles pelo marido, assombra a narrativa. Não por acaso, Matilde é aquela “escurinha” que foi criada “como se fosse da família” (Buarque, 2009, p. 192), que escolhe verter o leite a amamentar a filha de Eulálio. Matilde é um fantasma da República, um fantasma que fala dos desejos e das repulsas da narrativa engendrada pela República, deixando visível o “espaço liminar de significação, que é marcado internamente pelos discursos de minorias, pelas histórias heterogêneas de povos em disputa por autoridades antagônicas e por locais tensos de diferença cultural” (Bhabha, 2005, p. 209-210).
Os fantasmas sempre retornam para exigir que se cumpram as promessas republicanas, rejeitando a oligárquica modernidade política brasileira e os ditames positivistas que garantem sua “ordem e progresso” e que mantêm sempre invisíveis, ou à margem, as demandas históricas dos vencidos por renovação e por justiça social efetivas.
Referências
ASSIS, Machado de (2008). Memórias póstumas de Brás Cubas. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.
BACHELARD, Gaston (1978). A poética do espaço. Coleção Os pensadores São Paulo: Abril Cultural.
BENJAMIN, Walter (1984). Alegoria e drama barroco. In: Origem do drama barroco alemão. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense.
______ (1994). Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas, vol. 1. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense.
BHABHA, Homi (2005). O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG.
BIGNOTTO, Newton (org.) (2000). Pensar a República. Belo Horizonte: Editora UFMG.

–––––––––––– O baú da República
261 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014.
BOSI, Ecléa (1987). Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: T. A. Queiroz, EDUSP.
BUARQUE, Chico (2009). Leite derramado. São Paulo: Companhia das Letras.
CANDIDO, Antonio (1979). Introdução. In: MICELI, Sérgio. Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945). São Paulo: Difel.
CHATTERJEE, Partha (2004). Colonialismo, modernidade e política. Salvador: Edufba, CEAO.
CURY, Maria Zilda Ferreira (2007). Novas geografias narrativas. Letras de hoje, Porto Alegre, v. 42, n. 4, p. 7-17.
FOUCAULT, Michel (1999). Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes.
______ (2008). Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes.
______ (2009). Outros espaços. In: Estética: literatura e pintura, música e cinema. Coleção Ditos e escritos, v. III. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie (1994). História e narração em Walter Benjamin. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: Perspectiva.
HOMEM, Wagner (2009). Histórias de canções: Chico Buarque. São Paulo: Leya.
ISER, Wolfgang (1996). O fictício e o imaginário: perspectiva de uma antropologia literária. Rio de Janeiro: EdUERJ.
LIMA, Ludmylla Mendes (2010). Machado de Assis, um pós-iluminista precoce. In: JORNADAS ANDINAS DE LITERATURA LATINO-AMERICANA, 9., Rio de Janeiro, 2 a 6 ago.
MIGNOLO, Walter D. (1995). Globalização, processos de civilização, línguas e culturas. Cadernos CRH, Salvador, n. 22, p. 9-30.
NABUCO, Joaquim (1900). Minha formação. Rio de Janeiro: Garnier. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01206700>. Acesso em: 12 jan. 2014.
______ (2003). O abolicionismo. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial.
NORA, Pierre (1993). Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto história, São Paulo, n. 10, p. 7-28.
OLIVIERI-GODET, Rita (2010). Errância/migrância/migração. In: BERND, Zilá (org.) Dicionário das mobilidades culturais: percursos americanos. Porto Alegre: Literalis.

Tatiana Sena ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 247-262, jan./jun. 2014. 262
SCHWARCZ, Lilia K. Moritz (2008). Apresentação: Imaginar é difícil (porém necessário). In: ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. Tradução de Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras.
SCHWARZ, Roberto (2009). Brincalhão, mas não ingênuo. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. Ilustrada, p. 6-7. Disponível em: http://www.chicobuarque.com.br/critica/crit_leite_fsp_SCHWARZ.htm. Acesso em: 31 jul. 2013.
SOMMER, Doris (2004). Ficções de fundação: os romances nacionais da América Latina. Belo Horizonte: Editora UFMG.
SONTAG, Susan (2007). Doença como metáfora/AIDS e suas metáforas. São Paulo: Companhia das Letras.
Recebido em dezembro de 2012. Aprovado em junho de 2013. resumo/abstract
O baú da República: mobilidades e memórias em Leite derramado
Tatiana Sena
O artigo analisa o entrelaçamento entre memória e espaço no romance Leite derramado, de Chico Buarque, argumentando que os decursos temporais e espaciais da trajetória do centenário narrador-protagonista, Eulálio Montenegro d’Assumpção, delineiam uma cartografia política do Brasil, com especial ênfase na modernidade republicana.
Palavras-chave: memória cultural, espaço, política republicana, Chico Buarque.
The chest of the Republic: mobilities and memories in Leite derramado
Tatiana Sena
The article examines the intertwining of memory and space in the novel Leite derramado, by Chico Buarque, arguing that the spatial mobilities and the temporalities in the trajetory of the centenary narrator-protagonist, Eulalio Montenegro d’Assumpcao, outline a political cartography of Brazil, with special emphasis on Republican modernity.
Keywords: cultural memory, space, republican politics, Chico Buarque.

A impossibilidade de se dizer o indizível: reflexões sobre o duplo na novela “O unicórnio”, de Hilda Hilst
Willian André1
O mundo nos escapa porque volta
a ser ele mesmo.
Albert Camus Publicada em Fluxo-floema (1970), primeiro volume em prosa da
autora, a novela “O unicórnio”, de Hilda Hilst, embrenha-se por um fluxo de consciência intrincado. As divagações e memórias que nos são apresentadas ao longo de seu único parágrafo – que se estende por páginas a fio – não permitem a delimitação de um enredo: a partir de sua estrutura inicial, percebemos apenas a voz de uma narradora – cujo nome desconhecemos – intercalada por uma segunda voz (que parece pertencer também a uma mulher), como se estivessem constituindo uma espécie de entrevista/diálogo. Com um tom amargo, e muitas vezes poético, a narradora conta à outra fragmentos de sua vida, relacionando-os com frequência a três personagens que fizeram parte de seu passado, aos quais ela chama “meu companheiro”, “minha irmã lésbica” e “meu irmão pederasta” (principalmente em relação aos dois últimos, ela parece guardar forte ressentimento). Em certo ponto da narrativa, seu corpo começa a mudar, e ela de repente se vê transformada em um enorme unicórnio. Guardando poucas semelhanças com as figurações do unicórnio que permeiam nosso imaginário, a besta que brota da metamorfose é suja e desproporcional, e sob a insólita égide dessa nova forma prosseguem as divagações da narradora até o fim da novela, que a surpreende em sua morte.
A princípio, é a metamorfose que nos interessa. Essa súbita transformação da narradora em unicórnio, a entendemos aqui como manifestação do duplo no texto estudado. Antes de dar início à leitura da novela, portanto, consideramos pertinente tecer algumas considerações acerca da presença do duplo na literatura, e o fazemos com base nas palavras de Nicole Fernandez Bravo, que discorre sobre o tema no 1 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Letras – Estudos Literários da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina, PR, Brasil. Bolsista Capes. E-mail: [email protected]

Willian André ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014. 264
Dicionário de mitos literários organizado por Pierre Brunel. Segundo a autora, é frequente o entrelaçamento do duplo com situações que envolvem metamorfose:
O tema da metamorfose e sua relação com o animal cruza-se aqui com o mito do duplo. O homem traz em si seu animal (como vemos em Lokis [1869], de Mérimée). Ele aparece facilmente no século XX como um mutante (por exemplo, em Die Verwandlung [A Metamorfose, 1911] de Kafka, em Axolotl [1963] de J. Cortazar) que se torna prisioneiro de um outro corpo, ou mesmo se transforma numa parte de corpo (em Nos [O nariz, 1836], de Gogol, em The breast [O seio, 1972], de P. Roth), sem degradação do que constitui a característica própria do homem: o pensamento (Bravo, 2005, p. 281).
Essa “relação com o animal” a que se refere o excerto remeteria, a princípio, a uma “união primitiva”, à “lembrança de uma simbiose entre o animal e o humano” (Bravo, 2005, p. 262), que carrega uma ideia de totalidade: o amálgama do eu com o outro, o casamento entre homem e natureza. Pensando dessa forma, o desabrochar do duplo pelas vias da metamorfose implicaria a “busca do melhor eu” (Bravo, 2005, p. 275). Como veremos nas próximas páginas, a metamorfose que ocorre em “O unicórnio” pode, de fato, significar uma tentativa da narradora de buscar uma “versão” melhor de si. Essa busca, todavia, está fadada ao fracasso: uma das grandes problemáticas instauradas pela novela é a fragmentação da identidade – a impossibilidade demonstrada pela narradora de enxergar-se como ser homogêneo. O “melhor eu”, dessa forma, seria aqui um eu em que essa homogeneidade fosse perceptível. Por mais que se embrenhe em sua busca, todavia, a impressão de totalidade pretendida pela narradora não é alcançada.
Contemplando as diversas facetas assumidas pelo duplo em literaturas de diferentes épocas, Bravo assinala: “A partir do término do século XVI, o duplo começa a representar o heterogêneo, com a divisão do eu chegando à quebra da unidade (século XIX) e permitindo até mesmo um fracionamento infinito (século XX)” (Bravo, 2005, p. 264). É justamente desse duplo enquanto evidência de um fracionamento infinito que tratamos aqui. Conforme Bravo, “[a] abertura para o espaço interior do ser [...] força ao abandono progressivo do postulado da unidade da consciência, da identidade de um sujeito, única e transparente” (Bravo, 2005, p. 267). Frente à súbita impossibilidade de construir uma representação totalizante do mundo que o cerca, o sujeito

–––––––––––– A impossibilidade de se dizer o indizível
265 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014.
moderno vê-se impedido de enxergar também em si próprio uma identidade homogênea. Refletindo o caráter fragmentário de tudo o que o cerca, acaba por fracionar-se, multiplicar-se em infindáveis outros eus. Dessa forma, “[o] eu soberano que se expressava no cogito dá lugar ao ‘quem fala por mim?” (Bravo, 2005, p. 279).
A autora observa, ainda, que há duas formas mais imediatas de encarar esse fracionamento. A primeira delas carrega certo otimismo: aceitar o esfacelamento da unidade como uma perspectiva diferenciada de se experienciar o mundo. O exemplo utilizado é o romance O lobo da estepe, de Hermann Hesse (Der Steppenwolf, 1927): “[É] preciso superar o mito da unidade do eu, diz Hesse, a projeção alienante da unidade do corpo naquela do espírito; somos feitos de uma multiplicidade de almas” (Bravo, 2005, p. 281). A outra interpretação possível, segundo Bravo, é mais sombria: a “eliminação do eu pela apropriação do duplo” (Bravo, 2005, p. 281). Como exemplo desse “apagar-se do eu”, ela menciona Samuel Beckett, autor irlandês cuja obra possui um teor bastante próximo àquele encontrado nos textos de Hilda Hilst. Comentando as narrativas de Beckett, Bravo observa:
Aquele que diz “eu” trai-se forçosamente, sem controle sobre todas as vozes que o habitam e falam a torto e a direito dentro dele. O eu é esvaziado de sua substância, esvaziado de ser, e já não aparecem em cena mais do que tecidos esparsos que se fazem passar pelo eu. Estamos aqui nos antípodas da ambição totalizadora dos românticos, do mito do eu infinito em consonância com o mundo. O duplo simboliza a dúvida sobre o real. O eu, puro discurso, está no cruzamento de uma trama de vozes (Bravo, 2005, p. 283).
Tais reflexões parecem conceder-nos medida adequada para pensar a manifestação do duplo em “O unicórnio”, pois, assim como ocorre nos escritos de Beckett, também na narrativa hilstiana se dissolve o eu homogêneo, detentor das verdades e certezas, dando lugar a um conjunto de vozes confusas, órfãs, que provocam a constante sensação de instabilidade. A fragmentação é marca presente ao longo de toda a narrativa: a começar pela própria voz que narra, que não é apenas uma. Como já observamos, divide tal função com a narradora uma segunda voz, pertencente a uma interlocutora/entrevistadora, como podemos perceber logo nas primeiras linhas da novela:
Eu estou dentro do que vê. Eu estou dentro de alguma coisa que faz a ação de ver. Vejo que essa coisa vê algo que lhe traz

Willian André ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014. 266
sofrimento. Caminho sobre a coisa. A coisa encolhe-se. Ele era um jesuíta? Quem? Esse que maltratou a Teresa D’Ávila? Sim, ele era um jesuíta. Vontade de falar a cada hora daqueles dois irmãos. Isso te dá prazer? Não, nenhum prazer (Hilst, 2003a, p. 147).
O texto é iniciado por uma sequência de frases curtas, por meio das quais a narradora tenta expressar/pôr em palavras uma experiência que não lhe é muito clara: ela diz que está “dentro de alguma coisa que faz a ação de ver”. Diz que caminha sobre a coisa e que a coisa se encolhe, mas não é capaz de explicar o que é a coisa. Súbito, uma segunda voz irrompe: “Ele era um jesuíta?”. Essa voz causa um efeito de interrupção nas divagações a respeito da “coisa” em que se embrenhava a narradora, e sugere que o diálogo/entrevista que a partir de então começamos a acompanhar já vinha se desenvolvendo antes, em um momento anterior à narrativa. Afinal, a pergunta “Ele era um jesuíta?” parece remeter/dar continuidade a um assunto já iniciado. A resposta da narradora ao questionamento permite-nos vislumbrar com maior clareza esse assunto de que tratavam: “Quem? Esse que maltratou a Teresa d’Ávila? Sim, ele era um jesuíta”. A referência ao nome de Teresa d’Ávila sugere, portanto, que a conversa girava em torno da vida da famosa religiosa espanhola que viveu no século XVI.
Logo após responder a pergunta feita pela interlocutora, a narradora propõe, de forma abrupta, nova mudança no direcionamento do diálogo: “Vontade de falar a cada hora daqueles dois irmãos”, sentença que é seguida por mais uma pergunta: “Isso te dá prazer?”, que leva à resposta: “Não, nenhum prazer”. “Aqueles dois irmãos” sobre os quais a narradora sente vontade de falar são os já mencionados “irmão pederasta” e “irmã lésbica”. Muitas das lembranças que ela trará à tona circundarão, como já observamos, tais personagens. Não nos atenhamos, todavia, à continuidade do diálogo. O que pretendemos demonstrar, ao propor o esmiuçar das primeiras linhas da novela, é o quanto a fragmentação se faz presente em sua constituição. Podemos identificar pelo menos dois níveis de fragmentação no excerto analisado: primeiro, como já observamos, no fato de a narrativa fracionar-se, desdobrar-se em duas vozes. Segundo, na constante mudança de temas que permeia a conversa mantida pelas duas personagens.
Esse caráter fragmentário do texto parece possuir reflexos na identidade da própria narradora. Em certo trecho, lembrando-se novamente dos dois irmãos, ela se dirige à interlocutora: “Você sabe

–––––––––––– A impossibilidade de se dizer o indizível
267 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014.
que eles ficaram com todos os meus livros? Não devolveram nenhum? Um só: ‘o herói de mil caras’. Eles também sabem quem eu sou, mil caras sim senhores, mil caras para suportar, gozar e salvar mil situações” (Hilst, 2003a, p. 168). O título do livro mencionado é uma provável referência à obra O herói de mil faces (The hero of a thousand faces,1949)., de Joseph Campbell, que consiste num estudo dos temas que se repetem nas diferentes mitologias, partindo de um ponto de vista psicológico. Para além da contextualização, todavia, a referência parece evidenciar tanto a fragmentação da identidade da narradora quanto a consciência que ela possui dessa fragmentação. Afinal, assumir-se como possuidora de “mil caras” é assumir a impossibilidade de enxergar-se como ser homogêneo. “Mil caras para suportar, gozar e salvar mil situações”, diz ela, talvez denunciando a percepção da existência como um grande baile de máscaras.
Provável fruto dessa impossibilidade de enxergar em si uma totalidade coesa, rege as linhas de “O unicórnio” certa incapacidade de significar, de expressar-se com clareza: “Ah, como eu desejaria ser uma só, como seria bom ser inteiriça, fazer-me entender, ter uma linguagem simples como um ovo. Um ovo? É, um ovo é simples, a casca por fora, a gema e a clara por dentro” (Hilst, 2003a, p. 148). O excerto recupera a menção à identidade multifacetada: a narradora não é capaz de ser “uma só”. Portadora de mil caras, não é capaz de fazer-se entender. Parece relacionar-se à ideia da fragmentação, dessa forma, a ideia de uma linguagem limitada: não ver o mundo como coisa homogênea leva à incapacidade de ver em si própria um eu “inteiriço”, e culmina na impossibilidade de expressar-se também de forma inteiriça. A narradora não pode tomar mão de “uma linguagem simples como um ovo” porque é dona de uma identidade complexa. O abandono de uma máscara fixa e a aceitação das “mil caras”, assim, leva à impossibilidade de se expressar.
A partir dessas reflexões, chegamos à experiência da linguagem como falha. O conflito existencial configurado na experiência dessa narradora sem nome e sem identidade definida traduz-se, na elaboração da linguagem hilstiana, em termos de impossibilidade. A forma estilhaçada em que se apresenta a narrativa de “O unicórnio”, multiplicando-se em fragmentos e vozes, denuncia a incapacidade dessa linguagem de constituir um todo plenamente compreensível. Deixamos, subitamente, de concebê-la como grande desveladora das verdades

Willian André ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014. 268
ocultas do mundo, e percebemos sua condição mais profunda, que é de ser limitada: diante de um mundo inapreensível, criamos a linguagem para “tentar compreender” (ou para “tentar significar”). Em nenhum momento, todavia, conseguimos desvendar a verdade sobre as coisas: o que fazemos é criar nossa própria verdade, construir uma única interpretação de um grande mosaico que se abre a interpretações infinitas. Enveredando-se por essas trilhas tortuosas, Nietzsche reflete, em “Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral”:
Que é então a verdade? Um exército móvel de metáforas, de metonímias, de antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações humanas que foram poética e retoricamente intensificadas, transportadas e adornadas e que depois de um longo uso parecem a um povo fixas, canónicas e vinculativas: as verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais, metáforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu sentido, moedas que perderam o seu cunho e que agora são consideradas, não já como moedas, mas como metal (Nietzsche, 1997, p. 221).
Ao longo de seu ensaio, de 1873, o autor alemão reflete sobre a condição parcial de nossas verdades: “Julgamos saber algo das próprias coisas quando falamos de árvores, cores, neve e flores e, no entanto, não dispomos senão de metáforas das coisas que não correspondem de forma alguma às essencialidades primordiais” (Nietzsche, 1997, p. 219-220). A linguagem passa a ser entendida, assim, como a ferramenta de que nos valemos para atribuir algum significado às coisas ao nosso redor, mas ao mesmo tempo desvela-se a pungente consciência de que há um abismo intransponível entre o mundo que pretendemos nomear/significar e essa ferramenta de que tomamos mão para fazê-lo. Poderíamos dizer que a narrativa de “O unicórnio” permite-nos um vislumbre vertiginoso desse mesmo abismo.
O grande problema de pensar nossas verdades como “ilusões que foram esquecidas enquanto tais”, recuperando as palavras de Nietzsche, é o despertar da consciência de que nossa linguagem não é capaz de ir até onde pressupúnhamos. É perceber que não conhecemos o mundo de fato, mas sim uma versão que criamos dele. Que há algo para além dessa nossa interpretação, e que esse algo além permanecerá para sempre inalcançável, inexprimível – pois a linguagem é limitada, não dá conta de nomear aquilo que é inominável. O mundo, observa Rosset em Le monde et ses remèdes, fecha-se ríspido em seu silêncio. Um silêncio

–––––––––––– A impossibilidade de se dizer o indizível
269 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014.
gratuito (Rosset, 2000, p. 47), que não permite interpretações derradeiras, tornando impossível a comunicação e traduzindo-se em fonte de angústia. Um silêncio, como dirá Hilst em outro texto, “feito do escuro das vísceras” (Hilst, 2003b, p. 117).
O silêncio nos agride por conta do vazio que representa, e nós devolvemos a agressão tentando preencher o vazio. Em face da gratuidade, tentamos criar uma explicação. Em face da quietude, tentamos fazer barulho. Em face do escuro, tentamos fazer luz. Há momentos, todavia, em que as sombras persistem sobre nossas pálidas tentativas, desferindo-nos um bofetão, evidenciando o absurdo das coisas, como observa Camus. O autor de O mito de Sísifo reflete: “O fosso entre a certeza que tenho da minha existência e o conteúdo que tento dar a essa segurança jamais será superado” (Camus, 2008, p. 33). A percepção de que existe de fato esse fosso, todavia, só surge a partir do momento em que o emprego da linguagem é entendido como a tentativa de se explicar aquilo que não pode ser explicado:
Pensar é antes de mais nada querer criar um mundo (ou limitar o próprio, o que dá no mesmo). É partir do desacordo fundamental que separa o homem de sua experiência, para encontrar um terreno de entendimento segundo a sua nostalgia, um universo engessado de razões ou iluminado por analogias que permita resolver o divórcio insuportável (Camus, 2008, p. 114-115).
Como demonstram as páginas da novela aqui estudada, o divórcio insuportável não pode ser resolvido. Camus pondera que o absurdo brota do “confronto entre o irracional e o desejo desvairado de clareza cujo apelo ressoa no mais profundo do homem” (Camus, 2008, p. 35). Em outras palavras, a existência se torna absurda quando percebemos que nossa linguagem não passa de um exército móvel de metáforas gastas, que não nos permite penetrar o silêncio irracional do mundo. Para além dos limites de nossa linguagem está o nada, o indizível. E tudo o que podemos dizer, no final, é que há o indizível. Dizer o indizível, todavia, não podemos.
Nas linhas fragmentadas de “O unicórnio”, é justamente esse o grito que ecoa: “há o indizível”. A cada estrutura confusa, a cada frase mutilada, a cada pensamento que não se completa. Mergulhando cada vez mais fundo nos abismos de uma interioridade intraduzível (por ser, na verdade, incaptável), a linguagem lapidada por Hilst acaba imbuindo-se de certo aspecto de “prosa poética”, unido à fragmentação cargas de um lirismo que tenta em vão pôr o abismo interior em palavras. O fluxo

Willian André ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014. 270
de consciência descontrolado que constitui a novela evidencia, assim, a experiência da linguagem levada à exaustão. Pois é o levá-la à exaustão que a torna fragmentada: na tentativa desesperada de fazer do mundo um todo coeso, a narradora força a linguagem até seus limites, e por ser impossível chegar à homogeneidade esperada, plena de significado, e por haver a consciência de que ainda resta alguma coisa para além daquilo que se tentou expressar, brota de seu âmago uma narrativa estilhaçada – a voz de uma identidade possuidora de “mil caras”. Em certo momento, a narradora relembra um passeio com o irmão pederasta:
Os vegetais sentem dor, você sabia? Eu disse isso para o irmão pederasta. Sabe o que ele fez? Ele enterrou o canivete na figueira e enquanto escorria uma gosma clara, ele dizia: existir é sentir dor, existir não é ficar ao sol, imóvel, é morrer e renascer a cada dia, é verter sangue, minha amada irmã. Não, não faça isso, é horrível. Ah, tolinha, ela não sente a dor como nós sentimos, seja racional, a dor é patrimônio nosso, é assim: eu sinto dor e por isso eu existo com esse meu contorno. Eu sinto dor e todos os dias recebo vários golpes que me provocarão infinitas dores. Recebo golpes. Golpeio-me. Atiro golpes. Existir com esse meu contorno é ferir-se, é agredir as múltiplas formas dentro de mim mesmo, é não dar sossego às várias caras que irrompem em mim de manhã à noite (Hilst, 2003a, p. 171-172).
As palavras do personagem parecem evidenciar a consciência de seu confronto diário com o silêncio do mundo: “eu sinto dor e por isso existo com esse meu contorno”. Esse “contorno” a que se refere o irmão pederasta é o contorno de uma identidade multifacetada: também ele, como a narradora, é um “herói de mil caras” – que todos os dias recebe vários golpes que provocarão infinitas dores. A dor irrompe da consciência de ser impossível completar qualquer coisa. É um patrimônio humano. Marca de existências fragmentadas que morrem e renascem a cada dia, que recebem e atiram golpes, que mantêm a ferida aberta. Agredir as múltiplas formas dentro de nós mesmos é dar vazão à existência de infinitos eus que irrompem a cada instante. É “não dar sossego” a esses infinitos eus: perceber a impossibilidade de se dizer o indizível é viver em desassossego.
São estas reflexões que nos levam ao aflorar do duplo na narrativa. Como se para potencializar a fragmentação de sua identidade, a narradora começa a sentir seu corpo mudar: “Estou no meu canto mas

–––––––––––– A impossibilidade de se dizer o indizível
271 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014.
sinto que o meu corpo começa a avolumar-se [...]. Agora estou crescendo a olhos vistos, sou enorme, tenho um couro espesso, sou um quadrúpede avantajado, resfolego” (Hilst, 2003a, p. 187). A súbita consciência de que algo está mudando faz emergir do âmago da narradora um novo “eu” – que é ainda ela, mas que é também outra coisa. Enclausurada entre as quatro paredes de seu apartamento, ela sente seu corpo adquirindo proporções descomunais: “quero andar de um lado a outro mas o apartamento é muito pequeno, só consigo dar dois passos, fazer uma volta com sacrifício para dar mais dois passos na direção de onde saí” (p. 187). Conforme tenta se movimentar, a consciência de sua nova estrutura física vai se moldando:
Para ir ao banheiro será preciso entrar no corredor e virar à direita, mas isso é impossível, não posso fazê-lo, meu tamanho é qualquer coisa de espantar, sei finalmente que sou alguém de um tamanho insólito. Olho para os lados com melancolia, fico parado durante muito tempo, estou besta de ter acontecido isso justamente para mim. Recuo e o meu traseiro bate na janela. Inclino-me para examinar as minhas patas mas nesse instante fico encalacrado porque alguma coisa que existe na minha cabeça enganchou-se na parede. Meu Deus, um corno. Eu tenho um corno. Sou unicórnio (Hilst, 2003a, p. 188).
É a forma de um unicórnio, portanto, que assume o duplo da narradora: duplo que se apresenta enquanto materialização de uma identidade multifacetada, como se apenas por meio da metamorfose pudesse vir à tona a evidência de que “mil caras” convivem simultaneamente em seu interior. Assumindo-se participante do baile de máscaras (assumindo a impossibilidade de fazer-se homogênea), a narradora deita fora a máscara que usava, e veste a nova máscara de unicórnio.
Diante da transformação, a interlocutora reage: “Espera um pouco, minha cara, depois de ‘Metamorfose’ você não pode escrever coisas assim. [...] Essa coisa de se saber um bicho de repente não é nada original e além da ‘Metamorfose’ há ‘Os rinocerontes’, você conhece?” (Hilst, 2003a, p. 188). As referências remetem às obras A metamorfose (Die Verwandlung, 1915), de Franz Kafka, e O rinoceronte (Rhinocéros, 1959), de Eugène Ionesco. Em ambas, como observa a interlocutora, deparamo-nos com situações que envolvem metamorfoses, e “O unicórnio” parece carregar certo teor de indiferença diante de um acontecimento absurdo que em ambas também já se fazia notar. A personagem questiona,

Willian André ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014. 272
portanto, a originalidade do recurso empregado no texto, como se estivesse acusando a metamorfose da narradora de plágio. Obviamente, o trecho consiste em um exercício metalinguístico: propondo uma intertextualidade com as obras mencionadas, “O unicórnio” deixa de constituir plágio delas para tornar-se algo como o continuador da tradição de que ambas – A metamorfose e O rinoceronte – fazem parte.
Voltando ao unicórnio, sua clausura chama a atenção de algumas pessoas, que – indiferentes ao fato de terem diante de si uma criatura mitológica – tentam socorrê-lo: “será preciso arrebentar as paredes para tirá-lo daqui” (Hilst, 2003a, p. 191). E ainda: “Agora chegou o zelador do prédio com o seu ajudante. Eles têm a marreta nas mãos” (p. 191). A ideia de arrebentar as paredes para liberar o animal, todavia, logo demonstra-se impraticável, então acabam optando por levá-lo pelas escadas. Logo que o transporte é iniciado, no entanto, o unicórnio (que continua desempenhando a função de narrador) sente-se assustado e acaba defecando sobre os presentes:
Uma corda! Quem tem uma corda! Aqui está, madame – diz o zelador – agora é só puxá-lo e fazê-lo descer pelas escadas. Alguém me dá um tapa no traseiro, volto a cabeça, começo a tremer enquanto o zelador grita: sai daí, menino, não faz assim, o unicórnio não é de ferro. Começo a descer os degraus e aos poucos vou sentindo uma dor insuportável no ventre. Ah, não é possível, é uma cólica intestinal, paro, mas um grito de alguém que me viu pela primeira vez faz com que eu solte abundantes excrementos líquidos pelos degraus (Hilst, 2003a, p. 192).
O tom escatológico é mantido enquanto o unicórnio vai sendo conduzido para fora do prédio: “eu vou descendo e sujando os degraus. O mau cheiro faz cambalear o ajudante do zelador e eu mesma estou a ponto de morrer” (Hilst, 2003a, p. 193). Notamos, nesse trecho, que o unicórnio ainda se refere a si mesmo no feminino: “eu mesma estou a ponto de morrer”. No trecho seguinte, todavia, o masculino é empregado, mostrando que até a própria voz da narrativa sofre metamorfose: “Um caminhão para me levar ao parque. Uma rampa tosca para que eu possa subir. Estou muito comovido porque vou ficar pela primeira vez em contato com toda espécie de gente” (p. 197). A passagem mostra que o narrador-unicórnio foi finalmente libertado de sua clausura, e que um caminhão o aguarda para transportá-lo até um parque.

–––––––––––– A impossibilidade de se dizer o indizível
273 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014.
Em seu Dicionário de símbolos na arte, Sarah Carr-Gomm descreve o unicórnio da seguinte forma:
O lendário unicórnio era um lindo cavalinho branco, com uma barba de bode e um único chifre no meio da cabeça. Com esse chifre, purificava as águas envenenadas por uma serpente, de modo que os animais pudessem bebê-la. O unicórnio era forte e extremamente rápido, mas podia ser apanhado por uma virgem, cuja pureza percebia e em cujo colo vinha descansar (Carr-Gomm, 2004, p. 215).
A imagem criada a partir da descrição envolve atributos como beleza, pureza e limpeza. Trata-se, podemos dizer, de uma imagem cristalizada em nosso imaginário e, sempre que pensamos em unicórnios, é a ela que recorremos. Dessa forma, quando lemos que a narradora do texto aqui estudado está se metamorfoseando em unicórnio, por um instante talvez pensemos que todo o seu conflito interior será substituído por uma paz homogênea, e que sua identidade fragmentada em mil caras será suplantada por uma figura bela, pura, “simples como um ovo”. Recuperando as palavras de Bravo, trata-se da “busca do melhor eu”.
O unicórnio hilstiano, todavia, é um bicho feio, sujo, asqueroso. Seu corpo é desproporcional. Sua figura não possui harmonia. Pelo contrário: é assustadora, incompreensível. O duplo que ele representa é um duplo bizarro: não se manifesta para salvar a narradora de sua condição de incompletude, mas sim para evidenciar que não há salvação possível. Para potencializar sua identidade fragmentada, sua incapacidade de enxergar no mundo um todo homogêneo, sua impossibilidade de construir qualquer significado a partir de uma linguagem que não dá conta de “ir além”. O duplo-unicórnio que irrompe das entranhas da narradora diz, evidenciando sua condição absurda: não se pode dizer o indizível.
É o aflorar do duplo na narrativa, portanto, que potencializa a impossibilidade de se criar uma representação homogênea do mundo. O unicórnio é transportado para o parque com a esperança de que sua vida será diferente. Logo percebe, todavia, que não há possibilidade de mudança. Que o transformar-se em outro não aponta para alguma luz terna e esclarecedora. Pelo contrário: aponta apenas para o escuro. Ríspido. Bruto. A solidão continua a mesma. As dificuldades continuam as mesmas. Ou ainda piores, pois se a narradora demonstrava-se impossibilitada de fazer-se entender, para o narrador-unicórnio, seu duplo, é ainda mais frustrante a tarefa de tentar significar qualquer

Willian André ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014. 274
coisa que carregue um mínimo de sentido. Enclausurado em sua jaula, exibido como aberração, ele reflete: “tudo tem sido tão difícil. Tentei tantas coisas como meios de expressão, tenho me confundido várias vezes, quero sempre me explicar sem que os outros se ofendam, e chego à conclusão de que sempre me saio mal” (Hilst, 2003a, p. 199). Conforme passa o tempo, ele se entrega ao abandono, e suas palavras, ecoando as reflexões de Camus, revelam a consciência de sua presença absurda em um mundo absurdo: “Há muitos dias que não vejo o zelador. Acho que ele se esqueceu de mim, ou melhor, não se esqueceu, mas acredito que ele simplesmente está farto duma presença tão absurda como a minha” (p. 215-216). O abandono total, por fim, o leva à morte:
Agora escutem, sem querer ofendê-los: acho que estou morrendo. Da minha garganta vêm vindo uns ruídos escuros. O zelador está voltando, ele está dizendo: EEEEEEEE, BESTA UNICÓRNIO, você está bem esquisito hoje, hein? Um ruído escuro. Um ruído gosmoso. O zelador está mais perto, me cutuca o focinho: EEEEEEEE, BESTA UNICÓRNIO. É verdade, eu estou morrendo. E eu quero muito dizer, eu quero muito dizer antes que a coisa venha, sabem, eu quero muito dizer que o que eu estou tentando dizer é que... eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito (Hilst, 2003a, p. 218-219).
O unicórnio repete quarenta vezes a expressão “eu acredito”, e em meio a essa repetição frenética a morte o arrebata, sem permitir que ele acrescente sequer um ponto final à sua fala confusa. Momentos antes do “transe”, ele diz sentir que a “coisa” está próxima e, “antes que a coisa venha”, ele quer muito dizer alguma coisa. Ele precisa dizer: precisa sentir-se homogêneo pelo menos uma vez: precisa sentir-se capaz de significar. É dessa necessidade – não uma necessidade súbita, mas uma ânsia que o acompanhou a vida toda, antes e depois da metamorfose – que surge, às vésperas do fim, a repetição constante da expressão “eu acredito”. Porque o unicórnio precisa acreditar que é possível “ir além”, que é possível completar alguma coisa. No entanto, quarenta vezes ele

–––––––––––– A impossibilidade de se dizer o indizível
275 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014.
repete “eu acredito”, mas não é capaz de articular nada para além dessa expressão. Não é capaz de dizer qual é o objeto dessa crença. Assim como aconteceu em toda a sua vida, sua tentativa derradeira de significar acaba em falha.
Analisando a obra de Sören Kierkegaard, Camus observa: “O homem que escreve: ‘O mais seguro dos mutismos não é calar-se, mas falar’, de partida se assegura que nenhuma verdade é absoluta e não pode tornar satisfatória uma existência impossível em si mesma” (Camus, 2008, p. 39). Podemos fazer de tais palavras o epitáfio do unicórnio, pois é para o silêncio que aponta sua fala em excesso. O desdobrar-se em mil vozes, em mil caras, o fazer irromper das entranhas um duplo de proporções bestiais, ilógicas, na tentativa desesperada de construir uma representação coerente do mundo – mesmo sabendo que não é possível construir tal representação –, é levar a linguagem aos seus limites, à exaustão que aponta para a falha. Na quietude profunda de seu momento final, o unicórnio repete “eu acredito” quarenta vezes, mas sabe que, no fundo, não acredita em nada. Na quietude profunda de seu momento final, suas palavras evidenciam que ele é o personagem de mil caras, e em cada uma de suas mil caras estampa-se a consciência de que é impossível dizer o indizível.
Referências
BRAVO, Nicole Fernandez (2005). Duplo. In: BRUNEL, Pierre (org). Dicionário de mitos literários. 4. ed. Tradução de Carlos Sussekind, Jorge Laclette, Maria Thereza Rezende Costa, Vera Whately. Rio de Janeiro: José Olympio
CAMUS, Albert (2008). O mito de Sísifo. 6. ed. Tradução de Ari Roitman e Paulina Watch. 6. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Record.
CARR-GOMM, Sarah (2004). Dicionário de símbolos na arte: guia ilustrado da pintura e da escultura ocidentais. Tradução de Marta de Senna. Bauru: Edusc.
HILST, Hilda (2003a). O unicórnio. In: Fluxo-floema. São Paulo: Globo.
______ (2003b). Lázaro. In: Fluxo-floema. São Paulo: Globo.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm (1997). Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral. In: Obras escolhidas de Friedrich Nietzsche. Vol. I. Tradução de Helga Hoock Quadrado. Lisboa: Relógio de Água.

Willian André ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 263-276, jan./jun. 2014. 276
ROSSET, Clément (2000). Le monde et ses remèdes. 2. ed. Paris: Presses Universitaires de France.
Recebido em abril de 2013. Aprovado em setembro de 2013. resumo/abstract
A impossibilidade de se dizer o indizível: reflexões sobre o duplo na novela “O unicórnio”, de Hilda Hilst
Willian André
O objetivo deste estudo é refletir sobre a manifestação do duplo na novela “O unicórnio”, de Hilda Hilst, como evidência da impossibilidade de se expressar aquilo que não pode ser expresso. Ecoando a experiência insólita de Gregor Samsa, a narradora dessa novela vê-se subitamente transformada em uma criatura desproporcional, absurda. Duplo da narradora, esse novo “eu” que ela se torna explicita a tortuosa relação, que percorre todo o texto, entre uma profunda necessidade de se compreender o mundo e um mundo que se fecha ríspido em seu silêncio, negando-se a ser compreendido. Interpretando o surgimento do duplo-unicórnio como marca principal dessa confrontação, esperamos esboçar, nas próximas linhas, algumas reflexões sobre os limites da linguagem diante do indizível.
Palavras-chave: “O unicórnio”, duplo, limitações da linguagem, Hilda Hilst.
The impossibility of speaking the unspeakable: reflections on the double in the novella “O unicórnio”, by Hilda Hilst
Willian André
This study aims at reflecting on the raise of the double in the novella “O unicórnio”, by Hilda Hilst, as an evidence of one’s impossibility to express what cannot be expressed. Echoing Gregor Samsa’s uncanny experience, the novella’s narrator suddenly becomes an awkward, absurd creature. A double of the narrator, this new “I” she becomes makes explicit the devious relation, built throughout the text, between a deep necessity of comprehending the world and a world that is closed in its silence, denying to be comprehended. Interpreting the raise of this double-unicorn as the main evidence of this confront, we hope to draw, in the following lines, some reflections on the limits of the language in face of the unspeakable.
Keywords: “O unicórnio”, double, limitations of language, Hilda Hilst.

O sujeito-escritor e as transformações no campo literário: o caso Cristovão Tezza
Igor Ximenes Graciano1
Talvez devesse dizer que havia “descoberto” a minha literatura, como quem encontra, por ventura ou sorte, uma arca enterrada que estava lá desde sempre. Na verdade, eu havia criado a minha literatura, que agora ficava decididamente em pé com a minha própria cara.
Cristovão Tezza
O escritor (d)escrito Tratar do escritor como personagem é cada vez mais tratar do
escritor – ele próprio, pessoa física – como objeto de sua (auto)figuração romanesca. As narrativas ficcionais de matiz biográfico, hoje tão frequentes, têm demandado um exercício cambiante de especulação do leitor, de modo que este é levado a ora constatar na ficção a vida factual, ora distanciar a pessoa no romance daquela que o assina. Tal ambiguidade tem inúmeras consequências, entre as quais está a questão da responsabilidade pelas proposições no e do romance. Por isso, mais que se acomodar nas interdições imanentistas à crítica biográfica, parte significativa da produção contemporânea têm apelado para o esgarçamento da fronteira entre o dentro e o fora do romance. No caso brasileiro, a autobiografia de um escritor prestigiado vem bastante a calhar na escrutinação dos bastidores da escrita, apanágio de parte significativa – para não dizer majoritária – da prosa contemporânea.
Lançado em 2012, O espírito da prosa: uma autobiografia literária é o típico livro de reflexão sobre o ofício de escritor publicado quando este obtém alguma consagração. São muitos os exemplos do gênero, que no caso brasileiro tem como seu título mais famoso o Como e porque sou romancista, de José de Alencar, escrito originalmente em 1873 e publicado nos anos 1890. Ainda que quase nunca seja declarado – até por resultar desnecessário –, esse tipo de publicação se sustenta no
1 Doutor em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]

Igor Ximenes Graciano ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014. 278
reconhecimento de uma trajetória bem-sucedida, afinal o interesse está em conhecer as reflexões e percalços de alguém que alcançou sucesso naquilo que se propôs fazer, e que é a motivação de parte substancial das biografias e autobiografias.
O texto de Alencar é paradigmático pela posição que o autor ocupava na altura em que o escreveu, sendo então a personalidade intelectual mais influente do Romantismo brasileiro. Em se tratando do projeto romântico, especialmente a primeira geração à qual pertenceu, é possível afirmar que foi o líder de um movimento que construiu parte significativa do imaginário acerca do Brasil logo após a independência política. A consolidação do indianismo por meio do sucesso de romances como O guarani e Iracema, juntamente com outras frentes de tematização romanesca que têm longa tradição a partir daí, como o regionalismo e o romance de recorte urbano, fizeram de Alencar o nome em torno do qual o emergente campo literário brasileiro se movimentava. Em forma de carta, Como e porque sou romancista torna-se, portanto, o testemunho de uma personalidade central da história da literatura brasileira. O viés autobiográfico se justifica por si só, pois “há na existência dos escritores fatos comuns, do viver quotidiano, que todavia exercem uma influência notável em seu futuro e imprimem em suas obras o cunho individual” (Alencar, 2005, p. 12).
Ao fim e ao cabo, o interesse primordial estaria em se descortinarem os entrechos que levaram o escritor a se tornar um “grande escritor”, e como eventos e decisões de foro íntimo foram determinantes na formação da maturidade consagrada: “[E]stes fatos jornaleiros, que à própria pessoa muitas vezes passam despercebidos sob a monotonia do presente, formam na biografia do escritor a urdidura da tela, que o mundo somente vê pela face do matiz e dos recamos” (Alencar, 2005, p. 12). Ao comentar com seu interlocutor que escreve para contribuir em um dicionário bibliográfico de nossa “infanta literatura”, afirma um papel ambivalente, sendo um dos que a integram e, ao mesmo tempo, a configurando a partir de sua perspectiva. Ou seja, a autobiografia não se resume somente à memória de uma trajetória pessoal, mas é também peça importante de conformação de seu diálogo com a tradição e, consequentemente, de sua posição no campo literário. Em meio ao tom narrativo, o texto de Alencar assume em muitos momentos o tom argumentativo (ou crítico) a respeito de aspectos de sua obra.

–––––––––––– O sujeito-escritor e as transformações no campo literário
279 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014.
Talvez o exemplo mais conhecido seja quando ele se esquiva da influência do romancista americano James Fenimore Cooper: “[D]isse alguém, e repete-se pôr aí de outiva que O Guarani é um romance ao gosto de Cooper. Se assim fosse, haveria coincidência, e nunca imitação; mas não é. Meus escritos se parecem tanto com os do ilustre romancista americano, como as várzeas do Ceará com as margens do Delaware” (Alencar, 2005, p. 59). Seu argumento, bem ao gosto do Realismo clássico do século XIX, manifesta que não se trata de uma questão de procedimento literário, mas antes das diferenças fundamentais do objeto representado, uma vez que sua inspiração não vinha da leitura de outros escritores, mas das paisagens naturais do Brasil, portanto da “cópia do original sublime, que eu havia lido com o coração” (Alencar, 2005, p. 60). A citação é por demais evidente para se reconhecer a tipicidade dos propósitos nacionalistas do autor.
Com várias obras de ficção, além de algumas de não ficção e outros gêneros esparsos publicados em mais de trinta anos de atividade literária, Cristovão Tezza é eminentemente um romancista. No momento em que surge sua autobiografia literária, está em uma posição similar à de Alencar, levando-se em conta as diferenças do campo literário nos respectivos momentos históricos e a centralidade da literatura no debate público em cada um deles. Não por acaso O espírito da prosa aparece cinco anos depois de seu maior sucesso como escritor, o romance O filho eterno, de 2007, que o tornou um dos nomes centrais da cena contemporânea brasileira, quando ganhou os principais prêmios voltados à produção literária em língua portuguesa, a exemplo do Jabuti e do Portugal Telecom. A consagração – que inclui os benefícios dos prêmios e a segurança de representar “uma marca” no mercado editorial – possibilitou uma importante guinada na vida profissional do autor, que em seguida abandonou o serviço público como professor universitário para se dedicar unicamente à escrita.
A autobiografia literária de Tezza cumpre o mesmo itinerário da de José de Alencar. Por ser uma narrativa de formação, no sentido corriqueiro de uma rememoração dos fatos vividos, seguem-se episódios da infância até a maturidade do homem e, claro, do escritor. As histórias dos anos de juventude são entrecortadas por comentários sobre leituras e preferências estéticas, de modo que aos poucos vai se esclarecendo seu lugar na tradição literária, que ele afirma estar no que

Igor Ximenes Graciano ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014. 280
denomina genericamente de “realismo”.2 Tal esclarecimento acerca de suas preferências é feito de forma combativa, isto é, contra “a legião mundial de guerrilheiros avulsos da arte (que) destrói todos os dias o romance, mal rompe a manhã” (Tezza, 2012, p. 11).
Assim, em paralelo à narrativa, o autor desenvolve a tese do “espírito da prosa”, vértice da sua formação como escritor e de seu lugar na tradição. Ao descortinar um panorama da sociedade brasileira quando começou sua vida intelectual, Tezza preocupa-se em demonstrar o sufocamento da estética realista a partir dos anos 1970, especialmente com a ascensão das teorias pós-estruturalistas:
A asfixia do espírito da prosa que se seguiu, além do desejo histórico universal de suprimir toda a diferença no mundo, que pairava soberano no tempo, usou como corda de forca o relativismo pós-moderno, que nos coloca em lugar nenhum. Morto o sujeito e o sistema de valores que o deixava em pé, a prosa se esvai. Era preciso também – a palavra é engraçada – “denunciar” a mentira literária que finge ser verdade o que não é, como se o leitor fosse um eterno idiota a ser tutelado e levado pela mão por escritores que vão lhe ensinar o caminho de verdade (veja bem, isto é só um personagem, não uma pessoa: perceba como a emoção é de papel; observe como isto não é um cachimbo) (Tezza, 2012, p. 112).
A autobiografia literária extrapola o viés narrativo e se transforma em peça ensaística de caráter político (no que há de irremediavelmente político nos posicionamentos estéticos), quando determina seu lugar no campo literário brasileiro em posição dicotômica ao “relativismo pós-moderno”. Enquanto representante do realismo, Tezza se lança contra o relativismo – profissão de fé de narrativas ficcionais dedicadas a mostrar o caráter de artifício da produção literária – uma vez que, “nos anos 1970, um ciclo completo da literatura brasileira começava a se apagar, e [...] com ele o clássico espírito da prosa, que era o que me alimentava – a prosa (isso imagino agora) começava entre nós a ter sua data de validade vencida” (Tezza, 2012, p. 98).
2 “Não era a imaginação que me movia, mas a hipnose concreta por objetos reais [...]. Daí a dizer que nesse impulso de reprodução da realidade está a gênese do que se convencionou chamar realismo é um salto delirante, mas com certeza dirá muito de mim mesmo e do que de fato me atrai até hoje: as formas da realidade e os modos de percebê-la pelos caminhos exigentes da prosa. Ou, indo um pouco além do objeto: o que num segundo momento me passou a interessar foi a investigação ficcional sobre os modos de percepção da realidade” (Tezza, 2012, p. 35-36).

–––––––––––– O sujeito-escritor e as transformações no campo literário
281 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014.
Assim fecha-se um círculo perfeito: o jovem que começa a escrever (com todas as dificuldades que há nos inícios) durante o período em que afirma que o espírito da prosa começa a morrer, alcança finalmente a consagração no momento em que identifica uma retomada: “A prosa desaprendeu-se, e só trinta anos depois começaria enfim a reaprender-se, sob as coordenadas de uma novo tempo” (Tezza, 2012, p. 113).
A fidelidade à tradição realista – nunca entendida como uma escola, é bom lembrar, mas como elemento essencial do espírito da prosa em qualquer época – é “uma fidelidade à ética do realismo, à minha necessidade absoluta de um eixo de referência pelo qual eu assuma a responsabilidade” (Tezza, 2012, p. 144). Tezza não está só em sua defesa do realismo. Um crítico notável como James Wood tem no realismo a pedra de toque de sua atividade. Para Wood, o realismo não é um conjunto de convenções estilísticas – no sentido de emulação de uma escola literária historicamente demarcada – mas impulso próprio à prosa narrativa de invenção.3
Em defesa do espírito da prosa
Em resumo, a autobiografia literária de Tezza, para além da
narrativa de uma trajetória pessoal, extrapola o gênero biográfico no que ele tem de personalista para se projetar como um manifesto acerca do “espírito da prosa”. Mais que isso, Tezza faz a defesa do tal espírito contra o que ele chama de sua “morte” – programada pelos pós-modernos – sem contudo deixar de sugerir, como já citado, um certo renascimento nos últimos anos (ainda que não desenvolva nada sobre esse fenômeno). Em se tratando de uma autobiografia, não admira que tal retomada esteja vinculada direta ou indiretamente a sua trajetória. Em meio à narrativa de suas histórias, ao elogio do realismo e críticas ao relativismo pós-moderno, o autor tece um conjunto de considerações acerca de outra morte, dessa vez de quem denomina “sujeito-escritor”:
O último sinal dessa esquizofrenia teórico-literária, que ao mesmo tempo teoriza e produz, transparece no movimento multiculturalista recente que, captando o fato óbvio de
3 “O realismo [...] há de ser o que devo chamar de vida animada [lifeness]: a vida na página, a vida que ganha uma nova vida graças à mais elevada capacidade artística. E não pode ser um gênero; pelo contrário, ele faz com que as outras formas de ficção pareçam gêneros. Pois esse tipo de realismo – vida animada – é a origem” (Wood, 2011, p. 210).

Igor Ximenes Graciano ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014. 282
predominância histórica de personagens de uma elite branca na produção brasileira, propugna uma literatura voltada às minorias, em temas personagens, tramas, configurações morais e políticas. Uma espécie de “literatura planejada” – mais uma vez propõe-se a morte do sujeito-escritor, que deve ser posto a serviço instrumental de uma pauta alheia (Tezza, 2008, p. 148).
O espírito da prosa morre quando morre seu agente genuíno, o sujeito-escritor. O tom, ora alarmista, quando anuncia mortes, ora francamente moralista, pois acusa o erro dessa “literatura programada”, é bastante comum nos discursos conservadores ou reacionários (no senso estrito de quem se dedica a conservar algo que considera importante). A propósito, o cientista político Albert O. Hirschman, ao descrever a estrutura retórica dos discursos reacionários, faz uma observação pertinente sobre o termo “reação”, no sentido de não lhe atribuir um juízo de valor, como normalmente se faz, e que carrega a crença da progressão linear da história, uma vez que “o mero desenrolar do tempo traz consigo o melhoramento dos homens, de modo que qualquer volta atrás seria calamitosa” (Hirschman, 1992, p. 17). Ainda que em vários momentos explicite o caráter “progressista” de seu rechaço ao que considera inapropriado ou leviano de algum pensamento contemporâneo, Tezza não se esforça em se distanciar do sentido negativo atribuído às posturas conservadoras:
Sinto uma grande dificuldade para aceitar o alegre alargamento da relativização cultural que hoje, nas faixas estreitas que ainda mantêm contato com a memória letrada histórica, parece ser uma pedra de toque para tudo que diga respeito a valor, como se carregássemos uma culpa imemorial que deve ser purgada [...]. Talvez isso me defina como um conservador, o que não temo (Tezza, 2012, p. 147).
Apesar da franqueza e do teor polêmico de suas posições, algo fundamental está no que ele não diz, talvez por julgar desnecessário ou por decoro. Quando afirma que a relativização mata o sujeito-escritor (e pressupondo-se que ele é um sujeito-escritor), resta a questão: quem não seria sujeito-escritor? Se o escritor não é “sujeito” de sua escrita, quem o seria? Levando-se em conta os argumentos de Tezza, não resta dúvida de que há uma legião de escritores assujeitados, dado que, por um lado, os sujeitos-escritores estão desaparecendo pela mão castradora do relativismo, e que, de outro, não se cessa de produzir literatura e de surgirem novos nomes a cada ano.

–––––––––––– O sujeito-escritor e as transformações no campo literário
283 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014.
Outro ponto relevante de sua argumentação está na identificação do fenômeno dos escritores-professores: “Diante do que era a moda, o mainstream, o relevante – e, nesse panorama, crescentemente ditado pela universidade e pelo fenômeno crescente dos escritores-professores (batalhão ao qual, dez anos depois, eu entregaria as armas) –, o espírito original da prosa esfarelou-se” (Tezza, 2012, p. 144). Por aí vemos que o sujeito-escritor é aquele que não submete sua escrita a nenhuma outra pauta que não seja a da livre criação, assumindo para si a responsabilidade do que faz e jamais inscrevendo sua arte em nenhum “programa” de caráter ético ou social. O escritor-professor, no caso, está acomodado na segurança do serviço público e escreve a partir de pressupostos que legitimam sua obra e por ela são legitimados.
Com isso, constatamos o tom generalizado e incisivo das críticas de Tezza ao que ele considera as grandes correntes teóricas que circulam no ambiente universitário brasileiro e que têm determinado (quando não asfixiado) em muitos aspectos a criação literária, de que resultaria a morte do espírito da prosa. Os chamados estudos culturais talvez sejam o alvo mais evidente. No entanto, ainda que o tom alarmista das ponderações de Tezza sugira que ele esteja atuando a partir de uma posição à margem do campo literário, sabemos que a ideia em si de uma autobiografia literária aponta para o lugar central que o autor ocupa nesse mesmo campo hoje, como já salientado. Tal posição modifica radicalmente a chave de leitura da autobiografia, uma vez que o lugar de fala determina o teor e as intenções dos argumentos.
Falando do centro, Tezza não está reivindicando um espaço, mas antes defendendo certo habitus4 que considera essencial à prática literária, e que acredita estar ameaçado. Ao marcar os anos 1970 como o início do fim do espírito da prosa devido ao relativismo que se preocupava antes em apontar para o caráter de construto das narrativas ficcionais, Tezza se volta para uma tradição anterior de compreensão do procedimento e do papel da prática literária, reconhecida por ele mesmo como “romântica”: “Sim, sei que visto aqui um toque romântico sobre a atividade do escritor (...). Acho que a criação literária, para se justificar como tal, tem de manter tão radicalmente quanto possível, por escolha, a sua inadequação primeira” (Tezza, 2012, p. 211-212). Ou seja, a motivação para a escrita se 4 Utilizamos o termo habitus no sentido bourdieusiano de mediação entre as esferas individual e social. Grosso modo, é quando o comportamento de um agente corresponde – sem ser determinado – ao conjunto de valores prestigiados na faixa a que ele pertence no campo.

Igor Ximenes Graciano ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014. 284
origina de um deslocamento, uma infelicidade primordial que o leva à “finalidade sem fim” da atividade artística.
Sua literatura carregaria uma verdade porque diz da necessidade de exorcizar fantasmas por meio da criação. O desfecho da autobiografia dá voltas a lugares-comuns como esse. O apelo a uma relação afetiva com a escrita não é fortuito, afinal Tezza pretende com isso evitar o “cinismo narrativo”, segundo ele “pedra de toque da cultura pós-moderna”: “Uso a expressão ‘cinismo narrativo’ como uma categoria estritamente literária, o texto que avança autodesmontando-se e, no fim, deixa o leitor com a brocha na mão, retiradas todas as escadas de referência” (Tezza, 2012, p. 144).
Interessante notar, por fim, que a “novidade” do discurso de Tezza está em seu conservadorismo exemplar, por vezes quase caricato. Quando se pensa em movimento ou movimentos no campo literário brasileiro, costuma-se mencionar a emergência de novos agentes que, na melhor das hipóteses, irão compartilhar a esfera pública de criação e do debate em torno das obras.5 No entanto, tal ideia de inclusão esconde a disputa mais pungente pelo espaço central do campo – o qual não inclui a diversidade indiscriminadamente. Novos agentes pressupõem a substituição de velhos agentes, ou de modos tradicionais de produção literária. Assim, identificamos na autobiografia literária de Cristovão Tezza um exemplo de reação do centro a movimentos que, de uma forma ou de outra, deturpam um conceito de prática literária ali defendida, e que tem sua chave no elogio do “sujeito-escritor”.
Entre a biografia e o ensaio, o sujeito-escritor
A autobiografia de Tezza apresenta e defende o sujeito-escritor com
dois procedimentos, conforme o modelo alencariano: um, mais explícito, se dá por meio da argumentação crítica que atravessa toda a biografia; outro, pela narrativa da sua trajetória pessoal, que se aproxima da trajetória do protagonista de seu maior êxito na ficção, O filho eterno. Tais procedimentos, no entanto, têm em comum a relação com o ensaio, na medida em que o incorporam à biografia e ao romance.
5 “A literatura é um espaço privilegiado para tal manifestação (de grupos subalternos), pela legitimidade social que ela ainda retém. Daí a necessidade de democratizar o fazer literário – o que, no caso brasileiro, inclui a universalização do acesso às ferramentas do ofício, isto é, o saber ler e escrever” (Dalcastagnè, 2005, p. 20).

–––––––––––– O sujeito-escritor e as transformações no campo literário
285 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014.
A incorporação do ensaio pela biografia se dá pela intercalação do comentário crítico ao relato de sua vida. Quanto ao romance, a dicção ensaística se integra às vozes que compõem o plurilinguismo próprio do gênero.
A incorporação do ensaio na autobiografia e no romance não ocorre de modo fortuito, nem pode ser vista como exceção. Quando os textos biográficos assumem um caráter reflexivo sobre a vida narrada, naturalmente se aproximam do ensaio, no sentido corriqueiro de se avaliar criticamente a trajetória. O romance, por seu lado, enquanto gênero híbrido, apropria-se do ensaio como o faz com qualquer outra conformação discursiva. O que observamos na obra de Tezza, porém, é o propósito dessa incorporação, que, de tão recorrente, torna o gênero híbrido, quando a autobiografia se integra ao que o teórico espanhol Pedro Aullón de Haro chama de “gêneros ensaísticos”, os quais podem carregar um viés mais científico – caso dos artigos, panfletos e tratados, por exemplo – ou mais artístico – a ficção narrativa, a novela biográfica ou histórica, além do livro de viagens (Aullón de Haro, 2005, p. 22).
Para compreender essa demanda pelo ensaio, é necessário antes conhecer suas características e lugar no sistema de gêneros. No clássico artigo “O ensaio como forma”, escrito nos anos 1950, Adorno traça um panorama do ensaio em diversos momentos da história do pensamento, descrevendo-o como instância crítica que relativiza o elogio ao método científico-filosófico e sua pretensão totalizadora:
Nos processos do pensamento, a dúvida quanto ao direito incondicional do método foi levantada quase tão-somente pelo ensaio. Este leva em conta a consciência da não-identidade, mesmo sem expressá-la; é radical no seu não-radicalismo, ao se abster de qualquer redução a um princípio e ao acentuar, em seu caráter fragmentário, o parcial diante do total [...]. Ele se revolta sobretudo contra a doutrina, arraigada desde Platão, segundo a qual o mutável e o efêmero não seriam dignos da filosofia; revolta-se contra essa antiga injustiça cometida contra o transitório, pela qual este é novamente condenado no conceito (Adorno, 2003, p. 25).
O tom da argumentação beira o manifesto, pois, mais que fazer o elogio do ensaio, Adorno o afirma como modo de pensar, espécie de pedagogia inversa ao que a filosofia tem propugnado como método adequado para se alcançar o conhecimento (“ele deveria ser interpretado, em seu conjunto, como um protesto contra as quatro

Igor Ximenes Graciano ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014. 286
regras estabelecidas pelo Discours de la méthode de Descartes”, Adorno, 2003, p. 31). O ensaio recusa, assim, a pretensão de totalidade do pensamento filosófico tradicional, porém não abre mão de encarar os problemas abordados.
Em tudo isso, o filósofo alemão junta-se ao coro que recusa a metafísica binária baseada no sujeito autocentrado, fonte das representações, uma vez que reconhece no ensaio uma atitude teórica – e metodológica – autorreflexiva: “[Q]uando o ensaio é acusado de falta de ponto de vista e de relativismo, porque não reconhece nenhum ponto de vista externo a si mesmo, o que está em jogo é justamente aquela concepção de verdade como algo ‘pronto e acabado’” (Adorno, 2003, p. 38) Em outras palavras, o ensaio, “forma crítica par excellence”, permite analisar tanto os objetos em si quanto as condições em meio às quais a análise se dá.
Em síntese, não se trata de entender o ensaio como um gênero textual entre outros. A base das discussões teóricas em seu entorno está em que ele representa, mais que uma modalidade discursiva, uma escolha em meio ao repertório dos discursos à disposição para a expressão do sujeito. Desde seu inaugurador, Montaigne, o ensaio encontra-se atrelado à sedimentação do sujeito moderno e, por isso mesmo, ao nascimento do que modernamente se entende por literatura, “um discurso que tem como matéria-prima o próprio sujeito” (Lima, 2010, p. 239).
Não sendo nem um texto artístico, inventivo, conforme umas das definições da literatura, nem científico, pela relativização do método e do sentido de totalização antes apontado, o ensaio é uma composição cujo centro está na perspectiva e dicção daquele que fala. O ensaísta articula uma prosa artística, devido ao aspecto formal, e elucidativa (ainda que sem a aferição da ciência), quanto ao tema tratado.
Para Luiz Costa Lima, “ao longo dos séculos XVIII e XIX, a literatura passará a conotar um circuito – autor, obra, público de leitores – de tal maneira associado à autoexperiência da subjetividade que o elo entre literatura e horizonte da subjetividade se converterá em verdade incontestável” (Lima, 2005, p. 31). O que ocorria, de maneira gradativa e não linear, era a substituição da antiga ordem dos gêneros, que enquadravam a criação em modelos predefinidos, pela da composição submetida às idiossincrasias do indivíduo. A transformação da mentalidade atingia a produção poética “típica” – a lírica, a prosa de ficção e o drama –, mas acarretou também uma importante mudança

–––––––––––– O sujeito-escritor e as transformações no campo literário
287 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014.
nos procedimentos de recepção crítica das obras, uma vez que os parâmetros neoclássicos já não serviam de guia.
É possível mesmo falar de um nascimento da crítica como a conhecemos hoje, quando cai a figura do “juiz de arte”, o qual julgava a obra a partir de um conjunto de regras compartilhadas pelos que comungavam das belles lettres. Mais que uma adequação, a busca da expressão pelo indivíduo demandava do crítico a compreensão do caráter original de cada obra, reconhecendo nela própria as balizas que possibilitariam uma leitura mais apropriada de sua singularidade. Nesse sentido, “a crítica não se afirma como atividade autônoma senão à medida que simultaneamente afirma a autonomia de seu objeto” (Lima, 2005, p. 217). Ou seja, a sagração do sujeito moderno libera o indivíduo do julgo da velha poética e aplaina o terreno à livre expressão do eu. A autonomia do objeto estético força a autonomia do crítico, que deve encarar a produção artística sem o auxílio de modelos que o habilitavam.
Um marco importante (cerca de um século antes dos primeiros românticos) nessa transição é a famosa querela dos antigos e dos modernos, no contexto das disputas entre os acadêmicos franceses no fim do século XVII, em que Charles Perrault afirmava, pelo partido dos modernos, que “é mesmo ainda hoje uma espécie de Religião entre alguns Sábios preferir a menos importante produção dos antigos às mais belas Obras de todos os modernos” (Perrault, 2011, p. 273-274).
A propósito, a lembrança da querela é significativa, pois ajuda a evitar a tendência de se vislumbrarem as mudanças históricas como processos pontuais e estanques, referendados sempre por uma concepção teleológica da história. O advento das ideias românticas no desfecho do século XVIII não significava outro nascimento do sujeito moderno, uma vez que este já havia sido engendrado, mas aponta para um aprofundamento da própria modernidade, que se refere à separação definitiva entre os discursos da arte e da ciência, ambos sob o sol cartesiano do cogito.
No âmbito da modernidade político-econômica, encarnada pelas revoluções Francesa e Industrial, o primeiro Romantismo alemão promovia uma reação aos parâmetros retóricos que ainda vigoravam no Iluminismo. Sua revolução estava em não só liberar o artista como também imprimir uma nova forma de exposição das ideias. O modelo escolhido foi o do fragmento, e seu locus principal de divulgação a

Igor Ximenes Graciano ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014. 288
revista Athenaeum, ativa entre 1798 e 1800 pela iniciativa dos irmãos Schlegel. Novalis participou assiduamente da revista, que, em certa medida, veiculou o pensamento romântico mais radical. A opção pelo fragmento se dava devido à negação da exigência de totalidade da ciência, muito prestigiada pela Ilustração.
Inacabado, o fragmento aponta para o Livro que nunca se acabará de compor; que, por isso, sempre se retoma e sempre se difere. Por isso chamemos agora o fragmento de a mínima forma seminal do ensaio. Com isso, se acentua no eixo fragmento-ensaio tanto sua proveniência moderna – seu enraizamento na experiência de um eu – como seu caráter de busca que não se resolve; a incompletude como ponto derradeiro (Lima, 2005, p. 212).
Os românticos alemães buscavam no fragmento uma modalidade radical de ensaio devido a sua parcialidade e incompletude. Dito de outro modo, com o texto aforístico a modernidade estética – impulsionada pela ideia de “finalidade sem fim” da terceira crítica kantiana – se articula por meio de um pensamento que se volta para o objeto e, ao mesmo tempo, promove a autoindagação do sujeito, tornando-o centro do pensamento e, em consequência, da escrita. Concebido como livre discurso reflexivo, o ensaio promove o saber por meio da hibridação flutuante e permanente de gêneros. Enquanto índice da modernidade, é um espaço que abarca o conjunto de textos prosísticos destinados a resolver as necessidade de expressão e comunicação em termos não exclusivamente artísticos nem científicos (Aullón de Haro, 2005).
Como gênero textual, o ensaio é produto e produtor da modernidade, pois tanto se fez possível com a nova mentalidade quanto a fomentou em momentos decisivos, a exemplo do fragmento romântico. Suas características refletem os traços dessa condição dialética: (1) o entrelugar que ocupa, pois não é precisamente obra de arte nem ciência, mas possui atribuições dos dois; (2) sua vocação para o “livre discurso reflexivo”, o que o torna ideal para o exercício crítico; (3) a consolidação do ensaísta como dono do discurso e que por ele é engendrado, apresentando-se ao leitor pelas marcas do estilo próprio e das posições que assume ao longo de sua argumentação.
No ensaio, o indivíduo que assina é quem tem a prerrogativa da expressão, a despeito de quaisquer preceitos. Para além de um enquadramento discursivo, na forma, ou uma finalidade qualquer, no âmbito pragmático, a determinação do ensaio está em se explicitar esse

–––––––––––– O sujeito-escritor e as transformações no campo literário
289 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014.
olhar particular sobre o mundo e os outros. Daí advém sua irregularidade, seu caráter imprevisível e híbrido, uma vez que as necessidades de expressão, além das possibilidades formais para ela, são tão diversas quanto são diversos os indivíduos. Não se acessa o ensaio para se abordar um objeto – o espírito da prosa, por exemplo – como se usa uma ferramenta. Na condição de livre discurso reflexivo, o ensaio abre-se para a constituição do eu à medida que este se revela na escrita. Ainda que se volte para um objeto, o ensaísta oferece um autorretrato.
Cristovão Tezza, em seu O espírito da prosa, se vale do gênero ensaístico para oferecer um autorretrato, mas também para veicular um conjunto de ideias, ou para apresentar um programa reativo a certo cenário político-literário que julga desqualificado. Trata-se, como é próprio do ensaio, tanto de uma afirmação do indivíduo, traduzido em sua perspectiva e dicção particulares, quanto uma maneira de refletir sobre si e o mundo social, literário em particular. Concomitante à defesa do espírito da prosa, o maior produto de sua incursão ensaística é a sagração do sujeito-escritor na pessoa do autor do livro, sua assinatura. Para o bem ou para o mal, Tezza é precisamente o que fulgura de sua autobiografia literária. O espírito de sua prosa.
Referências
ADORNO, Theodor W (2003). Posição do narrador no romance contemporâneo. In: Notas de literatura I. Tradução de Jorge M. B. de Almeida. São Paulo: Duas Cidades, Editora 34.
ALENCAR, José de (2005). Como e porque sou romancista. Curitiba: Editora UFPR.
AULLÓN DE HARO, Pedro (2005). El género ensayo, los géneros ensayísticos y el sistema de gêneros. In: CERVERA, Vicente; HERNÁNDEZ, Belén; ADSUAR, Maria Dolores (orgs.). El ensayo como género literário. Múrcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.
BOURDIEU, Pierre (1996). As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. Tradução de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras.
DALCASTAGNÈ, Regina (2005). A personagem no romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 26, p. 13-71.
LIMA, Luiz Costa (2005). Limites da voz. Rio de Janeiro: Topbooks.

Igor Ximenes Graciano ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014. 290
PERRAULT, Charles (2011). Paralelo entre os antigos e os modernos. In: SOUZA, Roberto Acízelo de (org.). Uma ideia moderna de literatura: textos seminais para os estudos literários (1688-1922). Chapecó: Argos.
HIRSCHMAN, Albert O. (1992). A retórica da intransigência: perversidade, utilidade, ameaça. Tradução de Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras.
WOOD, James (2011). Como funciona a ficção. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify.
TEZZA, Cristovão (2012). O espírito da prosa: uma autobiografia literária. Rio de Janeiro: Record.
Recebido em dezembro de 2013. Aprovado em março de 2014. resumo/abstract
O sujeito-escritor e as transformações no campo literário: o caso Cristovão Tezza
Igor Ximenes Graciano
Quando se pensa em movimentos no campo literário brasileiro, costuma-se mencionar a emergência de novos agentes que, na melhor das hipóteses, irão compartilhar a esfera pública de criação e do debate em torno das obras. No entanto, tal ideia de inclusão esconde a disputa mais pungente pelo seu espaço central – o qual, obviamente, não inclui a diversidade indiscriminadamente. Novos agentes pressupõem a substituição de velhos agentes, ou de modos tradicionais de produção literária. Assim, identificamos na autobiografia literária de Cristovão Tezza, O espírito da prosa, um exemplo de reação do centro a movimentos que, de uma forma ou de outra, deturpam certo conceito de prática literária ali defendida, e que tem sua chave no elogio do “sujeito-escritor”, conforme terminologia do próprio Tezza.
Palavras-chave: espírito da prosa, sujeito-escritor, Cristovão Tezza.
The subject-writer and the transformations in the literary field: the Cristovão Tezza case
Igor Ximenes Graciano
When one thinks about movements in the Brazilian literary field, it is customary to mention the emergence of new agents that, at best, will share the public

–––––––––––– O sujeito-escritor e as transformações no campo literário
291 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 277-291, jan./jun. 2014.
sphere of creation and the debate surrounding the works. However, this idea of inclusion hides the more pungent dispute about this central space, which obviously does not include the diversity indiscriminately. New agents assume the replacement of old agents, or traditional modes of literary production. Thus, we identify in the literary autobiography of Cristovão Tezza, O espírito da prosa, an example of a reaction of the center against movements that, in one way or another, misrepresent a certain concept of literary practice defended there, and that have their key in the praise of the "subject-writer", as Tezza puts it.
Keywords: spirit of prose, subject-writer, Cristovão Tezza.


resenhas


Mino Carta – O Brasil Rio de Janeiro: Record, 2013
Rosana Corrêa Lobo1
Entre o sonambulismo e os quatrocentões: o Brasil de Mino Carta
Num balanço das narrativas brasileiras produzidas durante os anos
de ditadura, o ensaio Literatura e vida literária: polêmicas, diários & retratos, Flora Süssekind, comenta que a prosa desse período privilegiaria a “literatura do eu”, dos depoimentos, das memórias e da poesia biográfico-geracional (Süssekind, 1985, p. 42).
O sucesso dessa literatura político-memorialista se explicaria, segundo a autora, em parte pela tentativa das gerações mais jovens de suprir, via memória, as lacunas do seu próprio conhecimento histórico. Como no jornalismo, o interesse explicitado por tais obras seria o de informar. E informar, segundo prescreve a ideologia da objetividade jornalística, com um texto que pareça neutro e no qual chame mais a atenção o fato do que a maneira de narrar (Süssekind, 1985, p. 44).
Nessa linha acaba de aparecer o romance O Brasil, publicado no primeiro semestre de 2013, pela editora Record, do jornalista Mino Carta. Também ele se utiliza aqui da dicção autobiográfica, que dominou o panorama literário brasileiro pós-64, misturando ficção e memória. Ao contrário das narrativas que marcaram o período, no entanto, Mino é mais cuidadoso na elaboração do enredo, na escolha das palavras e no repertório cultural de que se vale para compor a trama que se passa quase por completo nas principais redações do país - Estadão, Folha, O Globo, Veja, IstoÉ – retratando de tal ponto de vista os anos de ditadura e reabertura política.
O romance se divide em duas partes, uma “ficcional”– cujo protagonista é o ambicioso jornalista Abukir – que é intercalada por chamados “entreatos”, nos quais Mino Carta narra suas próprias memórias de convívio com políticos, intelectuais e empresários que marcaram a história do Brasil. Assim, os generais Golbery do Couto e Silva e Emílio Garrastazu Médici, além de nomes como Lula, Victor
1 Doutoranda em literatura, cultura e contemporaneidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. É bolsista da Capes. E-mail: [email protected]

Rosana Corrêa Lobo ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 295-298, jan./jun. 2014. 296
Civita e Raymundo Faoro, entre outros, passeiam pelas 355 páginas do livro – tanto na parte ficcional quanto na memorialista –, cuja questão central gira em torno de três temas intimamente ligados à realidade do país: a existência de um povo eternamente sonâmbulo, a perpetuação das oligarquias no poder e a atuação de uma imprensa elitista que trabalha para manter as coisas como sempre foram.
Em sintonia com os tracionais intérpretes do Brasil Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Darcy Ribeiro, Mino vê nos 350 anos de escravidão vividos no país uma tragédia com feridas ainda expostas: “Plantou-se na vasta quadra o destino do País, enraizado na impossibilidade de confronto entre casa-grande e senzala, o capataz agita o chicote, o negro oferece as costas, o senhor deitado na rede fuma o seu charuto” (p. 286).
Predação, violência e submissão. Talvez sejam essas, segundo Mino, as características mais latentes de nossa cultura denunciadas no romance, seja no passado colonial e escravocrata, seja nos dias atuais de pretensa liberdade. É um país “brutalmente marcado a ferro, boizão indefeso, pela ferocidade dos herdeiros da Casa-Grande” (p. 267), resume Paulo, personagem que representa uma consciência humanista da realidade nacional.
Nesse ponto, talvez fosse conveniente notar que Demétrio Giuliano Gianni – Mino Carta – uma das mais influentes figuras do panorama da imprensa brasileira nas últimas décadas, não nasceu no Brasil, país a que chegou em 1946, vindo da Itália. É esse olhar estrangeiro que permite ao jornalista elaborar a sua interpretação do Brasil com certo distanciamento. O ponto de vista de quem pode a qualquer momento se transportar para fora da gaiola é necessariamente muito diverso daquele de quem nunca soube o que é não estar na casa grande ou na senzala.
Dito isso, somente dois episódios da história brasileira, para Mino, destoariam desse desenho: a campanha das Diretas Já e a eleição de Lula à Presidência. O surgimento de uma nova liderança sindical em São Bernardo do Campo, que vai culminar na greve de 1980, é, para o autor, um divisor de águas na história do país. Seria um dos raros movimentos de resistência, “de longe a mais eficaz produzida no Brasil desde 64 e que subverte o constante andamento do confronto capital-trabalho” (p. 232).
A manifestação das Diretas Já, por sua vez, teria acendido a crença de que a pressão popular poderia se alastrar contra a vontade dos donos do poder e da sua mídia. Durante a campanha, a “agitação andrajosa,

–––––––––––– Mino Carta – O Brasil
297 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 295-298, jan./jun. 2014.
colonial, de todos os dias” teria sido substituída pela “marcha de turbas embandeiradas [...] rios de gente que ergue faixas com escritas de denúncia, reclamo, exigência” (p. 312). Trata-se, de acordo com Mino, de um episódio inesperado e singular na história nacional, até porque sem comparações viáveis com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, passeata realizada pelas classes altas das grandes cidades brasileiras às vésperas do putsch de 1964.
Essa elite oligárquica seria a dos chamados “quatrocentões”. “Às vezes, mudam os nomes, os rostos e os cenários, e no entanto são os mesmos, senão os intérpretes, ao menos os papéis”, pontua o autor (p. 286). Os mesmos donos do dinheiro e do poder, passando pelos meios de comunicação: a família Marinho, d’O Globo; os Frias, da Folha; os Mesquita, do Estadão; os Nascimento Brito do Jornal do Brasil; os Civita, do Grupo Abril; os Magalhães, que dominam a imprensa baiana.
Diferente dos heróis românticos ou dos malandros que perambulam pelas páginas da literatura nacional, o jornalista Abukir é uma espécie de “títere do sistema”, como sugere Alfredo Bosi, no prólogo do livro. É um sujeito amoral cujo objetivo é ascender socialmente, ter um terno cortado pelo mesmo alfaiate do dr. Júlio Neto, um dos donos do Estadão, e conviver com os quatrocentões graúdos que frequentam os restaurantes mais caros de São Paulo.
Através da história do jornalista, intercalada com histórias pessoais de Mino Carta, o romance revela que, ao contrário do que propõem os manuais de redação das faculdades de jornalismo, a imprensa, ao menos a brasileira, está longe de ser objetiva ou referencial. Os jornais, como apontam o autor e o protagonista do romance, exprimem as ideias dos donos. É uma teia de colunistas, articulistas e comentaristas a serviço dos donos do poder.
É com tristeza que Mino constata que a chamada redemocratização política é a impecável continuação da ditadura, que por sua vez é uma continuação do coronelismo e do Brasil colônia: “Os oligarcas a postos em santa paz, os corruptos à vontade em santa impunidade [...] a mídia, por tradição instrumento de poder, passa a confundir-se com o próprio e a engodar a minoria privilegiada e beócia enquanto o povo estaciona na inconsciência da cidadania, miserável e inerte” (p. 321).
As sucessivas derrotas sociais e democráticas acabariam por criar uma geração que vive alheia à questão política, voltada completamente para o trabalho, sem ideologia alguma, como parece ser o caso de

Rosana Corrêa Lobo ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 295-298, jan./jun. 2014. 298
Abukir e Rebeca, a segunda esposa do protagonista. O casal acaba se preocupando em trocar de carro todos os anos, ter uma boa conta no banco e subir na carreira. É um contundente exemplo do individualismo egoísta em detrimento do ideal de coletividade.
O próprio Mino Carta oscila entre a desilusão e a esperança. Vê de um lado a esquerda, nascida na casa grande, incapaz de reverter os rumos da história e arregimentar a senzala contra o patrão. De outro, aposta no mito edênico do Brasil como um país “abençoado por Deus e bonito por natureza”, iniciado em 1500 com a carta de Pero Vaz Caminha. Mino arrisca: “[O] Brasil anda sozinho à revelia dos homens e ainda saberá aproveitar-se por completo dos dons recebidos da natureza” (p. 348).
A proposta do autor, de usar a literatura como ferramenta para explicar a nação, tem longa tradição no Brasil. Começa bem antes da literatura político-memorialista que marcou os anos de autoritarismo, criticada por Flora Süssekind, no trecho que abre esta resenha. Como lembra Silviano Santiago, em Uma literatura anfíbia (2004), os nossos melhores livros apontam para a arte e também para a política, ao denunciar as mazelas oriundas do passado colonial e escravocrata da sociedade brasileira, bem como os regimes ditatoriais que assolam a vida republicana.
O crítico dá uma explicação plausível para esse tipo de estratégia: se a educação no Brasil não tivesse sido privilégio de poucos desde os tempos coloniais, talvez tivéssemos podido escrever de outra maneira o panorama da literatura brasileira. Talvez pudéssemos nos ater a dois princípios da estética, deleitar e comover, e deixar de lado um terceiro princípio, o de ensinar (Santiago, 2004, p. 73). No entanto, a deficiência do ensino formal no país ainda exige a produção de romances que, como O Brasil, de Mino Carta, preencham lacunas do conhecimento histórico.
Referências
CARTA, Mino (2013). O Brasil. Rio de Janeiro: Record.
SANTIAGO, Silviano (2004). Uma literatura anfíbia. In: O cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte: Editora UFMG.
SÜSSEKIND, Flora (1985). Literatura e vida literária: polêmicas, diários & retratos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Luis Alberto Brandão – Teorias do espaço literário São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Fapemig, 2013
Gabriel Estides Delgado1
Ainda que não sublinhe ostensivamente suas predileções no amplo
painel conceitual que oferece ao leitor em Teorias do espaço literário, Luis Alberto Brandão parece calcar seu entendimento de literatura nas variações e desvios – heterotopias, como nomeia Michel Foucault (2013 [1984]) – que vêm desestabilizar imaginários enrijecidos pelo controle e recalque cotidianos. Tal ideia, muito difundida, é tendencialmente idealista e encontra forte propulsor no Roland Barthes de Aula: “Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura” (Barthes, s. d. [1978], p. 16). No Brasil, o raciocínio recebe sua melhor lapidação nas mãos de Graciliano Ramos (em notória frase de Memórias do cárcere): “começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer” (Ramos, 2001 [1953], p. 34). Mesmo que se atenha à força coercitiva da língua, assim como Barthes (s. d. [1978], p. 15) – “em cada signo dorme este monstro: um estereótipo” –, Graciliano indica a possibilidade de movimento pelo desembaraço criativo. E é sobretudo a este que Brandão quer ratificar.
Ao produzir abrangente introdução ao modo como o conceito de espaço é abordado pela teoria da literatura, indo do formalismo ao entendimento de base recepcional, passando pela escola desconstrucionista e pelas abordagens culturalistas, o autor opta por pontuar a contribuição de cada pensamento para o repertório de uma exegese espacial da literatura. Evita, assim, pelo colorido enciclopédico, formulações verticais. Fora a súmula das tendências analíticas, Brandão elege textos de Barthes, Foucault, Lefebvre, Bachelard, Bakhtin e Benjamin como exemplos de diferentes leituras do espaço. Dos seis autores, o leitor deve formar seu amálgama prismático. “Para Henri Lefebvre, o espaço é concebido como produção social; para Roland Barthes, como sistema de linguagem; para Michel Foucault, segundo a
1 Doutorando em Literatura na Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil. E-mail: [email protected]

Gabriel Estides Delgado ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 299-304, jan./jun. 2014. 300
diferença em relação aos espaços instituídos” (Brandão, 2013, p. 78). No esforço fenomenológico de Gaston Bachelard, espaço é imagem arquetípica; para a compreensão política de Mikhail Bakhtin, espaço é imagem histórica; e, por fim, no projeto intelectual de Walter Benjamin, espaço é imagem dialética.
Brandão faz leitura ponderada dos diversos textos escolhidos, apontando, aqui e ali, lacunas e fragilidades, como a falta de clareza metodológica em “Sémiologie et urbanisme” (“semiologia e urbanismo”), de Roland Barthes. Se, à maneira de Lefebvre, que identifica uso disseminado e, ao mesmo tempo, incerto do termo espaço – “espaço disso”, “espaço daquilo”, “espaço literário”, “espaços ideológicos” (cf. Brandão, 2013, p. 81-82) –, Barthes afirma a necessidade de transformar a metáfora em análise, seus argumentos, contraditoriamente, pecam pela indeterminação que, segundo o crítico mineiro, vigoraria em toda abordagem semiológica:
O problema [...] pode ser formulado do seguinte modo: quais as consequências de se atribuir, a determinado objeto ou evento, a estrutura de discurso, em especial a de discurso verbal, mesmo que a atribuição se dê de modo abrangente, como em termos de sintaxe, ou de “sistema organizativo”? A atribuição não ocorre meramente no nível metafórico? (Brandão, 2013, p. 82).
A ponderação sistemática de Brandão burila as ideias que apresenta e confere ao leitor o sentimento pacificado de domínio de repertório. Sem pretender anular qualquer das vertentes teóricas levantadas, a ideia é de acúmulo de ferramentas analíticas, elegendo de cada escola suas melhores contribuições e descartando os excessos. Estes, no entanto, em sua grande maioria, só aparecem como tais na comparação com outras orientações epistemológicas, como na crítica de Lefebvre (1986) ao estruturalismo, corrente à qual o autor marxista imputa a “eliminação do sujeito (sobretudo o social) e a supervalorização de categorias mentais abstratas” (p. 76). O procedimento comparativo exime Brandão de posicionar-se frontalmente nessa primeira parte de seu livro. Temos, pois, texto de consulta imparcial; ampla, mas plana cartografia teórica, ainda que brilhantemente concatenada.
Edifício teórico erigido, o autor passa, na segunda e terceira seções de Teorias do espaço literário, à análise de textos de Jorge Luis Borges, Elizabeth Bishop, Guilherme de Almeida, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Rafael Courtoisie, Machado de

–––––––––––– Luis Alberto Brandão – Teorias do espaço literário
301 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 299-304, jan./jun. 2014.
Assis, Rubem Fonseca, Sérgio Sant'Anna e João Gilberto Noll. A rica variedade de poéticas dos autores escolhidos é iluminada pelo vasto instrumental já sob o domínio do leitor, mas que ainda assim é completado por outras oportunas referências, como no capítulo “O espaço segundo a crítica”, em que Brandão apresenta inúmeras leituras espaciais da obra de Guimarães Rosa. Também contundente é a análise da dinâmica teatral em “Corpos em cena”, onde, à luz da obra de Charles Sanders Peirce, o autor define que o caráter icônico, primeiro, de apresentação dos corpos no teatro transvaza2 o caráter simbólico, terceiro, de representação ficcional.
No evento teatral, a presença dos corpos é mediada por duas camadas de signos. Uma delas é a ficcionalidade, o propósito convencional que, naquela circunstância específica justifica e motiva a atuação dos corpos. A segunda é a própria percepção dos corpos. Entretanto [...], as camadas não se fundem, ou seja, a percepção do corpo do ator não está subordinada à convenção que rege a ideia de personagem, e sim é coexistente, paralela a tal convenção. [...] Daí o efeito de uma primeiridade que se impõe, e não apenas se sujeita, à terceiridade no teatro. (Brandão, 2013, p. 231).
As partes de crítica literária em Teorias do espaço literário, mesmo que iluminadas pelo amplo e diverso arcabouço teórico do começo do livro ganham autonomia e linha de força próprias, predominantemente unívocas. É que privilegiam, como dito, a partir da forma narrativa, aspectos de desestabilização e/ou transformação dos espaços instituídos, isto é, busca-se provar a vocação heterotópica da literatura (p. 66). Exposta aqui sob nomenclatura foucaultiana, tal ideia é hegemônica nos estudos especializados. Seduz por tomar a escrita como terceira via, capaz de descolar-se dos lugares comuns.
É assim em “Leituras do espaço”, segundo ato do livro, em que o crítico focaliza atributos de desordenação textual, capazes de se impor ao jogo de espacialidades prévias. Na obra de Borges, o autor enxerga a “proliferação de simulacros que desestabiliza a ordem do real” (p. 116); na “hidrografia” poética de Bishop, a infiltração da água “na concretude dos solos, tornando-os porosos, inoculando dinâmicas, impondo a mutabilidade” (p. 133); na crônica de Lispector sobre Brasília, a “hesitação”,
2 “O evento teatral é feito de excessos. [...] Do excesso de corpo que transvaza da ficção” (Brandão, 2013, p. 235).

Gabriel Estides Delgado ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 299-304, jan./jun. 2014. 302
os “erros”, a “desorientação” da forma textual, que se delineiam como contrapartida à “presunção, essencial no projeto de Brasília, de perfeição urbana”, à “vocação classificadora e normativa” e ao “ímpeto de regulação de todos os aspectos da vida social” (p. 154); na poesia de Cabral também a respeito de Brasília, a “porosidade da tradição colonial” entremeada às “pretensas concretude e coesão do projeto modernizador” (p. 155); e, na imaginação espacial de Courtoisie, “figuras da instabilidade”, cujo interesse é “pela zona onde não se podem distinguir o que é possível e o que não é, zona em que princípios supostamente inatacáveis, como a irreversibilidade do tempo, a causalidade, a própria existência, podem ser desacatados” (p. 184).
Os comentários, vistos assim, em conjunto, demonstram a abordagem elogiosa dos textos escolhidos. Há momentos de contestação de análises que vieram a se tornar hegemônicas sobre algumas das obras tratadas, como quando Brandão afirma que os comentários relativos a Grande sertão: veredas, boa parte voltados à tarefa idealizadora de atestar uma suposta universalidade do livro e genialidade de seu autor, preveem “forte influência das concepções que o próprio Guimarães Rosa difundia a respeito de sua obra” (p. 172). Mas tais posicionamentos quase que desaparecem em meio ao restante das críticas. Em outra passagem, Brandão escreve, segundo terminologia cara a Gilles Deleuze e Félix Guattari, sobre o “inevitável ordenamento da linguagem verbal, o irrecusável poder ‘estriador’ do espaço literário”, mas apenas como base contrastiva à “propensão ‘alisadora’” desse mesmo espaço (p. 69). Assim, deixa claro qual dos termos da equação lhe interessa e, ainda que sublinhe os vetores ideológicos da maquinaria escritural, sua dimensão propriamente reprodutora das coerções linguísticas e extralinguísticas, prefere crer na “suspensão dos códigos ordenadores”.
Em “Espaços do corpo”, terceira e última parte de Teorias do espaço literário, a atenção se volta majoritariamente para as obras de dois dos mais originais escritores brasileiros contemporâneos: Sérgio Sant'Anna e João Gilberto Noll. Tanto a complexa trama metalinguística de Sant'Anna quanto a escrita pulsional de Noll servem à variabilidade, fluidez e divergência de sentidos tão caras ao modelo de vocação ou propensão literária que se quer provar. A respeito de “Conto (não conto)”, de Sant'Anna, Brandão afirma:

–––––––––––– Luis Alberto Brandão – Teorias do espaço literário
303 estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 299-304, jan./jun. 2014.
[O]s elementos narrativos básicos – sujeitos, espaços e tempos – se apresentam como pura projeção de potencialidades que se assumem como tal, o que significa que estão em constante dissipação. O único elemento que preserva alguma continuidade é a voz narrativa, mas mesmo esta é hesitante, interrogativa, mero ensaio de voz (Brandão, 2013, p. 221).
Já no comentário a Acenos e afagos, de Noll, ressalta-se a prática do texto “como puro ritmo, como pulsação” a rebater apreensões meramente intelectivas e racionais (p. 254 e p. 260). No que tange ao narrador do romance, destaca-se que a unidade de sua voz, inequívoca apenas em princípio, só se preserva “à medida que expõe o risco de se dispersar” (p. 255).
Entusiasta das poéticas de ruptura, Brandão transpõe fronteiras ao considerar “imprescindivelmente articuláveis a empreitada teórica, a crítica e a ficcional” (p. 14), o que o leva a fechar cada uma das três partes de seu livro com pequenos exercícios de escrita literária. Chamados de “excursos ficcionais”, esses textos têm a missão de rediscutir, em frequência figurativa, as abordagens abstratas que os prepararam. No entanto, estranhas a quase toda produção teórica e crítica, que costuma manter-se atida ao próprio espaço, as incursões ficcionais de Brandão não levam em conta a suficiência dos modelos literários já investigados no livro. Fora sua prescindibilidade, tais textos pecam pelo cacoete explicativo que ostentam. Assim, no excurso ficcional II, por exemplo, delineia-se a figura algo pueril de um ser pertencente ao mundo dos livros, cujo habitat é em meio às palavras e limites de uma página. A trama serve bem à visualização de uma possível autonomia espacial da linguagem, com suas próprias condições, mesmo que para tanto tenha de recorrer a metáforas. Em determinado momento, o “ser” da linguagem afirma: “Já ouvi histórias sobre seres poderosos que de algum lugar difuso se interessam pelo que ocorre nos livros” (p. 202). Não seria necessário, de modo algum, explicitar o que jaz claramente subentendido na frase. Mas não é possível conter as expansões explanadoras de um texto essencialmente instrumental: “Todo mundo já ouviu falar de deuses cujos nomes, de tão perfeitos, nunca deveriam ser ditos, mas que os cidadãos mais céticos, categoria na qual me incluo, ousam pronunciar: os deuses-leitores”. Compromete-se, dessa maneira, a fluidez da leitura, que, ora, também clama por autonomia.

Gabriel Estides Delgado ––––––––––––
estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 43, p. 299-304, jan./jun. 2014. 304
Tais momentos, contudo, não são capazes de enfraquecer o fôlego prospectivo do levantamento teórico que, ao lado da sensibilidade e erudição das investigações críticas, sedimenta a importância de Teorias do espaço literário.
Referências
BARTHES, Roland (s.d. [1978]). Aula. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix.
FOUCAULT, Michel (2013 [1984]). Outros espaços. In: Estética: literatura e pintura, música e cinema. Organização e seleção de textos por Manoel Barros de Motta. Tradução de Inês Autran Dourado Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
LEFEBVRE, Henri (1986). Dessein de l’ouvrage. In: ______. La production de l'espace. 3. ed. Paris: Antrhopos.
RAMOS, Graciliano (2001 [1953]). Memórias do cárcere. 37. ed. Rio de Janeiro: Record. v. 1.