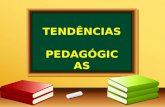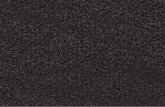Revista Pedagógica 2014 - espcex.eb.mil.br · a Escola teve de se manter dinâmica e a par com as...
Transcript of Revista Pedagógica 2014 - espcex.eb.mil.br · a Escola teve de se manter dinâmica e a par com as...
EsPCEx
1EsPCEx, onde tudo começa
Escola Preparatória de Cadetes do Exército
REVISTA PEDAGÓGICA 2014– 16ª Edição –
Publicada pela Escola Preparatóriade Cadetes do Exército. Campinas,SP.Fone: (0xx19)37442000,Fax:(0xx19)32411373. www.espcex.ensino.eb.br,ISSN 1677- 8359.
A Nossa Capa homenagea os 70anos da Força Expedicionária Brasileira(FEB). A imagem de fundo é areprodução de uma obra do artistaplástico Pedro Ernesto de Luna, ex-aluno da Escola Preparatória de SãoPaulo, integrante da Turma Ten CelEdgard de Alencar Filho (1955-1956).Na parte superior, delimitando o nomeda Escola, à esquerda, vê-se a imagemque ilustrou a capa da primeira RevistaPedagógica, editada no ano do Jubileude Ouro da EsPCEx e, à direita, o Brasãoda EsPCEx.
***
Criação: Eduardo Tramonte CappellanoPublicitário
Nossa Capa
Os conteúdos dos textos, o uso das imagense a bibliografia apresentados são deresponsabilidade de seus autores e nãoexpressam, necessariamente, as opiniões da
direção da Revista e da EsPCEx.
- Distribuição Gratuita -
Comando da EscolaMarcos de Sá Affonso da Costa – Cel
Comandante e Diretor de Ensino
Pedro Paulo de Araújo Alves – CelSubcomandante e Subdiretor de Ensino
Carlos Alexandre de Souza – Ten CelComandante do Corpo de Alunos
Divisão de EnsinoSérgio Aparecido Bueno de Oliveira – Cel
Chefe da Divisão de Ensino
Língua Portuguesa IGuaraci Alexandre Vieira Collares – Cel
Chefe da Seção de Português
História do BrasilJeferson Afonso Kobal – CelChefe da Seção de História
Língua Inglesa IAntônio José Luchetti – CelChefe da Seção de Inglês
Língua Espanhola IJosé Francisco Martinez – CelChefe da Seção de Espanhol
Física IJoão Alves de Paiva Neto – Cel
Chefe da Seção de Física
Cibernética IMarcos Nalin – Ten Cel
Chefe da Seção de Cibernética I
Química IMaria Lúcia Fernandes Batista e Silva – Maj
Chefe da Seção de Química I
Cálculo ILuís Felipe Martins Valverde – Maj
Chefe da Seção de Cálculo I
*********************************Direção da Revista e Diagramação:Jorge Luiz Pavan Cappellano – CelArte Final: Eduardo T. Cappellano– Publicitário
Revisão:Wallace Franco da Silva Fauth – Maj Prof.PortuguêsFotolito e Impressão: EGGCF Tiragem da Revista: 1000 exemplares
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa2
Sumário
EditorialMarcos de Sá Affonso da Costa – Cel Comandante e Diretor de Ensino da EsPCEx.........................05
De Onde Vem?Jorge Luiz Pavan Cappellano – Cel Professor de Português e Chefe da Seção do Patrimônio Históricoe Cultural da EsPCEx....................................................................................................06
Participação Brasileira na II Grande Guerra - Uma Entrevista Fictícia com o Cel Elber de
Mello Henriques
Jefferson Afonso Kobal – Cel Professor de História ............................................................10
Currículos, Disciplinas, Ideias FundamentaisNilson José Machado – Professor Titular da Universidade de São Paulo .................................19
Avaliando Competências no PortuguêsGuaraci Alexandre Vieira Collares – Cel Professor de Língua Portuguesa I.....................................28
Estratégias de Controle do Estresse: prevenção e promoção da saúde
Márcia Maria Carvalho Luz Fornari – 1º Ten Psicóloga .............................................................32
A Subjetividade e a (Re)Constituição da Identidade no Processo de Aprendizagem de Língua
Estrangeira
Márcia Barros Barroso - Professora de Língua Inglesa.............................................................35
Análise das Forças de Impacto do Tênis e do Coturno Durante a Corrida
Vagner Xavier Cirolini – Cap Instrutor da Seção de Treinamento Físico Militar ...............................41
A Influência da Expressão Oral do Líder no Comportamento do Subordinado
Mario Henrique Madureira – Cap Comandante da 1ª Companhia de Alunos...............................48
Adoção do Exame Toxicológico no Concurso de Admissão da EsPCExTen Cel Carlos Magno Capranico Corrêa – Chefe da Seção de Saúde ..................................53
A Danação do Objeto: o museu no ensino de HistóriaIsla Andrade Pereira de Matos - 2º Ten Professora de História.........................................59
Os Valores Trabalhados pelas Instituições MilitaresHichemTannouri - Aluno da EsPCEx ....................................................................................66
EsPCEx
3EsPCEx, onde tudo começa
Trabalhos Escolares Multimodais e Digitais: a perspectiva dos novos letramentosViviane de Fátima Pettirossi Raulik – Professora de Língua Inglesa .............................. .........69
Um Breve Olhar na História para Pesquisas em EducaçãoAndréia Pinheiro Freitas – Professora de Língua Portuguesa I...................................................74
Viagem de Estudos-Trajetória da FEB na Itália (registro)Oficial Orientador da Comitiva: 1º Ten Gustavo Henrique Rodrigues Moleiro.Alunos Integrantes da Comitiva: Rodrigo Correa Damasceno, André Andrade Longaray Filho e
Vinícius Henrique Chagas da Silva.................................................................................80
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa4
Nossos Comandantes
General de ExércitoEnzo Martins Peri
Comandante do Exército
General de ExércitoUeliton José Montezano Vaz
Chefe do Departamento de Educação eCultura do Exército
General de DivisãoAjax Porto Pinheiro
Diretor de Educação Superior Militar
EsPCEx
5EsPCEx, onde tudo começa
Ao longo dos seus 24 anos de existência, a Revista Pedagógica da EscolaPreparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) vem traduzindo em suas páginas aevolução constante do Ensino nesta Escola. Cumprindo um papel essencial de divulgaçãoda sua produção acadêmica é, ao mesmo tempo, um espaço aberto ao debate e à livreexpressão de ideias sobre as Ciências Militares.
A partir de 2012, a EsPCEx passou a integrar o Ensino Superior Militar, tornando-se o 1º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Linha de Ensino MilitarBélico, o que agregou novas responsabilidades. Para bem cumprir esse seu novo papel,a Escola teve de se manter dinâmica e a par com as melhores práticas pedagógicas e,mercê de seu corpo docente de grande valor e de um corpo discente extremamentemotivado e vocacionado, hoje é referência na prática do Ensino por Competências,processo educacional que ocupa um lugar destaque no Exército e no discurso educacionalda sociedade brasileira.
E assim, mantendo-se fiel às suas tradições de templo de excelência educacional,a Escola vem preparando, em ótimo nível, os futuros oficiais combatentes,proporcionando aos seus alunos a formação pessoal necessária para estarem à alturados desafios inerentes à evolução do combate moderno e do Processo de Transformaçãoem curso no Exército.
Mas é consenso entre nós que somente uma Educação verdadeiramente dequalidade forma profissionais competentes para a Instituição e pessoas completas eúteis para a Pátria. A busca incessante da qualidade educacional é, pois, a expressão docompromisso de amor ao Exército que move a todos nesta Escola.
Esta edição busca apresentar um panorama deste vibrante e produtivo ambienteacadêmico, sob a perspectiva dos seus professores, instrutores e palestrantes. Alémdo corpo docente, na EsPCEx também os nossos alunos são estimulados a produzireme contribuírem para o desenvolvimento das Ciências Militares. Assim, é promissorverificar que dois artigos escritos por discentes foram selecionados para comporemesta edição. O primeiro, retrata impressões sobre uma pioneira Missão no Exteriorrealizada pelos próprios alunos, que refez a trajetória da Força Expedicionária Brasileirana Itália. O segundo, discorre sobre aquilo que é, ao fim e ao cabo, a mais importantetarefa desta Escola: a transmissão dos valores que conformam a Instituição Militar,arcabouço seguro para o progresso e desenvolvimento pessoal e profissional dos nossosalunos e para a garantia da perenidade e grandeza do Exército.
Marcos de Sá Affonso da Costa-CoronelComandante e Diretor de Ensino da EsPCEx
EDITORIAL
(*) O Coronel Marcos de Sá Affonso da Costa graduou-se na Academia Militar das AgulhasNegras (AMAN) em 1986. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a Escola deComando e Estado-Maior do Exército e o Centro de Altos Estudos Militares da França. Realizouo Curso de Comando e Estado-Maior no Peru. É Doutor em Ciências Militares (Notório Saber).Dentre outras funções, foi Instrutor da AMAN, do Centro de Instrução de Guerra na Selva e daECEME; comandou o 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2008-2011). No Exterior, foi oficial doEstado-Maior da Organização das Nações Unidas em Angola e Instrutor da Escola Superior deGuerra do Peru. Em 2013, foi o Assessor Militar do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty).Atualmente é Comandante e Diretor de Ensino da EsPCEx.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa6
Jorge Luiz Pavan Cappellano(*)Professor de Língua Portuguesa e Literatura
EsPCEx, ONDE TUDO COMEÇA
De onde vem ?
O valor histórico da Escola pode-ria ser explicado, de uma forma sim-ples, apenas pela sua magnífica ar-quitetura em estilo colonial espanhol.Trata-se de uma construção única, ini-ciada em 1944 que, além dos traçoscoloniais, preserva a tecnologia deengenharia e arquitetura de uma épo-ca, quando as grandes obras eram pre-cedidas por detalhados desenhos, fei-tos de próprio punho, em papel vege-tal. Outra característica interessanteda metade do século XX, predominan-te nessa obra, foi o emprego de gran-de quantidade de operários, e de pou-cas máquinas, pois a maioria dos ser-viços de alvenaria eram realizadosmanualmente.
O arquiteto Hernani do Val Pente-ado, autor do Projeto Original daEsPCEx, criou uma fortaleza com pare-des largas e estrutura muito forte, ondeforam utilizados tijolos de barro, detonalidade vermelha, assentados emparalelo, dois a dois ou quatro a qua-tro, o que explica a resistência e a ge-nerosa espessura das paredes. Não hánada igual na cidade de Campinas e noEstado de São Paulo.
Há, ali, um acervo composto porsignificativa coleção de peças históri-cas, reunidas nesses mais de sessen-ta anos, tais como: monumentos, es-tátuas, pinturas, documentos, fotogra-fias e tantas outros objetos que, pelosseus referenciais artísticos, históricos
e anímicos, acrescentam inestimávelvalor ao magnífico conjuntoarquitetônico.
Outros exemplos de preservaçãopodem ser assim enumerados: os mó-veis existentes no Gabinete do Coman-dante, todos entalhados em embuia,cuja fabricação, em estilorenascentista, remonta aos primeirosanos do século vinte; o Conjunto deLustres de cristal da Boêmia, que ou-trora iluminou e encantou os espetácu-los do antigo Teatro Municipal de Cam-pinas, demolido em 1965, emprestamsua notoriedade ao Salão Carlos Go-mes, assim denominado em homena-gem à cidade de Campinas; uma gale-ria de quadros a óleo sobre tela, queretrata as vitórias do Exército Brasilei-ro e personagens da história do País,que, por serem produzidos em váriosmomentos da trajetória da Escola, sãocomo marcadores de tempo, que tive-ram como ponto de partida o início dosanos quarenta; uma coleção de escul-turas em bronze e gesso, destacando-se dentre elas uma do grande VictorBrecheret; extenso acervo de fotogra-fias que cristalizaram acontecimentose personagens; somam-se a esses pre-ciosos objetos um valioso patrimônioanímico construído por várias geraçõesque, através dos tempos, trabalharamincansavelmente para tornar realidadeesta exemplar instituição de ensinomilitar.
EsPCEx
7EsPCEx, onde tudo começa
A imagem reproduz a EPC em 1958. Aofundo, vê-se uma cerca de aramedelimitando a entrada do prédio.
Para cada local que se observa nointerior do prédio ou na beleza de seusbosques e lagos há sempre um fato ouacontecimento a ser lembrado e admi-rado.
Essa septuagenária Escola militar,criada no início dos anos quarenta, nobairro da Bela Vista, na cidade de SãoPaulo, e transferida para Campinas nosprimeiros dias de 1959, nos surpreen-de não só pela beleza de seus traçosarquitetônicos, mas, também, pelo seupassado de conquistas e vitórias, queno decorrer dos anos foram responsá-veis pela formação de um grande acer-vo histórico.
No início da década de sessenta,a entrada principal da Escola não eracomo hoje a vemos. Para chegar até oPortão das Armas, seus alunos e pro-fissionais tinham que caminhar a pé doCastelo D’água até a entrada principal.Esse trecho, sem asfalto de ruas deterra batida, só começou a recebermelhorias em meados dos anos ses-senta. Ao invés de muros delimitandoo terreno da Escola, havia apenas umacerca de arame farpado. Pouco a poucoessas imagens foram ficando no pas-sado. No final da década de sessenta,uma linha de ônibus foi estendida atéa entrada da Escola, isso ocorreu acom-panhado da melhoria do caminho deterra que, mais tarde deu origem àAvenida Papa Pio XII. Depois da im-plantação da linha de ônibus, foiconstruída, à frente do Portão das Ar-mas, uma rotatória, onde veículos fa-ziam o retorno para a cidade.
Sobre o Portão das Armas, há umainteressante história. Na segunda me-tade dos anos sessenta, o então MajorPettená, Fiscal Administrativo da Es-cola, recebeu a missão de ir a São Pau-lo, para receber, no depósito da Prefei-tura, uma armação de ferro que seria
A imagem reproduz o Portão das Armas daEPC em 1959. Ao fundo, vê-se asimplicidade da guarita de vigilância.
Ao fundo, a direita, vê-se o ônibus fazendoo retorno para a cidade.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa8
Este radiograma, de 24 FEV 70, marca oinício do Projeto Portão Manumental(Portão das Armas), quando asguarnições de ferro já estavamdisponíveis.
O encarregado informou ao Majorque isso só poderia ocorrer com auto-rização direta do Prefeito. O Major di-rigiu-se ao Gabinete daquela autori-dade, no mesmo dia, e conseguiu umaaudiência, na qual fez sua solicitação.O prefeito era o então Brigadeiro FariaLima (mandato de JAN65 a ABR69),que, antes de autorizar a doação domaterial, relatou que aquelas peças deferro faziam parte das grades de pro-teção de uma antiga ponte de São Cae-tano-SP, demolida para dar lugar a umamoderna construção de concreto.
Quando a Praça Cidade de Campi-nas foi inaugurada, essas guarniçõesforam instaladas separando a área ver-de do calçamento em torno do Palan-que.
Essa guarnição, além de valorizaro conjunto arquitetônico da Escola, étestemunha de que em cada objeto eespaço desta Casa do Saber há umpouco da alma e da dedicação de todosque um dia pertenceram à Escola Pre-paratória de Cadetes do Exército, ber-ço das vocações militares. Esse acon-tecimento e tantos outros marcaram atrajetória desta maravilhosa instituiçãode ensino militar, inscrevendo-a comopatrimônio cultural da cidade de Cam-pinas, do Exército e do Brasil.
A imagem reproduz o Portão das Armasna primeira metade da década de 1970.
A imagem reproduz parte da guarniçãoferro que hoje delimita a Praça Cidade deCampinas.
utilizada para a fabricação do novoportão destinado à entrada principalda Escola. Naquele dia, o então MajorPettená viu no depósito várias guarni-ções de ferro e perguntou ao chefe dodepósito se poderia levar, também,aquelas armações de ferro para seremutilizadas em obras da Escola.
EsPCEx
9EsPCEx, onde tudo começa
(*) O Coronel Professor, do Serviço de Intendência, Jorge Luiz Pavan Cappellano foi alunoda EsPCEx, formando-se em 1972. Graduou-se na Academia Militar das Agulhas Negras –AMAN em 1976. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais – EsAO (nível mestrado)em 1986. Especializou-se em Informática Aplicada à Educação Construtivista (pós-graduação)pela UNICAMP em 1997. É autor dos livros: “Memorial da EsPCEx, da Rua da Fonte àFazenda Chapadão, 65 Anos de História” (2007) e do “Diário da Escola Preparatória deCadetes de São Paulo” (2011). Atualmente é Professor de Língua Portuguesa/Literatura eChefe da Seção do Patrimônio Histórico e Cultural da EsPCEx.email:[email protected]
Bibliografia
– CAPPELLANO, Jorge Luiz Pavan. Memorial da Escola Preparatóriade Cadetes do Exército: da Rua da Fonte à Fazenda Chapadão, 65Anos de História. Campinas, São Paulo, 2007.
– CAPPELLANO, Jorge Luiz Pavan. Diário da Escola Preparatóriade Cadetes São Paulo. Campinas, São Paulo, 2010.
– Fotografias: Registro do Histórico, acervo da EPC e da EsPCEx.– Fotografias: páginas 8 e 9 (guarnições), Ademar Aparecido Caetanode Souza - Cabo, fotógrafo da Seção de Comunicação Social da EsPCEx
A imagem reproduz, ao fundo, parte da guarnição ferro e o púlpito daPraça Cidade de Campinas
Escola Preparatória de Cadetes do ExércitoEscola Preparatória de Cadetes do ExércitoEscola Preparatória de Cadetes do ExércitoEscola Preparatória de Cadetes do ExércitoEscola Preparatória de Cadetes do Exército
Nasceste parNasceste parNasceste parNasceste parNasceste para a a a a VVVVVencerencerencerencerencer
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa10
Participação Brasileira na IIGrande Guerra
Uma Entrevista Fictícia com oCel Elber de Mello Henriques
Jefferson Afonso Kobal (*)Professor de História
O Cel Elber de Mello Henriques,nascido em Fortaleza no dia 11 defevereiro de 1918, faleceu aos 87 anosno Rio de Janeiro, em 25 de julho de2005.
Aspirante de Artilharia da turmade 1939, seguiu para a Itália com oPrimeiro Escalão da ForçaExpedicionária Brasileira (FEB). Naguerra, foi Observador Aéreo daArtilharia. Viu a guerra do alto e dochão. Recebeu as seguintes medalhas:Ordem do Mérito Militar; Cruz deCombate; Medalha de Campanha; Cruzda Aviação – Fita A; Air Medal (dosEstados Unidos) e a Ordem do Méritodo Chile. Publicou dentre outros: A FEB12 anos depois e Uma visão daAntártida, além de dezenas de artigosem revistas e jornais do País.
A entrevista redigida abaixo, entreum repórter fictício e o Cel Elber, nãoaconteceu. É uma simulação! Noentanto, as respostas encontramrespaldo em seu curioso e interessantelivro - A FEB DOZE ANOS DEPOIS(HENRIQUES, 1959).
Coronel, o Senhor participouativamente da Segunda GuerraMundial, como o Sr. enxergava apostura do governo brasileiro noinício dos anos 1940?
O governo adotava uma políticadifícil de ser decifrada. Eraprovavelmente dúbia e contraditória.Para se ter uma ideia, em agosto de
Como foi a organização e preparaçãodas Forças Brasileiras que atuaramna Itália?
A sociedade brasileira estava bemdividida. O ambiente de comoçãocausado pelo afundamento de naviosmercantis brasileiros na costa atingiumuito mais alguns setores das grandescidades litorâneas, e bem menos ointerior. É evidente que o restante doPaís também sofria com a falta dealimentos, energia e transportes, masa atuação dos submarinos da série “U-boat” afundando navios brasileiros, ou
- O que é que nós iríamos proporem Washington, em nome do governobrasileiro? Não sabíamos. Procurei osMinistros da Guerra e do Exterior parauma tomada de posição. O primeiroconsiderava nossa atividade no exterioralheia a sua pasta, e o segundocontentou-se em elaborar instruçõespara a viagem da delegação.“Partíamos, sem conhecermos opensamento do governo querepresentávamos!”
1942, o Gen Estevão Leitão de Carvalhodirigiu-se à Washington representandoo Brasil na reunião da Comissão Mistade Defesa Brasil-EUA que discutiria opapel do País no esforço de guerraaliado. Eis o que ele narrou:
EsPCEx
11EsPCEx, onde tudo começa
não chegou ou chegou de maneirasegmentada a ele.
Portanto, o clima que permeava oPaís era o da indefinição, e este climatambém envolvia a organização da ForçaExpedicionária Brasileira (FEB). Nestaépoca, eu servia como Tenente naFortaleza de São João, sob as ordensdo Tenente-Coronel Affonso deCarvalho. Ouvia boatos da existênciade ordens para a criação de uma Forçaque atuaria fora do Brasil. A primeirareferência oficial veio da boca do meuex-comandante: “todo soldado de má-conduta será imediatamente transferidopara as unidades que vão combater”.
Para reforçar o que disse acima,gostaria de salientar que existiamdúvidas até em alguns oficiais do altoescalão do Exército. Uma piada deorigem desconhecida, que foi contadapelo General Cordeiro de Farias1 aalguns oficiais, reflete bem as dúvidasque pairavam mesmo entre os oficiais:
- Ouvi nas “altas rodas” que “a FEBnão partirá porque o seu comandante éDE MORAIS2; o comandante daInfantaria é da COSTA3; e o comandanteda Artilharia é CORDEIRO, isto é, nãoé de briga”.Como foi a viagem de seu Escalão deCombate?
Embarcamos no General Mann4 noprimeiro dia de julho de 1944. Para ondeestávamos indo? “O segredo doembarque, segredo de Polichinelo5, nãofoi obtido”.
Norte da África? Sicília? Nápoles?Corriam especulações! O destino eraignorado. No entanto, havia confiança
Ouvi dizer que nossos uniformescausaram alguma confusão nachegada à Itália. O Senhor temalguma coisa a falar sobre esseassunto?
Os primeiros problemasaconteceram logo após nossodesembarque. Os italianos nosconsideravam “tedescos”.6
Além da aparência que levava osnativos a nos confundir com as tropasgermânicas, como já salientei acima,outro aspecto a ser levado em conta éque nossos uniformes eram adequados
1 O Marechal Osvaldo Cordeiro de Farias (1901-1981) foi declarado Aspirante a Oficial de Artilharia no ano de 1919. Teve uma carreiramilitar brilhante e importante participação na vida política brasileira. Comandou a Artilharia Divisionária na II Grande Guerra.2 O Marechal João Batista Mascarenhas de Morais (1883-1968) foi declarado Aspirante a Oficial de Artilharia no ano de 1904. Oficial degrande prestígio entre seus pares, comandou a FEB na II Grande Guerra.
na proteção dada pelos navios de nossamarinha, os “rápidos e garbososMarcílio Dias, Mariz e Barros, eGreenhalg”.
À medida que os dias iampassando, a ansiedade aumentava.Somente após a passagem pela cidadede Casablanca (maior cidade doMarrocos, no norte da África) é que nosfoi revelado que o desembarque seriaem Nápoles.
Os primeiros choques culturaisentre brasileiros e norte-americanossurgiram já na vinda a bordo do navio:“a alimentação e a promiscuidade dosaparelhos sanitários”. O cardápio eratotalmente americano, “comida decachorro”. Os vasos sanitários eramexpostos, não tinham portas, erevoltavam especialmente os oficiaisde mais alta patente que eramobrigados a compartilhar suaintimidade.
Finalmente, no dia 16 de julho,chegamos a Nápoles.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa12
3 O Marechal Euclydes Zenóbio da Costa (1893-1962) foi declarado Aspirante a Oficial de Infantaria e Cavalaria no ano de 1916. Oficiallegalista, teve uma carreira militar brilhante, tendo sido Ministro da Guerra na década de 1950. Durante a II Grande Guerra comandou aPrimeira Divisão de Infantaria da FEB.4 General Mann era o nome do navio de guerra norte-americano que transportou a FEB do Rio de Janeiro até o porto de Nápoles, Itália.5 De acordo PRIBERAM DICIONÁRIO. Disponível em: <http://www.priberam.pt/ >. Acesso em: 26 set 2014, segredo de Polichinelo éinformação que deve ser secreta, mas que já é do conhecimento de todos.6Tedesco era uma forma pejorativa de referir-se aos soldados alemães. Nosso uniforme era muito parecido com o do Exército Alemão.
Em setembro de 1944, o GeneralEurico Gaspar Dutra, então Ministroda Guerra, realizou uma inspeção àstropas brasileiras estacionadas naItália. Qual foi a importância destainspeção?
O resultado foi bastante positivo.Ele viu in loco o garbo, a vibração e avalentia do pracinha brasileiro e pôdetrazer essas impressões para o nossopovo.
Nos contatos que manteve com oGeneral Mark Clark7 e com o Papa PioXII8, ouviu destas autoridadesrasgados elogios aos nossoscombatentes.
O comandante do V Exércitodescreveu com entusiasmo a satisfação
7General Mark Clark (1896-1984). Graduou-se na Academia Militar de West Point em 1.917. Comandou o V Exército Norte Americano, naII Grande Guerra.8Papa Pio XII (1876-1958). Nascido com o nome de Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, foi papa da Igreja Católica ApostólicaRomana entre 1939 e 1945.
à tropicalidade típica da maior partedo território brasileiro.
Para reforçar a ideia dainadequação de nossos uniformes aoclima europeu, aproprio-me de umafrase do Tenente-coronel Antônio H.Almeida de Moraes (apud HENRIQUES,1959, p.40-41): “O problema dosuniformes constituiu outro ponto degrande importância, pois os que trouxedo Brasil, comigo, não ofereceramproteção alguma contra os ventosgelados da ITÁLIA. No meu últimorelatório salientei, com ênfase, todosesses pontos capitais”.
de ter entre seus comandados ospracinhas brasileiros. Abordou desde aaclimatação da tropa, recebimento doarmamento e treinamento, até asprimeiras operações de combate.Salientou que o treinamento foi“especial, duro e terrível para a luta,” eque certo dia ao receber a informaçãode um oficial do seu Estado-Maior, sobreo alto grau de instrução e eficiência datropa brasileira, resolveu, “empregá-lalogo no front” (p.61).
Em seguida, dirige-se a um mapacolocado numa parede e mostra todo oprogresso da tropa brasileira, ao mesmotempo em que reitera o acerto de suadecisão de emprego imediato, e quepor isso havia decidido dar novasmissões importantes para osbrasileiros. Termina dizendo ao Ministroda Guerra (apud HENRIQUES, 1959,p.62): “É por isso, Sr. Ministro, queestamos tão ansiosos por mais tropasbrasileiras. Mande-nos e o mais brevepossível.”
Parece-me que a capacidade deadaptação, a disciplina, acombatividade, o arrojo, e aliderança dos comandantes da tropabrasileira foram os aspectos maisrelevantes salientados pelo GenMark Clark. Quanto ao Papa Pio XII,qual foi a mensagem deixada aoGeneral Dutra?
EsPCEx
13EsPCEx, onde tudo começa
Homenagem da EsPCEx a todos os soldados da Força Expedicionária Brasileira (FEB).Em letras de bronze, estão gravados os nomes de todas as batalhas travadas e, na base,uma pedra de cada lugar onde a FEB obteve vitória.
Como era a “alma” do combatentebrasileiro?
É importante, para os estudospsicológicos, compreender o que pensaum ser humano que participa de umcombate.
Ouvi de um ex-pracinha deinfantaria uma narrativa que me leva apensar nas transformações que ocorremna “alma” de um combatente.
Ele disse que, ao ouvir um assobio,escutou um grito:
- Deita!
Atirou-se numa cratera degranadas, onde jazia um companheiro
“Sua santidade” referiu-se maisaos valores morais, sociais e éticosevidenciados pelos nossos soldados.Agradeceu a generosidade do soldadobrasileiro para com o povo italiano.Disse ainda, “que a fama da bondade,de bom comportamento e do grandecoração dos oficiais e soldados doBrasil” já havia chegado ao ouvido detodos os italianos. Solicitou ainda aoMinistro, a transmissão ao governo eao povo brasileiro dessa “grande egenerosa prova de solidariedadehumana”. Terminou deixando “os seusmais cordiais agradecimentos aoscomponentes da FEB e ao ExércitoBrasileiro, em geral”.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa14
de seu pelotão, permanecendo com orosto enterrado na lama porintermináveis minutos. Granadaspipocavam ao seu lado, como se oestivessem procurando. No céuespoucavam as very-light9 iluminandotudo. Ao seu “redor só via aquelesclarões alaranjados das granadasexplodindo, porém, já nada ouvia,tonto como estava”. Ele não soubecalcular quanto tempo ficou naquelaposição, talvez alguns poucos minutos,mas o seu sentimento é de que foramanos.
Machucado pelas quedas,segurando firmemente em uma dasmãos o equipamento rádio e na outraseu fuzil, sentia que seu coração queriasaltar do peito. Uma explosão maisforte arrancou o capacete de aço desua cabeça, e ele sentiu “medo damorte, o desespero de um homem quesente a vida por um fio e nada podefazer, a não ser confiar na própria sorte”.
Após uma pequena calmaria,rastejou até uma zona segura. Passouo resto da noite numa adega,cochilando sentado a um canto, eouvindo o gemido incessante decompanheiros feridos. Um enfermeirodeu-lhe um algodão embedido emalgum líquido de cheiro forte. Sentiacomo se estivesse embriagado, e ouviainsistente zunido em seu ouvido. Aoseu lado, um pracinha vomitava algoviscoso misturado com sangue. Umpouco mais distante, pessoasmorimbundas envoltas em trastesrasgados e sujos de sangue, tornavaaquele porão cheio de quinquilharias eteias de aranhas, um cenário digno defilme de terror. No entanto, mesmo“com o corpo dolorido, a mão direita
machucada, tonto, ele estava feliz,imensamente feliz, porque estava vivo.O espetáculo do sofrimento alheiodeixava-o indiferente. Ele estava vivo.Era isso o mais importante.”
Como era o comportamento denossos pracinhas durante as açõesde combate?
A postura na guerra foi bemdiferente da observada nostreinamentos no Brasil. Na guerra nãopode haver negligência. O perigo estásempre presente, é disciplinador. Nãoé preciso recomendar silêncio – cadaum gostaria de ter os pés queflutuassem, nem tanto para evitar asminas, mas principalmente, para evitarque qualquer barulho chamasse aatenção do inimigo.
Ao cavar uma toca, nossossoldados cavavam com um ardor atéentão desconhecido. Seriam “capazesde cavar com os dedos e as unhas senão tivessem ferramentas”.
O inverno da Europa se tornara umagrande dor de cabeça para os chefesencarregados da organização daFEB. Como se comportaram nossospracinhas quanto a esse aspecto?
Nossos pracinhas derrotaram oinverno! No sul do Brasil costuma-sedizer que, num primeiro momento,enquanto a reserva calorífica ainda estápresente, o nortista suporta melhor ofrio do que o nativo. Esgotada esta,ambos tremem juntos.
No único inverno passado na Itáliaessa reserva calorífica funcionou muitobem. Prevaleceu a inteligência docombatente do Brasil que desde logoabandonou as botinhas mais justas que
9Very-light são granadas iluminativas.
EsPCEx
15EsPCEx, onde tudo começa
Era crucial para o comando do IVCorpo de Exército a conquista deMonte Castello porque ele permitiaa continuação da missão em direçãoao norte da Itália, protegido dosfogos e das vistas do inimigo. Nóssabemos que ocorreram quatrotentativas de tomá-lo, ainda no anode 1944, e ele só foi conquistado nodia 21 de fevereiro de 1945. OSenhor poderia nos falar sobre estefato heróico?
Muito se fala a respeito de quantoshomens, pelotões, companhias ebatalhões defendiam Monte Castello.As primeiras observações da SegundaSeção da FEB indicavam a possibilidadeda existência de três batalhões: um emposição e outros dois em condições dereforçá-lo em pequeno espaço detempo.
Este foi o primeiro grandeobstáculo da FEB na guerra. Devoacrescentar que tropas americanas maisbem equipadas e mais experientes,também fracassaram nas primeirastentativas de conquista desse bastião.As razões do insucesso no outonoeuropeu de 1944 são diversas. Voutentar, baseado nos diversos relatóriosapresentados pós-ação, levantaralgumas causas: a determinaçãodefensiva dos alemães; aimpossibilidade de obter o elementosurpresa; o apoio aéreo inadequado ouinexistente; a possibilidade demanutenção da posição pelos
lhes foram entregues e adotaram asgalochas norte-americanas bem maislargas e confortáveis, recheadas comjornais e lãs enrolados nos pés ecanelas.
germânicos até que chegassemreforços; o desconhecimento do terrenopor parte dos atacantes; o ataquefrontal em terreno íngreme e difícil; oemprego de tropa desgastada pelaação; a falta de meios de ataque; ascondições atmosféricas, o barro e ainclinação do terreno em algumas dastentativas; e a exposição do flancoesquerdo.
Eu vi do alto a tomada de MonteCastello! Levantei voo por volta das6h30min da manhã, do dia 21 defevereiro de 1945, e a primeira cenaera aparentemente contraditória. Dolado brasileiro, um efervescentemovimento. Centenas de viaturasdividindo as estradas com incontáveiscombatentes, um verdadeiroformigueiro. Do lado alemão janelasfechadas, não se viam armas, não erapossível observar movimentos. Osilêncio era sepulcral.
O avião em que eu me encontravabuscou mais altura e fiquei emcondições de regular os precisos tirosda Artilharia.
De repente, um pouco abaixo denós, surgem como um enxame devespas os furiosos Thunderbolts10, daForça Aérea Brasileira (FAB),despejando gasolina gelatinosa oumetralhando impiedosamente asposições alemãs. Foi aí que pudeobservar melhor e informar à Centralde Tiro da Artilharia Divisionária aexistência de um morteiro camufladodentro de um monte de feno.
Pela manhã, a resistênciagermânica nos causou muitasdificuldades e baixas. Disseram-meque, por volta das 14h30min, o ardor
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa16
Coronel, eu continuo tendo umadúvida sobre esse obstáculo. Comoera Monte Castello?
Eu gostaria de abordar três pontosde vista.
Para mim, que sempre observeiMonte Castello do ar, voando a cercade dois mil metros acima dele, eu nãovia nada demais. “Era uma elevaçãomonótona naquela casca de jaca dosApeninos12.”
Para quem estava lá embaixocombatendo, o cenário era outro. Assimo descreveu o Capitão Newton C. deAndrade Mello (apud, HENRIQUES,1959, p.107): “É um morro feio,íngreme, de mil metros de altura,pedregoso em parte, cheio de esporões,quase sem vegetação”.
Ao ser observado mais de pertoapós conquistado, via-se um“monumental panelão com rebordosreforçados, tal como não se podiaimaginar antes.” A posição privilegiadapermitia ampla vista da frente decombate, era equipada com magníficasconstruções e casamatas que resistiamaos tiros dos nossos canhões.Internamente as construções eram
Algumas pessoas argumentam queos soldados brasileiros só entraramem ação quando a guerra estavaquase no fim e que, portanto,tiveram mais facilidades no combate.O que o Senhor acha dessesargumentos?
defensivo havia arrefecido, e que agorao avanço lento era decorrência daexistência de minas e armadilhasdeixadas pelo inimigo e pelo naturalcuidado que deve ter uma tropa queataca tão difícil posição. Por volta das18h30min. veio a confirmação: “caiuMonte Castello. Pela manobra11.”
muito bem mobiliadas e possuíamaquecedores.
Sobre essa conquista, gostaria deressaltar que, para nós que levamosuma única divisão para a Itália, foi umareferência, um símbolo. É possível que,para os alemães que chegaram a termais de cem divisões na guerra, MonteCastello fosse apenas um morro comooutro qualquer.
Creio que eles sejam injustos. Emprimeiro lugar, desconsideram o valordo soldado brasileiro, o que não éverdade, como tive oportunidade denarrar em diversos trechos dessaentrevista. Em segundo lugar,desprezam a combatividade do povogermânico.
Há de se fazer justiça ao valor dosoldado que enfrentamos. Mostrandofibra e coragem, lutaram muito bemtanto no início do conflito, quandotinham superioridade numérica, quantonos últimos meses de conflito, quandonão tinham mais ao que recorrer.Venderam caro cada pedacinho de solocedido! É contra esse soldado que lutounosso inexperiente pracinha, saindo-semuitíssimo bem.Após Monte Castello, a FEB seguiucom êxito cumprindo as missões do
10 O Republic P-47 Thunderbolt, equipado com um único motor de combustão interna, foi um dos principais caças utilizados pelosamericanos na II Grande Guerra. Mostrou eficiência tanto no combate aéreo quanto como caça-bombardeiro. Foi utilizado pela FAB nesteconflito.11 No vocabulário militar brasileiro, costuma-se empregar a expressão “caiu pela manobra”, quando a conquista é obtida com nenhuma oupoucas baixas.12A cordilheira dos Apeninos estende-se por cerca de 1.000 km ao longo da Itália central e costa leste. No oeste desta cordilheira se localizama maior parte das cidades históricas italianas, como Siena, Florença, Pisa, dentre outras. Na parte setentrional destas elevações foramconstruídas uma série de posições defensivas pelos alemães, que ficaram conhecidas com o nome de Linha Gótica.
EsPCEx
17EsPCEx, onde tudo começa
Os altos escalões de comando dãomaior importância às manobras quepossibilitem maior vantagemestratégica. E isso é um fato quedevemos pensar melhor. Observe queo próprio Marechal Mascarenhas, aoescrever suas memórias, não concedeao Soprasasso “um título no alto deuma página. [...] Mas o combatente sóguarda os nomes que lhe ferem a própriacarne”.
Durante meses, essa elevaçãolevou moradores e viajantes a viver empermanente sobressalto. Então,conquistá-la era questão de honra. Issoexplica, de certa maneira, o júbilo dosconquistadores ao atingir o objetivo.
As inúmeras vítimas dos fogos deartilharia e franco-atiradores relataramdiversas vezes os perigos da exposiçãoao Soprasasso. Tenho algunstestemunhos escritos.
Gostaria de ler uma poesia sobreesse ponto crítico, assinado por um denossos pracinhas, que assina como“Saco A”:
“Adeus, adeus SOPRASASSOCabeça longa que a estradaNuma contínua emboscada,
Como serpente vigia.Adeus, ó reta da morte
Onde não foi por esporteQue o mestre praça corria!”
A conquista que causou mais baixasàs nossas forças foi a de Montese. OSenhor poderia nos transmitir a suavisão sobre esse heróico episódio?
Pagamos um preço alto paraconquistar a cidadela de Montese.Foram quatrocentas e vinte seis baixas:trinta e quatro mortos; trezentos eoitenta e dois feridos e acidentados; edez extraviados. Muito sanguederramado! Mas eu queria salientar doisfatos que não podem ficar noesquecimento.
O primeiro, foi a determinação dosoldado brasileiro. Sem a orientação dosobservadores aéreos, que não puderamlevantar voo, em virtude do mal tempo,a progressão da tropa submeteu-se aintenso bombardeio da artilharia alemã.“Parecia que o comando alemão deraordem para consumir toda a muniçãona eventualidade de uma retirada.”
O outro, foi o exemplo decooperação que nos foi legado peloMarechal Mascarenhas. A missão deconquistar Montese havia sido dada àDécima Divisão de Montanha dosEstados Unidos. Devo ressaltar que osbrasileiros nutriam grande admiraçãopor essa valorosa grande unidade.Tanto é verdade que, durante a reuniãodos comandantes militares do IV Corpode Exército, nosso comandanteofereceu-se e foi atendido na pretensãode atacar a cidadela de Montese.
Ao livrar os companheirosmontanheses da armadilha que aartilharia germânica lhes reservava, oflagelo de nossos pracinhas saldava adívida de sangue derramado por nossosirmãos norte-americanos, que diasantes tinham sido imolados parafacilitar a tomada de Monte Castello.
IV Corpo de Exército: vale doMarano; região de Santa MariaVilliana; Castelnuovo; Soprasasso eoutras. O Senhor dedica um títulointeiro à conquista do Soprasasso. Aliteratura sobre a guerra tempequena preocupação com essetema. Por que o Senhor dá tantaimportância à conquista desseobstáculo?
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa18
Coronel, agradeço por ter noslegado tão interessante obra.Gostaria de usá-lo como referênciapara agradecer também a todos ospracinhas que saindo de um paísdistante e tropical, defenderam comtoda a galhardia os princípiosdemocráticos.
***
ANSWERS. Disponível em: http://www.answers.com/topic/clark-mark-wayne. Acesso em 29 set. 14.
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIACONTEMPORÂNEA DO BRASIL. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/A Era Vargas2/biografias/Zenobio_da_Costa. Acesso em: 26 set. 14.
HENRIQUES, Elber de Mello. A FEB doze anos depois. Rio de Janeiro:Bibliex, 1959.
MEIRA MATTOS, Carlos de. Mascarenhas de Morais e sua época.Rio de Janeiro: Bibliex, 1983, p.75-77.
PRIBERAM DICIONÁRIO. Disponível em: http://www.priberam.pt/. Acesso em: 26 set. 14.
SENTANDO A PUA. Disponível em: http://www.thunderbolt.sentandoapua.com.br/rip.htm. Acesso em: 29 set. 14.
WIKIPÉDIA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Apeninos.Acesso em: 26 set. 14.
Bibliografia
Eu não poderia terminar estaentrevista, sem lhe perguntar: -Como se deu a rendição da DivisãoAlemã em Gaiano?
Louve-se a atitude do comandanteda Divisão de Infantaria Expedicionária(DIE). Reconhecendo a iminência daqueda da Wehrmacht13 “e não querendoderramar inutilmente sangue”, oGeneral Mascarenhas solicitou a uminterlocutor (o vigário D. AlessandroCavalli) que levasse uma intimação aocomando da tropa germânica que seencontrava na área de operação denossa grande unidade.
Algumas horas depois, já com osbrasileiros atacando as posiçõesgermânicas, o chefe do Estado Maiorda 148ª Divisão cruza nossas linhas,declarando ter autoridade para negociar“a rendição da 148ª Divisão deInfantaria Alemã e remanescentes daDivisão Bersaglieri e da 90ª PanzerGranadier.
Depois das tratativas, e já namadrugada do dia 29 de Abril de 1945,os negociadores germânicos retornamàs suas linhas, levando ao seucomandante a notícia do rendimentoincondicional de suas Forças:aproximadamente 16.000 homens,sendo cerca de 800 feridos; 4.000animais; e cerca de 2.500 viaturas.
É bom ressaltar a postura denossos interlocutores que, mesmo emposição de superioridade, souberamrespeitar e tratar com dignidade osinimigos.
13 Wehrmacht (Força de Defesa) foi o nome dado às Forças Armadas da Alemanha durante o III Reich (1935-1945).
(*) O Coronel Professor, da Arma de Comunicações, Jefferson Afonso Kobal graduou-sena Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN em 1975. Cursou a Escola deAperfeiçoamento de Oficiais – EsAO (nível mestrado) em 1985. Possui os seguintes cursoscivis e miltares: Administração de Empresas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUC (1989); Informática Aplicada à Educação Construtivista (pós-graduação), UniversidadeEstadual de Campinas-UNICAMP (1997). Atualização Pedagógica, Universidade Federal doRio de Janeiro-UFRJ/CEP (1995); MBA-Gestão Pública, Fundação Armando Alvares Penteado-FAAP/SP (2005). Atualmente é Professor de História da EsPCEx.email: [email protected]
EsPCEx
19EsPCEx, onde tudo começa
Currículos, Disciplinas, IdeiasFundamentais
Nílson José Machado (*)Professor Titular da Universidade de São Paulo.
Introdução: os currículos e afragmentação disciplinar
Já vai longe a época em que “ler,escrever e contar” expressava o elencode competências que deveria derivardas matérias ensinadas na escolabásica. Atualmente, o conhecimentoescolar apresenta-se extremamentefragmentado. Um aluno do EnsinoMédio assiste a um desfile de mais deuma dúzia de disciplinas nas atividadesrotineiras. Em todos os níveis deensino, ocorre um aumento no rol dematérias a serem estudadas. Aausência ou a fragilidade das relaçõessignificativas entre elas conduzfacilmente ao desinteresse. Os alunosinteressam-se pela vida, são seduzidospor inúmeros temas extraescolares, e,muitas vezes, desdenham dos temasescolares. O calcanhar de Aquiles daescola é esta carência de interessepelos conteúdos programá-ticos dasdiferentes disciplinas.
Fragmentação disciplinar,esgarçamento do significado, perda dointeresse são efeitos naturalmenteinterligados. Na raiz dos três, encontra-se a descaracterização da ideia dedisciplina e sua consequenteproliferação acrítica. Tendo-setransformado em mero canal decomunicação entre a escola e a vida, aideia de disciplina banalizou-se. Temascomo Educação Sexual, Educação
Disciplina: significado e função
Em sentido próprio, uma disciplinaé uma via, é um meio de se trazer oconhecimento em amplitude e plenitudepara a sala de aula. Disciplinas sãoespaços de mediações entre a criaçãodo conhecimento e sua aprendizagem,entre a produção e a transmissão doconhecimento. Para constituir oconhecimento escolar, o conhecimentoinstitucionalizado precisa serorganizado, disciplinado, subdividido,articulado em um currículo, ou umconjunto de vias, para a tramitação dosconteúdos; tais vias são as disciplinas.Desde a origem, a ideia de currículoestá associada à de uma articulaçãode caminhos para serem percorridos, aum mapa de cursos de ação, ou depercursos.
O primeiro currículo de que se temregistro na história do pensamentoocidental é o Trivium, ensinado nas
Ambiental, Matemática Financeira, porexemplo, podem ser muitointeressantes para aulas de Biologia,Geografia ou Matemática, masdecididamente não têm o estofo dedisciplinas e não podem ser tratadoscomo se o fossem.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa20
escolas e universidades até a IdadeMédia. Representava um conjunto detrês disciplinas (três vias) – Gramática,Lógica e Retórica – que eram ensinadaspara a formação básica das pessoas.Daí se origina a palavra trivial: o quetodos devem saber. A Gramática visavaao conhecimento da língua materna,elo fundamental na constituição da vidacoletiva. Tratar mal a língua maternaera considerado, então, um atestadode incivilidade. A Lógica – entendidacomo Dialética – era um instrumento aserviço do desenvolvimento dacapacidade de argumentação, parafundamentar a tomada de decisões. Ea Retórica consistia no exercício dacompetência na escolha de formas defalar e de argumentar de modo aproduzir o convencimento dos ouvintes.Sua presença no currículo era umadeclaração expressa de que falarcorretamente e até argumentar comdiscernimento não basta: é precisointeressar-se pelo outro.
A arquitetura harmoniosa doTrivium era sucedida por outra,igualmente bem articulada, que era oQuadrivium, um currículo deaprofundamento, que consistia em maisquatro disciplinas: Aritmética e Música;Geometria e Astronomia. As duasprimeiras, eram consideradas o estudodos números (em repouso: Aritmética;em movimento: Música); as duasseguintes consistiam no estudo dasformas (em repouso: Geometria; emmovimento: Astronomia). Em conjunto,as sete disciplinas citadas constituíamo currículo para a formação integraldaqueles que estudavam. Na época, aescola não era para todos.
Com o advento da Ciência Moderna,a concepção de conhecimentomodificou-se significativamente, dandoorigem a um novo conjunto dedisciplinas. No século XVII, Descartespropôs a imagem de uma árvore para arepresentação do conhecimento. Asraízes de tal árvore seriam a Metafísica;o tronco, a Física, entendida comoFilosofia Natural; e os ramos, asdiversas disciplinas, como a Medicina,a Mecânica, a Óptica etc. Diferente-mente do Trivium, a língua materna nãotinha qualquer presença de peso narepresentação cartesiana, que atribuíaà Matemática o papel de linguagem daCiência. A própria Matemática nãoaparecia como uma disciplina localizadana árvore, mas sim como a seiva quecontinuamente a alimentava, ou seja,como condição de possibilidade doconhecimento.
Disciplinas: o excesso defragmentação
A partir da segunda metade doséculo XIX e ao longo de todo o séculoXX, as disciplinas multiplicaram-se, oscurrículos tornaram-se excessivamentecomplexos e perderam a unidade queos caracterizava nas fases iniciais.Continuamente, temas situados emregiões fronteiriças de disciplinasestabelecidas reivindicam o estatuto denovas disciplinas. A especializaçãocrescente conduz à criação dedisciplinas no interior das já existentes,verdadeiras intradisciplinas. Paulatina-mente, os currículos perderam a visãode totalidade, a pretensão deabrangência e as disciplinas deixaramde ser pensadas como vias, como meiospara se atingir fins que as transcendam.
EsPCEx
21EsPCEx, onde tudo começa
consideração essa tendência a umaumento da fragmentação, que seencontra na origem da perda designificado do que se estuda. Dado queo movimento de especializaçãocrescente não tem retorno, é precisoequilibrá-lo com um movimento emsentido contrário, de ascensão embusca de uma visão mais abrangenteda totalidade do conhecimento. Aomesmo tempo em que estudamostemas intradisciplinares cada vez maisfinos, como o mapeamento genético,precisamos de conceitos cada vez maisabrangentes, como os que nascem noterreno da Bioética. À decifração dogenoma humano temos que associarreflexões mais densas sobre osignificado do ser humano, daconsciência pessoal, do início e do fimda vida.
Para lidar com o excesso defragmentação, tendo em vista acompreensão do significado do que seensina, um recurso eficaz é a atençãoao que é fundamental, ou aos princípiosnorteadores de cada tema. É precisoconcentrar-se em um pequeno númerode ideias fundamentais, próprias a cadamatéria; justamente pela posiçãobasilar que ocupam, elas se irradiampor todos os assuntos, articulando-ose fazendo com que cada disciplinatransborde nas demais.
Currículos: da fragmentação às ideiasfundamentais
Ao mesmo tempo, instalou-se umaespécie de intolerância disciplinar, emque os praticantes e estudiosos de cadatema defendem seu território comafinco, e proclamam que o conhecimentode seus conteúdos básicos éimprescindível a qualquer cidadão. Aofinal do Ensino Médio, os vestibularessão um momento especialmentepropício para a constatação de talintolerância. O grau de fragmentaçãodos conteúdos é tão grande que osignificado mesmo de cada tema, naperspectiva do cidadão comum, esvai-se por entre os dedos. Os conteúdosperdem progressivamente o caráter demeio de formação pessoal e parecemtransformar-se em obstáculos a seremsuperados. Em experiência depensamento, é possível conjecturar quea maior parte dos docentes oupesquisadores de universidadesprestigiosas não seria aprovada nosexames de ingresso às instituições emque lecionam...
Naturalmente, a anomalia que talfato representa tem origem nafragmentação excessiva dos conteúdosdisciplinares. As disciplinas sãoinstrumentos necessários, são meiosimprescindíveis na construção doconhecimento, mas sem uma visão deconjunto da foto que se examina, umestudo pontual, precocementeespecializado, somente pode conduzira tecnicidades insignificantes.
Na medida em que são mediaçõesentre o conhecimento em sentidoamplo, cada vez mais complexo, e oconhecimento escolar, necessariamenteorganizado em disciplinas, é naturalque os currículos sejam multidiscipli-nares, mas é necessário levar em
Reiteramos, então, que umcurrículo tem a função de mapear ostemas/conteúdos consideradosrelevantes, tendo em vista otratamento e a articulação dasinformações disponíveis, e a construção
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa22
do conhecimento em sentido pleno, emsuas diferentes vertentes. Cadadisciplina que compõe um currículo temum programa que estabelece os temasa serem estudados, delimitando seuterritório, ao mesmo tempo em queoferece vias de integração com asdemais, na busca do fim comum que éa formação adequada dos alunos. Emcada conteúdo, existem ideiasfundamentais a serem exploradas;elas é que constituem a razão doestudo de cada uma das diversasdisciplinas. É possível estudar muitosconteúdos sem uma atenção adequadaàs ideias fundamentais envolvidas,como também o é uma explicitação euma valorização de tais ideias, mesmotendo por base a exploração de algunspoucos conteúdos.
Nos programas escolares, a listade temas a serem estudados costumaser extensa, e às vezes éartificialmente ampliada por meio deuma decomposição minuciosa emtópicos nem sempre suficientementesignificativos. Já a lista de ideiasfundamentais a serem necessaria-mente exploradas, nunca é tão extensa,uma vez que justamente o fato deserem fundamentais conduz a umareiteração e um reencontro de noçõessimilares no estudo de uma grandediversidade de temas. É crucial, noentanto, em cada tema, em cadadisciplina, identificar um elenco deideias fundamentais, em torno dasquais o programa e as atividades serãoorganizadas.
Consideremos, por exemplo, adisciplina Matemática. A ideia deproporcionalidade encontra-sepresente tanto no raciocínio analógico,
em comparações tais como “O Sol estápara o dia assim como a Lua está paraa noite”, quanto no estudo das frações,nas razões e proporções, no estudo dasemelhança de figuras, nas grandezasdiretamente proporcionais, no estudodas funções do primeiro grau, e assimpor diante. Analogamente, a ideia deequivalência, ou de igualdade naquiloque vale, está presente nasclassificações, nas sistematizações, naelaboração de sínteses, mas tambémquando se estudam as frações, asequações, as áreas ou volumes defiguras planas ou espaciais, dentremuitos outros temas. A ideia de ordem,de organização sequencial, tem nosnúmeros naturais sua referência básica,mas pode ser generalizada quandopensamos em hierarquias segundooutros critérios, como a ordemalfabética, por exemplo. Também estáassociada, de maneira geral, apriorizações de diferentes tipos, e àconstrução de algoritmos.
Outra ideia a ser bastantevalorizada ao longo de todo o currículode Matemática é a de aproximação, ade realização de cálculos aproximados.Longe de ser o lugar por excelência daexatidão, da precisão absoluta, aMatemática não sobrevive noscontextos práticos, nos cálculos do dia-a-dia sem uma compreensão mais nítidada importância das aproximações. Osnúmeros irracionais, por exemplo,somente existem na realidade concreta,sobretudo nos computadores, por meiode suas aproximações racionais. Algosemelhante ocorre na relação entre osaspectos lineares (que envolvem a ideiade proporcionalidade direta entre duasgrandezas) e os aspectos não-lineares
EsPCEx
23EsPCEx, onde tudo começa
Ideias fundamentais: critério dereconhecimento
da realidade: os fenômenos não-lineares costumeiramente sãoestudados de modo proveitoso por meiode suas aproximações lineares. Funçõesmais complexas do que as lineares,como as funções transcendentes(exponencial, logarítmica, senos,cossenos, tangentes etc.) sãoaproximadas, ordinariamente, nasaplicações práticas da engenharia, porexemplo, por funções polinomiais, emesmo por funções lineares, por meiodo Cálculo Diferencial, assim por diante.É importante destacar, no entanto, que,ao realizar aproximações, não estamosnos resignando a resultados inexatos,por limitações em nossos conhecimen-tos: um cálculo aproximado pode ser –e em geral o é – tão bom, tão digno decrédito quanto um cálculo exato, desdeque satisfaça a certas condições muitobem explicitadas nos procedimentosmatemáticos. O critério decisivo é oseguinte: uma aproximação é ótima see somente se temos permanentementecondições de melhorá-la, casodesejemos.
Proporcionalidade, equivalência,ordem, aproximação: eis aí algunsexemplos de ideias fundamentais daMatemática a serem exploradas nosdiversos conteúdos apresentados,tendo em vista o desenvolvimento decompetências como a capacidade deexpressão, de compreensão, deargumentação etc.
Naturalmente, o reconhecimentoe a caracterização de um elenco deideias fundamentais em cadadisciplina é uma tarefa urgente e
ingente, constituindo o verdadeiroantídoto para o excesso defragmentação na apresentação dosconteúdos disciplinares. Não se trataaqui de fixar rigidamente a listainexorável de tais ideias, mas sim deescolher uma tal lista, como se escolheo elenco para representar uma peçateatral, ou uma base para descreverum espaço vetorial. Naturalmente,algumas ideias fundamentais estarãopresentes em praticamente todas aslistas que organizarmos; outras, sealternarão, dependendo do projeto aque servem. Entretanto, é precisoevitar a banalização do que secaracteriza como uma ideiafundamental, e para isso, um critérionítido, para balizar as escolhas, podeser aqui formulado.
Três características notáveisestão presentes em cada ideia quefaz jus ao qualificativo“fundamental”. Em primeiro lugar,qualquer ideia realmente fundamentalpode ter seu significado e suaimportância explicada apenas com orecurso à linguagem ordinária; se fornecessário recorrer a tecnicidadesexcessivas para se fazer compreenderuma ideia, ela pode ser importante,mas não é fundamental. A ideia deenergia, por exemplo, é fundamentalna Física; ela pode ser apresentadacomo uma capacidade de produzirmovimento, em suas várias formas demanifestação. Naturalmente, não sepretende que o conteúdo se esgotenessa apresentação intuitiva, mas énecessário que por aí se inicie.
Em segundo lugar, uma ideiafundamental nunca é um assuntoisolado, ou com raros vínculos com
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa24
Ideias fundamentais: a constituiçãode um elenco
Enfrentar o permanente desafiocom que se deparam os formuladoresde currículos, ou de matrizes deconteúdos disciplinares a seremavaliados, requer o reconhecimento e
outros temas: justamente por se tratarde fundamentos, tais ideias estãopresentes, quase sempre de modo bemvisível, em múltiplos temas dadisciplina, possibilitando, emdecorrência de tal fato, uma articulaçãonatural entre eles, numa espécie de“interdisciplinaridade interna”. A ideiade proporcionalidade, por exemplo,transita com desenvoltura entre aaritmética, a álgebra, a geometria, atrigonometria, as funções etc.
Em terceiro lugar, uma ideiarealmente fundamental nunca seesgota nos limites da disciplina em quesurge: sempre transborda tais limites,enraizando-se em outros territóriosdisciplinares e articulando entre si asdiversas disciplinas. A ideia de energia,por exemplo, mesmo desempenhandoum papel fundamental na Física,transita com total pertinência pelosterrenos da Química, da Biologia, daGeografia etc. Em razão disso, favorecenaturalmente uma aproximação notratamento dos temas das diversasdisciplinas referidas.
Numa frase, ao situar o foco dasatenções nas ideias fundamentais decada disciplina, favorecemos umatríplice articulação: entre a linguagemda Ciência e a linguagem ordinária;entre diversos temas no interior de cadadisciplina; e entre os conteúdos dasdiversas disciplinas.
o mapeamento de um elenco de ideiasfundamentais em cada disciplina, tendoem vista a articulação de toda adiversidade de conteúdos. Reiteramosque não se pode pretender adeterminação unívoca de uma listafechada de ideias, mas a composiçãode uma tal lista está longe de ser umexercício de arbitrariedade. Trêsrecomendações podem orientar essatarefa.
Em primeiro lugar, é necessáriocompor um elenco – e não apenas umconjunto de ideias fundamentais. Emum elenco, de uma peça ou de umaequipe esportiva, não basta reunir certonúmero de participantes, é importantecuidar para que cada um representebem o papel que lhe é determinado.Podem existir – e em geral ocorrem –zonas de interação ou de reiteração dosfins colimados, mas não devem ocorrersimples duplicidades na representaçãodos papéis. Constituir um elenco é comoescolher os vetores da base paradescrever um espaço vetorial: deveexistir certa independência entre eles,bem como algum acordo sobre adimensão de tal espaço.
Em segundo lugar, é precisocuidar para que tal elenco, como ummapa, represente a totalidade doterritório disciplinar a ser estudado. Ummapa não pode conter tudo o que estáno território, mas também não podedeixar regiões desguarnecidas. Suaconstrução deve propiciar a referênciaa todos os pontos do território, aindaque em escala compatível com aabrangência do estudo e com o tempodisponível para a exploração. Acompetência na escolha de uma escalaadequada no tratamento de um tema é
EsPCEx
25EsPCEx, onde tudo começa
uma das maiores qualidades de um bomprofessor. Além disso, é imprescindívelque um mapa explicite relaçõesvalorativas entre os elementosenvolvidos. Não é porque os assuntosencontram-se multiplamenterelacionados que todos têm o mesmovalor: todo mapa é um mapa derelevâncias.
Em terceiro lugar, umaobservação que pode ajudar naconstituição de um elenco de ideiasfundamentais é o fato de que elasfrequentemente ocorrem constituindopares complementares. Ainda que avida, em suas diversas dimensões, nãose deixe apreender perfeitamente poralternativas simples, binárias, do tipoVerdadeiro/Falso, Bem/Mal, Herói/Vilão,as polarizações constituem um recursonatural para a compreensão de qualquertema. Não podemos parar nelas, masé importante partir delas, enfrentardilemas e ultrapassá-los, aportando emsituações mais complexas, queenvolvem bem mais do que a escolhasimples entre duas alternativas.
No caso da Matemática, porexemplo, equivalência e ordem sãoum par de ideias complementares, queé decisivo na construção dos númerosnaturais. Outros pares parecem ser:medida e aproximação;proporcionalidade e interdependên-cia; invariância (regularidade) evariação (taxas); demonstração ealeatoriedade; representação eproblematização.
Algumas palavras já foramregistradas anteriormente sobre asideias matemáticas de Equivalência,Ordem, Proporcionalidade eAproximação; ainda que de modo
igualmente sucinto, segue umareferência às demais ideias citadas.Medida
Não parece necessário insistirdemasiadamente no caráter fundadorda ideia de Medida em Matemática. Elase encontra na origem da própria ideiade número, constituindo um de seusdois pés, ao lado da contagem, e grandeparte da Geometria decorre dela.Grandezas, interdependências, funções,probabilidades, quase tudo pode serassociado à ideia de Medida.
Interdependência
A sentença matemática mais típicaé do tipo “se p, então, q”, querepresenta um germe deinterdependência. A própria proporcio-nalidade é um padrão inicial deinterdependência, a ser desenvolvidoe generalizado. As funções e ascorrelações estatísticas podem situar-se nesse terreno.
Invariância/Variação
Desde muito cedo, a busca deregularidades, de padrões ou deinvariâncias em múltiplos contextosconstitui um foco das atenções daMatemática. O estudo das formas decrescimento e de decrescimento, dasrapidezes em geral – ou das taxas devariação – pode ser associado a tal parde ideias desde o estudo das funçõesmais elementares.
Demonstração/Aleatoriedade
A ideia de demonstração situa-seno próprio cerne do pensamentomatemático. Teoremas são pequenasnarrativas matemáticas, a seremapreciadas desde muito cedo,naturalmente aliviadas de preocupações
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa26
Problematização
Um problema sempre traduz umaou mais perguntas a serem respondidas,a partir de uma situação-problema, nomundo real ou em algum espaço derepresentações. Como a linguagemmatemática não comporta sentençasinterrogativas, o modo de fazerperguntas em Matemática é traduzi-laspor meio de uma suposta afirmaçãoenvolvendo incógnitas, ou seja, pormeio de uma equação. Para serresolvido, um problema precisa serequacionado, ou seja, suas perguntasprecisam ser traduzidas na forma deum sistema de equações.
Representação
A Geometria trata da percepção eda representação do espaço.Inicialmente, o espaço físicopredomina; aos poucos, a arte e mesmoa rede informacional passam aconstituir espaços igualmenterepresentáveis, associando aconcretude do mundo real àsidealizações de outros espaços. AÁlgebra também é um lugar dasrepresentações dos números, dasoperações e das interdependências.
excessivamente formais. A ideia de quenem tudo pode ser determinadocausalmente, por meio de frases dotipo “se p, então, q”, conduz aoconhecimento do aleatório, do que é“provável” ou do que pode ser “provado”,mesmo de modo não determinístico,como no lançamento de um dado.
Conclusão: Currículo Nacional eideias fundamentais
Em países com dimensõescontinentais, como o Brasil, afragmentação curricular a que nosreferimos desde o início tem seusefeitos potencializados em decorrênciada inexistência de uma base curricularnacional, para articular os sistemas deensino em seus diferentes níveis. Osdiversos mosaicos disciplinares locaisnão contribuem para compor um quadrode referência para balizar os resultadosdas avaliações que são regularmenterealizadas em todos os Estados.
Quando se discute a construção deuma tal base curricular nacional,algumas questões são recorrentes.Argumentar contra uma padronizaçãoexcessiva, que subestime a diversidadee a riqueza das culturas locais parecesimples, assim como também o édefender a importância da unidadenacional a partir de projeto educacionalúnico. Como equilibrar o respeito pelasdiferenças regionais com a necessidadepatente de construir um projeto unitáriode país, que é absolutamente tributárioda garantia de uma educação básicade qualidade para todos?
Uma resposta simples a talquestão tem sido a perspectiva dafixação de uma porcentagem expressivada carga disciplinar para conteúdoscomuns a todos os sistemas,complementando-a com conteúdoscaracterísticos de cada região do País.Por razoável que pareça, uma distinçãocomo essa pode até mesmo acentuar afragmentação disciplinar, favorecendo,além disso, a instalação de certaesquizofrenia curricular: a disputa deespaços entre o nacional e o regionalnão pode conduzir a bom termo.
EsPCEx
27EsPCEx, onde tudo começa
(*) Nilson José Machado foi aluno da EsPCEx no período 1964-1966 e concluiu o cursocomo 1° colocado da Turma Cidade de Campinas. É Professor Titular da Universidadede São Paulo, onde leciona desde 1972, inicialmente no Instituto de Matemática eEstatística, e, a partir de 1984, na Faculdade de Educação. Ministra disciplinas nagraduação e na pós-graduação, já havendo orientado mais de 5 dezenas de mestrados e/ou doutorados. Escreveu diversos livros, frutos de seu trabalho acadêmico, dentre osquais se encontram Ética e Educação (2012), Educação e Autoridade (2009), Educação- Competência e Qualidade (2005), Educação - Projetos e Valores (2000), Epistemologiae Didática (1995), Matemática e Língua Materna (1990). É autor, ainda, de mais de duasdezenas de livros para crianças a partir de 5 anos. É palestrante da EsPCEx em 2014.www.nilsonjosemachado.net / email: [email protected]
Outra perspectiva, mais promisso-ra, pode ser o reconhecimento de quea padronização nacional dos conteúdoscurriculares diz respeito a uma buscade isonomia quanto aos finseducacionais almejados; as estratégiasdidáticas, os meios e recursos para otratamento dos temas podem ser – e édesejável que o sejam – marcadamentediversificadas, respeitando-se ascaracterísticas regionais.
Uma educação básica de qualidade,que é condição de possibilidade de umaorganização social democrática, nãopode subestimar, nem superestimar asexpectativas de formação, em razão dadiversidade de circunstâncias materiais,ou de características culturais. As ideiasfundamentais de cada disciplina sãoessencialmente as mesmas, doOiapoque ao Chuí: as formas deapresentação escolhidas para odesenvolvimento de tais ideias é quedevem ser consentâneas com arealidade em que os alunos se inserem.
***
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa28
Avaliando Competências noPortuguês
Guaraci Alexandre Vieira Collares (*)Professor de Língua Portuguesa e Literatura
1. Os Critérios
Quando se trata de avaliar um alu-no para posicioná-lo na turma, o pro-cesso torna-se muito mais complexoporque ajuda a construir um trajeto queacompanhará o estudante pela vidaafora, enquanto estiver na ativa. Deli-neando um futuro profissional, come-ça por estar diretamente ligado à es-colha da arma, irreversível, pelo me-nos até o momento, no caso da carrei-ra do oficial da Linha Bélica do EnsinoMilitar.
Em se tratando de Português, paraser o mais justo possível, deve haverum equilíbrio perfeito entre subjetivi-dade e objetividade, para não se co-meter injustiça e medir com absolutacerteza a competência-mãe da maté-ria: expressar-se adequadamente emLíngua Portuguesa. O caminho maisprodutivo para atingir-se tal objetivo éestabelecerem-se critérios muito bemdefinidos, o mais próximo da realidadedo que se pretende para o aprimora-mento da expressão escrita, compatí-vel com um Bacharel em Ciências Mili-tares.
A Seção de Língua Portuguesa daEscola Preparatória de Cadetes do Exér-cito (EsPCEx) vem fazendo isso ao lon-go dos anos e creio que atingiu umpatamar bastante aceitável, em ter-mos de Ensino por Competências.Aperfeiçoar o sistema de correção éextremamente necessário em provas
discursivas. Na Escola, em cumprimen-to ao Plano de Disciplina, a práticadissertativa exige que as avaliaçõessejam redações com, no mínimo, 25 li-nhas.
A Cadeira busca a não eliminaçãosumária da subjetividade, o que seriadesastroso em uma ciência humana,antes tomando-a como vigorosa alia-da, mantendo o perfeito equilíbrio naanálise dos critérios, a fim de que cadaprofessor possa desenvolver com oscompanheiros docentes uma correçãoharmônica e justa dos trabalhos escri-tos, sem abandonar a própria experi-ência, princípios e individualidade.
Os critérios adotados, TEMA, LIN-GUAGEM e GRAMÁTICA, já orientam ascorreções das redações há pelo menosuma década. Em cada um deles, a Ca-deira vem aprimorando os níveis dedesempenho, posicionando a redaçãoem cada um deles. Os parâmetros de-senvolvidos nada mais são do quesubcompetências ou ampliações daCompetência principal, habilidades ne-cessárias à expressão escrita, que sãomedidas formalmente e produzem umgrau final.
Da mesma forma, o mais transpa-rente possível, utiliza o mesmo siste-ma no Consurso de Admissão à Escola,com algumas diferenças óbvias, no casodas penalizações por erro cometido, por
EsPCEx
29EsPCEx, onde tudo começa
se tratar de um concurso público,objetivando uma boa seleção dos can-didatos.
Aperfeiçoando-se ao longo dosanos, aprimorando-se, chegou-se, em2014, a uma grade de correção que meparece bastante satisfatória e estásendo colocada em prática amplamen-te, com resultados muito positivos. Adiminuição, beirando o zero, de alunosque recorrem do grau obtido, é provaviva do sucesso obtido. Revela, semdúvida, uma aceitação do discente emrelação à nota atribuída bem como àlisura do processo como um todo.
Os critérios TEMA, LINGUAGEM eGRAMÁTICA são subdivididos em seiscategorias: D, I, R, B, MB e E (Defici-ente, Insuficiente, Regular, Bom, Mui-to Bom e Excelente). Em ordem cres-cente, estabeleceram-se os níveis, atéo grau máximo. O R, de acordo com asnormas, define o grau de aprovação,ou seja, o 5,0.
2. Descrição da Grade de Correção
TEMA M G
O aluno não abordou o tema pro-posto. D 0
O aluno tangencia o temaproposto, apresenta baixacapacidade de reflexão, baixoconhecimento do assunto;apresenta ideias-força originadasno senso comum; aborda o temacom superficialidade; mistura osassuntos; equivoca-se;manifesta insegurança para atomada de decisão, numa fracaestrutura dissertativa.
I 15
TEMA M G
R 25
O aluno aborda o tema com baixaprofundidade, manifesta umamediana intenção persuasiva ecapacidade argumentativa,mostrando mais uma simplesconstatação de fatos do quepropriamente o posicionamentofirme em relação à proposta;apresenta ideias-força retiradasdo senso comum, numa razoávelestrutura dissertativa.
O aluno aborda o tema com boaprofundidade, faz a ligação coma proposta, define bem oobjetivo que deseja defender,apresenta ideias-forçaaceitáveis, fundamentadas embom conhecimento do assunto,bom poder persuasivo ecapacidade argumentativa,numa boa estrutura dissertativa.
B 35
O aluno faz uma abordagemadequada, ligada à proposta,define muito bem o objetivo,demonstra segurança paratomada de decisão, apresentaideias-força irrefutáveis eampliadas, com muito bom nívelde conhecimento do assunto,inequívoca atitude persuasiva ealto poder de convencimento ede argumentação.
M B 45
O aluno faz uma abordagemadequada, ligada à proposta,define muito bem o objetivo,demonstra segurança paratomada de decisão, apresentaideias-força irrefutáveis eampliadas, com muito bom nívelde conhecimento do assunto,inequívoca atitude persuasiva ealto poder de convencimento ede argumentação, tudo comgrau diferenciado decriatividade e maturidade.
E 50
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa30
Linguagem M G
D 0
O aluno apresenta sériosproblemas de linguagem, grandedeficiência vocabular, constróiperíodos incoerentes, truncados,não utiliza adequadamente oselementos de coesão textual.
O aluno apresenta algunsproblemas de linguagem,deficiência vocabularprovavelmente originada na faltade hábito de leitura, apresentabaixa capacidade de síntese,texto prolixo, utiliza chavões ouclichês, comete equívocos quecomprometem a clareza e acoesão textual.
I 10
O aluno apresenta umalinguagem razoável, médiosproblemas de coerência e decoesão textual, demonstrapossuir um vocabulário de nívelmediano, de pouca leitura, mascom algum potencial paramelhorar.
R 15
O aluno apresenta umalinguagem aceitável, poucosproblemas de coerência e decoesão textual, constróiperíodos adequadamente,possui um bom vocabulário,proveniente de alguma leitura.
B 20
O aluno constrói períodos eparágrafos muito bemestruturados, coerentes, utilizamuito bem os elementos decoesão textual, possui muito boadesenvoltura no trato da línguae muito bom vocabulário,conquistado com o hábito daleitura.
M B 25
O aluno apresenta um alto nívelde desempenho na expressãoescrita, linguagem diferenciada,fruto do gosto e hábito pelaleitura, o que é demonstrado porum vocabulário requintado, semafetamento.
E 30
Gramática M G
D 0
O aluno apresenta erros degramática bem acima doaceitável para um estudante denível superior, revelando um graupreocupante de semianalfabe-tismo, seja pela quantidade, sejapela gravidade dos erroscometidos.
I 8
R 10
B 15
O aluno apresenta pouquíssimoserros de gramática,considerados leves, que nãoprejudicam a comunicação.
M B 18
O aluno não cometeu um errosequer de gramática.
E 20
O aluno apresenta erros degramática incompatíveis com oaluno mediano, tanto pelaquantidade quanto pelagravidade, revelando deficiênciaoriginada no EnsinoFundamental, que pode sersuperada com muito esforço eestudo da gramática.
O aluno apresenta um nívelconsiderável de erros degramática, mas tem potencialpara, com esforço etreinamento prático de produçãode texto, para reverter asituação.
O aluno apresenta poucos errosde gramática, não comete errosgraves e encontra-se num nívelaceitável para um aluno de nívelsuperior, podendo, com estudoe dedicação, melhorar aexpressão escrita.
EsPCEx
31EsPCEx, onde tudo começa
Observações:- A valorização dos critérios (TEMA,
LINGUAGEM e GRAMÁTICA) varia deacordo com o conteúdo, ao longo doano letivo, atribuindo maior grau à LIN-GUAGEM, no primeiro semestre, e aoTEMA, no segundo semestre.
- O Sistema de avaliação encontrarespaldo na PORTARIA Nrº 99-DECEx,3DE SETEMBRO DE 2013, que aprova asNormas para a Avaliação da Aprendi-zagem (NAA - EB60-N-06.004), em seuartigo 84:
“Escalas de Avaliação são baremasque utilizam uma lista de critérios/indicadores de desempenho a partirdos quais se gradua o nível de apren-dizagem do aspecto enfocado na si-tuação de avaliação, por meio deuma série de valorações (‘’insufici-ente”; ‘’regular”; ‘’bom”; ‘’excelen-te”). São utilizados quando as res-postas dos discentes são diferen-ciadas. Exemplo: avaliação deconteúdos conceituais.” (Grifo doautor)
3. Aspectos Positivos
Salta aos olhos a equanimidadeentre os corretores. Por mais que umdifira do outro, isso não causa danossensíveis ao avaliado. Este jamais sesente injustiçado ao receber um graubaixo ou o não esperado pela redaçãoapresentada. Preserva-se a subjetivi-dade necessária à matéria, sem come-ter injustiça.
O Sistema de Correção alinha-seperfeitamente com o Ensino por Com-petências, que prevê o estabelecimen-
to de critérios claros, principalmentepara a avaliação do aluno, e transfor-ma-se em um poderoso aliado, ferra-menta significativa e indispensável parao processo, ao contrário do que se pen-sa, em relação à medição do desempe-nho para um ensino por competências.
A grade atribui o grau zero somenteem casos extremos, o que, em termosde expressão escrita, é aceitável, umavez que estimula o aluno a um aprimo-ramento individual. Não foi constatadoaté o momento algum aluno quedeliberadamente tenha deixado deabordar o que foi estabelecido na pro-posta temática, o que anula a redaçãocomo um todo.
O processo é amplamente divul-gado para os alunos, que conhecem afundo os critérios de correção, o baremautilizado pela Disciplina, a valorizaçãode cada nível, documentação presentee disponível no Ambiente Virtual deAprendizagem (AVA) e tambémexplicada em sala de aula pelos pro-fessores da Cadeira, antes e depois dasprovas formais.
Por fim, reafirma-se que caiu parapróximo de zero, não exagerando, o nú-mero de ponderações dos alunos, pós-prova, o que comprova a eficácia dosistema de correção adotado pela Ma-téria e, principalmente, revela a acei-tação do aluno, não só como avaliadomas também como partícipe ativo, nabusca pelos objetivos comuns do ensi-no-aprendizagem.
***
(*) O Coronel Professor, da Arma de Cavalaria, Guaraci Alexandre Vieira Collares cursou oColégio Militar de Porto Alegre, de 1964 a 1970. Graduou-se na Academia Militar das AgulhasNegras em 1974. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (nível mestrado) em 1984e a Escola de Comando e Estado-Maior (nível doutorado) em 1994. Como funções principaisna ativa, foi Professor em Comissão da Cadeira de Redação e Estilística da AMAN de 1988 a1992; comandou o 2º Regimento de Carros de Combate e foi Chefe de Estado-Maior da 11ªBrigada de Infantaria Leve. Atualmente é Professor de Português na EsPCEx.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa32
Estratégias de Controle doEstresse: prevenção e promoção
da saúde
Márcia Maria Carvalho Luz Fornari (*)Psicóloga
a. Introdução
Este artigo originou-se a partir dapercepção obtida com a aplicação doInventário de Sintomas de Estresse deLipp (ISSL) em uma amostra nos alunosda Escola de Preparatória de Cadetesdo Exército no ano de 2014. Esteinventário, como o próprio nome jáindica, serve como instrumento útil naidentificação de quadros característicosdo estresse, possibilitando diagnosticá-lo já a partir dos 15 anos e em qualfase a pessoa se encontra (em alerta,resistência, quase-exaustão eexaustão). O ISSL também propõe ummétodo de avaliação do estresse queenfatiza a sintomatologia somática epsicológica. Este artigo enfatizará asorigens do estresse, consequênciasadvindas dele e formas eficazes decombatê-lo. O presente artigo estáorganizado em tópicos com a finalidadede se manter a objetividade e o foconas estratégias de enfrentamento.
b. Definição do Conceito
O estresse ocorre quando a pessoaenfrenta eventos que percebe comoperigosos para seu bem-estar físico oupsicológico (evento estressante). É umestado de tensão que causadesequilíbrio no organismo (respostaao estresse). O estresse estárelacionado com a percepção decontrolabilidade, de previsibilidade e deextensão do evento estressor. Pode ter
origem em aspectos físicos (umadoença ou desgaste do organismo,originando o estresse); bem comopsicológicos (uma situaçãotraumatizante, eventos estressores,conflitos e dilemas internos). Algumascausas observadas são vinculadas àcarga excessiva de trabalho, a dormirpouco, ao excesso de responsabilidade,a preocupações com o estudo outrabalho, a muitas prioridades, aconflitos pessoais, à falta deautonomia, a problemas derelacionamento, a autocobrançasirreais, ao pessimismo e a demandasdiversas. O estresse em grau elevadopode acarretar alguns problemas, comopor exemplo: hipertensão arterial,dependência química, depressão, errose acidentes de trabalho, queda norendimento físico e intelectual,problemas de relacionamento com oscolegas, perda da concentração,tristeza, descontrole emocional e quedade produtividade. Alguns sintomasfísicos podem surgir, tais como:gastrointestinais, cardiovasculares,respiratórios, dermatológicos eimunológicos.c. Como Combater este Mal?
Algumas estratégias deenfrentamento mais utilizadas são:suporte social, reavaliação positiva,resolução de problemas e fontes deapoio como: colegas, família,
“Somos o que pensamos. Tudo o quesomos surge com os nossospensamentos. Com nossospensamentos, fazemos o nossomundo.” Siddhãrtha Gautama
EsPCEx
33EsPCEx, onde tudo começa
religiosidade, dentre outras. Éimportante observar algumas atitudesadaptativas, ou seja, mudar a si mesmoe/ou o ambiente. Explorar açõestomadas diante de situaçõesestressantes permite auxiliar noplanejamento de atividades do pontode vista psicológico e administrativo,como, por exemplo, evitar modosnegativos de agir, isto é, ruminação sematitude de mudança, evitação, esquiva,comportamentos imprudentes eautodestrutivos. Avalie sempre seuspensamentos, ações e demandasinternas e externas de um eventoestressante (ações cognitivas,contexto e características do eventoestressante). Atenção aos fatorespotencializadores e aspectossingulares, ou seja, característicasindividuais que fazem com que assituações sejam vistas comoestressantes ou como desafios, oumesmo se possui vulnerabilidade oupredisposição para o estresse.
d. Prevenção e Promoção de Saúde
Resiliência é a capacidade desuperar adversidades e, além disso,sair fortalecido e prosperar (é umaresposta positiva frente ao estresse).Para se pensar em prevenção é precisoobservar os fatores de risco (dificuldadede adaptação, vulnerabilidade oudesajustes emocionais), os fatores deproteção (recursos que fortalecem,amenizam ou neutralizam o impactode eventos estressantes, tais como, aautoconfiança, a socialização, atolerância, a flexibilidade e oautocontrole) e a capacidade degerenciamento, fruto da aprendizagemem que é possível desaprender certasreações inadequadas.
e. Enfrentando AdversidadesBusque:
1. Metas ou habilidades para odesenvolvimento pessoal; 2.Relacionamentos saudáveis; 3.Autoeficácia e autoestima; 4.Alimentação e exercícios físicosadequados; 5. Horários regulares paradormir; e 6. Orientação positiva para ofuturo.f. Técnicas Manual de Enfrentamento
1. Mantenha as atividades sobcontrole, em dia (utilize uma agenda).
2. Organize-se! Bagunça geraestresse.
3. Evite atrasar-se. Cronometre otempo que gasta em suas atividadespara estar familiarizado com aquantidade de tempo que necessita.
4. Evite controlar tudo e todos. Nãofunciona e o índice de ansiedade sobe.Analise o contexto.
5. Tenha inteligência emocionalnos relacionamentos interpessoais. Hápessoas ótimas para se conviver eoutras de difícil convívio.
6. Simplifique a sua vida. Tenhaalguns minutos do dia para atividadesque lhe causem bem-estar (umamúsica, um trecho de livro, umrelaxamento, uma meditação, umaoração, etc).
7. Ajude os outros! É umaexcelente arma contra o estresse.
8. Veja o lado positivo das coisas:seja construtivo.
9. Simplifique a sua lista deafazeres. Agrupe, organize porprioridade, delegue, assinale os jáconcluídos, estipule prazos.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa34
10. Realize exercícios físicos etenha uma alimentação saudável. Umavida pouco saudável (bebida, cigarro,isolamento social, brigas com colegas)é uma fonte de estresse.
11. Seja agradecido. Tenha emantenha uma atitude deagradecimento para com as coisas boasda vida.
12. Tenha cuidado com asinterpretações errôneas, como: “eleestá com raiva de mim”, “eu não seifazer nada direito”, “sou sempreperseguido...”.
13. Controle a ansiedade. Muitasvezes uma pessoa emite uma respostaerrada perante uma situação (como emexplosões de raiva e em críticasexacerbadas).
14. Registre as consequências doseu estresse: como se sente fisica eemocionalmente, como age emresposta ao estresse, o que faz parasentir-se melhor.
15. Mude a situação, evitando oualterando o fator estressor, ou mude asi mesmo, adaptando ou aceitando ofator estressor.
16. Esteja disposto, comprometa-se em combater o estresse.
17. Ajuste seus padrões. Cuidadocom a autocobrança exagerada(perfeccionismo).
18. Compartilhe sentimentos,
dúvidas e questionamentos.
19. Não tente controlar oincontrolável ou sofrer por antecipação.
g. Conclusão
Para saber se seu estresse estáficando excessivo, faça uma reflexãosobre os itens a seguir:
1. Avalie seu corpo. Verifique setem sentido, ultimamente, doresmusculares, dor de cabeça, ombrostensos, hiperacidez estomacal, falta dear, taquicardia, tremedeira, problemasdermatológicos, insônia, fadiga, baixaresistência. O corpo pede ajuda.
2. Avalie suas emoções. Temsentido apatia, vontade de fugir detudo, tédio, desinteresse, raiva,tristeza, ou medo. Quando ossentimentos estão tumultuados é difícilser feliz!
3. Preste atenção aos seusrelacionamentos e atividades:irritabilidade, vontade de não conversarcom amigos, desilusão com todos,inquietação, queda no rendimentolaboral ou ocupacional. Quando se estácom estresse, nossos relacionamentose atividades ficam prejudicados.
***
(*) A 1º Tenente psicóloga Marcia Maria Carvalho Luz Fornari é graduada em Psicologia comHabilitação em Psicologia como Psicólogo Pesquisador pela Pontifícia Universidade Católicade Campinas. Especialista em Desenvolvimento do Potencial Humano nas Organizações eMestre em Psicologia como Profissão e Ciência pela Pontifícia Universidade Católica deCampinas. Psicopedagoga pela Universidade Gama Filho (UGF-RJ). Extensão na UNICAMP(Faculdade de Educação e Gerontologia). Formação complementar na área de Gestão Empresarialpela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ). Graduanda em Administração na Universidade Paulista.Atualmente é Psicóloga Adjunta da Seção Psicopedagógica da EsPCEx.
EsPCEx
35EsPCEx, onde tudo começa
A Subjetividade e a(Re)Constituição da Identidade
no Processo de Aprendizagem deLíngua Estrangeira
Márcia Barros Barroso (*)Professora de Inglês
Introdução
Ao longo de vários anos de atuaçãocomo professora da disciplina de LínguaInglesa, tanto em instituições deensino civis como na Escola Preparatóriade Cadetes do Exército, sempre refletia respeito da expressão do sujeito eminglês como língua estrangeira. Aotrabalhar em um ambiente de ensinomilitar, há a especificidade da questãodisciplinar: todo um conjunto de regrase procedimentos deve ser respeitado eapreendido pelo aluno. Por essa razão,ao iniciar minhas atividades comoprofessora nesta escola de carátermilitar, imaginei que poderia enfrentarproblemas na expressão escrita e oraldos alunos, devido ao rígido controledo fazer e do dizer que certamentehaveria sobre eles. Mas, para minhasurpresa, percebi que o dizer dos alunosacontecia: eles exteriorizavam suasideias, impressões e sentimentos arespeito de si mesmos, de fatos eassuntos variados abordados nostextos trabalhados em aula, tantoescritos como orais. E percebíamos,também, que, quanto mais issoacontecia, mais o aluno se comprometiacom sua aprendizagem. Essa boasurpresa me levou a refletir e investigar,numa pesquisa de mestrado, os
O ensino de inglês em uma escolamilitar, a linguagem e os interditos
Enfrentamos, desde o nossonascimento, várias formas deinterdição, algumas explícitas e outrasveladas. As formas explícitas deinterdição são as impostas pelasinstituições que nos estruturam comosociedade, tais como a família, a igreja,a escola e outras, enquanto as formasveladas operam de variadas maneiras,a partir de demandas sociais. A próprialinguagem tem seu caráter cerceador,já que simboliza, ou seja, quandofalamos ou escrevemos,(re)construímos e externamosrepresentações das coisas; nãoapresentamos as coisas em si. E nãohá relação fixa intrínseca entre aspalavras e aquilo que elas representam(FOUCAULT, 1981). Além disso, umsujeito faz suas representações a partirde sua interpretação singular darealidade, que sempre difere, em algumnível, da interpretação de outrossujeitos, de acordo com as condições
meandros desse processo de dizer (-se) na língua estrangeira, especifica-mente a inglesa.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa36
histórico-sociais do sujeito e da própriaenunciação. Em relação à línguaestrangeira, há, ainda, a questão dainterdição que esta opera em umprimeiro contato e, para alguns, emoutra ocasiões, no nível doinconsciente, enquanto estranha/estrangeira, a língua do outro.
No contexto da pesquisa quedesenvolvemos, há, ainda, um fatoradicional de interdição, que é oambiente militar, sabida econstitutivamente restritivo do dizer edo fazer, com um conjunto de regrasrígidas que devem ser seguidas à riscapor aqueles que nele se inserem.Interessou-nos estudar o dizer dealunos militares na disciplina de LínguaInglesa, não apenas frente aos váriosinterditos explícitos ao dizer de si, masespecialmente o interdito ao uso dalíngua inglesa no registro doinconsciente, no qual também seoperam fortes interdições de origens etipos variados. Assim, neste estudo,pretendemos observar se, mesmonessas condições restritivas deprodução, traços da subjetividade sefazem presentes em brechas na/dalinguagem do aluno, naquilo que éfalado ou escrito por ele, na línguainglesa.
Os participantes da nossa pesquisaforam 16 rapazes de uma turma deinglês, cujos textos escritos e oraisdesenvolvidos como atividades de aulaformaram o nosso corpus para a análisediscursiva.1 Nas representações que osparticipantes fazem de si mesmos e dooutro (o colega, a escola, o professor,o comandante de pelotão, a línguainglesa etc.), em seu dizer, procuramosrastrear traços de sua subjetividade,
bem como a maneira como esta seconstitui na / através da língua inglesa.
A concepção discursivo-desconstrutivista da linguagem, na qualancoramos nosso trabalho de pesquisa,não supõe o texto escrito ou oral comouma mensagem que será “recebida”passivamente por um leitor/ouvinte.Nessa visão da linguagem, pensa-senão simplesmente em escrita ou fala,mas em escritura, pois quando o sujeitolê, ouve ou produz um texto escrito ouoral, expondo suas ideias esentimentos, produz sentidos,envolvendo-se, sendo marcado peloque lê, ouve, escreve ou fala. O sujeito,na linha de análise psicanalítica,também aqui empreendida, não é oconsciente, racional. Esse sujeito écindido, dividido entre o que estáexposto - o eu aparente, “controlável”,ou seja, o que ele acredita ser - e oque nunca está aparente - oinconsciente, o Real, o que elerealmente é. O sujeito, na psicanálise,é o que acredita ter total controle sobreseus atos e seu dizer, mas não percebeque esse controle total é ilusório,inatingível, já que esse sujeito ébarrado, ou seja, interditado, enquantoser social. Portanto, todos nós, sujeitosinseridos na ordem social, temos umdesejo de completude e,consequentemente, a ilusão de controletotal controle sobre o que fazemos,dizemos e escrevemos; contudo, essecontrole é apenas em nível consciente.A psicanálise nos mostra que não existecontrole total, já que o registro doinconsciente é constitutivo do serhumano. Prova disso é o lapso, tãocomum na linguagem escrita e falada.
EsPCEx
37EsPCEx, onde tudo começa
1Tivemos autorização do comando para a realização da pesquisa. A participação dos alunos foi voluntária e o uso do material por elesproduzido foi formalmente autorizado pelos mesmos, mediante garantia da pesquisadora de que suas identidades seriam preservadas. Assim,todos os nomes que aparecem nas transcriçõe são fictícios.
Os efeitos de se comunicar em umalíngua estrangeira na constituiçãoidentitária de alunos militares
Foucault (2003) descreve algunstipos de escrita de si como modos de osujeito se constituir na e pela escrita.O autor faz um estudo de tipos deautonarração desde a antiguidade,mencionando os hypomnemata(cadernos de notas, comentários,anotações e rascunhos, muito usadosentre os gregos, na Antiguidade – umaforma de exame de si) e as cartas, quepermitiam a abertura de si ao outro,cada um com maior ou menor controlede si através da escrita. O mesmo autor(1982, p. 323, 324) menciona, entreoutros modos de controle dos sujeitos,as tecnologias de si, como mecanismosque todos temos de nos relacionarmoscom o mundo, sempre controlados pelooutro em diferentes níveis deintensidade. Seriam técnicas quepermitem aos indivíduos efetuar, comseus próprios meios ou com a ajuda deoutros, um certo número de operaçõesem seus corpos, almas, pensamentos,conduta e modo de ser, de modo atransformá-los com o objetivo dealcançar um certo estado de felicidade,pureza, sabedoria, perfeição ouimortalidade. Esses mecanismos sãoinevitáveis e necessários à vida dosujeito em sociedade. De maneirasemelhante, a psicanálise freudo-lacaniana vê esse mecanismo comonecessário para a inscrição do sujeitono mundo, considerando que somostodos constituídos na e pela linguagem
Resumidamente, as representa-ções que os alunos constroem de sisão de homens fortes, maduros eseguros, que amam e se orgulham desua Pátria e que orgulhosamente sesacrificam muito na defesa desta e nabusca constante de ser o militar ideal.Para a Língua Inglesa (LI), observamosbasicamente duas representações: a deuma língua dos sonhos, enquantorepresentante de países economi-camente bem sucedidos. Nessesentido, a Língua Inglesa é repre-sentada pelos alunos como um espaçode conforto (como se fosse a sua línguamaterna) e de libertação, no qualpodem se expressar, até em relação asentimentos íntimos. Ao mesmo tempo,a LI é também representada como umalíngua universal, que irá lhes servircomo ferramenta para cumpriremmissões no exterior, uma língua cujosaber pode lhes conferir poder emtermos internacionais, através dacomunicação. A Pátria Brasileira érepresentada pelo aluno como tendoalto valor, como a terra “do pai”, comoindica a etimologia da palavra. Algunsalunos têm até receio de seremconsiderados como não-patriotas pelofato de gostarem da Língua Inglesa.Muitos expressam sentimentos desofrimento pelo afastamento da família,amigos e namoradas, exigido pela vidaem internato militar. As reflexões sobreas decisões tomadas, inclusive emrelação à carreira, também são comunsnos textos. Alguns chegam a utilizar,em inglês, um estilo de linguagem comcaracterísticas poéticas para expressarseu amor pela Pátria e por pessoasqueridas, bem como sua dor da
separação daquilo e daqueles queamam.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa38
(verbal ou não), através da qualsimbolizamos as coisas ao representá-las.
Derrida (1988) postulou a noçãoda “otobiografia”: seria um deslize doconceito de autobiografia, umrefinamento da escuta de si, um ato de(trans)formar-se, na escuta evalorização de suas própriasexperiências, enquanto o sujeitoescreve ou fala. Ao escrever ou ao dizeralgo, mesmo ao repetir narrativas quejá enunciamos antes, ou que outrosanunciaram, algo se modifica e ossentidos se atualizam, nunca chegandoà totalidade, mas sempre abrindo aenunciação a novos sentidos. É o queocorre com o sujeito ao contar de si edo outro, num movimento de memóriae esquecimento, ao refazer suasnarrações e ressignificar experiênciasvividas. A cada movimento de contar(-se), uma nova interpretação é feita,enquanto o sujeito empreende umatentativa inconsciente de se fazerinteiro e (se) fixar uma identidade. Nouniverso militar, coerentemente, ossujeitos empreendem esse processo naprodução de uma identidade militarpara si, como é o caso da pesquisa queaqui resumimos.
Quando essa escritura (escrita ouoral) de si se dá em uma línguaestrangeira, especificamente, ela trazao sujeito a possibilidade de escutar-se e reescrever-se numa outra ordem(diferente da ordem predominante desua língua materna) - uma língua naqual se exprimir, e onde também podemocorrer ressignificações outras emesmo, consequentemente, mudançasimportantes. Segundo Prasse (1997, p.71, 72), um dos fatores de atração dosujeito por uma língua estrangeira é a
Considerações finais
A análise do corpus da pesquisaatestou que, embora em condições derígido controle disciplinar, as produçõesescritas e orais dos participantestrazem marcas discursivas de suasubjetividade, vindo à tona na línguainglesa, através das representaçõesque mencionamos acima. Observam-se,enfim, nos participantes de nossapesquisa, indícios de um desejo(inconsciente) de controle de si e dooutro e do reconhecimento pelo outro,através da posição de Oficial doExército, em deslizes que trazem à tonarastros do inconsciente, apontandopara sentidos que não são capturadosse vislumbrados num olhar superficial.Pode-se afirmar que esse dizer(-se) naLíngua Inglesa é a própria inscrição dosujeito nessa língua estrangeira. Oaluno se inscreve nessa língua ao nelanarrar(-se), dela apropriando-se comose sua fosse, buscando construir parasi uma identidade como falante dela. ALíngua Inglesa, para esses alunosfalantes nativos da Língua Portuguesa,é uma outra discursividade, diferenteda de seu dia a dia. Faz-se uma nova ediferente escritura de si quando se narraem uma outra língua-cultura, o queprovoca no sujeito deslocamentossubjetivos em relação a si e até emrelação à sua própria língua materna.
Consideramos fundamental, notrabalho do professor de LI, desde suascrenças didático-pedagógicas até aescolha dos meios e das estratégias a
inquietação por não poder encontrar seupróprio lugar na língua materna, alémde um desejo de ser livre para escolheruma ordem na qual se exprimir.
EsPCEx
39EsPCEx, onde tudo começa
serem trabalhados em cada aula,conhecer esses meandros daconstituição subjetiva de seus alunos.Em seu planejamento e no constanteredirecionamento de seu trabalho, umaabordagem que considere essesaspectos irá certamente favorecer umaaprendizagem mais efetiva da LI comolíngua-cultura, bem como a própriaformação dos alunos como sujeitos desi. Ao considerar esses aspectos emseu fazer didático-pedagógico, oprofessor pode conhecer melhor oaluno, o que favorece um laço afetivoentre ambos e, consequentemente,uma relação de confiança do aluno paracom o professor. Faz-se importante, notrabalho do professor, valorizar a escutaem suas aulas. E três tipos de escutasão necessários no processo de ensino-aprendizagem: primeiramente, aescuta do professor ao aluno; não umaescuta fisiológica apenas, mas umaescuta discursiva, ou seja, com atençãodo professor a demandas pedagógicasa partir das necessidades do aluno. Emsegundo lugar, a escuta do aluno a simesmo, o que permitirá que este façaconstantes autoexames e (re)avaliesuas atitudes. Assim, pode ocorrer, commaior tranquilidade, o terceiro tipo deescuta: a escuta do aluno ao professor,o que irá permitir que ele acolha noçõesque lhe sejam importantes, não apenaspara memorizar conceitos e seraprovado no final do ano, mas parapoder utilizá-los e aplicá-los em ações(procedimentos) de maneira valiosapara sua profissão e para sua vida.
A sistemática do ensino porcompetências, implantada no ExércitoBrasileiro nos últimos anos, é, em si,um passo importante no sentido de
respeitar a singularidade do aluno, jáque estimula o desenvolvimento dediferentes habilidades que acabamsendo presentes de maneiras diferentesentre um aluno e outro. E nós,professores de alunos militares, temoso desafio de colocar tudo isso emprática, apesar do princípio dauniformidade, que é necessariamenteconstitutivo do Exército Brasileiro,assim como o é em todo exército. Épreciso buscarmos um equilíbrio entrerespeitar a singularidade e atuar sobum princípio de homogeneidade, duascoisas que, em princípio, são opostas.A prática dessa sistemática de ensinofica difícil de ser viabilizada se nãoescutarmos os alunos e não aceitarmosas inúmeras diferenças que há entreeles como sujeitos. Cada atividadetrabalhada, cada decisão tomada peloprofessor, deve ser feita com respeitoao que este sabe de seus alunos, comoum grupo de sujeitos com algumascoisas em comum, mas que sãoinevitavelmente diferentes entre si, comorigens e histórias de vida diferentes -e que às vezes respondemdiferentemente aos vários desafios davida militar. Ao fazermos isso etomarmos decisões didático-pedagógicas que levem emconsideração tanto as semelhançasquanto as diferenças entre os alunos,temos maiores chances de ter alunosmais envolvidos, mais implicados emsua própria aprendizagem.
Poderíamos citar muitos outrosfatores que estão altamente implicadosno sucesso da aprendizagem de nossosalunos: fatores que envolvem toda aestrutura material e humana de umaescola e que devem possibilitar o
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa40
(*) A Professora civil Márcia Barros Barroso é licenciada em Letras – Português/Inglês epossui pós-graduação Lato Sensu em Arte e Técnica da Tradução pela Pontifícia UniversidadeCatólica de Campinas; é mestra em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas(UNICAMP).Possui os certificados de proficiência em língua inglesa pela Michigan ECPE e CambridgeFCE. Atualmente é doutoranda em Linguística Aplicada na UNICAMP e exerce a função deprofessora de Inglês na EsPCEx.
AUTHIER-REVUZ, Heterogeneidade(s) enunciativa(s). Tradução deCruz, C. M. e Geraldi, J. W., in Caderno de estudos linguísticos, (19):25-42, jul-dez., 1990 / IEL, Unicamp. Campinas, SP: Editora daUnicamp.CORACINI, M. J. A Celebração do Outro – Arquivo, memória eIdentidade. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007.CORACINI, M. J. F., Entre a memória e o esquecimento: fragmentosde uma história de vida. In Coracini, M. J. e Ghiraldelo, C. M. Nasmalhas do discurso: memória, imaginário e subjetividade (pp. 23-74).Campinas, SP: Pontes, 2011.DERRIDA, J. A Escritura e a Diferença. São Paulo: Perspectiva, 1971.DERRIDA, J. The ear of the other. New York: Schocken Books,1988.FOUCAULT, M. (1981). As Palavras e as Coisas. Trad. de Salma T.Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2000.FOUCAULT, M. (2003), A escrita de si, in Foucault, O que é umautor? (pp. 129-160). Lisboa, Portugal: Passagens.FOUCAULT, M. (1982), Tecnologias de si. In Revista Verve, no 6,2004 (pp. 321-360), disponível em http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/5017/3559. Acesso em 23/06/2014.LACAN, J. [1971-1972]. O Seminário, Livro 19: ...ou pior. Trad. deVera Ribeiro.Rio de Janeiro: Zahar, 2012.MAIA, M. C. G., O lapso de escrita como refúgio do sujeito, inMariani B. (Org.), A escrita e os escritos: reflexões em análise dodiscurso e psicanálise (pp. 31-44). São Carlos, SP: Claraluz, 2006.MILNER, Jean-Claude, O amor da língua – Campinas, SP: Editora daUnicamp, 2012.NAZAR, T., O escrito da escrita, in Mariani, B. (Org.), A Escrita e osEscritos: Reflexões em Análise do Discurso e Psicanálise (pp.159-174). São Carlos, SP: Claraluz, 2006.PRASSE, J., O Desejo das Línguas Estrangeiras, tradução de DulceDuque Estrada, in Revista Internacional, “A Clínica Lacaniana” –Ano 1, No 1 (pp. 63-73). Rio de Janeiro, RJ: Companhia de Freud,1997.REIS, V. S., Representações e deslocamentos no diário deaprendizagem de língua estrangeira: uma escrita de si para o outro,in Coracini e Eckert-Hoff (org.), Escritura de Si e Alteridade noEspaço Papel-Tela (pp. 137-163). Campinas, SP: Mercado de Letras,2010.SERRANI- INFANTE, Singularidade discursiva na enunciação emsegundas línguas, in Caderno de Estudos Linguísticos (38): 109-120,Jan./Jun. 2000. Disponível em: http://www.iel.unicamp.br/revista/index.php/cel/article/view/2684 . Acesso em 07/04/2013.UYENO, E. Y., A escrita e os processos de subjetivação e a escrita eos processos de identificações, in Anais da 1ª JIED, 2008. Disponívele m h t t p : / / s i t e . u n i t a u . b r / / s c r i p t s / p r p p g / l a / 4 s e p l a / a r t i g o s /Elzira%20Yoko%20UYENO.pdf, acesso em 11/07/2013.
Bibliografiasucesso do processo de aprendizagemcomo um todo; contudo, limitamo-nos,neste texto, a focar questões referentesà nossa pesquisa de mestrado.Acreditamos, enfim, que devemos tersempre em mente que o aluno militar,mesmo cumprindo exemplarmenteordens e regras e parecendo estarsempre tranquilo e seguro, às vezes,pode não estar tão tranquilo nem tãoseguro e que essa intranquilidade ouinsegurança irá certamente interferirnegativamente em seu aprendizado ena sua constituição subjetiva. É por issoque se faz necessário procurar fazer ajá mencionada escuta além dasuperficialidade “controlada” daspalavras do aluno, pois aquilo que é“inter-dito” (ou seja, dito inter (Lacan,2012 [1971-1972], p. 29) e atésilenciado pelo aluno, na busca deaparentar ser sempre o militar ideal,fica inevitavelmente latente, fazendoparte de sua constituição identitáriacomo pessoa e como militar. Assim,acreditamos que propiciar espaço parao dizer de si e do outro, na expressãoescrita e oral do aluno, nesse contexto,faz-se extremamente importante parao bom desenvolvimento das suashabilidades e para o seu bem-estar nalíngua-cultura estrangeira – Inglês.
***
EsPCEx
41EsPCEx, onde tudo começa
Vagner Xavier Cirolini (*)Instrutor da Seção de Treinamento FísicoMilitar da EsPCEx
Introdução
Análise das Forças de Impactodo Tênis e do Coturno Durante a
Corrida
Correr é uma forma de locomoçãoque permite aos seres humanosdeslocarem-se de um lugar para outromais rapidamente do que o fariam sepreferissem caminhar. Além de ser umaatividade popular, é também a basepara o desempenho em váriosesportes¹.
A consciência crescente deexercícios aeróbicos para manter umestilo de vida saudável aumentou apopularidade das corridas nos últimosanos² . Os benefícios dessa atividadesão inúmeros, destacando-se a saúdecardiovascular e mental, além daredução do stress, diversão e lazer³.
No Exército Brasileiro, a atividadede corrida é um dos métodos detreinamento cardiopulmonar previstopara os militares durante todo o anode instrução e consta nos programasanuais de Treinamento Físico Militar(TFM), sendo orientada pelo Manual deTFM4.
O programa anual de TFM tem porobjetivo a manutenção dos padrões dedesempenho físico dos militares efornece uma orientação básica para onúmero de sessões de corrida a serrealizado durante a semana,dependendo do tipo de Organização
Militar (OM) e do número de sessõesde TFM por semana4. Para a prática decorrida, o Regulamento de Uniformesdo Exército5 prescreve o uso do tênis e,eventualmente, o uso do coturno.
Na corrida, o indivíduo é submetidoà Força de Reação do Solo (FSR). Talforça é proporcionada pela superfíciena qual a pessoa está semovimentando. O corredor empurra osolo com força e o solo responde emigual força na direção oposta6.
A progressão durante a corrida épossível em virtude da produção deforça muscular, que é aplicada contra osolo. Essa força é gerada nos músculosao redor e através das articulações e étransmitida ao solo para sustentar ocorpo durante a fase de apoio, além defornecer a força necessária para apropulsão do próximo passo¹.
Segundo Durward, et al.¹, atravésde técnicas biomecânicas sofisticadas,calcula-se as forças que atuam nosmúsculos e sobre as articulações. Ocomponente de força vertical em umpadrão de contato de calcanharapresenta dois picos principais: OPrimeiro Pico de Força (PPF), quecorresponde ao contato inicial após aaterrissagem; e o Segundo Pico de Força
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa42
(SPF), produzido por uma combinaçãoda carga do corpo sobre o solo e pelapropulsão para a próxima passada, édenominado pico ativo ou de propulsão.
Williams7 relata que as fraturaspor estresse resultam de cargarepetitiva do osso em níveis maioresque podem ser sustentados. Osestresses nos ossos durante a corridapodem ser provocados pelas forças dereação do solo aplicadas aos pés, pelasforças musculares internas causadas porcontração muscular e pelos efeitos doestresse gerados pela composiçãoespecífica e pela orientação dos ossose das articulações na extremidadeinferior.
Diferentemente da caminhada, acorrida possui maiores forças de impactona fase de apoio; com maioresestresses musculoesqueléticos nosmembros inferiores2. Williams7 relataque a análise das forças de reação dosolo fornece um maior entendimentode fatores que afetam esses estresses.De acordo com Hreljac, a prevalênciade lesões em corredores é alarmante,entre 27% a 70% dos corredorescompetitivos e recreacionais sãolesionados no período de um ano.
No meio militar, segundo Popovich,et al.9, a repetição de atividades físicasintensas envolvidas durante ostreinamentos, estreitamente asso-ciadas com o rigor da corrida, podedesenvolver lesões nos membrosinferiores. House et al.10 afirmam queos coturnos em geral têm limitadaspropriedades de absorção de choquese que palmilhas utilizadas ematividades de corridas absorveriam, emparte, esses choques.
O objetivo desse estudo foi avaliaros parâmetros das componentes verticalda força de reação do solo (FRS) durantea corrida com tênis e coturno fornecidospela cadeia de suprimentos do ExércitoBrasileiro no ano de 2012.
Materiais e Métodos
Este estudo foi compostoinicialmente de uma amostra de 30indíviduos do sexo masculinoincorporados ao Exército Brasileiro emmarço de 2012, com pelo menos quatromeses de realização de TreinamentoFísico Militar e já adaptados à utilizaçãodo coturno.
Devido a problemas na coleta dedados, apenas 17 indivíduosapresentaram todas as variáveisanalisadas no estudo. Desta forma, aamostra final apresentou idade médiade 19 ± 0,5 anos e 5 meses de tempode serviço militar.
Indíviduos com lesão traumáticana articulação do joelho ou patela,cirurgia prévia, lesão ligamentar oumeniscal, deformidade severa no joelhocomo joelho valgo ou varo foramexcluídos da amostra. Os indivíduosassinaram o termo de consentimentolivre e esclarecido, aprovado pelocomitê de ética do Hospital da ForçaAérea do Galeão (CAAE:03525712.8.0000.5250).
Amostra
Procedimentos experimentais
Os testes foram realizados em doisdias consecutivos. No primeiro, foirealizada uma entrevista e explicadosos procedimentos de postura para coleta
EsPCEx
43EsPCEx, onde tudo começa
de dados demográficos e antro-pométricos.
No segundo dia, a fim de medir asvariáveis relacionadas à FSR, foramutilizadas duas plataformas de forçaBertec FP4060-10-2000 (Bertec, EUA)(Figura 1), que se encontravam nocentro de um corredor de 12 metros decomprimento formado por plataformasde madeira. Todos os sinais estavam auma frequência de 200 Hz por 10s.
Figura 1 - Localização das Plataformas de Força
Para a realização do teste, ossujeitos realizaram cinco tentativas decorrida antes de iniciar o experimentopara adaptação ao teste. A velocidadefoi controlada usando como referênciao passo acelerado, conforme o Manualde Ordem Unida do Exército Brasileiro.Os sujeitos foram avaliados com tênis,com o coturno e descalços, em umaordem randômica.
Antes do teste propriamente ditocom cada calçado, o indivíduo ficou emuma posição estática em cima daplataforma por 6 segundos, paracalibragem de sinal.
Após o teste estático, a amostrateve três tentativas válidas para cada
avaliação dinâmica de corrida descalço,com tênis e coturno, de forma aleatória.Cada tentativa válida foi representadapelo movimento da corrida em que osujeito realizou o movimento com umpé em cada plataforma de força. Dadosdinâmicos de FRS foram normalizadospelo peso corporal, sendo utilizada amédia de três tentativas para análise.Foram avaliadas as variáveis: PrimeiroPico de Força (PPF), Segundo Pico deForça (SPF) e Taxa de Aceitação do Peso(TAP).
Figura 2 - Variáveis da Força de Reação do Solo
Análise estatística
As variáveis foram analisadas,inicialmente, através da estatísticadescritiva e, através do teste deKolmogorov-Smirnov, foi verificado oajuste da distribuição normal.
A comparação de cada variável nascondições descalço, tênis e com coturnofoi avaliada através do teste de deFredman, já que as variáveis nãoapresentaram distribuição normal. Onível de significância considerado foide α = 0,05. Rotinas no software Matlab
Vert
ical G
RF
Primeiro Pico
de Força
1xBW
0
Tempo (ms)
2xBW
Segundo Pico
de Força
Taxa de Aceitação
de Peso
300150
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa44
Resultados
O teste de Kolmogorov-Smirnovrejeitou a hipótese nula de que asvariáveis apresentassem umadistribuição normal. Desta forma, oteste não paramétrico de Friedman foiutilizado para fazer as comparaçõesentre as condições das variáveis de FRSdurante a corrida descalço, tênis e comcoturno.
A comparação das variáveisprimeiro e segundo pico de força nãoevidenciou diferença significativa entreas condições de coturno, tênis edescalço (Tabela 1, Figura 3 e 4).
Tabela 1
Diferenças evidenciadas no post-hoc entre as condições descalço, detênis e de coturno.
PC = peso corporal
1 2 3
Figura 4 - Segundo Pico de Força (SPF),descalço, tênis e coturno, respectivamente
Variáveis Descalço Tênis Coturno p-valor
1º PicoMédia 1,53 1,54 0,9429
(% PC) DP 0,42 0,35
2º Pico Média 2,42 2,39 0,3902
(% PC) DP 0,25 0,29
Taxa Média 76,21 47,13 <0,0001
(% PC/s) DP 25,67 18,28
1,56
0,38
2,43
0,25
53,68
17,10
(Matworks, EUA) foram desenvolvidaspara o processamento e análise dossinais, bem como para realização dostestes estatísticos.
Valores médios e respectivosdesvios-padrão para as variáveisanalisadas quando descalço, de tênise de coturno.
A variável taxa de aceitação dopeso foi estatisticamente menor nascondições de tênis e coturnocomparadas à condição descalço(Tabela 1, Figura 5). Embora semdiferença significativa, observa-se umatendência a maior taxa de aceitaçãodo peso com coturno, comparado aotênis.
1
1,2
1,6
1,8
2,2
2
2,4
Prim
eiro P
ico
1,4
Figura 3 - Primeiro Pico de Força (PPF),descalço, tênis e coturno, respectivamente
1 2 3
1,6
1,8
1,4
2,0
2,2
2,6
2,4
2,8
Segundo P
ico
EsPCEx
45EsPCEx, onde tudo começa
1 2 3
FIGURA 5 - Taxa de Aceitação de Peso (TAP),descalço, tênis e coturno, respectivamente.
Discussão
A força de reação do solo é oresultado da aceleração de todos ossegmentos do corpo humano durante ocontato com o solo11.
No presente estudo, não foiobservada diferença do primeiro esegundo picos de força durante a corridanas condições de tênis, coturno edescalço (Tabela 1). Tais resultadosparecem estar relacionados com a faltade absorção de carga no aparelhomúsculo-esquelético nos dois calçadosem estudo, ou seja, tanto o tênis comoo coturno não conseguiram reduzir asforças de impacto durante a corrida.Hreljac et al.12 afirmam que, embora acorrida tenha vários benefícios sobre asaúde, os corredores estão sujeitos àlesão por esforço repetitivo nosmembros inferiores, sendo o joelho umdos locais de maior incidência dessaslesões13, e durante atividades decorrida, o corpo humano está expostoa repetitivos impactos. Esses impactospodem causar lesões ou até mesmo dorno sistema músculo-esquelético. Oefeito do impacto no osso pode serinstantâneo ou a longo prazo. Oprocesso durante o impacto pode gerarvibrações, microfraturas, fraturas, troca
de densidade óssea, micro e macrotrocas estruturais e dano estrutural.
Já a variável TAP apresentoumenores valores nas condições de tênise coturno. Essa variável se refere àvelocidade com que o primeiro pico deforça é atingido e está associada coma capacidade que o calçado apresentaem absorver carga do peso corporal. Ascaracterísticas do material do soladodo calçado determinam a taxa decarregamento da força vertical,atividade muscular e vibração dosistema músculo esquelético14.
O sistema de amortecimento estácompreendido entre o pé e o solo, podeminimizar vibrações provindas doimpacto e melhorar a distribuição dapressão em toda a superfície plantar15.Porém, a utilização do calçado durantea corrida serve para atenuar essasforças.
A fratura por stress representa umalesão frequente em corredores e ocorrena presença de alto pico de aceleraçãotibial e TAP durante a atividade física16.Assim como Zylberbeg, Raupp e Mello17,afiemam que o coturno conseguiuminimizar essa taxa de impacto,comparado à situação descalço.
Alguns autores concluem que aTaxa de Aceitação do Peso (TAP) éincrementada com a dureza do solado,mas não há mudanças com o tipo deamortecimento18. Assim, a corrida comcoturno e tênis fornecidos pela cadeiade suprimento conseguiu atenuar oimpacto com o solo, comparada àcorrida descalço.
Lieberman19 descreve que tanto opadrão da corrida como o calçado sãoimportantes para um bom desempenhofísico durante o movimento. O autor
20
40
60
80
100
140
120
Taxa d
e C
eitação d
o p
eso
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa46
ainda cita que o corpo humano foiadaptado para a corrida em um estilodescalço, onde as característicascinemáticas geram menores picos deimpacto, usando maior propriocepçãoe alongando mais os pés.
Como o homem atual não mais éadaptado a correr descalço e sim comcalçados, Williams7 sugere que ummaterial mais macio seja utilizado nalateral do calcanhar desses calçados,a fim de ajudar a absorção do choque.
Este estudo é preliminar, para sechegar a conclusões definitivas sobrea qualidade do tênis e coturnoutilizados pelos militares. Para se terum padrão de tênis e coturno, outrasvariáveis devem ser estudadas, taiscomo modelo e tipo de solado;densidade, material empregado emodelo da entressola; formato eespessura da palmilha, bem comodevem ser feitos estudos comparativoscom outros tênis utilizados para aatividade de corrida.
Conclusão
Os resultados mostraram diferençaapenas na TAP descalço, quandocomparados com tênis e coturno.
As variáveis do Primeiro e SegundoPico de Força não mostraram diferençascom o padrão descalço. Essesresultados sugerem que tanto o coturnocomo o tênis reduzem a velocidade comque o pé atinge o solo, mas nãodiminuem o impacto do primeiro picode força, o que pode acarretar lesõesnos militares que praticam a corrida comtais calçados. Novos estudos, comaumento da amostra e comparando osdiferentes tipos de coturno, assim como
Referências Bibliográficas
1. Durward B. R, Baer G. D, Rowe P. J. Movimento Funcional Humano:mensuração e análise. 1ª edição. São Paulo: Manole; 2001.
2. Dugan SA, Bhat KP. Biomechanics and analysis of running gait.Physical medicine and rehabilitation clinics of north America.2005;16:603-21.
3. Lohman E. B, Sackiriyas K, Suren R. A comparison of the spatiotemporal parameters, kinematics, and biomechanics between shod,unshod, and minimally supported running as compared to walking.Physical Therapy in Sport 2011; 12: 151-163.
4. Ministério da Defesa. C 20-20 – Treinamento Físico Militar. 3ªedição. Brasília; 2002.
5. Ministério da Defesa. R 124 – Regulamento de Uniformes doExército. Brasília; 1998.
6. Hamill J, Knutzen K. M. Bases Biomecânicas do MovimentoHumano. 2ª edição. Barurri: Manole; 2008.
7. Willians KR. A Dinâmica da Corrida In. Zatsiorsky V. Biomecânicano Esporte, Performance do Desempenho e Prevenção de Lesão. Riode Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
8. Hreljac A. Etiology, Prevention and Early Intervention of OveruseInjuries in Runners: a Biomechanical Perspective. Physical medicineand rehabilitation clinics of north America 2005; 651-67.
9. Popovich R. M, Gardner J. W, Potter R, Knapik J. J, Jones B. H.Effect of Rest from Running on Overuse Injuries in Army Basic Training.Army Basic Training. American Journal of Preventive Medicine 2000;18: 147-155.
10. House C, Waterworth C, Alsopp A, Dixon S. The influence ofsimulated wear upon the ability of insoles to reduce peak pressuresduring running when wearing military boots. Gait and Posture 2002;16: 297-303.
11. Nigg, B. M. (2010), Biomechanics of Sport Shoes, University ofCalgary.
12. Hreljac A, Marshall RN, Hume P. Evaluation of lower extremityoveruse injury potential in runners. Med Sci Sports Exercise. 2000;1635-41.
13. Grau S., Maiwald C, Krauss I, Axmann D, Janssen P, Horstmann T.What are causes and treatment strategies for patellar-tendinopathy
os diversos tipos tênis de corridacomercial, são necessários paramaiores informações a respeito dopadrão de movimento de corrida comtênis e coturno fornecidos pela cadeiade suprimentos do Exército.Osresultados mostraram diferença apenasna TAP descalço, quando comparadoscom o tênis e coturno.
EsPCEx
47EsPCEx, onde tudo começa
in female runners? J Biomech. 2008; 41: 2042-46.
14. Boyer, K. A., Nigg, B. M. (2004), Muscle activity in the leg istuned in response to impact force characteristics. JournalBiomechanics. v. 37, p.1583-8.
15. Shorten, M. R. (1993), The Energetics of Running and RunningShoes. Journal Biomechanics. v. 26, p. 41-51.
16. Davis, I., Milner, C., Hamill, J. (2004), Does increased loadingduring running lead to tibial stress fractures? A prospective study.Medicine and Science in Sports and Exercise. v.35 (supplement).
17. M. P. Zylberberg, F. M. P. Raupp e R. G. T. Mello. Transmissão deImpacto de Calçados Militares Durante a Caminhada Por Meio deAcelerometria. XXIII Congresso Brasileiro em Engenharia Biomédica– XXIII CBEB 2012 Out; p.113-117.
18. R. Palhano, G. Balbinot, A. P. D Varga, M. A. Zaro, A. Faquin e T.R. Strohaecker. Análise do impacto em calçados durante a marcha.XXIII Congresso Brasileiro em Engenharia Biomédica – XXIII CBEB2012 Out; p.254-258.
19. Lieberman D. E. What we can learn about running from barefootrunning: An Evolutionary Medical Perspective. Exercise Sport Science2012; 40: 63-72.
(*) O Capitão da Arma de Cavalaria, Vagner Xavier Cirolini foi aluno da EsPCEx, formando-se em2003. Graduou-se na Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN em 2007. Realizou os seguintescursos civis e militares: Estágio Básico de Combatente de Montanha (2004); Instrutor de EducaçãoFísica - EsEFEx (2012); Curso Básico de Paraquedista (2014); Especialista em Bioquímica,Fisiologia, Treinamento e Nutrição Esportiva - UNICAMP (2014); Certificação Internacional emCineatropometria (ISAK) em Nível I (2014). Atualmente é Instrutor de Educação Física da EsPCEx.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa48
A Influência da Expressão Oral doLíder no Comportamento do
Subordinado
Mario Henrique Madureira (*)Comandante da 1ª Companhia de Alunos
1.Introdução
2. Desesnvolvimento
De acordo com alguns estudiosos,dentre eles podemos destacarAristóteles e Ranelleti, a origem dasociedade está associada a um fatonatural, determinado pela necessidadeque o homem tem da cooperação deseus semelhantes para a consecuçãodos fins de sua existência (DALLARI,2010, p.11).
Essa necessidade não é apenas deordem material, uma vez que, mesmoprovido de todos os bens materiaissuficientes à sua sobrevivência, o serhumano continua a necessitar doconvívio com os semelhantes, o quefavoreceu a criação de determinadasorganizações, tais como a família, aigreja, o Exército e o Estado (DALLARI,2010, p. 11).
As primeiras organizações sociaisprimitivas já possuíam a necessidadeda existência de um líder, bem como éimportante ressaltar que estapremência não é privilégio apenas dosseres humanos. Certos animais, quandoorganizados em grupos, necessitam dafigura do líder, sendo este fatorfundamental, muitas vezes para suasobrevivência (MOTA, 2009, p. 10).
Embora cada grupo possua
diferentes particularidades, em todoseles existe a necessidade da existênciada figura de um líder, ou seja, ummembro capaz de influenciar os demaisintegrantes, levando-os a alcançaremum objetivo comum.
Os líderes são homens queconquistam o respeito, a confiança eaté mesmo a amizade dos subordinadospara que as missões recebidas sejamcumpridas da melhor maneira,realizando esforços com prejuízo dasaúde e inclusive da vida (MILITARYREVIEW, 1996, p. 29).
Esses líderes têm a capacidade deorientar, dirigir e modificar atitudes dosmembros de um grupo seja na paz ouna guerra. Estas pessoas se destacampor possuírem característicaspsicológicas, emocionais, educacionais,culturais, sociais, dentre outras, queunidas permitem a condução e êxito doobjetivo de determinado grupo(MILITARY REVIEW, 1996, p. 29).
A comunicação é o processo pelaqual as informações, as ideias, ospensamentos, os sentimentos e asemoções são transmitidos e recebidos
EsPCEx
49EsPCEx, onde tudo começa
entre as pessoas, permitindo que ocorraa interação social (NETO, 1998, p.15).
Os diversos objetivos dacomunicação, tais como: educar,convencer, informar, fazer, agir, instruir,expressar sentimentos e outros irãofavorecer ou modificar o conteúdo ouestilo dessa comunicação (NETO, 1998,p.15).
Com isso, observa-se que ela éresponsável por proporcionar a relaçãoentre os seres humanos, paraalcançarem o bem comum dedeterminado grupo.
Nesse sentido, na comunicaçãoentre seres adultos, não sãoimportantes apenas as palavras,referentes àquilo que se desejacomunicar, mas sim, a entonação, aemoção, a sinceridade e a decisão queo líder deseja transmitir em seudiscurso. Cabe salientar que a liderançatambém se faz por meio das ações,que são exemplos visíveis daquilo quese deseja comunicar. Portanto, o líderquando age será, sem dúvida, imitadopor seus liderados (NETO, 1998, p.16).
Portanto, observamos que o lídernão irá obter adesão às suas ideiaspela força bruta, mas sim, peloemprego inteligente da persuasão e daautoridade, com ideias claras eoportunas e, antes de tudo, peloexemplo (NETO, 1998, p.38).
Deve-se evitar o uso de palavrasde baixo calão, para não vulgarizar aideia a ser transmitida, assim como nãodeve ser utilizado um vocabuláriorebuscado, que dificulte o entendimen-to da mensagem.
Durante uma conversa com ossubordinados, é imperioso que busque,
ainda, aplicar o princípio de mantertodos seus homens bem informados,tendo sempre uma palavra positiva paralhes dizer. Todas as oportunidadesdevem ser aproveitadas para se dirigirà tropa, ressaltando ensinamentos,com as suas respectivas cargasmotivacionais, como forma de incentivoe coesão do grupo.
Ressalta- se, também, que o líder,além de ter condições de transmitirestes ensinamentos a seus homens,deve ser possuidor de extremoconhecimento profissional. Para isso,deve ser levado em consideração opúblico alvo: oficiais subalternos,sargentos, cabos, soldados; ou seja,para cada público existe uma maneiramais adequada de se transmitir umdeterminado conhecimento. A partir domomento que a melhor forma detransmissão de conhecimento forescolhida e compreendida por parte dosliderados, significa que foi estabelecidaa comunicação efetiva entre eles.
Sendo assim, o líder, em qualquernível, deve ser acessível aos seusliderados, conversando com estes epermitindo que o enxerguem como umapessoa normal. Precisa estar emcondições de participar dos mesmosambientes que os subordinados emanter uma “política de portas abertas”,cultivando o hábito de falar com o seupessoal, buscando conhecer suascaracterísticas e as situações que estãoenfrentando, colocando em prática oprincípio de conhecer e cuidar do bem-estar de seus subordinados.
O conhecimento e a confiançamútua entre o líder e os liderados irãoproporcionar o desenvolvimento e amanutenção da lealdade e da coesão
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa50
3. Conclusão
do grupo. A lealdade reforça a confiançae constitui a condição fundamental paraos líderes disporem de subordinadosmotivados. A primeira começa no“vértice” - e não na base - e desenvolve-se nos dois sentidos. A coesão quederiva da lealdade surge como fatordecisivo nas situações de extrematensão (VIEIRA, 2002, p. 46).
Com isso, podemos observar queo exemplo, aliado aos fatoresintervenientes do processo daliderança, destacando principalmente acomunicação, irão possibilitar odesenvolvimento da liderança,permitindo que os militares em funçãode comando possam alcançá-la emtempos de paz e se beneficiarem deladurante a guerra.
Apesar da evolução científica etecnológica ter proporcionado osurgimento de armamentos cada vezmais letais, com o emprego de sistemasde armas e comunicação automatiza-dos, a maior riqueza de qualquer ForçaArmada no mundo continua sendo o seurecurso humano.
A difícil missão de comandarsoldados em combate torna-se, por suarelevância, algo tão sublime, quecertamente exige daqueles que aexperimentam particularidadessingulares que os diferenciam doshomens comuns. Levar homens livresa arriscar as suas vidas em uma batalhanão é algo que se consegue apenascom a hierarquia. É preciso convencê-los e, mais do que isso, motivá-los paraque compreendam que o seu esforçoterá sentido e suas vidas não estãosendo arriscadas em vão.
Dentro desse contexto, a liderançaassume um papel fundamental para osucesso das atividades militares, tendoem vista que será através dela que osrecursos humanos serão levados aocumprimento do dever. Então, de nadaadianta um Exército rico e desenvolvido,com grande poderio bélico, se nãocontar com pessoas que tenham acapacidade de influenciar ocomportamento de seus subordinados,conduzindo-os ao objetivo comum.
Nesse momento, surge a figura dolíder, personificado pelos comandantesque agregam em si uma série decaracterísticas, sem as quais não seriapossível desempenhar a função decomandante. Coragem, lealdade, bompreparo físico e intelectual, aliando-sea essas virtudes a escolha oportuna eadequada de uma das formas deliderança, constituem o conjunto decaracterísticas desejáveis ao lídermilitar.
Além destas, o líder militar deveproporcionar ótimos exemplos dedisciplina, respeito à hierarquia eobediência às ordens recebidas; deveagir com justiça e buscar sempre utilizarde forma correta a sua expressão oral,de modo que possa estabelecer umacomunicação eficaz e influente com osseus subordinados.
Diante disso, pode- se observarque, para o desenvolvimento do vínculolíder/ liderado e o seu conseqüente êxitono cumprimento de uma missão, alémdos aspectos anteriormente citados, acomunicação se apresenta como umfator de extrema importância para osucesso desse processo.
EsPCEx
51EsPCEx, onde tudo começa
ABALLO, Rodrigo Villar. Os fatores da liderança militar em temposde paz. 2010. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Aperfeiçoamentoem Operações Militares)—Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais,Rio de Janeiro, 2010.
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. São Paulo:Ática, 2003.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativado Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988.
_____. Ministério do Exército. Estado-Maior do Exército. Cadernode Instrução 20-10/1: Liderança – Comandante, Chefe e Líder. 1. ed.Brasília, 1986.
_____. Ministério do Exército. Estado-Maior do Exército. IP 20-10:Liderança Militar. 1. ed. Brasília: EGGCF, 1991.
CASTRO, Paulo Cesar de. A preparação de líderes militares no ExércitoBrasileiro. Military Review. Fort Leavenworth, v.89, p. 73-79, Nov-Dez. 2009.
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando pessoas: O passo decisivopara a administração participativa. 2.ed. São Paulo: Makron Books,1994.
COSTA. Ana Carla Wanderley. A Importância do Desenvolvimentoda Liderança Militar na Formação e Carreira do Oficial Médico doExército Brasileiro. 2009. 48f. Trabalho de Conclusão de Cursoapresentado à Escola de Saúde de Exército como requisito parcial paraaprovação no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde,especialização em Aplicações Complementares às Ciências Militares,Rio de Janeiro, 2009.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado.29. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário Aurélio daLíngua Portuguesa, 3.ª ed., Curitiba: Positivo, 2004.
HESSELBEIN, Frances; GOLDSMITH, Marshall. O líder do futuro. 3.Ed. São Paulo: Futura, 1997.
KOUZES, James; POSNER, Barry Z. O desafio da liderança. 3ª Ed:Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2003.
LANNING, Michael Lee. Chefes, Líderes e Pensadores Militares. Riode janeiro: Biblioteca do Exército Ed., 1999.
MORAIS, Welisson Bezerra de. A Importância da Liderança para oCapitão Aperfeiçoado. 2008.25f. Trabalho de Conclusão de Curso(Aperfeiçoamento em Operações Militares)—Escola deAperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2008.
MOTA, Rogério Soares da. A atuação do capitão aperfeiçoado naliderança organizacional: o relacionamento do Comandante deSubunidade com o seu efetivo profissional. 2009. 37 f. Trabalho deConclusão de Curso (Aperfeiçoamento em Operações Militares)—Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2009.
NETO, Mario Hecksher. Precisamos de Líderes. 1.ed. Resende, RJ:Editora Acadêmica, 1998.
BibliografiaO líder exerce o seu comando edifunde as suas decisões para a açãoatravés da expressão oral. Sem apossibilidade de transmitir claramenteordens e instruções aos subalternos, olíder perderá o comando e nãoconseguirá atingir seus objetivos(VIEIRA, 2002, p. 59).
A clareza da comunicação irá fazercom que os subordinados executemmelhor a missão, pois sabem por quea estão executando. A informação iráestimular a sua iniciativa, aperfeiçoaro trabalho em equipe e melhorar omoral.
Os fatos históricos comprovaramque grandes líderes militares emcombate, como o Capitão-de-Mar eGuerra Barroso da Silva, Duque deCaxias, Aspirante Mega, Júlio César,General Douglas MacArthur, AlmiranteHoratio Nelson, Marechal ColinCampbell, e o Marechal Fernando Foch,além de possuírem exemplos decondutas ao longo de suas vidas,fizeram uso adequado da expressãooral sempre que necessário, comoforma de motivar e influenciar os seussubordinados na conquista do objetivocomum.
Portanto, com este trabalhoconclui-se que, além dos atributos quedevem ser inerentes ao líder, acomunicação, sendo um fatorinterveniente do processo da liderança,proporciona motivação e influencia nocomportamento dos subordinados,tanto em situações de paz como emcombate, de ordem que essa relação éa responsável por fazer os comandadosarriscarem a própria vida, a fim decumprirem o objetivo traçado por seulíder.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa52
NETO, Mario Hecksher; GUIMARÃES, Aristides; GOMES, CláudioRoberto. Liderança: Estruturação da liderança militar. MilitaryReview.Fort Leavenworth, v. 76, p. 29-42, 3º trim. 1996.
OLIVEIRA, Murilo Alvarenga. Relação de trabalho e climaorganizacional. Rio de Janeiro: UFRRJ / CEP – EB, 2005.
SCHIRMER, Pedro. Das virtudes militares. Rio de Janeiro: Bibliex,2007.
SEARA, Fábio Heitor Lacerda. A influência do clima organizacionalno rendimento das atividades de uma subunidade de Cavalaria doExército Brasileiro. 2008. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso(Aperfeiçoamento em Operações Militares)—Escola deAperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2008.
VIEIRA, Belchior. Liderança Militar. Compilação, traduções,adaptação e sistematização do Gen. Belchior Vieira. [S. 1.] : AcademiaMilitar; Estado-maior de Exército, 2002.
(*) O Capitão da Arma de Artilharia, Mario Henrique Madureira foi aluno da EsPCEx,formando-se em 1999. Graduou-se na Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN em2003. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais – EsAO (nível mestrado) em 2013.Realizou os seguintes cursos militares: Operações na Selva Categoria “B” (2005), EstágioAvançado do Combate na Caatinga Categoria “A” (2008). Atualmente é Comandante da 1ªCompanhia de Alunos da EsPCEx.
EsPCEx
53EsPCEx, onde tudo começa
Adoção do Exame Toxicológicono Concurso de Admissão da
EsPCEx
Carlos Magno Capranico Corrêa (*)Chefe da Seção de Saúde da EsPCEx
Como consequência direta da leinº 12.705, de 08 de Agosto de 2012,que dispõe sobre os requisitos paraingresso nos cursos de formação demilitares de carreira do ExércitoBrasileiro, e do PARECER Nr 013/2013– Assessoria Jurídica 2, doDepartamento de Educação e Culturado Exército, de 22 de maio de 2013,estabeleceu-se a inclusão de exametoxicológico como parte da inspeção desaúde para ingresso na EscolaPreparatória de Cadetes do Exército, apartir do concurso de 2014.
No presente trabalho, foi realizadoum estudo sobre os exames existentes,quais as possibilidades, vantagens,custos, especificidade, validade eviabilidade, optando-se pelo exame deamostras de cabelo, pelo, queratina porradioimunoensaio, conhecido tambémpor exame de larga janela de detecção.
Contextualização da Missão
A missão da Escola Preparatóriade Cadetes do Exército é selecionar epreparar o futuro cadete da AcademiaMilitar das Agulhas Negras, iniciando aformação superior do OficialCombatente do Exército Brasileiro. Omilitar é o profissional do Estado queconcentra, em suas mãos, o poder legalpara o emprego das armas e cuja
função específica é a defesa do próprioEstado mediante a administração daviolência.
Tal seleção, preparação e formaçãoé que darão consistência ao exercíciopleno das competências profissionaisespecíficas, acarretando confiabilidadeao desempenho do profissional egarantindo harmonia e efetividade emsua interação frente ao trinômio: meioambiente, recursos humanos econjuntura da missão a ser cumprida.
É, portanto, de fundamentalimportância, selecionar, preparar eformar candidatos com integridade decaráter, capacidade moral, com valorese atitudes solidamente internalizados,que serão o verdadeiro alicerce do lídermilitar.
Conceituação de Drogas deInteresse
Basicamente, drogas psicoativasou psicotrópicas são substânciasquímicas que agem principalmente nosistema nervoso central, alterando afunção cerebral e, temporariamente,mudam a percepção, o humor, ocomportamento e a consciência. Na suamaioria, tais alterações são fonte deprazer e seu uso recorrente pode levarà dependência.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa54
As drogas podem ser lícitas, muitasdelas indicadas para tratamento médicoou têm seu uso aceito socialmente,como o álcool e o fumo e, mesmo asdrogas lícitas, podem ser usadasilicitamente. Outras são ilícitas, por nãoterem indicação médica, seremextremamente danosas à saúde ouservirem a outros propósitos.
Os tipos de drogas maisfrequentemente usados podem, peloseu efeito, ser enquadrados em:
• Estimulantes ou eufóricos, queaumentam o nível de percepção,reduzem a fadiga. Tem-se comoexemplo a cocaína e seus derivados,cafeína, metanfetamina etc.
• Alucinógenas (psicodélicos,dissociativas e delirantes), que induzema distorções percepcionais e cognitivas.Tem-se como exemplo a maconha,haxixe, LSD, ecstasy, DMT, alguns tiposde cogumelos, entre outras.
• Depressivas, que reduzem aatividade cerebral, dificultando oentendimento e processamento deinformações no cérebro. Tem-se comoexemplo o álcool, morfina, heroína,barbitúricos, inalantes, ópio e seusderivados, entre outras.
A ética relativa ao uso dessasdrogas é assunto de contínuo debate,tanto pela alteração de consciênciacausada pelos seus efeitos, como seupotencial para abuso e dependência.
Exames Toxicológicos
O exame toxicológico tem pormeta detectar a ingestão ou exposiçãoàs substâncias tóxicas, drogas de abusoe/ou outras, tanto de uso lícito comoilícito.
Inúmeras são as tecnologiasexistentes e há que se considerar aslimitações de cada técnica.Resumidamente, existem dois tipos detestes laboratoriais: os que utilizamcomo elementos de análise fluídoscorporais (urina, suor, saliva e sangue)e os que utilizam amostras de queratina(cabelo ou pelos).
Os que investigam fluídos corporaispossuem uma janela de detecção(período dentro do qual o testeconsegue detectar a presença de drogano corpo) muito pequena, de 2 a 3 diasdependendo da droga, com exceção damaconha, que pode chegar a 20 dias.Tais testes não permitem avaliar aquantidade de droga consumida e sãomais indicados para a detecção de usorecente, como após um acidente ou noacompanhamento de tratamento dedependência.
Os exames com amostra dequeratina têm janela de detecção de20 a 30 vezes mais longa, podendochegar a seis meses, e maior precisão,sendo, por isso, muito indicados paraprocesso admissional. Emcompensação, sua eficiência paraexames instantâneos é nula, visto quea impregnação de metabólitos nointerior da haste capilar demora algumtempo.
No Gráfico e nas Tabelas a seguir,são comparados os vários examesexistentes.
EsPCEx
55EsPCEx, onde tudo começa
Tabela 2: Extensão do tempo de detecção de diversas drogas por meio doexame de Urina. Fonte: OBID - Observatório Brasileiro de Informações SobreDrogas apud Kaplan e col., 1997. *Ansiolítico: droga com efeito tranquilizante.**Opióide: droga sintética, semelhante às substâncias derivadas do ópio(opiáceos). ***Metabólito: substância derivada da metabolização da droga.
Tabela 1: Utilidade Comparativa da Urina, Saliva, Suor e Cabelo e Matrizes Bio-lógicas para Decção de Drogas. Fonte: Observatório Brasileiro de Informaçõessobre Drogas apud Lowinson e col., 1997
EsPCEx
57EsPCEx, onde tudo começa
Técnicas Utilizadas
Em busca por alternativasmelhores para os exames de urinautilizados até então, nos programas decontrole de uso de drogas e deprevenção de acidentes, a MarinhaAmericana – USNAVY – desenvolveu,nos anos 1980, as bases da tecnologiautilizada até hoje, para os examestoxicológicos com amostras de cabelo/pelo.
Tal processo vem sendo aprimoradoe fundamentado em diversaspublicações científicas de renome e éconsiderado o estado-da-arte emexames toxicológicos, denominadoRIAH-Radioimmunoassay of hair ouradioimunoensaio de cabelo.
De forma bem simples, qualquerdroga, ao ser consumida, émetabolizada pelo organismo e seussubprodutos, os metabólitos, sãoconduzidos pela circulação e alojadosnas estruturas dos cabelos ou pelosque estão sendo formados, conferindomarcadores passíveis de seremidentificados de modo seguro pelatécnica.
A amostra de cabelo/pelo écoletada e submetida a descontamina-ção externa com sucessivas lavagens,passa por liquefação enzimática e sãoextraídas todas as drogas/metabólitosaprisionadas na matriz capilar, que sãosubmetidas à análise porespectrometria de massa associada àcromatografia gasosa ou líquida,dependendo da substância a seranalisada.
Com isso, obtêm-se análisetoxicológica de queratina com 100% deespecificidade, permitindo avaliação
qualitativa e quantitativa de cada drogaconsumida, com nível estatístico deconsumo em várias categorias oupadrões, classificando o perfil deconsumo do usuário, além de impediros resultados falso-positivos.
Protocolos são desenvolvidos eaprimorados periodicamente, seguindoas recomendações de associações detoxicologia e entidades de pesquisaespalhadas pelo mundo. Tais açõespermitem constante atualização dosdiversos tipos de drogas “lançadas nomercado”, detectando em torno de 14tipos diferentes de drogas, bem comoseus derivados.
Considerações Finais
A exigência de formação decomandantes em todos os níveis, queirão liderar grupos militares em combateassimétrico, de alta intensidade, contraum inimigo difuso, junto à incerteza doscenários dos conflitos modernos, nosimpõe um grande desafio.
O sucesso nas ações a seremrealizadas pelos futuros oficiais apoia-se na capacidade de adequação a umleque cada vez mais amplo de missões,como conflitos internacionais; crisesinternas, como Operações de Garantiada Lei e da Ordem (GLO); emprego emcatástrofes naturais (envolvendoaspectos humanitários que exigematuação combinada de agências, emqualquer ambiente, operacional ounão), dentre outras.
Desta feita, além dos preceitosregulamentares, como gozar de boasaúde física e psíquica, reveste-se desuma importância a coerência de
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa58
raciocínio necessária a tão diversoemprego, em face do notórioconhecimento existente sobre asinfluências que determinadas drogastêm no organismo. Ademais, taisatividades exigem pleno equilíbrio físicoe emocional, discernimento, rapidez demovimentos e de raciocínio,determinação, prudência, firmeza,calma, atenção, perspicácia, sensatez,coragem, zelo e perfeição quanto àsfunções dos cinco sentidos, sendoincompatível o uso de substânciasentorpecentes, sejam elas drogasdepressivas, estimulantes oualucinógenas.
Há que se considerar que, nestecontexto em que existe a supremaciado interesse público sobre o privado, arealização de exame toxicológico estáem perfeita consonância com osprincípios da finalidade e darazoabilidade, inclusive no queconcerne aos custos.
Neste cenário, o exame de largajanela de detecção – RIAH – realizadopor laboratórios certificados, de notóriaconfiança, adotado por mais de 400forças militares e policiais ao redor domundo, bem como por empresas eórgãos civis preocupados comatividades de risco como aviação,navegação, transporte, entre outros,revela-se como o que melhor atendeàs expectativas da Força Terrestre.
***
Bibliografia
Baumgartner, W.A; Hill, V.A, and Blahd, W.H. “Hair Analysis forDrugs of Abuse”. J Forensic Science, 1989.BRASIL. “Estratégia Nacional de Defesa”. Ministério da Defesa,2009.BRASIL. “Sistema de Educação Superior Militar no Exército:Organização e Execução”. (EB60 – IR-57.002). Departamento deEducação e Cultura do Exército, junho de 2012.Broecker, S.; Pragst, F et al. “Combined Use of LiquidCromatography-hybrid Quadrupole Time-of-flight Mass Spectometryand High Performance Liquid Cromatography with Photodiode ArrayDetector in Sistematic Toxicological Analysis”. Forensic ScienceInternational, 2011.Harrison, L.D. “The Validity of Self-reported Drug Use in SurveyResearch; An Overniew and Critique of Research Methods”. NIDAResearch Monography, 1997.Massoni, T.O. “Drogas, Álcool e Exames Toxicológicos no Ambientede Trabalho”. UNIFESP, 2013.Mieczkowski, T. “Drug Testing Technology: Assessment of FieldApplications”. - 1999.Parecer Nr 013/2013 – Asse Jur. 2/Departamento de Educação eCultura do Exército – 22/Mai/2013.Parecer Nr 0025/2004/RAMSB – DGP/DPF – Diretoria de Gestão dePessoal/Departamento de Polícia Federal – 16/Mar/2004.Pragst, F; Balikova, M.A. “State of the Art in Hair Analysis for Detectionof Drug and Alcohol Abuse”. Clinica Chimica Acta, 2006.Revista Pedagógica, EsPCEx, 2010.Revista Pedagógica, EsPCEx, 2011.www.obid.senad.gov.brwww.psychemedics.com.br
(*) OTenente Coronel Dentista Carlos Magno Capranico Corrêa, do Serviço de Saúde, égraduado em Odontologia pela UNICAMP, especialista em Radiologia pela PUC - RJ,aperfeiçoado em Prótese sobre Implantes pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas,mestrado em Periodontia pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic,pós-graduado em Biomateriais pela Faculdade de Engenharia Mecânica - UNICAMP. Écredenciado nos Idiomas Inglês e Espanhol pelo Centro de Estudos de Pessoal e é professordo curso de graduação em Odontologia e Especializaçâo em Implantodontia do CPO -SLMandic. Atualmente é Chefe da Formação Sanitária Escolar da EsPCEx.e-mail: [email protected]
EsPCEx
59EsPCEx, onde tudo começa
A Danação do Objeto: o museuno ensino de História
Nos últimos anos, a atuaçãogovernamental no que se refere aodesenvolvimento de ações educativaseficazes na área do patrimônio tem sidonotória, como pode ser observado coma realização de eventos, tais como o1º Encontro de Educadores do InstitutoBrasileiro de Museus (Museu Imperialde Petrópolis, Rio de Janeiro, 2010),cujo objetivo foi traçar diretrizes eestratégias para a elaboração de umapolítica de educação para os museusdo Instituto Brasileiro de Museus(Ibram), além de promover aintegração, o intercâmbio deexperiências e a reflexão acerca detemas considerados prioritários(BRASIL, 2010).1
Durante a realização desseencontro, houve o estabelecimento dasbases para a construção de uma PolíticaNacional de Educação Museal (PNEM),cuja metodologia consistiu na aberturade um fórum virtual de discussão(novembro/2012 a março/2013) e osdebates auxiliaram, e ainda estãoauxiliando, a constituição de “diretrizespara as ações de educadores eprofissionais dos museus na áreaeducacional”, no sentido de “fortalecero campo profissional e garantircondições mínimas para a realizaçãodas práticas educacionais nos museuse processos museais”.2
O livro A danação do objeto: o
museu no ensino de História, deFrancisco Régis Lopes Ramos (2004),demonstra a atualidade da discussãoque propõe em consonância com osacontecimentos contemporâneos.Apesar de terem se passado quase dezanos desde sua publicação e não haveruma resenha tal qual esta se apresenta,a relação que faz entre pesquisahistórica, ensino de história emuseologia encontra guarida entre aspolíticas públicas recentementedesenvolvidas. E uma das contribuiçõesinteressantes realizadas por Ramos(2004) é o seu posicionamento teórico,que faz a partir de uma propostapedagógica específica, a pedagogia dePaulo Freire.
Assim, a presente resenha buscatrazer para o leitor informaçõespertinentes ao conteúdo de A danaçãodo objeto: o museu no ensino deHistória, situando-o entre as demaispublicações que se debruçam sobre otema museologia e destacando suaimportância na temática do papelpedagógico do museu e os seus usosno ensino de história.
Francisco Régis Lopes Ramos éprofessor do Departamento de Históriada Universidade Federal do Ceará desde1994. Possui graduação em História,mestrado em Sociologia e doutoradoem História. Entre os anos 2000 e 2007,foi diretor do Museu do Ceará,
Isla Andrade Pereira de Matos (*)Professora de História
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa60
experiência relatada ao longo de Adanação do objeto: o museu no ensinode História por meio da produção deexposições, demonstrando o caminhopercorrido e os métodos utilizados paraa composição das narrativas, bem comodas peças selecionadas. Sua análise dasexposições desenvolvidas durante suapermanência na diretoria do referidomuseu, além de relacionar museu eensino de história, exemplifica seuconhecimento sobre os significados queo objeto recebe quando exposto nomuseu e as possibilidades de leiturado discurso museológico. Pelaconcepção e organização da políticaeditorial do Museu do Ceará durantesua gestão, Ramos (2004) recebeu oPrêmio Rodrigo de Mello Franco, doInstituto do Patrimônio Histórico eArtístico Nacional (IPHAN).
O livro está dividido em dezcapítulos, a saber: Diálogos com PauloFreire; A história nos objetos; O objetogerador; O lugar do museu; Sujeito eobjeto; O jogo das vitrines; História,memória e a terceira margem; Objetosbiográficos e biografados; Ex-posição:objeto locado, deslocado e colocado;e Poética material.
As análises realizadas no decorrerdo texto sobre a utilização do museu,as diversas ressignificações impressasao objeto quando este assume umaposição destacada em uma vitrine e opapel pedagógico da instituição musealjá seriam suficientes para enquadrar oautor aos demais pensadoresrelevantes da museologia no Brasil. ERamos (2004) vai um pouco mais além,pois não se restringe apenas a estasconsiderações. Antes, adota umposicionamento – a pedagogia de PauloFreire – por meio do qual retira lições
para desenvolver o seu trabalho dentrodo museu.
Baseado no pensamento freiriano,o autor sugere a realização dapedagogia do diálogo, ou seja, a“prática cotidiana de pensar e atuarcriticamente sobre a situação em quese constitui o estar no mundo e com omundo” (RAMOS, 2004, p. 24). Essapedagogia está enraizada nasituacionalidade do ser no mundo: aação de educar amplia o homem namedida em que se considera o ser umestar, porque “os homens são porqueestão em situação” (FREIRE, 1987 apudRAMOS, 2004, p. 24).3
Junto à pedagogia do diálogo,Ramos (2004) utiliza a pedagogia dapergunta para desenvolver sua reflexãosobre a metodologia de apreciação deexposições museológicas. Suautilização está diretamente ligada aocampo da percepção diante dos objetos,ensinando a refletir a partir da culturamaterial, dos objetos.
Tomando emprestado de PauloFreire a ideia das palavras geradoras,forma pela qual o educador alfabetizouadultos, Ramos (2004) expõe o métododo objeto gerador, cujo objetivo é levaro indivíduo a perceber a vida dos e nosobjetos: “(...) o ato de aprender a ler eescrever deve começar a partir de umacompreensão muito abrangente do atode ler o mundo, coisa que os sereshumanos fazem antes de ler a palavra”(FREIRE, 1990 apud RAMOS, 2004, p.31).
Concordando com Paulo Freire aoafirmar que “a alfabetização não édecorar letras, sílabas e palavras, e simuma forma de dizer o mundo, no mundoe com o mundo” (RAMOS, 2004), o autor
EsPCEx
61EsPCEx, onde tudo começa
enfatiza a necessidade de se enxergaro mundo nos objetos, e por issoestabelece uma didática, ßo objetogerador, que objetiva motivar reflexõessobre a relação entre sujeito e objeto,compreendendo o objeto comoexpressão de traços culturais e dopróprio cotidiano, além de proporexercícios que explicitam a relevânciado objeto para aquele que o selecionoucomo objeto gerador. Esses exercíciosconsistem na criação de narrativaspelos participantes, gerando umenvolvimento coletivo na busca de umahistória para cada objeto.
Outra atividade proposta porRamos (2004), como exemplo dametodologia do objeto gerador, éprevista para ocorrer na sala de aula.Pode ser solicitado aos alunos quelevem de casa um objeto para sercompartilhado com o grupo ou mesmotrabalhar com objetos que se carregamnos bolsos, em bolsas ou no própriocorpo. O intuito é criar condições paradialogarem com o mundo das coisas,os objetos, partindo do cotidiano dospróprios alunos.
Assim, o autor inspira-se em PauloFreire e constrói seu argumento sobreo museu enquanto instituiçãoeducativa, esclarecendo sua posiçãoacerca da educação no museu, que deveser profunda e crítica sobre o mundoem que vivemos, devendo levar ovisitante à reflexão.
Diante da narrativa presente noespaço museal, Ramos (2004)conceitua o museu como o lugar ondese expõem objetos por meio deprocessos comunicativos quenecessariamente estão presentes naseleção das peças, e que devem
constar no acervo e na ordenação dasexposições. Esta ação é orientada poruma determinada postura teórica, cujosmodelos podem ser tanto dedoutrinação quanto de estímulo àreflexão. “Em outros termos: não hámuseu inocente” (RAMOS, 2004, p. 14).
A preocupação com a funçãoeducativa do museu – que não estavaprevista nos gabinetes de curiosidade,apenas na constituição dos museusmodernos, quando então as exposiçõespassaram a ter um caráter público –permeia toda a obra de Ramos (2004)ao afirmar que “o museu peca poromissão, anula-se como lugar deprodução de conhecimento” (RAMOS,2004, p. 13) quando se desobriga dapromoção de atividades educativas(que envolvem pesquisa de acervo,montagem de exposição e atividadecom escolas) com alunos e professores– que compõem o maior público devisitantes. Para ele, a visita ao museuimplica necessariamente atividadeseducativas acompanhadas dequestionamentos com fundamentaçãoteórica para aguçar a percepção paraos objetos expostos.
Assim, não basta visitar aexposição, mas sim inseri-la como partede um programa educativo mais amplo,que inclui visitas monitoradas e arelação do museu com a sala de aula eoutros espaços de produção deconhecimento, como as universidades.
Uma questão importante sobre ocaráter da educação em museusdefendida por Ramos (2004) é anecessidade de o museu exercer umapedagogia voltada para o mundocontemporâneo com o desejo detransformá-lo, que não se faz de forma
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa62
solitária, mas a partir do envolvimentodo museu com outras instituições. Porisso a referência a escolas euniversidades que levam os alunos paravisitarem o museu, sugerindo a adoçãode parcerias enquanto estratégias parauma melhor apreensão doconhecimento lá produzido. O autor,então, propõe uma reflexão por meioda qual se propicia uma educação maisprofunda e crítica sobre o mundo.
Para que o museu assuma o seupapel educativo, suas exposiçõesdevem formar um argumento crítico edesenvolver programas para ainteração entre o visitante e o museu.Por isso, a tendência pedagógicadefendida por Ramos (2004) é aparticipação dos visitantes naconstrução de saberes, que trazemcontribuições para a visita a partir deum conhecimento prévio relacionado aoassunto exposto em questão. Nesteexercício, importa o procedimento decontrapor o museu-templo e o museu-fórum, desnaturalizando o museu econcebendo-o como resultado dacultura. O museu não é em si um espaçoonde se expressa a realidade tal comoela é, refletindo-a como um espelho,mas um ambiente que oferece umainterpretação possível a partir de seuinterlocutor. Trata-se de um acervodocumental, uma interpretação possívelpara um determinado fato,comprometendo-se com a exposição dedocumentos históricos.
Esclarecida essa dimensãocomplexa na qual o museu é criado euma vez que o tipo de saber ládesenvolvido não ocorre em outroslugares, Ramos (2004) aponta para anecessidade de atividadespreparatórias que deem conta de prover
o necessário à leitura do museu pelovisitante. Para isso, a visita ao museudeve começar na sala de aula, quandose iniciará a apreensão da linguagemmuseológica.
Outro ponto importante destacadopelo autor no museu é o exercício daproblemática histórica, ou seja, apossibilidade de negar perguntastradicionais que solicitam dados ouinformações sobre datas, fatos oucertas personalidades. Questões como“(...) quando foi proclamada aRepública? Quem proclamou aRepública?” (RAMOS, 2004, p. 25) fazema história parecer um fato pronto eacabado. Por outro lado, a história-problema enxerga o passado comoreflexão do presente e produz oconhecimento de forma crítica e nãocomo um ato mecânico. Por isso,qualquer exposição é sempre umaleitura possível e não um conhecimentoacabado “para o qual meramente sesolicita a adesão do visitante” (RAMOS,2004, p. 30). Não há dados, mas simformas de instigar a reflexão, e aeducação museal cumpre exatamenteeste objetivo, o de capacitar o públicopara a leitura dos objetos.
No museu, o objeto perde o seuvalor de uso. Ele não existe enquantotransmissor de conteúdos, masconfigura-se como um instrumento paraa reflexão:
Ao tornar-se peça do museu, cadaobjeto entra em uma reconfiguração desentidos. Para conduzir tal processo, amuseologia histórica tem ocompromisso ético de explicitar seuspróprios parâmetros e, por conseguinte,seus desdobramentos educativos, emcontraponto com outras experiências(RAMOS, 2004, p. 29).
EsPCEx
63EsPCEx, onde tudo começa
O objeto é tratado comodocumento histórico, testemunha detraços culturais que são interpretadosna lógica da exposição do museu ou nasala de aula, relacionando-o com ahistoricidade do tempo e com o seusentido fora do cotidiano.
Construir conhecimento por meiodos objetos implica em conhecer adinâmica própria na qual a análise estáalicerçada, o que significa esclareceras opções e concepções quefundamentaram a exposição,responsável também pela seleção dosobjetos. Isso confere à exposiçãomuseológica o caráter de documentohistórico, que é uma representação darealidade, e não a realidade em si.Portanto, necessita de análise crítica.
Ramos (2004) enfatiza anecessidade de atuação do museu nacapacitação do público para a leiturados objetos, manifestando-sefavoravelmente à utilização demonitores na instrumentalização dosvisitantes para decifrar os códigospropostos. Considera indispensável apresença desses profissionais, cujaprática estaria focada no ato de fazerperguntas para despertar, no visitante,reflexões em um diálogo criativo sobreo que está sendo visto. A advertência,entretanto, está em o monitor não setransformar em informador, fornecendodados ou explicações ao público: “omonitor não deve expor a exposição esim provocar, nos visitantes, a vontadede ver objetos” (RAMOS, 2004, p. 27).Esta metodologia envolve a pedagogiada pergunta, que consiste em produzirconhecimento a partir de questõesformuladas aos objetos, o que exigequalificação do monitor na pesquisadestes mesmos objetos:
[…] quando entramos nos museus,entramos no tribunal, onde várias falasse apresentam, várias vozessilenciosas, fortíssimas e eloquentesse apresentam, há réplicas e tréplicas,há a possibilidade o tempo todo de umaaltercação, e tem-se, de algumamaneira, que tomar posição. […] paraque ele (o público) seja levado a tentartomar posição e ganhar essa autonomiade quem toma posição, que é o grandepapel educativo que as instituiçõesculturais podem ter, a própria instituiçãotem que assumir esse papelpedagógico, nesse sentido não-totalitário, não-autoritário, não-monológico, e tem que abrir o espaçopara a dialogia, em todos os recursospossíveis (...) (PESSANHA, 1996 apudRAMOS, 2004, p. 29 e 30).
Além de se apresentar no museu,essa didática deve estar presentetambém na escola, permitindo oenvolvimento de alunos e professorescom o tema já na sala de aula,preparando a percepção dos alunos paraolhar o objeto no museu.
Ainda dentro das questõesrelacionadas à área da museologia,Ramos (2004) destaca a relação entresujeito e objeto, pois na mesma medidaem que o objeto é descoberto pelosujeito, o sujeito é transformado peloobjeto: “Falar sobre objetos é falarnecessariamente acerca de nossaprópria historicidade” (RAMOS, 2004, p.62).
Uma outra análise interessantefeita pelo autor é a relação entre otempo dos objetos e a sociedade deconsumo. A vitrine significa exclusão,pois permite o acesso apenas do olhar,e coloca o homem na condição de
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa64
consumidor de imagens, porque o vidroconcentra em si tanto a característicada proximidade quanto a da distância.Isso configura também um processo desacralização do objeto, que retoma oconceito do museu-templo emcontraposição ao museu-fórum e obrigao visitante a tomar uma posição diantedos fundamentos museológicosapresentados.
Essa discussão leva ao tema dogerenciamento da cultura: o museutransforma o povo em públicoconsumidor de uma cultura “dequalidade”, mercantilizando essacultura, ou assume o seu carátereducativo de não se render às vitrinesdo comércio e levar à reflexão sobre asociedade do consumo? Dialogar como passado é interpretá-lo como fontede conhecimento.
Em se tratando de um estudo sobreas possibilidades de análise presentesno museu, o debate entre história ememória não poderia ficar de fora de Adanação do objeto: o museu no ensinode História. Dentre os esforçoseducativos do museu, está o sair damemória para entrar na história, bemcomo o caminho inverso, para não correro risco de o museu perder suavitalidade, mas sim trabalhar com apotência da memória, alimentando aprópria história.
Ramos (2004) afirma que aexposição deve tocar o visitante pormeio da dimensão da memória e daafetividade, suscitando aquilo que afetao indivíduo. O museu não apenasexplica algo com os seus arranjoscomunicativos, mas também influenciao visitante de forma afetiva. Assim, oautor compreende a memória comoobjeto de reflexão da história, optando
não pela sua glorificação, mas pelapossibilidade de pesquisá-la enquantocampo de estudo da história.
No decorrer da leitura do livroexistem análises feitas pelo autor deseu próprio trabalho enquanto diretordo Museu do Ceará e curador dasexposições realizadas nesse museu,além do relato da organização deeventos, tais como as semanas emhomenagem a Paulo Freire.
Em sua obra são aindacontemplados os eventos emhomenagem a Paulo Freire, intituladosSemana Paulo Freire, que teve iníciono ano de 2001 com sua primeiraedição, cujo tema foi A leitura do mundoatravés dos objetos, quando se discutiupossibilidades e desafios “(...) para aconstrução da educação crítica nofuncionamento de um museu histórico”(RAMOS, 2004, p. 86).
Em meio ao relato de sua atuaçãoprofissional, Ramos (2004) traz aoconhecimento do leitor diversas outrasações que não apenas o seuenvolvimento na produção deexposições, mas também naadministração do Museu do Ceará, taiscomo: o desenvolvimento de umapolítica editorial, o estabelecimentodas bases da ação educativa e ofuncionamento do Núcleo Educativo doMuseu, esse último objeto de estudodo Laboratório de Museologia do Museudo Ceará (LAMU), que discute tambéma atuação pedagógica desse mesmomuseu.
Uma das últimas análises queaparece no livro de Ramos (2004) é suacrítica à reprodução cenográfica. Paraele, a estratégia de colocar um objetoem um “(...) cenário onde ele
EsPCEx
65EsPCEx, onde tudo começa
supostamente se encontrava antes deir para o museu é um grande equívoco”(RAMOS, 2004, p. 130), porque esseprocesso se ausenta de teoria ereflexão crítica na tentativa dereconstruir a história contemplando opassado. Sua concepção teórica dehistória compreende que oconhecimento histórico se faz nopresente e que o objetivo dareprodução cenográfica é resgatar opassado tal como aconteceu, seguindoa tendência das teorias do século XIX.De acordo com essa postura, o passadoé mostrado como se estivesse dado enão como uma construção do presente.
Além disso, existe ainda ainterpretação da cultura enquantomercadoria, que produz estereótipospor meio de um suposto resgate damemória. Essa forma de visualizar aexposição, de acordo com o autor, nãopossui substância interpretativa, umavez que o papel do museu é estimulara reflexão sobre as relações entrepresente e passado por meio daexposição de objetos e estudar a cultura
material com método específico,cumprindo sua função educativa.
Assim, por todas as discussõesapresentadas, que permitem a análisedo papel educativo do museu, bemcomo o desenvolvimento de todo umprojeto museológico e museográfico, Adanação do objeto: o museu no ensinode História, de Francisco Régis LopesRamos (2004), é uma obra de grandevalor e que deve estar presente entreos estudiosos que buscam relacionareducação em museus, memória e ensinode história.
***
(*) A 2º Tenente Isla Andrade Pereira de Matos possui graduação em História (Bachareladoe Licenciatura - 2011) e mestrado em Educação (2013) pela Pontifícia Universidade Católicade Campinas. Integra o quadro docente da Escola Preparatória de Cadetes do Exército(EsPCEx) na Seção de História. Tem participado de eventos acadêmicos nos campos dahistória, da educação e do patrimônio, atuando nos seguintes temas: história, museu,patrimônio e questão étnico-racial.Endereço eletrônico: [email protected].
1BRASIL. Instituto Brasileiro de Museus. Carta de Petrópolis. Brasília,DF, 2010.2INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Disponível em: <http://pnem.museus.gov.br/>. Acesso em: 10 mar. 2013.
3RAMOS, Francisco Régis Lopes. A danação do objeto: o museu noensino de História. Chapecó: Argos, 2004.
Bibliografia
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa66
Os Valores Trabalhados pelasInstituições Militares
HichemTannouri (*)Aluno da 1ª Companhia da EsPCEx
Os valores são inerentes à vidahumana e à carreira militar. Mas o quesão valores afinal? O dicionário Auréliode língua portuguesa define a palavravalor como um sinônimo demerecimento, talento, reputação,coragem e valentia. Porém para muitaspessoas, principalmente para ummilitar, o sentido dessa palavratranscende qualquer definição quepossa vir escrita no dicionário. Valoressão características que diferem cadaser humano. Essas característicasfazem com que o militar anseie pelocumprimento do dever, com umavontade inabalável e com a humildadede não esperar nada em troca.
A carreira militar gira em torno desituações peculiares, em que sedestacam duas característicasessenciais a esse estilo de vida:abnegação e sacrifício. Valores que, nasociedade atual, tendem a seresquecidos pelas pessoas que, a cadadia, têm mais afazeres e menospreocupações com a humanidade, masque ainda são constantes na vidamilitar. Abrir mão do tempo livre,perder noites em nome de algo maiorou, até mesmo, deixar passarmomentos importantes com a famíliasão situações que ocorrem comfrequência e, muitas vezes, sãoinevitáveis para um servidor da Pátria.
Outro valor constante no cotidianode um soldado, seja praça ou oficial, éa rusticidade. A capacidade de daptar-se às pressões físicas e psicológicas écrucial para que o militar enfrente osdesafios da carreira. Porém aresistência que o soldado cria diantedessas pressões, às vezes, éinterpretada como insensibilidade oufrieza pelos civis que desconhecem arotina militar.
Diante de tantos obstáculos então,por que ser um militar?
O militar é alguém que vive paraservir, que luta em nome dos direitosde outros, que se dedica para garantira segurança e que está semprepreparado para cumprir a próximamissão. O desejo do militar de ajudarestá encrustado na alma e estampadona farda. Momentos pessoais serãoperdidos, mas serão retribuídos a cadavitória, a cada missão cumprida, a cadavida salva. O sacrifício não é nada secomparado à esperança de umasociedade justa e pacífica. Logo, quemopta pela carreira militar o faz porquesabe que é importante ter alguém paraguardar e assistir àqueles que precisam.
As organizações militarestrabalham também outro grande valorque é a disciplina. Essa característica,muitas vezes, já foi ensinada pelafamília e é apenas adaptada eintensificada na carreira. O conceito de
EsPCEx
67EsPCEx, onde tudo começa
disciplina se subdivide em outros dois.Um desses conceitos é a ideia básicade disciplina que nada mais é do que aresponsabilidade de cumprir normas, deadaptar-se aos padrões que foremestipulados, respeitar e fazer respeitaras cadeias hierárquicas e as ordens quelhe forem passadas.
A outra concepção, apesar de estarintimamente ligada ao conceitoanteriormente mencionado, serve comoum limite para essa ideia básica dedisciplina. É a disciplina consciente.Esta por sua vez é crucial para apreservação da dignidade e dos direitosde todas as pessoas, sejam elas civisou militares. A disciplina conscientetrata da capacidade de discernir frentea uma solução questionável ou umaordem que possa pôr em risco umindivíduo ou uma instituição. Servir nãosignifica unicamente seguir ordens, étambém auxiliar e cuidar para que todosos envolvidos estejam em segurançacom o resultado final.
A disciplina para um militar éindispensável. O exercício dessacaracterística é necessário e deve serconstante, pois uma vez que haja faltade disciplina, conflitos dentro da tropapodem fazer com que o comandanteperca sua legitimidade.
“Quando há inquietação entre os sol-dados, o general já perdeu sua au-toridade.” (pg.98, “livro A Arte daGuerra”, 2014, Sun Tzu).
Relatos e homenagens feitas aosmilitares ao longo da história mostramque abrir mão de suas vontades ecolocar a si mesmo em segundo planosempre fez parte da carreira das armas.O trecho de uma carta de Guilherme
Moniz Barreto (jornalista e críticoliterário nascido na Índia Portuguesa,em 1863), publicada em 1893 no Jornaldo Exército de Portugal, Nº306,descreve claramente esses valores quese destacam na carreira militar:
“Senhor, umas casas existem novosso reino, onde homens vivem emcomum, comendo do mesmo alimen-to, dormindo em leitos iguais. Demanhã, a um toque de corneta selevantam para obedecer. De noite,a outro toque de corneta se deitam,obedecendo. Da vontade fizeramrenúncia como da Vida. Teu nome éSacrifício. Por ofício desprezam amorte e o sofrimento físico. Seuspecados mesmos são generosos,facilmente esplêndidos. A beleza desuas ações é tão grande que os po-etas não se cansam de a celebrar.Quando eles passam juntos fazendobarulho, os corações mais cansadossentem estremecer alguma coisadentro de si. A gente conhece-os porm i l i t a r e s . . . ” ( h t t p : / /www.supergoa.com/pt/ read/news_cronica.asp?c_news=818 )
Fica claro, portanto, que apresença do militar é essencial para amanutenção da sociedade. Isso só épermitido porque os valores sãoconstantemente trabalhados erepassados, de geração em geração,por meio do serviço na tropa ou pormeio das escolas de formação quepreparam os futuros protetores doBrasil. Esses são os defensores quefazem o que deve ser feito em nomedas pessoas que vivem no País e quedecidiram abrir mão do “eu” para pensarna Pátria e, assim, tornam - se símbolose ícones que vemos registrados emcânticos e em obras de artistas deépocas distintas.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa68
O militar mostra em cada feito aimportância da disciplina e o quãogrande é o significado do sacrifício doqual, sem nenhum arrependimento, seorgulha, pois sabe que é necessário.
***
Bibliografia
Site da internet, http://www.supergoa.com/pt/read/news_cronica.asp?c_news=818.Site da internet, http://www.consciencia.org/guilherme-moniz-barreto.Site da internet, http://www.eb.mil.br/a-profissao-militar.Míni Aurélio dicionário da língua portuguesa, 8a edição, editorapositivo.
(*) O Aluno HichemTannouri formado no Colégio Jardim São Paulo, localizado na cidade deSão Paulo, no ano de 2009, ingressou, em 2010, na Fundação Educacional Inaciana (FEI),localizada em São Bernardo, Interrompeu seu curso superior de Engenharia Mecânica paraingressar na carreira militar, no ano de 2014, como aluno da Escola Preparatória de Cadetes doExército. Atualmente é aluno da 1ª Cia.
EsPCEx
69EsPCEx, onde tudo começa
Viviane de Fátima Pettirossi Raulik (*)Professora de Língua Inglesa
Introdução
Trabalhos Escolares Multimodaise Digitais: a perspectiva dos
novos letramentos
O computador hoje permite quetextos, sons e imagens sejamcombinados de diversos modos,possibilitando novas maneiras derepresentar as mensagens. No entanto,ainda há discrepâncias entre as práticasescolares e práticas pessoais. Nessesentido, a perspectiva dos novosletramentos tenta incentivarprofessores na busca por outraslinguagens para as tarefas escolares.
O objetivo deste artigo é fazer umpercurso teórico conceitual dealfabetização a novos letramentos e,de acordo com a perspectiva dos novosletramentos, propor o uso de trabalhosmultimodais digitais em ambienteescolar.
De alfabetização a novosletramentos
O conceito de letramento surgiupara definir uma prática que vai alémdo conceito de alfabetização, ahabilidade de ler e escrever, masentender informações e expressarideias. Letramento é uma prática socialque varia de acordo com o contexto,cultura e outros aspectos e não umahabilidade técnica e neutra(STREET,2003). Em cada caso as habilidades deletramento específicas e ascomunidades de comunicação
relevantes são muito diferentes(LEMKE, 2010).
Referência no assunto desde osanos 80, Brian Street (1984) fala emNovos Estudos do Letramento (NewLiteracy Studies), já que, em inglês,alfabetização seria literacy e não háoutra palavra para se fazer a diferençacomo é feito em português(alfabetização e letramento). O autorapresenta o letramento em doismodelos, o modelo autônomo e omodelo ideológico, e defende osegundo. De acordo com o modeloautônomo, o letramento é umahabilidade técnica e neutra, umarealização individual que não dependede um contexto social mais amplo. Deacordo com o modelo ideológico, oletramento é o contrário de tudo isso:não é uma habilidade técnica e neutra,não é uma realização individual edepende totalmente de um contextosocial mais amplo. De acordo com omodelo ideológico, letramentos (noplural), seria mais apropriado, pois hádiferentes tipos de letramento na vidasocial, além do letramento escolar(prática da escrita na escola), que nãopodem ser depreciados: familiar,religioso, profissional, etc. (KLEIMAN,1995).
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa70
Em 1996, um grupo de professorespesquisadores fica conhecido como oGrupo de Nova Londres (New LondonGroup) e publica um manifestoexpandindo o conceito de letra-mento(s) para multiletramentos(multilite-racies). Eles dizem que asabordagens tradicionais não são maissuficientes devido a mudanças noambiente social (pós-fordismo/novasrelações de trabalho), diferentes canaisde comunicação (novas tecnologias) eà grande diversidade linguística ecultural (tratar das diferenças se tornaextremamente importante).Obviamente é importante considerar ocontexto dos autores (Australia,Estados Unidos e Inglaterra), ou seja,países desenvolvidos.
A perspectiva dos multiletra-mentos apresenta dois desafios deigual importância. O primeiro são aspráticas etnográficas em sala de aula,ou seja, conectar o contexto de salade aula com o mundo dos alunos e, aomesmo tempo, conscientizá-los sobresua condição de cidadãos globais. Osegundo desafio envolve amultimodalidade, outros modos de sefazer significado (visuais, auditivos,espaciais, comportamentais etc), alémda língua, são destacados comorecursos representacionais dinâmicos,constantemente ressignificados e comdiferentes objetivos. Não é maispossível supor, então, que letramentoestá relacionado apenas à linguagemescrita, e muito menos apenas àlinguagem impressa.
Hoje, qualquer um edita um áudioou um vídeo em casa, produz ani-mações de boa qualidade, constróiobjetos e ambientes tridimensionais,combina-os com textos e imagens
paradas, adiciona música e voz eproduz trabalhos muito além do quequalquer editora ou estúdio de cine-ma poderia fazer até alguns anosatrás (LEMKE, 2010, p. 472).
Não só essas possibilidades deproduzir, coletar e editar conteúdomultimodal como também outras formasde construir significados através daInternet e do meio digital fazem partedos estudos sobre novos letramentos(LANKSHEAR & KNOBEL, 2007). Novosletramentos tornam necessárias novashabilidades chamadas, por sua vez, deletramento digital: “engajar-se naconstrução de significado mediado portextos que são produzidos, recebidos,distribuídos, trocados, etc viacodificação digital” (LANKSHEAR &KNOBEL, 2008, p.5, tradução minha).
Lankshear and Knobel (2007)dizem que para ser novo não basta queo letramento aconteça em meio digital,o que caracteriza para eles novosaspectos técnicos (new technical stuff),tem que haver a combinação de novosaspectos técnicos e um novo ethos (newethos stuff). O novo ethos surgejuntamente com as novas regras domeio digital. Essas novas regras sãomais participatórias, colaborativas edistribuídas, são mais fluidas e menosfixas e, com tudo isso, acontece odescentramento da noção de autoria.
Vale salientar que o novo ethos setorna possível devido ao fenômeno daWeb 2.0. Web 2.0 é o termo cunhadopor O’Reilly (2005) para descrever ofenômeno da interatividade na redemundial de computadores em suasegunda fase, a partir do ano 2000. Emvez de websites estáticos que serviamapenas como provedores de
EsPCEx
71EsPCEx, onde tudo começa
informações, a web passa a oferecerao usuário uma condição de agente,isto é, aquele que também cria epublica. Dentro da Web 2.0 estão asredes sociais, os blogs, enciclopédiaslivres, websites de compartilhamentode vídeos, fotos e áudio, entre outros.
Diante dessas transformações e doalcance global da Internet, algunsconceitos surgem e outros serecontextualizam. Só para citar alguns,falaremos em remix, produsagem,escrita colaborativa e inteligênciacoletiva. Todos eles, por sua vez,influenciam diretamente o conceitotradicional de autoria.
Quando conteúdos diversos daInternet são unidos e editados nosdiversos softwares disponíveis e dãoorigem a uma nova produção, essa“nova” produção é chamada de remix.O termo remix, na verdade, surgiu nocontexto musical e gradativamentepassou a se referir a qualquer trabalhono qual foram usados conteúdosculturais que já existiam e cujo objetivoé gerar novas formas de interpretação.
... remix como uma prática culturalmudou dramaticamente nos últimosanos. Ferramentas digitais geramnovas possibilidades para termosacesso à informação, para produ-zirmos, compartilharmos ereutilizarmos (ERSTAD, 2008, p. 185,tradução minha).
Para definir a criação de conteúdoque acontece hoje em ambiente virtual,criou-se o termo produsagem (BRUNS,2007). Ou seja, aqueles que fazemremix são produsuários (produsers),produtores e usuários de conteúdo.
A escrita colaborativa acontece emwebsites em que o produto final se
constitui por meio da contribuição dediferentes usuários (PINHEIRO, 2013).É claro que escrita colaborativa podeacontecer fora do ambiente virtualtambém, no entanto, a Web 2.0 passoua oferecer condições mais dinâmicas eabrangentes.
Termo cunhado por Pierre Lévy(2007), inteligência coletiva é o acessoao saber dos outros, o intercâmbio deconhecimentos e experiências queacontece no ambiente virtual.
Remix, produsagem, escritacolaborativa e inteligência coletivainfluenciam o conceito tradicional deautoria no sentido de propriedadeintelectual de que tratam as leis dedireitos autorais, pois vemos que agora,em ambiente virtual, a produção detextos (escritos, orais ou não verbais)acontece sob novas condições. Kress(2010) diz que a comunicaçãocontemporânea é mais aberta eparticipativa, que as estruturas depoder agora são horizontais e nãoverticais e, assim, o limite entre públicoe privado fica mais difícil de seestabelecer.
Como essas práticas podem serusadas a favor dos propósitos daescola? O professor engajado com aperspectiva dos novos letramentosdeve, na medida do possível, começara incluir trabalhos multimodais digitaisem suas práticas pedagógicas. Essestrabalhos, por sua vez, devem conter onovo ethos, caso contrário tornar-se-ão simplesmente um copiar/colar.
Em contextos educacionais, faríamosbem em identificar com maisespecificidade como os alunos de-veriam usar a cultura comum em
cada tarefa dada, bem como as for-
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa72
mas específicas de inovação ou ori-ginalidade que também esperamosque eles realizem em suas tarefas
(BAZERMAN, 2010, p.460).
Em relação aos aspectos técnicos(new technical stuff), uma gama deferramentas de edição está disponível,elas podem já fazer parte dos pacotesque vêm instalados nos computadores,podem ser baixadas na Internet ou atémesmo serem usadas online. Entre osmais conhecidos pelos professoresestão os editores de texto e de slides,no entanto, trabalhos maisinteressantes e desafiadores podemser produzidos com ajuda de editoresde imagem, editores de áudio e vídeo,editores de animações e jogos ou editorde texto online que possibilite ocompartilhamento para trabalhocolaborativo.
Para propiciar o novo ethos (newethos stuff), esses trabalhos tomariamforma de gêneros específicos. Essesgêneros, por sua vez, podem seraqueles que surgiram em função daInternet como um blog, por exemplo,ou outros oriundos da mídia impressa,televisiva e rádio que passaram atambém fazer parte da Internet comoclips, paródias, documentários,histórias em quadrinhos, narrativas,jogos, animações, programas de rádio,entre outros.
Outras decisões envolvem o tempode execução (um dia, um bimestre, umsemestre), equipamentos disponíveis(computadores dos alunos, laboratórioda escola se houver), atualização dosprofessores em relação às ferramentasde edição e algum meio de divulgaçãodos trabalhos depois de prontos.
Acredita-se que o uso de artefatostecnológicos no ambiente educativogere motivação, pois propicialinguagens próximas do universo deinteresse do aluno. No entanto, sendoo Brasil país tão grande e de aspectossociais e culturais tão diversos, haverácontextos mais favoráveis e outrosmenos favoráveis para o desen-volvimento dessas atividades. Mudarferramentas e fontes de conteúdo nãoé um processo fácil, requer adaptaçãode ambos os lados, professores ealunos.
***
Considerações Finais
Bibliografia
BAZERMAN, C. Paying the Rent: Languaging Particularity andNovelty. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Vol.10, n.2, p.459-469, 2010.
BRUNS, A. Produsage: Towards a Broader Framework for User-LedContent Creation. In: Proceedings Creativity & Cognition 6,Washington, DC. Disponível em: <http://eprints.qut.edu.au/6623/1/6623.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2013.
ERSTAD, O. Trajectories of Remixing: Digital Literacies, MediaProduction, and Schooling. In: LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. (Eds.).Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. Peter LangPublishing, 2008. p. 177-200.
FOUCAULT. M. O Que é Um Autor? 1969. Disponível em:<fido.rockymedia.net/anthro/foucault_autor.pdf >. Acesso em: 26 set.2013.
KLEIMAN, A. B. Os Significados do Letramento: Uma NovaPerspectiva Sobre a Prática Social da Escrita. Campinas: Mercadodas Letras, 1995.
EsPCEx
73EsPCEx, onde tudo começa
KRESS, G. Multimodality: A Social Semiotic Approach toContemporary Communication. London: Routledge, 2010.
LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. New Literacies: Changing Knowledgeand Classroom Learning. Buckingham: Open University Press, 2003.
LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. (Eds). A New Literacies Sampler.New York: Peter Lang, 2007. p.1-24.
LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. (Eds.). Digital Literacies: Concepts,Policies and Practices. Peter Lang Publishing, 2008. p. 1-30.
LÉVY, P. Introdução. In: LÉVY, P. A Inteligência Coletiva – Por umaAntropologia do Ciberespaço. São Paulo: Loyola, 2007. p.19-32.
NEW LONDON GROUP. A Pedagogy of Multiliteracies: DesigningSocial Futures. Harvard Educational Review, Cambridge, MA, v. 66,n.1, p.60-92, 1996.
O’REILLY, T. 2005. What is Web 2.0? Design Patterns and BusinessModels for the Next Generation of Software. Disponível em: <http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>. Acesso em: 02jun. 2013.
PINHEIRO, P. Práticas Colaborativas de Escrita Via Internet:Repensando a Produção Textual na Escola. Londrina: Eduel, 2013.
STREET, B. Literacy in Theory and Practice. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1984.
STREET, B. What’s “new” in New Literacy Studies? Critical Approachesto Literacy in Theory and Practice. Current Issues in ComparativeEducation, Vol. 5(2), p.77-91, May 2003.
(*) A Professora civil Viviane de Fátima Pettirossi Raulik é licenciada em Letras pela PontifíciaUniversidade Católica de Campinas (PUC), possui curso de pós-graduação Lato Sensu emMetodologia de Ensino da Língua Inglesa, Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) e émestranda em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) naLinha de Pesquisa Linguagens e Tecnologias. Atualmente exerce e função de professora deInglês da EsPCEx.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa74
Andréia Pinheiro de Freitas (*) Professora de Língua Portuguesa I
Um Breve Olhar na História paraPesquisas em Educação
Ao se pensar em uma pesquisa emEducação, ou mesmo em outra área,em qualquer escala, é necessário, an-tes de tudo, pensar o contexto sócio-histórico em que o objeto de análiseestá inserido, o que não é uma tarefafácil, uma vez que a própria História e,consequentemente, a História da Edu-cação estão em constantesquestionamentos, haja vista a intrín-seca relação do historiador com seusobjetos de análise. De fato, sob pontode vista de Eliane Marta Teixeira Lopes,em seu texto O Aprendiz de Feiticeiroe o Mestre Historiador: Quem Faz aHistória? (2004, p. 28):
a história é aquilo que os historia-dores escreveram e não a realida-de de um passado inapreensível porsua natureza de já ter passado (seráo presente mais apreensível que opassado?), e os historiadores esco-lhem e selecionam as fontes e in-formações que lhe pareçam maissignificativas, rejeitando outras.Nesse trabalho, não consegue cer-car sua subjetividade, não conse-gue aprisioná-la em sua pretensãode objetividade. O máximo que podefazer é ser honesto.
Além disso, na história da Histó-ria, ou seja, na historiografia, a ques-tão não é simples, pois, mesmo sendoconsensual periodizar a história mo-derna, tendo como referência a ascen-são das ciências sociais (séc. XIX), hávárias “escolas” que se contrapõem ebrigam entre si (não é exclusividadesomente desse período), e muitos
questionamentos são levantadas quan-to ao procedimento da historiador frentea essa nova visão de mundo em que asciências possuem forte influência nasformas de análise dos objetos.
Essas particularidades de extremarelevância vão além do que se quer dis-cutir neste trabalho, que pretende tãosomente lançar um breve olhar nasraízes da História da Educação no Bra-sil, no período compreendido entre ofinal do Império e as primeiras déca-das da República, por julgar importan-te que o pesquisador tenha noçõesessenciais para realizar um trabalhodentro da referida área. Em outras pa-lavras, quando se pensa em Educação,no contexto atual, ou em realizar pes-quisas de trabalho nessa área, é preci-so buscar na História, por meio dosestudos já realizados, os fatos passa-dos que propiciaram o processo de cons-trução do que se entende por Educaçãohoje.
No entanto, não é possível sim-plesmente fazer um levantamento defatos, sem entender todo o contextopolítico, social, econômico e cultural porque passava o Brasil durante o Impérioe as primeiras décadas da República.Dessa forma, o presente trabalho tempor objetivo, de forma despretensiosa,lançar um breve olhar sobre esse pro-cesso.
Além disso, é pertinente ressaltarque não basta o pesquisador apenasler os textos que abordam a Históriaou a Historiografia da Educação dentro
EsPCEx
75EsPCEx, onde tudo começa
de um contexto sócio-histórico especí-fico, é necessário, também, levantaralgumas questões relevantes: quemescreveu o texto? de que lugar fala oautor do texto? qual o objetivo do au-tor ao escrever o texto? qual a lingua-gem que o autor usa? a quem se dirigeo texto? Esses questionamentos sãoimportantes para que o pesquisadorprocure entender mais criticamente osdiferentes olhares dos historiadores/pesquisadores dos textos lidos e tam-bém para que possa olhar o seu pró-prio objeto de trabalho com mais pro-fundidade.
Considerações iniciais
Antes de revisitar brevemente opassado, é importante comentar que aHistoriografia da Educação, emboratenha sido uma preocupação desde ofinal do século XIX, só se constituiu hápouco tempo no Brasil.
Estudos recentes têm por finali-dade levantar fatos que ratifiquem suasraízes, bem como questionar asperiodizações estabelecidas e os pro-cedimentos de se recontar essa histó-ria, sob as bases do realismo histórico(uma tentativa de responder às ques-tões acima colocadas).
Em relação à periodização da edu-cação brasileira, ressaltam-se os es-forços de Laerte Ramos de Carvalho,que, desde a publicação de As Refor-mas Pombalinas da Instrução Pública,em 1952, demonstra preocupação comessa questão, tanto que organizou umgrupo de pesquisadores da USP, ao lon-go da década de 1960, o qual realizouum árduo trabalho de pesquisa que seconcentrou na busca e na catalogaçãode documentos e publicações para es-tabelecer tal periodização. As propos-
tas de periodização de Ramos de Car-valho, como bem analisa BrunoBontempi Júnior, Professor Doutor daPUC São Paulo, em seu texto A Educa-ção brasileira e a sua periodização -vestígio de uma identidade disciplinar,ficariam, assim, dispostas:
de 1549 a 1759, ou seja, dos primei-ros estabelecimentos jesuíticos atéo decreto de sua expulsão; de 1759a 1889, data da Proclamação da Re-pública; de 1889 à Revolução de 1930- além de um quarto período, ape-nas esboçado, que começa com apromulgação da Lei de Diretrizes eBases de 1961. (2003, p. 61)
Todos esses esforços não ficaramimunes a críticas, não pelo levantamen-to de todo material que pudesse serresgatado, pois constitui enorme con-tribuição para a Historiografia da Edu-cação brasileira, mas pelo fato de comoas pesquisas e os estudos foram cons-tituídos, sob o ponto de vista do rea-lismo histórico.
Seja como for, o que se pode dizeré que, a partir da década de 1950, hou-ve uma preocupação intensa de histo-riadores, pesquisadores da educação epedagogos em organizar materiais quepossam esclarecer ou recontar um poucomais sobre a História da Educação bra-sileira.
Educação no Império
A vinda da família real para o Riode Janeiro, em 1808, foi motivo demuitas mudanças no cenário político,cultural e educacional. Com a chegadade D. João VI, o plano político começa-va a desmantelar-se, pois, de certaforma, houve uma ruptura do pactocolonial devido à abertura dos portos eà revogação do alvará que proibia a
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa76
instalação de manufaturas, fatores degrande influência para tornar mais fla-grante a necessidade da independên-cia do Brasil. Quanto às transforma-ções culturais, destacam-se a criaçãode museus, academias e bibliotecas,além da implantação da imprensa, quese desenvolveu rapidamente, tornan-do-se uma rica fonte de pesquisa parainúmeros historiadores.
A Educação nesse período nãopossuía uma política com sistema eplanejamento eficientes, pois, duran-te os séculos XVI e XVII, foi basica-mente estruturada pelo ensino jesuíticoe depois, no século XVIII, passou pe-las reformas empreendidas por Marqu-ês de Pombal em 1772. É importanteressaltar que, a partir dessa data, tem-se a tentativa de implantação do ensi-no público oficial, ou seja, a coroa de-veria organizar as regras do sistemaeducacional, instituindo as aulas régi-as. Entretanto muitas foram as dificul-dades enfrentadas, tais como a dis-persão dos colégios, a ausência de for-mação e/ou a incompetência dos mes-tres e a centralização desse sistemano Reino. Paralelamente a isso, o apa-recimento de escolas de beneditinos,carmelitas e franciscanos acabam sedifundindo em diversas regiões.
Nessa época, diversos cursos sãocriados: a Academial Real da Marinha(1808), a Academia Real Militar (1810),cursos médico-cirúrgicos na Bahia e noRio de Janeiro, cursos jurídicos no Re-cife e em São Paulo e cursos avulsosde economia, química e agricultura noRio de Janeiro e na Bahia. É perceptí-vel nessa época uma ênfase, sobretu-do, no ensino superior e uma certa dis-plicência quanto aos demais níveis.
Após a Independência do Brasil em1822, há toda uma movimentação paraque a primeira Constituição brasileirase concretizasse. O conceito de consti-tuição que emanava após a Indepen-dência apoiava-se em quatro verten-tes correntes na época, resumidas aseguir: a do constitucionalismo histó-rico, que buscava não atribuir poderesirrestritos aos deputados da AssembléiaConstituinte; a de Montesquieu, quedefendia o princípio da separação dospoderes em três e os direitos dos cida-dãos e regulamentos dos deputados; ade Benjamin Constant, que defendiaa total garantia dos indivíduos, ou seja,uma constituição mais liberal; e a deuma versão mais democrática, quedefendia “um pacto político, ultrapas-sando seu sentido original de definiruma forma de governo e a organizaçãodo território.” (NEVES, p. 189).
É importante perceber que todosesses movimentos ao redor de se bus-car a primeira Constituição brasileirapartiam principalmente da elite inte-lectual brasileira e pouco se levavamem consideração os anseios dos cida-dãos da nação.
Depois de outorgada a Carta de1824, o sistema educacional vigente atéentão começa a passar por transforma-ções com o Ato Adicional à Constituin-te em 1834, que descentraliza o ensi-no do poder central, que fica responsá-vel somente por regular o ensino supe-rior. O ensino elementar e secundárioficam sob a responsabilidade das pro-víncias. Em outras palavras, “a educa-ção da elite fica a cargo da coroa e aeducação do povo é confiada precaria-mente às províncias.” (ARANHA, 1989,p. 192)
EsPCEx
77EsPCEx, onde tudo começa
É claro que essa descentralizaçãoocasionou sérios problemas, principal-mente para a educação elementar e asecundária. A falta de recurso das pro-víncias, a ausência de um currículo queocasionava como consequência uma es-colha aleatória das disciplinas, a qua-se total inexistência de professorescompetentes por falta de formaçãoadequada, a baixa demanda dos pro-fessores que havia, por causa dos bai-xos salários, e os crescentes índicesde analfabetismo são alguns exemplos.Algumas tentativas, como a formaçãodos liceus provinciais, a fundação decolégios (em sua maioria católicos) ede escolas normais, não são muito con-tundentes para uma melhora significa-tiva no panorama educacional desse pe-ríodo.
Cumpre destacar nesse período umestudo significativo feito por JoséRicardo Pires de Almeida, intituladoInstrução Pública no Brasil (1500-1889), considerado por muitos comosendo a primeira história sistematiza-da da educação brasileira. Nessa obra,publicada em francês em 1889 ededicada ao Conde D’Eu (demonstran-do em sua narrativa, devido a essesfatos, um caráter elitista), o autor es-boça um quadro minucioso da educa-ção no Brasil de 1500 a 1889. É inegá-vel que o livro de José Ricardo Pires deAlmeida é de extrema importância paraos estudos de educação à época doImpério, porém, por ter ficado tantotempo esquecido e não figurar no cur-rículo das Escolas Normais e Institutosde Educação até recentemente, suaimportância é muito discutida.
Educação nas Primeiras Décadas daRepública
Após a Proclamação da Repúblicano Brasil em 1889, o governo passa,após a Constituição de 1891, por pro-fundas transformações. Uma delas éque o governo torna-se representati-vo, federal e presidencial, o que dáautonomia aos estados, promovendo ofavorecimento de São Paulo, MinasGerais e do Rio de Janeiro, já que sãolocais onde prevalecem os interessesda aristocracia brasileira.
No panorama mundial temos im-portantes fatos, dentre vários outrossignificativos, vão nortear para sem-pre a história da humanidade: As Re-voluções Industriais, a ascensão dasCiências e a 1ª Guerra Mundial.
Após a Constituição de 1891, aqual reafirmava a responsabilidade daUnião em promover a educação superi-or e secundária, em detrimento da ele-mentar (o que marcava a continuidadedo foco elitista sobre a educação), nosprimeiros vinte anos de república, asituação educacional não havia passa-do por transformações significativas,contando com índices de 80% de anal-fabetismo. No entanto, frente às trans-formações pelas quais o mundo passa-va, após a Primeira Guerra Mundial, taiscomo a importância das ciências, a cres-cente industrialização e a remodelaçãodo espaço urbano, começava a se fazernecessária uma mobilização para quenovas condições de ensino se adaptas-sem a esse novo panorama que se vis-lumbrava.
A educação passa nessa época aser concebida como um pilar essencialpara a adequação a esse novo siste-ma, ou seja, a educação passa a servista como solução para todos os pro-
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa78
blemas por que passa o Brasil. Cresce,dessa forma, um sintoma que maistarde se denominou “o entusiasmo pelaeducação e o otimismo pedagógico”.
Assim, com entusiasmo e otimis-mo, é decretada a reforma da educa-ção, em 1928, por meio do decreto nº3281, de 23 de janeiro, na gestão deFernando Azevedo como diretor da Ins-trução Pública do governo do DistritoFederal e, em 1932, é publicado o Ma-nifesto dos Pioneiros da EducaçãoNova, tendo como líder o mesmoFernando de Azevedo e contando comas assinaturas de mais 26 educado-res.A Escola Nova no Brasil
A escola nova foi fundada na In-glaterra em 1889 e expandiu-se rapi-damente por quase toda a Europa. Jor-ge Nagle, em seu texto Introdução daEscola Nova no Brasil, publicado noBoletim da Cadeira de Teoria Geral daEducação, em 1964, resume bem o teordesse novo movimento,
O movimento chamado da EscolaNova, em resumo, significou uma re-modelação das instituições escola-res, como consequência da revisãocrítica de toda a problemática edu-cacional. Em confronto com a cha-mada “escola tradicional”; em rela-ção à qual se colocou em termosantitéticos, a escola nova se funda-menta em nova concepção sobre ainfância. Esta passa a ser conside-rada, contrariamente à tradição,como estado de finalidade intrínse-ca, de valor positivo, e não maiscomo condição transitória e inferi-or, negativa, de preparo para a vidaadulta. Nesse novo fundamento seerigirá o novo edifício escolanovista.(NAGLE, 1964, p. 86)
No Brasil, os primeiros 20 anos doséculo XX podem ser interpretados
como uma preparação para a introdu-ção desse movimento e contou, segun-do Jorge Nagle, com alguns anteceden-tes importantes, como a fundação deescolas protestantes, desde o final doperíodo imperial, importantesdivulgadoras das ideias norte-america-nas; a Primeira Exposição Pedagógi-ca, realizada em 1883; a fundação doPedagogium, instituída pelo Decretonº 981, em 08 de novembro de 1890, ea criação de Jardins de Infância eEscolas-Modelo, no estado de SãoPaulo, tornando-o o foco mais signifi-cativo de renovação da escola brasilei-ra, difundiram, principalmente, asideias de Froebel e Pestalozzi,.
Com todas essas iniciativas, eranítida a necessidade de mudanças, oque se concretizou com o decreto nº3281, de 23 de janeiro de 1928, que,de acordo com Fernando Azevedo, di-retor da Instrução Pública do governodo Distrito Federal de 1927 a 1930,representou uma nova fase da históriada educação nacional.
A reforma de 1928 atingiu, alémdo ensino técnico profissional, tambémo ensino primário e o normal. A refor-ma teve como fontes de inspiração asteorias de E. Durkheim, Kerschensteinere, principalmente, de J. Dewey e tinhacomo objetivo alterar de maneira pro-funda a sociedade brasileira.
É evidente que as reformas causa-ram reações, principalmente de políti-cos do Distrito Federal e da Igreja Ca-tólica, e prolongaram-se até a Revolu-ção de 1930 com a deposição do Presi-dente Washington Luís.
Porém, em 1932, um grupo forma-do por Fernando Azevedo lançou o Ma-nifesto dos Pioneiros da Educação Novaque, basicamente, trazia como princí-
EsPCEx
79EsPCEx, onde tudo começa
pios, segundo o próprio autor, no quar-to capítulo de seu livro A Cultura Brasi-leira,
A defesa do princípio de laicidade, anacionalização do ensino, a organi-zação da educação popular, urbanae rural, a reorganização da estrutu-ra do ensino secundário e do ensinotécnico e profissional, a criação deuniversidades e de institutos de altacultura, para o desenvolvimento dosestudos desinteressados e da pes-quisa científica, constituíam algunsdos pontos capitais desse programade política educacional, que visavafortificar a obra do ensino leigo, tor-nar efetiva a obrigatoriedade esco-lar, criar e estabelecer para as cri-anças o direito à educação integral,segundo suas aptidões, facilitando-lhes o acesso, sem privilégios, aoensino secundário e superior, e alar-gar, pela reorganização e pelo enri-quecimento do sistema escolar, asua esfera e os seus meios de ação.(1971, p. 675)
Muitos foram os motivos da nãoconcretização, exatamente como forampensados, dos princípios desse mani-festo, tais como as reações da Igreja,a difícil difusão e implantação real emoutros estados fora do eixo Rio de Ja-neiro–São Paulo–Minas Gerais, devidoà dimensão territorial do Brasil, e aointrínseco e complicado jogo de inte-resses políticos; entretanto é inegávelque mudaram significativamente osrumos da educação no Brasil.
***
ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889). Trad. Antonio Chizzotti. 2ª ed. São Paulo: Educ, 2000. (pp.Folha de rosto – 23; pp.53 – 98).ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 1 ed., SãoPaulo: Moderna, 1989.AZEVEDO, Fernando. “Capítulo IV: A renovação e unificação dosistema educativo”. In: A cultura brasileira. Quinta edição. São Paulo:Melhoramentos/Editora da USP, 1971.BONTEMPI JÚNIOR, Bruno. “A educação brasileira e suaperiodização: vestígio de uma identidade disciplinar”. RBHE, n. 05,jan-jun 2003.LOPES, Eliane M. “O aprendiz de feiticeiro e o mestre historiador:quem faz a história”. In: STEPHANOU, M. & BASTOS, M. Históriase Memórias da Educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2004, pp. 19-31.MONARCHA, Carlos. “História da educação brasileira: atos inaugurais”.Horizontes, n. 14, 1996, p. 35-44.NAGLE, Jorge. “O entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico”(p. 131 – 165). In: Educação e Sociedade na Primeira República.Rio de Janeiro: DP & A, 2001.___________. “Introdução ao estudo da Escola Nova no Brasil”. In:Boletim da Cadeira de Teoria Geral da Educação, 1964, 1 (2).NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. “Constituição: usos antigos enovos de um conceito no Império do Brasil (1821-1860)”. In:CARVALHO, José Murilo de & NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereiradas (orgs). Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política eliberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.NUNES, Clarice. “A Instrução Pública e a primeira históriasistematizada da educação brasileira”. Cadernos de Pesquisa, São Paulo,n. 93, p. 51-59, mai 1995.OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. “Estado, nação e escrita daHistória: proposta para debate”. In: CARVALHO, José Murilo de &NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das (orgs). Repensando o Brasildo Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2009.
Bibliografia
(*) A Professora civil Andréia Pinheiro de Freitas possui Licenciatura Plena em LínguaPortuguesa e suas Literaturas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas(PUCCampinas), possui pós-graduação em Psicopedagogia e Orientação Educacionalpela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e é mestranda em Educaçãopela Universidade São Francisco (USF). Atualmente é professora de Língua Portuguesa Ina EsPCEx.
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa80
Viagem de Estudos – Trajetória da FEB na Itália (registro)
Com o objetivo de percorrer as principais localidades libertadas pela ForçaExpedicionária Brasileira (FEB), por ocasião da Segunda Guerra Mundial, umacomitiva composta por três Alunos e um Oficial da Escola Preparatória de Cade-tes do Exército (EsPCEx) embarcou rumo à Itália no dia 05 de outubro de 2014,com retorno para o dia 11 do mesmo mês.
Objetivos da Missão
A missão teve por objetivos os quese seguem:
1. Percorrer as cidades libertadasdo jugo alemão pela FEB;
2. Identificar a relação afetivaestabelecida entre o “pracinha” e a po-pulação local;
3. Visitar os principais museus quefazem alusão à participação brasileirana 2ª Guerra Mundial;
4. Visitar os principais monumen-tos erigidos na região em homenagemà FEB e aos heróis tombados em com-bate; e
5. Participar de eventos alusivosà FEB que porventura se realizassemdurante o período.
Critério de seleção
Para selecionar os componentes dacomitiva, o comando da EsPCEx partiudo pressuposto de que essa tarefa seriaum prêmio, tendo em vista que teriamuma oportunidade rara de viajar paraoutro país e conhecer locais de grandevalor para a história do Exército Brasi-leiro.
O critério adotado foi o dameritocracia, sendo selecionados osAlunos com as maiores notas de anono momento do início dos processosadministrativos decorrentes da missão.Na ocasião, portanto, foram agracia-dos o 1°, o 2° e o 3° colocados do
curso preparatório, respectivamente osAlunos Rodrigo Correa Damasceno,André Andrade Longaray Filho e ViníciusHenrique Rodrigues Chagas da Silva.
Atividades
No período de 05 a 11 de outubrode 2014, a Comitiva percorreu algumasdas principais localidades para estudoda atuação da FEB. Dentre elas estãoas seguintes: Roma, Pistoia, Stafoli,Borgo a Mozzano, Massarosa, Camaiore,Pisa, Monte Castelo, Montese, Lola,Precaria, Boscaccio, Vergato, Cereglio,Santa Maria Villiana e Porreta Terme.
1° dia - 05 de outubro de 2014:deslocamento para a Itália.
O primeiro dia foi de chegada evisitação a Roma.
2° dia - 06 de outubro de 2014:recepção pelo Adido do Exército evisitação ao Escritório da Aditância.
Os alunos foram recebidos pelo CelMário Felizardo Medina, Adido Militardo Exército na Itália. Na visitação doescritório, já se fez notar a presençada FEB na própria decoração do local,onde se podiam ver diversas homena-gens afixadas nas paredes, exposiçãode relíquias da Segunda Guerra Mundi-al e de símbolos que rememoravam ovalor de nossos bravos soldados.
EsPCEx
81EsPCEx, onde tudo começa
O destaque da Embaixada do Bra-sil na Itália, sobressaindo-se em meioà Piazza Navona, famoso cartão postalromano, surpreendeu os Alunos com suaimponência, elevando o nome do Paísno exterior.
Por volta das 20 h, recepcionadospelo Sr Mário Pereira, os Alunos che-gam ao seu destino, encerrando, as-sim, as atividades do segundo dia como pernoite.
3° dia - 07 de outubro de 2014:Pistoia e o Monumento Votivo Militar.
O terceiro dia começou com avisitação à Capela de Stafoli, localonde, no passado, foi instalado um pos-to logístico da FEB. Nesse local, os sol-dados brasileiros colocaram uma ima-gem de Nossa Senhora Aparecida, si-nal marcante de religiosidade. Essaimagem não existe mais, mas a Cape-la foi restaurada pelos italianos em sinalde gratidão e homenagem à FEB.
Continuando as visitas, seguimospara o Monumento Votivo Militar, anti-go Cemitério Militar de Pistoia. Nesteponto, é importante destacar a figurado Sr Mário Pereira, cidadão italiano,filho de um Sargento da FEB que, in-cumbido de guardar o cemitério, casou-se com uma italiana e permaneceu pormais de 30 anos numa missão que de-veria ser de 2 anos, dedicando-se à pre-servação da memória dos militares bra-sileiros que participaram do conflito.Esse sargento, antes de morrer, pas-sou ao seu filho essa responsabilida-de. O Sr Mário Pereira é extremamenteativo na difusão e preservação da me-mória dos heróis da FEB.
O Monumento, atualmente, nãoabriga mais os restos mortais de ou-
trora. No decorrer da história, os mili-tares identificados foram transladadospara o Brasil, permanecendo apenasum, não reconhecido, sob uma pirâmi-de de concreto com uma chama eternaem seu topo, simbolizando o soldadodesconhecido. Com o fim do cemitério,foi erigida uma muralha-monumentopara homenagear os mortos em com-bate, na qual constam, inscritos, os no-mes de todos.
Nessa ocasião, foi realizada a ce-rimônia de hasteamento do PavilhãoNacional e cantado o Hino Nacional doBrasil pela Comitiva, que teve a com-panhia de um grupo de turistas brasi-leiros que ali se encontravam.
Na parte da tarde, após o retornodo Adido para a Embaixada, seguimospara Borgo a Mozzano, onde foi reali-zada a visitação de fortificações ale-mãs que compunham a chamada LinhaGótica. Encrustados no interior da ro-cha dos morros da região, compunhamum sistema defensivo em quatro linhas,nas quais se posicionavam metralha-doras MG-42, que impediam o avançodas tropas aliadas para o norte da Itá-lia. A Linha Gótica se constituía no úl-timo dispositivo defensivo dos alemãesna Península Itálica, sendo assim, apre-sentaram-se sempre bastante dispos-tos em mantê-la.
Saindo do bunker, os Alunos foramao museu de Borgo a Mozzano, ondepuderam ter contato com objetos daépoca, desde armamentos e instrumen-tos de medida, até goma de mascar eterços católicos, que perteceram a sol-dados.
No caminho para Pisa, local ondeficaram instaladas as tropas da FEB,ainda houve a oportunidade de, maisuma vez, constatar o profundo respei-
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa82
to nutrido pelos habitantes locais emfavor das tropas do Brasil, passandopor duas praças construídas em me-mória de seus feitos, em Camaiore eMassarosa, conhecendo, neste último,o local onde outrora fora o Posto Avan-çado da 1° DIE.
4° dia - 08 de outubro de 2014:Porreta Terme e Monte Castelo.
A comitiva seguiu para Montese,visitando inicialmente a Porreta Terme,antigo Quartel General da FEB. O localé marcado por uma decisão de cora-gem e bravura do Marechal Mascarenhasde Moraes, que se negou a recuar,mesmo aconselhado pelos comandan-tes americanos, a despeito das grana-das que eram arremessadas constan-temente sobre a posição. Essa deci-são lhe custou caro. Porreta Terme os-tenta o quarto maior número de baixasda FEB.
Visitamos o local onde se locali-zava a última linha de tocas brasilei-ras diante de Monte Castelo, onde, atu-almente, ergue-se um imponente mo-numento para honrar aquela que foi amais sangrenta batalha de que partici-pou a FEB. Quatro tentativas malogra-das de tomar o monte, até que, consa-grando-se o soldado brasileiro como umcombatente de valor, na quinta tom-bou o monte que tantas vidas tirou denossas fileiras.
Seguindo o roteiro, foi realizadauma visita ao museu de Lola, em quese puderam ver uniformes tanto da FEB,como da Divisão de Montanha norteamericana, da resitência italiana e dasforças nazistas. Na saída do museu, épossível conhecer fortificações ondeficavam mais instalações da Linha Gó-tica alemã.
Em Montese, pôde-se conhecer olocal onde o herói Sgt Max Wolf Filhofora alvejado, assinalado por uma pla-ca em sua homenagem.
Finalizando o dia de visitações, osintegrantes da missão travaram conta-to com o Sr Giovanni Sulla. Figura ilus-tre e especialista em objetos de mili-taria da FEB, que permitiu a nossa en-trada no local onde está o seu acervopessoal. Portador de verdadeiras relí-quias da época, esse italiano, nascidoem Montese, cresceu ouvindo as histó-rias a respeito dos pracinhas e reco-lhendo artefatos deixados na região.Admirador da Força Expedicionária eativo no intercâmbio entre Brasil e Itá-lia, é profundo conhecedor de históriamilitar.
5° dia - 09 de outubro de 2014:Montese.
Após o pernoite em Montese, se-guimos conhecendo os diversos monu-mentos e homenagens presentes na re-gião, passando por Largo Brasile, Mu-seu de Montese, uma pequena exposi-ção de fotos na Prefeitura da cidade,fortificações alemãs restauradas, cul-minando no posto de observação (PO)utilizado pelo próprio MarechalMascarenhas de Moraes para conduziro cerco à cidade.
Saltou aos olhos dos militares pre-sentes a quantidade de orifícios ocasi-onados por projéteis que ainda exis-tem por toda parte na região, não ape-nas nos pontos centrais, como, porexemplo, à frente da praça principal dacidade, que é preservada como na épo-ca da guerra, para lembrar seus habi-tantes das atrocidades passadas.
EsPCEx
83EsPCEx, onde tudo começa
Antes de partirmos para Boscaccio,ainda subimos até um PO alemão, ondepudemos comprovar a capacidade mili-tar das tropas do Eixo na utilização doterreno, uma vez que, do ponto ondese encontravam, podiam ver toda a zonade ação de Montese.
Diversas foram as paradas paraverificar as estátuas erigidas em nomedos bravos soldados brasileiros, porém,uma chamou a atenção da Comitiva.Em um terreno particular, por iniciativaprópria, um morador instalou em umapedra do local, uma placa em homena-gem aos soldados brasileiros, em umademonstração espontânea de gratidãoe admiração pela FEB.
Encerrando o roteiro, passamospelo monumento que homenageia abravura de três brasileiros que lutaramaté a morte frente a uma patrulha ale-mã e que, depois de enterrados pelosnazistas, eles mesmos inscreveram emsuas cruzes os dizeres “A três bravosbrasileiros”. Uma prova inconteste dovalor de nossa tropa no campo de ba-talha.
6° dia - 10 de outubro de 2014: devolta a Roma.
O último dia na Itália foi dedicadoà preparação para o embarque, à fotooficial no escritório do Adido e àsvisitações de dois pontos turísticos dacidade: o Vaticano e o Coliseu.
No final da tarde, o embarque deretorno para o Brasil.
Conclusão
Findos os cinco dias de visitaçõesintensas, a Comitiva de Alunos levoupara a EsPCEx o sentimento de que aparticipação da FEB, na libertação ita-liana do jugo nazista, não foi apenas
importante, mas fundamental para oêxito da missão.
Apesar de pouco estudado e co-mentado no ensino brasileiro, perce-beu-se que, para os moradores da re-gião, principalmente de Montese ePorreta Terme, permanece, ainda hoje,uma profunda admiração por parte deseus moradores, tanto os mais velhoscomo os mais jovens, pelo Exército Bra-sileiro, percebido pelo alto prestígio daComitiva por onde passava, atraindocumprimentos e cortesias de seus ci-dadãos.
Das histórias ouvidas por todo otrajeto, saltam aos olhos a admiraçãopelos soldados brasileiros, principal-mente pela sua generosidade, sendosempre lembrados por trazerem alimen-tos aos civis que viviam sérias restri-ções devido aos racionamentos, por suaalegria, através da música e por suamiscigenação, incomum para os mora-dores dessas regiões.
Aos Alunos participantes, ficou nãosó a admiração por pessoas anônimase, ao mesmo tempo, extremamentecomprometidas com a preservação dahistória, como o Sr Mário Pereira e o SrGiovani Sulla, mas também a respon-sabilidade de, uma vez conhecedoresdas proezas realizadas pelos nossossoldados no além-mar, manter a cha-ma da memória acesa.
***
Gustavo Henrique Rodrigues Moleiro1º Ten-Oficial Orientador da Comitiva
EsPCEx
EsPCEx, onde tudo começa84
Codecorações Recebidas pelos Heróis da FEB na 2ª Guerra Mundial
Vê-se, ao centro, o emblema da FEB. Acima do emblema, da esquerda paradireita, Cruz de Combate 1ª Classe; U.S.A-Silver Star; Cruz de Combate 2ªClasse. Abaixo do emblema, da esquerda para direita, U.S.A-Bronze Star;
Sangue do Brasil e Medalha de Campanha.
(*) O 1º Tenente, da Arma de Artilharia, Gustavo Henrique Rodrigues Moleiro foi aluno da EscolaPreparatória de Cadetes do Exército – EsPCEx, formando-se em 2005. Graduou-se na AcademiaMilitar das Agulhas Negras – AMAN em 2009. Realizou o Estágio de Manutenção Mecânica doSistema Bofors para oficiais (1ª Fase), na Escola de Artilharia Antiaérea, Rio de Janeiro-RJ(2014). Chefiou a equipe de alunos na viagem de estudos sobre a atuação da FEB na 2ª GuerraMundial, nos campos de batalha da Itália. Atualmente é Instrutor da EsPCEx.
O Aluno Rodrigo Correa Damasceno, do 9º Pelotão, da 2ª Companhia de Alunos, integrou aequipe de estudos que foi à Itália para aprofundar seus conhecimentos sobre a atuação da FEBna 2ª Guerra Mundial. O Aluno Rodrigo Correa pertence à Turma Mestre de Campo GeneralFrancisco Barreto de Menezes, formada na EsPCEx em 2014.
O Aluno Vinicius Henrique Rodrigues Chagas da Silva, do 14º Pelotão, da 3ª Companhia deAlunos, integrou a equipe de estudos que foi à Itália para aprofundar seus conhecimentos sobrea atuação da FEB na 2ª Guerra Mundial. O Aluno Chagas pertence à Turma Mestre de CampoGeneral Francisco Barreto de Menezes, formada na EsPCEx em 2014.
O Aluno André Andrade Longaray Filho, do 13º Pelotão, da 3ª Companhia de Alunos, integroua equipe de estudos que foi à Itália para aprofundar seus conhecimentos sobre a atuação daFEB na 2ª Guerra Mundial. O Aluno Longaray pertence à Turma Mestre de Campo GeneralFrancisco Barreto de Menezes, formada na EsPCEx em 2014.