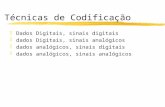Revista Sinais Sociais N9 pdf
Transcript of Revista Sinais Sociais N9 pdf
ISSN 1809-9815ano 3 | janeiro > abril | 2009
SESC | Serviço Social do Comércio
SESC | Serviço Social do Comércio
ano 3 | janeiro > abril | 2009
0909
www.sesc.com.br
ISS
N 1
809-
9815
97
71
80
99
81
00
5
01
INTELECTUAIS E ESTRUTURA SOCIAL: UMA PROPOSTA TEÓRICADaniel de Pinho Barreiros
CULTURAS URBANAS E EDUCAÇÃOEXPERIMENTAÇÕES DA CULTURA NA EDUCAÇÃO
Ecio Salles
RELAÇÕES INTERNACIONAISUMA INTRODUÇÃO AO SEU ESTUDO
Franklin Trein
A EVOLUÇÃO FAZ SENTIDO. INCLUSIVE NA ATIVIDADE FÍSICA?Hugo Rodolfo Lovisolo
‘DESIGNERS’, SUJEITOS PROJETIVOS OU PROGRAMADOS?Marco Antonio Esquef Maciel�
v.3 nº9janeiro > abril | 2009SESC | Serviço Social do ComércioAdministração Nacional
SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 2009iSSN 1809-9815
CooRDENAÇÃo EDiToRiAlGerência de Estudos e Pesquisas / Divisão de Planejamento e DesenvolvimentoSebastião Henriques Chaves
CoNSElHo EDiToRiAlÁlvaro de Melo Salmitoluis Fernando de Mello CostaMauricio blancoRaimundo Vóssio brígido Filhosecretário executivo
Sebastião Henriques Chavesassessoria editorial
Andréa Reza
EDiÇÃoAssessoria de Divulgação e Promoção / Direção-GeralChristiane Caetanoprojeto gráfico
Vinicius borges assistência editorial
Rosane Carneirorevisão
Elaine baymaSonia oliveira lima
SESC | Serviço Social do Comércio | Administração Nacional
PRESiDENTE Do CoNSElHo NACioNAl Do SESCAntonio oliveira SantosDiREToR-GERAl Do DEPARTAMENTo NACioNAl Do SESCMaron Emile Abi-Abib
Sinais Sociais / Serviço Social do Comércio.
Departamento Nacional - vol.3, n.9 (janeiro/
abril) - Rio de Janeiro, 2009
v. ; 29,5x20,7 cm.
Quadrimestral
iSSN 1809-9815
1. Pensamento social. 2. Contemporaneidade. 3. brasil.
i. Serviço Social do Comércio. Departamento Nacional
As opiniões expressas nesta revista são de inteira responsabilidade dos autores.As edições podem ser acessadas eletronicamente em www.sesc.com.br.
3SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 2009
APRESENTAÇÃo5
EDiToRiAl7
SobRE oS AUToRES8
iNTElECTUAiS E ESTRUTURA SoCiAl: UMA PRoPoSTA TEóRiCA10Daniel de Pinho barreiros
CUlTURAS URbANAS E EDUCAÇÃo46ExPERiMENTAÇõES DA CUlTURA NA EDUCAÇÃo
Ecio Salles
RElAÇõES iNTERNACioNAiS76UMA iNTRoDUÇÃo Ao SEU ESTUDo
Franklin Trein
A EVolUÇÃo FAz SENTiDo. iNClUSiVE NA ATiViDADE FíSiCA?114Hugo Rodolfo lovisolo
‘DESiGNERS’, SUJEiToS PRoJETiVoS oU PRoGRAMADoS? 150Marco Antonio Esquef Maciel
SUMÁRio
5SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 2009
APRESENTAÇÃo
A revista Sinais Sociais tem como finalidade precípua tornar-se um es-pa-ço de debate sobre questões da contemporaneidade brasileira.
Pluralidade e liberdade de expressão são os pilares desta publicação. Plu-ralidade no sentido de que a revista Sinais Sociais é aberta para a publica-ção de todas as tendências marcantes do pensamento social no Brasil hoje. A diversidade dos campos do conhecimento tem, em suas páginas, um locus no qual aqueles que têm a reflexão como seu ofício poder-se-ão manifestar.
Como espaço de debate, a liberdade de expressão dos articulistas da Si-nais Sociais é garantida. O fundamento deste pressuposto está nas Diretri-zes Gerais de Ação do SESC, como princípio essencial da entidade: “Valores maiores que orientam sua ação, tais como o estímulo ao exercício da cida-dania, o amor à liberdade e à democracia como principais caminhos da bus-ca do bem-estar social e coletivo.”
Igualmente é respeitada a forma como os artigos são expostos – de acor-do com os cânones das academias ou seguindo expressão mais heterodoxa, sem ajustes aos padrões estabelecidos.
Importa para a revista Sinais Sociais artigos em que a fundamentação teórica, a consistência, a lógica da argumentação e a organização das idéias tragam contribuições além das formulações do senso comum. Análises que acrescentem, que forneçam elementos para fortalecer as convicções dos lei-tores ou lhes tragam um novo olhar sobre os objetos em estudo.
O que move o SESC é a consciência da raridade de revistas semelhantes, de amplo alcance, tanto para os que procuram contribuir com suas reflexões como para segmentos do grande público interessados em se informar e se qualificar para uma melhor compreensão do país.
Disseminar idéias que vicejam no Brasil, restritas normalmente ao mun-do acadêmico, e, com isso, ampliar as bases sociais deste debate, é a inten-ção do SESC com a revista Sinais Sociais.
Antonio Oliveira SantosPresidente do Conselho Nacional do SESC
7SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 2009
EDiToRiAlEste número abriga, em suas páginas, um conjunto de artigos que trazem à
reflexão de todos questões da contemporaneidade sobre as quais a academia tem se detido de forma intensa, na busca de sua compreensão.
Questões que dizem respeito a cada indivíduo e à sociedade como um todo. São emergências resultantes do acelerado processo de mudança e trans-formação das sociedades e, como decorrência, do estar-no-mundo dos indi-víduos.
Mudanças que exigem, dos que sobre elas se debruçam, uma nova com-preensão existencial, uma revisão conceitual e, fundamentalmente, discuti-las com a academia e a sociedade.
A ação reflexiva na modernidade se dá sobre um quadro de incertezas de-rivadas dos limites das teorias em captar situações que inexistiam quando das suas formulações.
Pensar e agir sobre a sociedade contemporânea é um exercício desafiador e necessário. Desafiador pelas dificuldades teóricas e conceituais que se apre-sentam; necessário porque entender o mundo é criar condições que possibi-litam ao homem fazer-se o agente da sua história.
Nesta perspectiva, a revista Sinais Sociais, no número 9, traz em suas pági-nas artigos que cobrem temas como: intelectuais e estruturas sociais; relações internacionais; a relação entre atividade física e saúde; os desafios para os de-signers na atualidade; e a contribuição das culturas urbanas à educação.
Temas que, em sua diversidade, procuram aproximar os leitores de ques-tões que lhe envolvem e dizem respeito, em que pese muitas vezes delas não se aperceberem.
Com a publicação deste número, a revista Sinais Sociais, mais uma vez, cumpre o papel de ser um espaço democrático de reflexão ao divulgar a pro-dução acadêmica de qualidade e aproximá-la daqueles que buscam uma me-lhor compreensão do mundo em que vivem e de si mesmos.
Maron Emile Abi-AbibDiretor-Geral do Departamento Nacional do SESC
SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 20098
SobRE oS AUToRESDaniel de Pinho Barreiros
Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, com tese inti-tulada “Estabilidade e crescimento: a elite intelectual moderno-burguesa no ocaso do desenvolvimentismo (1960-1969)”. Cumpriu estágio de pós-doutoramento em História na mesma instituição, com pesquisa intitulada “A intelectualidade como grupo funcional: um modelo para a análise do intelectual em sociedades ocidentais modernizadas”. É professor adjunto de História Econômica do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas/UFRJ. Publicou em 2008, pela EdUFF, o livro Debates sobre a transição: idéias e intelectuais na controvérsia sobre a origem do capitalismo. Seus artigos mais recentes são “Os intelectuais contra o Estado: a defesa da livre iniciativa no Jornal dos Economistas em fins do oitocentos” (Tempo: Revista do Depar-tamento de História da UFF, v. 13, 2008) e “Historiografia do pensamento econômico brasileiro: o Cebrap e seus limites” (Intellèctus – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, v. 8, 2008).
Ecio Salles
Escritor e pesquisador em cultura. Nasceu no bairro de Olaria, subúrbio cario-ca, na borda do Complexo do Alemão. Autor de Poesia revoltada, um estudo sobre a produção textual da cultura hip-hop no Brasil, e co-autor de História e memória de Vigário Geral. Fez mestrado em Literatura Brasileira pela Univer-sidade Federal Fluminense e cursa o Doutorado em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ. É Secretário Adjunto de Cultura em Nova Iguaçu, Consultor do Programa Onda Cidadã, do Itaú Cultural, e autor, em parceria com Marcus Vinícius Faustini, do blog Na Periferia, veiculado pelo Globo Online.
9SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 2009
Franklin Trein
Doutor em Filosofia Política pela Universidade Livre de Berlim (1977) e pós-doutorado nas Universidades de Estrasburgo/França (1983/84) e Livre de Ber-lim/Alemanha (1990). Atualmente professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde exerce as funções de professor/pesquisador do Pro-grama de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, de coordena-dor do Programa de Estudos Europeus da UFRJ e de coordenador do Centro de Informação Europeia da UFRJ.
Hugo Rodolfo Lovisolo
Formado em Sociologia, mestre e doutor em Antropologia Social e pós-doutor em Ciências dos Esportes. Professor da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cinetífico e Tecnológico (CNPq). Tem publica-do numerosos artigos e livros, com destaque na área da Educação Física para Educação Física: arte da mediação.
Marcos Antonio Esquef Maciel
Doutorando em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), qua-lificado para defesa de tese com a pesquisa “Desenho industrial e desenvolvi-mentismo no Brasil”. Mestre em Educação pela Universidade Federal Flumi-nense (2004), especialista em Tecnologia Educacional, bacharel em Desenho Industrial pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janei-ro, Licenciado em Desenho (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Professor de Ergonomia e Ilustração do curso de Design Gráfico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, e Gerente de Design Institucional deste. Publicou pela Editora Essentia o capítulo “Design: telos hu-manista ou para o mercado?” (2006), no livro Educação Profissional e Tecnoló-gica: memórias, contradições e desafios; na Revista Vértices, o ensaio “A ‘mão invisível’ tardia do Design” (2005); na Revista Trabalho necessário (Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação /UFF), “O feitiço do Design” (2008).
10 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
iNTElECTUAiS E ESTRUTURA SoCiAl: UMA PRoPoSTA TEóRiCA Daniel de Pinho Barreiros
11SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
O presente artigo tem por finalidade discutir, numa dimensão teórica, a re-lação entre os intelectuais e a estrutura social nas sociedades ocidentais do pós-1945, a partir da tradição sociológica. Neste trabalho, propomos que os intelectuais sejam entendidos como um grupo funcional multiclassista, multi-profissional e inerentemente desorganizado, dotado de estratificação interna cujo topo é ocupado pelas diversas elites intelectuais, cujas organização e pre-servação no tempo dependem da defesa de “princípios éticos fundamentais”. Assim, objetiva-se a proposição de um conceito de intelectual que incorpore não somente as contribuições clássicas da sociologia a respeito da estratificação social e das classes sociais, mas também a filosofia ética.
This article aims at discussing, in a theoretical dimension, the relationship be-tween intellectuals and the social structure in post-war western societies, from a point of view based on the sociological tradition. Intellectuals are understood as a functional group with a multiclassist, multiprofessional, inherently disor-ganized composition. Its internal stratification is topped by intellectual elites, whose organization and continuity depend on the defense of “fundamental ethical principles”. Thus, we suggest a concept of “intellectual” that encom-passes not only classical contribuitions in sociology concerning social stratifica-tion and social classes, but ethical philosophy as well.
12 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
Os intelectuais compõem um grupo funcional com forte presença nas sociedades humanas, especialmente nas sociedades industriais. Ao longo da História, o grupo dos intelectuais ganhou diversificados formatos, tendo os seus padrões de ação, os critérios de legitima-ção e o conteúdo de suas ideias variado fortemente. Não preten-demos estabelecer aqui princípios que sejam válidos para a análise teórica dos intelectuais com base em fatores a-históricos; antes, voltar-nos-emos para uma definição instrumental que estabeleça bases provisórias (portanto, um ponto de partida hipotético) para o entendimento da natureza deste grupo nas sociedades industriais ocidentais do pós-Segunda Guerra Mundial, abstendo-nos portan-to de defender a pertinência da aplicação destes mesmos pressu-postos em qualquer outro recorte espacial e cronológico além do demarcado.
1. oS iNTElECTUAiS CoMo UM GRUPo FUNCioNAl
O conceito de grupo funcional é derivado da teoria funcionalis-ta da estratificação social, especialmente sintetizada nos trabalhos de Kingsley Davis e Wilbert Moore1, cujo importante precursor fora o sociólogo francês Émile Durkheim2. Em linhas gerais, o funciona-lismo entende que as sociedades organizam-se, necessariamente, como um todo orgânico, em que cada uma das suas instituições atua de modo a conferir coesão ao conjunto. Em seus estágios iniciais, a teoria funcionalista buscava controversas analogias com fenôme-nos biológicos, e o relativo abandono deste enfoque “biologizante” não tornou o funcionalismo menos passível de críticas. Robert Mer-ton3 introduziu variações de análise que contribuíram para relativi-
1 DAVIS, Kingsley e MOORE, Wilbert E. “Alguns Princípios de Estratificação”. Trad. Luiz Antonio Machado da Silva. In: VELHO, Otávio Guilherme et alii (org). Estrutura de classes e estratificação social. 6ª ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1976.2 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico e outros textos. Trad. José Arthur Giannotti, Miguel Lemos, Margarida Garrido Esteves. São Paulo, Abril Cultural, 1973.3 MERTON, Robert. Sociologia: teoria e estrutura. Trad. Miguel Maillet. São Paulo, Mestre Jou, 1970, cap. 1.
13SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
zar a ideia de harmonia incondicional no conjunto das instituições, atribuindo a existência de fatores funcionais (portanto, tendentes a manter a coesão e o funcionamento do sistema) e de fatores disfun-cionais (que atuariam no sentido oposto). Ainda, criticando o pensa-mento durkheimiano, afirmara que uma mesma instituição poderia ser funcional ou disfuncional dependendo da sociedade em questão e dos condicionantes sociais presentes, como afirmava ser o caso da religião (que fortalecia a coesão social em alguns casos, como defendido por Durkheim, mas que em outros seria fonte de conflitos e instabilidade). Além disso, existiriam instituições afuncionais, ou seja, que não cumpririam qualquer função na coesão ou desagre-gação da sociedade, conceito este herdado da própria contribuição durkheimiana.
Os avanços de Merton, contudo, não tornaram o funcionalismo menos problemático na medida em que a unidade de análise per-manecia sendo a “sociedade” entendida de forma absolutamente abstrata, vista como um conjunto coeso. Se é fundamental a ideia de que instituições sociais cumprem determinadas funções na so-ciedade, e que esta se forma da interligação e das múltiplas influ-ências entre estas instituições, compreender o fim último de cada instituição como estabilizar ou corromper o conjunto impede a per-cepção indispensável de que o todo social não é um todo, e sim a coexistência de múltiplos, e que seu “estado natural” seria antes o conflito que a harmonia. Se as instituições cumprem funções – com o que concordamos –, é preciso definir que funções são estas, e logo após, indispensavelmente, para que partes do todo – ou seja, para que interesses sociais definidos – esta função é “agregadora” e para quais não o é. Nesta perspectiva basearemos nossa compreensão a respeito dos intelectuais.
Entendemos o grupo funcional dos intelectuais como uma categoria multiclassista, multiprofissional e inerentemente desorganizada. Entre seus membros perfilam indivíduos provenientes de todas as classes so-ciais, tornando o grupo funcional notadamente plural, o que faz com que a interseção entre a identidade de classe e as atribuições da con-dição de intelectual tenha resultados diversos. Considerando, como o fez Georges Gurvitch, que as classes sociais – definidas segundo seu lugar no processo produtivo – são grupos suprafuncionais, ou seja, são
14 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
capazes de desempenhar funções múltiplas, e penetram a maioria dos grupos funcionais integrando parcialmente seus quadros, entendemos que uma das tarefas das quais são capazes é a de integrar o grupo dos intelectuais4.
É claro também que nas sociedades industriais do pós-guerra as classes sociais mais privilegiadas na divisão do excedente econômico (as frações burguesas e as classes médias de alta extração) tendem a fornecer mais membros para o grupo dos intelectuais do que a classe trabalhadora, por uma razão específica que se encontra nos próprios critérios de acesso ao grupo funcional. Via de regra, a ati-vidade intelectual requer adequada formação acadêmica, sendo, portanto, o nível educacional um dos fatores que permite a inclusão de um indivíduo no grupo. Exceções à regra nas sociedades contem-porâneas existem, consistindo em pessoas que pela própria iniciativa conseguiram substituir funcionalmente a Universidade na tarefa de empreender sua formação intelectual. Contudo, na maior parte dos casos, a falta de recursos financeiros somada à possibilidade de se afastar satisfatoriamente de atividades laborais (ou seja, permitindo
4 Para Gurvitch, uma das principais características das classes sociais é a sua suprafuncionalidade, que advém do fato de ser o nível de estratificação mais amplo identificável. Uma classe é um grupamento de grupamentos unifun-cionais ou multifuncionais, englobando famílias, profissões, grupos de idade, produtores, consumidores, entre outros. Sendo, então, uma unidade coletiva suprafuncional, sua expressão seria somente perceptível pela multiplicidade de órgãos unifuncionais ou multifuncionais dos quais faz parte. Uma institui-ção, seja ela qual for, jamais teria o poder de exprimir a totalidade das fun-ções exercidas por uma classe social, o que resultaria assim na tensão entre estas instituições – partidos, sindicatos, associações diversas – em pugna pelo título de representantes legítimas da classe como um todo. As classes, con-tudo, só podem se identificar com as instituições uni ou multifuncionais de um modo parcial, e estas jamais teriam a capacidade de representar a classe completamente. Cada classe social seria “um mundo à parte”, representaria uma vertente totalizante, e por esta razão seria o único nível de extração social totalmente incompatível com outras classes (um membro pode fazer parte de vários grupos funcionais ou ocupacionais, mas nunca de duas classes ao mesmo tempo). GURVITCH, Georges. “Definição do Conceito de Classes Sociais”. Trad. Rosa Maria Ribeiro da Silva. In: VELHO, Otávio Guilherme et alii (org). Op. cit. pp. 94-101.
15SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
dedicação plena ou quase plena à preparação acadêmica) são óbices inegáveis à presença das classes trabalhadoras no grupo funcional dos intelectuais.
Entretanto, a expansão dos programas governamentais de fomen-to, da educação pública em geral, a melhoria histórica nos padrões de vida e de renda da classe trabalhadora no pós-guerra, mesmo em economias periféricas, e, mais recentemente, políticas compensatórias têm permitido a um contingente cada vez mais amplo de indivíduos da classe trabalhadora e das classes médias de extração baixa obter credenciais de acesso ao grupo dos intelectuais por meio dos diplomas universitários.
Segundo a análise funcionalista de Kingsley Davis e Wilbert Moo-re, as desigualdades de renda e de prestígio profissional são absolu-tamente funcionais: sendo os cargos que mais exigem competências específicas e raras aqueles mais bem remunerados, além de serem os que mais conferem prestígio ao indivíduo, isso seria um incentivo para atrair os mais qualificados – únicos, portanto, aptos a executar satisfatoriamente as tarefas esperadas – e excluir os menos capazes. A função de estratificação seria, assim, motivar e situar os indivíduos na estrutura social de uma forma ótima, na qual os cargos mais com-plexos seriam ocupados pelos membros mais capazes em função da recompensa material e imaterial5.
Decerto trata-se de uma visão simplista, idealista e excessivamente comprometida com a ideia de harmonia social. Ainda que a fami-liaridade com o pensamento social (entendido de forma ampla) seja um requisito para a atuação no grupo funcional dos intelectuais, é evidente que o acesso a ele e a seus mais altos níveis de estratifica-ção interna não se encontra condicionado a demonstrações de mé-rito excepcional, o que, se seguimos na linha argumentativa de Kin-gsley e Davis, nos levaria a pensar em uma pirâmide escalonada, na qual os mais altos graus seriam ocupados por indivíduos de incomum “capacidade intelectual”, seguidos abaixo por outros menos “capa-zes”. Veremos que os critérios de ascensão interna e expressão intra e extragrupo não passam pelo “excepcionalismo intelectual”, e sim pelo domínio de um conjunto de habilidades sociais determinadas.
5 DAVIS, Kingsley e MOORE, Wilbert. Op. cit., pp. 115-118.
16 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
Desta forma, nos resta por hora dizer que, na maior parte dos casos, o diploma acadêmico (ou seu substitutivo funcional) é condição para o exercício funcional do intelectual, mas não o “mérito” tal como entendido pelo funcionalismo.
Definimos intelectual como todo aquele que exerce integralmente a função de organizar a cultura, preservar a memória social, disse-minar valores, símbolos e representações coletivas, bem como siste-matizar compreensões acerca da realidade social e visões de mundo. Pelo manejo de instrumental teórico adequado, ou somente pelo domínio da escrita formal e do conhecimento geral, os intelectuais mais destacados exercem a função de elaborar explicações sobre os fenômenos sociais, de interpretar aspectos existenciais relativos à experiência humana, de preservar a memória, de propor soluções para problemas presentes e opinar sobre perspectivas futuras. Muitos outros – a maioria dos membros do grupo – exercem prioritariamen-te a função de disseminadores de visões, concepções e valores pre-viamente elaborados. O critério que define o grupo é justamente o exercício de sua função e a dedicação integral a ela (ou pelo menos uma dedicação preponderante no conjunto das atividades desempe-nhadas pelo indivíduo).
O produto da atividade criadora e/ou disseminadora dos inte-lectuais é lançado na sociedade através de instrumentos e institui-ções voltados para este fim (escolas, universidades, publicações, televisão, rádio, em tempos mais recentes a internet, seminários e outros eventos similares, etc.). Considerando a diversidade de opiniões, trajetórias, filiações paralelas a outros grupos (políticos, ocupacionais, religiosos, etc.) e origens de classe social dos inte-lectuais formadores do grupo funcional, este output é igualmente variado, expressando visões de mundo usualmente concorrentes. Uma vez disponível o produto intelectual na sociedade, os diversos grupos sociais irão selecionar e se apropriar destas ideias de acordo com seus interesses, com particular destaque para os interesses de classe. Os intelectuais não criam a estrutura social real, e ao mesmo tempo não são completamente condicionados por ela. Orientados em maior ou menor grau por desafios impostos pela realidade so-cial, os intelectuais oferecem respostas que serão mais ou menos “consumidas” pelos grupos sociais na medida em que mais efi-
17SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
cientes forem para satisfazer anseios e solucionar dilemas impostos àquele determinado grupo. A independência relativa do intelectual perante a realidade permite inclusive a formulação de ideias vol-tadas para um determinado momento histórico contemporâneo ao pensador, mas baseada em pressupostos datados, relativos a um contexto histórico-social superado. Ou ainda, podem ser geradas ideias totalmente inaplicáveis aos interesses de qualquer grupo so-cial, isto porque o exercício intelectual depende muito mais do que da realidade sócio-histórica concreta, da concepção subjetiva que tem o intelectual desta mesma realidade. Assim, o produto de in-telectuais determinados pode até mesmo ser afuncional, ainda que dificilmente o seja; mesmo as ideias mais deslocadas das condições concretas podem ter alguma serventia para algum grupo. Em ge-ral, a funcionalidade do grupo intelectual – considerando a função “positiva” que as variadas ideias exercem sobre os variados grupos sociais – está garantida.
O output do processo de elaboração intelectual tem impactos polí-ticos mais ou menos diretos de acordo com sua natureza, e segundo o modelo pelo qual os grupos “consumidores” de ideias irão absorvê-las. As concepções formuladas pelos intelectuais não se tornam práti-ca, entretanto, preservando sua “pureza” de origem. O impacto con-creto do produto intelectual não é controlável pelo grupo funcional, na medida em que as ideias são, via de regra, adaptadas e limitadas pelos próprios grupos consumidores, o que significa dizer que a trans-posição de uma ideia do campo intelectual para o campo político ou econômico resulta em intensa ressignificação, normalmente além do controle dos intelectuais. Quanto mais próximo da base de um deter-minado grupo social chegam as ideias formuladas pelos intelectuais, maior será a sua simplificação e maniqueização, com resultados, em casos extremos, que tornam o produto final diametralmente oposto à sua concepção inicial.
A legitimidade desfrutada pelos intelectuais provém do relativo “mo-nopólio” sobre o discurso de que desfruta o grupo, e tem sua base nas credenciais que justificam a inclusão do indivíduo no grupo funcional. Além disso, uma importante característica da prática do intelectual consiste em evidenciar sua identidade funcional (e ocupacional, em alguns casos), minimizando a exposição de sua filiação de classe so-
18 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
cial, partido6, ou outros grupos aos quais possa pertencer em paralelo, e que inegavelmente exercem influência sobre o output intelectual. Assim, sob o manto de uma relativa neutralidade, os intelectuais são tomados pelos grupos sociais em conflito como o “fiel da balança” na luta pelo poder ou pela divisão do excedente econômico, como aque-les que, baseados em critérios objetivos e desinteressados, e como portadores do legado intelectual de gerações passadas, oligopolizam os critérios de construção da Verdade.
A obtenção de credenciais não garante o ingresso de um indivíduo no grupo funcional dos intelectuais. É preciso que exerça, em tempo integral, as funções que conferem identidade ao grupo, quais sejam, a formulação de visões de mundo, a avaliação de perspectivas e dilemas sociais futuros, a disseminação da cultura (hegemônica ou não) e a manutenção da memória social. Indivíduos “credenciados” (portado-res de formação superior ou de notório saber) e que se dediquem a atividades outras mas também ligadas ao campo das ideias (técnicas, científicas, tecnológicas, por exemplo) podem fazer parte de outros grupos funcionais (dos tecnólogos, dos cientistas naturais), mas não do grupo dos intelectuais. Eventualmente um indivíduo “credenciado” que atue em outros grupos funcionais pode migrar para o grupo dos intelectuais se passar a cumprir as funções próprias deste último, aban-donando ou reduzindo sua inserção nas funções do grupo de origem.
Existem determinados campos do conhecimento humano mais liga-dos à formação dos intelectuais que outros, e existem dados grupos ocupacionais que fornecem mais membros para o grupo dos intelectu-
6 Entendemos partido na acepção de Max Weber, que os define como grupa-mentos organizados, provenientes de uma ordem racional e de comunidades socializadas, que visam ao “poder social”, que em suma é a capacidade de influência sobre a ação comunitária. Partidos podem ser classistas, estamen-tais, expressar o predomínio de qualquer outro grupo, ou mesmo não ser objeto da hegemonia de grupo algum. O conteúdo de sua luta pelo poder pode variar de “causas” ideais a “metas” pessoais. De qualquer forma, um partido para Weber não se confunde necessariamente com partidos políticos convencionais, constituindo-se portanto em qualquer grupamento humano com as características citadas. GERTH, Hans e MILLS, C. Wright (org). Max Weber: Ensaios de Sociologia. Trad. Waltensir Dutra. 2ª ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1971, p. 227.
19SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
ais do que os demais. Geralmente os intelectuais são especialistas em áreas vinculadas às ciências humanas e ciências sociais aplicadas, ou, se são diletantes, dominam satisfatoriamente as categorias e o léxico comum a especialidades dentro destas ciências. Dentre os grupos ocu-pacionais com maiores interseções com o grupo dos intelectuais estão aqueles ligados às atividades de ensino (com destaque especial para o ensino superior), de pesquisa acadêmica (geralmente associado ao ensino de mesmo nível), e de formação de opinião pública (profissio-nais da mídia, principalmente). Ocorre que a formação em uma destas áreas ou o exercício profissional em um dos grupos privilegiados não garante, a rigor, a condição de intelectual para um determinado in-divíduo. É preciso que a formação, somada ao exercício profissional, resulte no cumprimento da função que define o grupo funcional dos intelectuais. A falta de formação ou mesmo o não exercício profissio-nal nos campos citados não impede o surgimento de um intelectual, como já indicamos no que diz respeito àqueles que lograram acessar substitutivos funcionais ao ensino universitário e aos “cargos preferen-ciais” para exercerem a função-chave. Entretanto, o mais observado é a confluência entre formação e ocupação privilegiadas na composição do grupo dos intelectuais.
Por fim, o grupo funcional dos intelectuais não se constitui em uma comunidade. A sua existência não compõe um grupamento conscien-te de sua unidade, e não gera automaticamente qualquer princípio de solidariedade entre seus membros. Entendemos que os grupos funcio-nais compartilham com as classes sociais, tal como teorizadas por Max Weber, a característica de não se constituírem comunitariamente, sen-do apenas uma base possível para uma ação comunal7. O grupo tende a não ter interesses específicos voltados para a dominação política, o que não significa dizer que seus membros, de forma individual, não tenham aspiração ao poder e que efetivamente não escalem degraus na hierarquia política de uma sociedade ao atuarem em partidos ou na burocracia estatal.
O espírito de grupo aparece em situações nas quais a legitimidade de seu exercício de produção de verdades e o “monopólio” do dis-curso são ameaçados ou questionados por outros grupos (o que não
7 GERTH, Hans e MILLS, C. Wright. Id. ibid, p. 212.
20 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
é a mesma coisa que determinadas frações do grupo funcional se-jam desafiadas ou desautorizadas). Ainda, uma mentalidade de grupo tende a emergir quando as condições sociais necessárias para o livre exercício funcional são limitadas pela interferência política ou de ou-tra natureza. De qualquer forma, a mera existência de um grupo não garante o surgimento de uma comunidade. A existência de instituições voltadas para a facilitação do exercício funcional (grupos de pesquisa, centros culturais, universidades, institutos de pesquisa) auxilia na co-munitarização de membros do grupo8, mas não garante unidade na defesa dele como um todo.
2. FRAGiliDADE Do CoNCEiTo DE ‘iNTElECTUAl oRGâNiCo’
Apesar das múltiplas identidades sociais paralelas de que um inte-lectual dispõe, com destaque para sua inserção de classe, discorda-mos da existência de algo como “intelectuais orgânicos”, tal como estabelecido na famosa análise de Antonio Gramsci, retomada por um sem-número de acadêmicos ao longo das últimas décadas, com diferenciados graus de coerência e fidelidade à concepção original. A visão do intelectual defendida por Gramsci foi fortemente marcada pela sua militância de esquerda num contexto de expansão do fas-cismo, bem como pela incômoda expansão, para os defensores do marxismo, da teoria das elites de Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto. Tais condicionantes permitiram a origem de uma das mais originais e frutíferas concepções sobre os intelectuais como grupo social já elaboradas, que pela sua importância deve ser levada em conta sem-pre que se trate deste mesmo objeto. No entanto, se deslocarmos as ideias de Gramsci dos condicionantes políticos de seu tempo e espaço, e se resolvemos tomá-las como ferramenta de estudo das sociedades humanas, vemos que o conjunto funciona melhor como bandeira de luta e mobilização política que como base hipotética para a análise social.
8 Weber afirma que a ação comunal por parte das classes sociais manifesta-se por uma parcela desta mesma classe que, afetada pela “situação de classe” na mesma medida em que seus pares não organizados, decide congregar-se em uma associação para defender seus interesses e condições de sobrevivência. GERTH, Hans e MILLS, C. Wright. Id. ibid, pp. 214-216.
21SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
O desafio teórico representado pela teoria das elites, e mais ainda, as supostas implicações políticas autoritárias a ela atribuída, condu-ziram Gramsci a uma visão dos intelectuais que não é bem-sucedida em diversos aspectos, em especial por descuidar de sua peculia-ridade como grupo autêntico e de suas características intrínsecas, bem como por confundi-los com outros grupos sociais a tal ponto de tornar sua caracterização fluida demais para ser tomada precisa-mente como instrumento de análise. Fiel ao conceito de classes so-ciais herdado de Marx – categoria totalizante, senão única, na teoria da estratificação social marxista –, Gramsci tentava entender quem eram aqueles que se situavam nos postos-chave da “superestrutura” da sociedade burguesa, desligados, portanto, do processo produtivo em si. Deveriam, respeitando a visão de mundo marxista, pertencer a alguma classe, já que nenhum indivíduo estava livre delas, e sendo esta – a identidade de classe – o critério fundamental na estratifica-ção social, restava saber a que classes pertenciam os diversos opera-dores da superestrutura, e que relações estes operadores guardavam com a classe em si. É aí que surge a ideia do “intelectual orgânico”, sendo aquele indivíduo que emerge das classes sociais e é comissio-nado por elas para empreender a coordenação, a organização e o gerenciamento das tarefas necessárias para a dominação de classe – estabelecer a “hegemonia”, portanto.
No caso da burguesia, estas tarefas podem ser a organização inte-lectual da própria produção – através da técnica fordista, da admi-nistração de empresas ou da ciência econômica “burguesa” – ou da dominação política – por intermédio dos partidos e do próprio Estado. Os intelectuais seriam os comissários da classe dominante para o exer-cício de sua hegemonia através da a) formação do consenso “espon-tâneo” das massas em favor da dominação; b) utilização do aparato de coerção estatal para disciplinar e punir grupos dissidentes. Assim, o intelectual orgânico é o agente da classe social fora das relações de produção, mas que age indiretamente – e de modo indispensável – para o estabelecimento da hegemonia de classe e do funcionamento das próprias relações de produção em si9.
9 GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 8ª ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1991, pp. 4; 10-11.
22 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
Gramsci pretendia oferecer resistência ao conceito de “elite” e de “classe política” esposado por seus compatriotas Mosca e Pareto. Isso levou o marxista italiano a confundir seus “intelectuais” com variadas formas de estratificação social empiricamente observáveis e que não eram manifestações, evidentes à primeira vista, das classes sociais. Por exemplo, são intelectuais orgânicos os políticos profissionais, os pro-fessores, os técnicos de fábrica, os engenheiros, os lentes em econo-mia política, os membros da burocracia, as lideranças sindicais, em suma, todo aquele que, pertencendo necessariamente a uma classe social e completamente atrelado aos seus interesses, esteja ligado a atividades outras que não a produção em si, mas que deveriam, por definição, estar atuando em prol da hegemonia de sua classe de algu-ma maneira.
Gramsci preocupa-se em refutar a ideia de Mosca sobre uma “clas-se política” controladora de todos os assuntos públicos, uma minoria no poder que decide sobre os destinos de uma maioria, superior em termos de organização e capacidades intelectuais, e aberta o suficiente para se renovar incorporando indivíduos de todas as clas-ses sociais, que uma vez na classe política, adquirem seu ethos10. Pretende também deslegitimar as ideias de Pareto sobre a “elite”, sendo um grupo de homens que possuem os mais altos índices nas atividades às quais se dedicam, e que pelo mérito e capacidades pes-soais ingressam em uma minoria hermética, que exerce poder sobre todo o restante da sociedade, igualmente passível de ser formada por indivíduos de qualquer classe que disponham de capacidades superiores semelhantes11. Para tal, afirma que tanto a classe política de Mosca quanto a elite de Pareto representariam nada mais que os intelectuais orgânicos da burguesia, que, muito longe de serem compostos por todas as classes, seriam expressão tão somente de egressos da classe dominante, e ainda, não desfrutariam da indepen-dência a eles atribuída, e sim de uma rígida disciplina quanto aos interesses emanados de sua classe12.
10 MOSCA, Gaetano. “A classe dirigente”. Trad. Alice Rangel. In: SOUZA, Amaury de (org). Sociologia política. Rio de Janeiro, Zahar, 1966, pp. 51-70.11 PARETO, Vilfredo. “As Elites e o uso da força na Sociedade”. Trad. Alice Rangel. In: SOUZA, Amaury de. Id. ibid, pp. 70-89.12 GRAMSCI, Antonio. Op. cit., p. 7.
23SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
Buscando contrariar a ênfase dada por Mosca e Pareto à capacidade intelectual superior como fator que permite o ingresso dos indivíduos nas posições de comando da superestrutura, Gramsci afirma que to-dos os homens são intelectuais, ou pelo menos intelectuais orgânicos em potencial, visto que não existiria qualquer atividade humana na qual a intervenção intelectual estivesse completamente excluída, e, mesmo fora das relações de produção, todo homem desenvolveria atividades ligadas ao pensamento. Desta forma, um intelectual orgâni-co seria aquele que cumpre a função de intelectual (organiza a domi-nação de classe), e não o chamado “tipo tradicional vulgarizado”, ou seja, aquele que exerce atividades intelectuais propriamente ditas (o literato, o artista, o filósofo)13.
Gramsci parece correto ao ressaltar a convergência entre os interesses de classe social e a ação dos intelectuais, mas falha ao exagerar os víncu-los existentes entre ambos (o que torna o intelectual mero instrumento das classes sociais em busca do poder), além de confundir grupos fun-cionais diversos. A burocracia, a classe política, os técnicos e intelectuais propriamente ditos têm perfis, características e funções altamente diver-sos, e não é razoável admitir que todos se resumam, prioritariamente, a exercer a hegemonia das classes a que pertencem. Além do mais, ao definir como intelectuais uma tão ampla gama de atores, a função do intelectual propriamente dito – que é observável e evidente nas socieda-des contemporâneas – torna-se nebulosa, e as funções de outros grupos tachados de “intelectuais” também fica inidentificável. Gramsci não ofe-rece ferramentas para interpretar a presença de membros provenientes do “proletariado” em níveis médios da burocracia – ou mesmo em altos postos, em casos específicos –, e nos quadros de um Estado burguês, não nos permite explicar por que estes burocratas da “classe proletária” tomam decisões que contrariariam seus próprios interesses (de classe). Assumir a existência de um “espírito de corpo” nas instituições, que ma-tizaria a ideologia de classe, viria a eliminar a ideia do intelectual como agente pela hegemonia. Além disso, também não explica por que mem-bros da classe política provenientes do operariado participam de partidos nitidamente conservadores, e membros provenientes de extrações bur-guesas vêm a ingressar em partidos de esquerda.
13 GRAMSCI, Antonio. Id. ibid, pp. 7-8.
24 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
De fato, como afirmamos, o grupo dos intelectuais é composto pela interseção de vários outros níveis, horizontais e verticais, de estratifi-cação social (classes, grupos ocupacionais, mesmo grupos de status, partidos, etc.) e que cada uma das identidades “paralelas” influencia o produto do trabalho dos intelectuais. Mas esta influência não pode ser compreendida como uma completa dominação da identidade de classe; Gramsci nega, inclusive, a existência de alguma forma de iden-tificação que não seja o critério de classe, privando os intelectuais de um estatuto de relativa independência, ou de serem passíveis de ou-tras influências que não a de sua origem socioeconômica. A ideia de que “todo homem é um intelectual” nos parece segura, haja vista que converge para nossa perspectiva de que os intelectuais são compostos por todas as classes sociais, e que, apesar das limitações econômicas que já citamos, a origem de classe não priva um indivíduo do exercí-cio da função. Além disso, o pensamento gramsciano também afirma, indiretamente, que um dos fatores que une os intelectuais é o exercí-cio de uma função14, que se para Gramsci é garantir a hegemonia da classe a que pertence, para nós está em sistematizar o conhecimen-to social em formatos particulares, que será ou não apropriado pelas classes de acordo com seus interesses. De qualquer forma, a ideia de “intelectuais orgânicos” nos parece apressada e insuficiente para con-templar teoricamente objeto desta envergadura.
3. o GRUPo FUNCioNAl DoS iNTElECTUAiS E SUA ESTRATiFiCAÇÃo iNTERNA
O grupo funcional dos intelectuais é dividido em vários estratos, distribuídos em uma estrutura piramidal de subfunções, cada qual re-lacionada a um nível de prestígio diferenciado, que se confunde não raramente com a escala de distinção social e recompensa econômica ligada ao campo profissional. Em outras palavras, ainda que o grupo como um todo atue no sentido de executar as funções já explicita-das, funções estas que lhe conferem identidade e unidade, o exercício da função geral se dá por meio da execução adequada de algumas
14 Ainda que Gramsci não utilize outros critérios de estratificação senão a classe social.
25SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
subfunções básicas, que na mesma medida que a função geral, confe-rem coesão e identificam socialmente os integrantes de cada um dos diferentes estratos.
Compondo o estrato mais geral do grupo funcional, os intelectuais de base são membros responsáveis por disseminar, de forma muitas vezes simplificada e direta, conhecimentos e informações organizados nos estratos superiores. É rara a elaboração de conhecimento novo, bem como rupturas conceituais, provenientes dos membros do sub-grupo básico, ainda que não seja totalmente incomum por parte de seus integrantes a elaboração de procedimentos inovadores de cunho didático, pedagógico ou informativo, numa dimensão exclusivamente prática. Ainda que voltados para a função de divulgar em nível geral o output elaborado nos estratos superiores, isto não significa dizer que os intelectuais de base estejam totalmente privados do trabalho criativo. Na verdade, os integrantes do subgrupo são, via de regra, responsáveis por viabilizar o sucesso da transmissão de conceitos e valores para um público amplo, o que requer processos adequados às especificidades deste público e às condições nas quais a transmissão irá ocorrer. Um novo material pedagógico, o uso de ferramentas e técnicas informati-vas, bem como referências gerais apropriadas para uma determinada plateia, o emprego de linguagem jornalística adequada, bem como o uso de imagens, conceitos e metáforas que remetam ao universo mental e à vivência do público-alvo, são instrumentos desenvolvidos em nível local – e de forma pulverizada – pelos intelectuais de base. O traço que o identifica, portanto, é a difusão de ideias e valores para um público não especializado, ou seja, a formação de opinião em seus níveis mais básicos.
No nível intermediário estão aqueles intelectuais que atuam direta-mente na produção de conhecimento novo, em sua maior parte de cunho empírico ou aplicado. Em linhas gerais, pertencem ao subgrupo os intelectuais que, se ocupando sistematicamente da pesquisa aca-dêmica ou da elaboração de comentários e análises pessoais sobre assuntos variados, contribuam para a expansão do estoque de infor-mações e conhecimento, sem entretanto ter implicações de cunho paradigmático ou teórico de grandes proporções. Os intelectuais do subgrupo intermediário, via de regra, desenvolvem, certificam, legiti-mam ou comprovam formulações teórico-metodológicas elaboradas
26 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
pelo subgrupo superior – a elite. Ocasionalmente avanços teóricos e metodológicos de grande monta podem surgir do grupo intermediário, fator este que eventualmente habilita um de seus membros a ocupar uma posição na elite. Inovações e críticas pontuais a determinadas di-retrizes teóricas vindas “do alto” podem surgir no interior do subgrupo intermediário, mas é raro que elas sejam suficientes para deslegitimar uma opinião ou programa de pesquisa formulado pela elite. Em suma, a subfunção é a de, baseados em princípios e opiniões geralmente de caráter abstrato formulados pela elite, aplicá-las no estudo de si-tuações concretas, na elaboração de pareceres e observações mais focadas em situações conjunturais, mas que não superam as diretrizes gerais emanadas da elite.
É comum que intelectuais do subgrupo intermediário tenham ini-ciado sua inserção no grupo funcional como membros do estrato básico, ainda que um número variado de exceções possa existir. De qualquer forma, o intelectual intermediário, para exercer esta função, deve dispor de reconhecimento suficiente entre seus pares e entre os intelectuais do subgrupo de base, o que geralmente é obtido por meio da divulgação do seu output intelectual (pelos canais já citados) e pela regularidade com que intervém em assuntos e temas que lhe identificam. Além disto, quanto mais sua atuação for relacionada pelos demais intelectuais a um determinado assunto ou campo de estudo, maiores as chances de um indivíduo consolidar sua posição no subgru-po intermediário. Um comentarista político que garante sua presença em jornais e programas televisivos sempre que um determinado tema necessita ser comentado (política externa, questões eleitorais, com-portamento político) ou um especialista que se torna referência em dado campo pela sua produção regular e pela exposição diante de seu subgrupo e demais grupos sociais seriam exemplos pertinentes de intelectuais intermediários.
O produto da atividade intelectual intermediária não tem como alvo específico a opinião pública em geral. A subfunção do grupo con-siste basicamente em informar opinião especializada, seja de outros intelectuais intermediários, seja de intelectuais de base, ou mesmo lideranças e indivíduos influentes dentro de outros grupos funcionais e ocupacionais. Além disso, um intelectual intermediário dispõe de con-dições para formar outros intelectuais de mesmo nível bem como um
27SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
número maior de postulantes ao subgrupo básico, o que se expressa, via de regra, pela atividade de ensino de pós-graduação, ou por ou-tros expedientes extra-acadêmicos que substituam funcionalmente a Universidade.
O exercício da subfunção intermediária requer também credenciais específicas, que estão na base do reconhecimento de sua condição perante o grupo como um todo. No caso dos pesquisadores acadê-micos, ela implica a vinculação institucional a centros com excelência mínima, bem como diplomas em nível doutoral, e produção perti-nente. Há outros casos nos quais a vinculação institucional também aparece como central – a presença em uma empresa jornalística de destaque, um contrato com editora de grande expressão, etc., o que nos leva a crer ser este o “critério credencial” mais importante para o acesso ao subgrupo (a permanência do indivíduo depende, como vimos, de outros fatores já citados). Em síntese, uma das principais funções exercidas pelos intelectuais intermediários é a de perpetuar o grupo funcional como um todo, na medida em que têm fundamental participação na formação de novos membros capazes de substituir os antigos nos dois subgrupos citados, além de abrigar intelectuais que disputarão o acesso à elite.
Os subgrupos funcionais não são excludentes na mesma medida em que o são os grupos funcionais, e menos ainda do que são as classes sociais. É possível que um indivíduo integre dois subgrupos diferentes, exercendo, em proporções diferenciadas, as subfunções a eles vin-culadas. Contudo, esta dupla inserção tende a ocorrer entre estratos limítrofes, e em maior grau entre o subgrupo básico e o intermediá-rio. Exercendo as subfunções básica e intermediária, um intelectual é capaz de replicar suas próprias ideias para um público não especiali-zado, ainda que em níveis mais elementares de formação de opinião busque-se a transmissão de conceitos e valores já consolidados, não sendo este o campo mais pertinente para a experimentação e intro-dução de conteúdos inovadores. É incomum, contudo, uma dupla subfuncionalidade entre estratos não limítrofes (no caso, entre o nível de base e a elite).
E é justamente este último o subgrupo que ocupa o topo da escala de estratificação no grupo funcional dos intelectuais. Trata-se de sua elite, e, em linhas gerais, ela compartilha de muitas semelhanças com
28 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
elites de outros tipos, em especial com a “classe política” de Gaetano Mosca e a “elite dominante” de Vilfredo Pareto, ainda que algumas especificidades próprias do grupo funcional dos intelectuais tornem sua elite particular diante destes exemplos.
A elite intelectual exerce poder sobre todo o grupo funcional, res-peitando a concepção de Weber, que o afirma como a capacidade desfrutada por um homem ou por um grupo de homens, de realizar a sua vontade na forma de uma ação comunal, a despeito da re-sistência de outros homens que tomem parte nesta mesma ação15. Aplicado o princípio aos intelectuais, o poder exercido pela elite consiste em definir as fronteiras nas quais o exercício funcional do grupo acontecerá, o que se expressa basicamente pelo oligopólio que exerce sobre a elaboração teórica e conceitual. Ainda que não seja a elite capaz de controlar o emprego empírico de suas formula-ções mais abstratas, o poder se exerce pela determinação da agen-da de discussões e pela demarcação dos limites nos quais a mesma acontecerá, o que é majoritariamente seguido pelos intelectuais do subgrupo intermediário. Aplicando os princípios de Mosca à elite intelectual, trata-se ela do “polo dirigente” no interior do grupo, com quem a maioria desorganizada (e justamente por este fato) estabe-lece laços mais ou menos intensos de subordinação. Se no campo das relações políticas e da “classe dirigente” esta subordinação se revela por meio da submissão à autoridade emanada e às decisões tomadas pela minoria no poder, no caso dos intelectuais se expressa pela aceitação, por parte dos escalões inferiores, dos marcos teóricos e da agenda apresentada pela elite16. “Insubordinações” aos marcos aceitos como verdade eventualmente ocorrem, e tendem a se tornar iniciativas isoladas que podem levar o intelectual intermediário ao ostracismo, comprometendo sua capacidade de exposição, divulga-ção e formação de novos intelectuais, o que enfraquece seu próprio exercício funcional (não representando, necessariamente, a perda de acesso ao grupo ocupacional). Em alguns casos, uma “heresia” vinda de escalões inferiores – ou seja, uma ruptura conceitual com padrões estabelecidos via elites – pode, se associada a uma difusão
15 GERTH, Hans e MILLS, C. Wright. Op. cit., p. 211.16 MOSCA, Gaetano. Op. cit., p. 51.
29SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
e aceitação de seus princípios por outros intelectuais de nível inter-mediário, e o reconhecimento por parte de intelectuais de elite (a despeito da rejeição por outros), elevar o indivíduo ou grupo “heré-tico” ao subgrupo da elite.
Líderes de elite não exercem seu poder sozinhos, mas necessitam contar com numerosa classe sem a qual não podem ter sucesso no cumprimento de sua subfunção, ou seja, de fazer com que os marcos intelectuais nos quais o grupo irá funcionar sejam respeitados. No caso das elites políticas, Mosca entende ser esta a função de outros membros da classe dirigente, situados em um ranking inferior ao do líder (ou líderes)17, mas no caso dos intelectuais, a função de zelar pela aceitação e uso das categorias formuladas do alto é empreendi-da de modo coletivo e desorganizado pelos intelectuais intermedi-ários. Na sua tarefa de formar novos intelectuais, de elaborar novos conhecimentos (com as características já citadas) e de gerenciar os instrumentos de difusão do output do subgrupo (revistas científicas, jornais, encontros acadêmicos), concepções não aceitas normalmen-te como próprias do “universo intelectual” em questão – ou seja, não esposadas por qualquer intelectual que ocupe uma posição de elite em um determinado tempo – são descartadas, e os canais para sua difusão são limitados, exceto em casos particulares que possam fugir ao habitual.
O trabalho de crítica e deslegitimação das ideias “desviantes” é nor-malmente empreendido por intelectuais intermediários, em nome da defesa dos valores e concepções de um ou mais intelectuais da elite. Isto porque, na medida em que a elite ou alguns de seus membros concorda em debater ou comentar uma “heresia”, mesmo que com o intuito de deslegitimá-la, reconhece o “desviante” como interlocutor apto, conferindo-lhe prestígio e destaque; e ter a condição de interlo-cutor reconhecida pela elite é, como veremos, um dos requisitos para o acesso a ela.
Não se pode confundir a deslegitimação de ideias “desviantes” com o debate entre intelectuais intermediários tendo como base dois marcos teóricos ou visões de mundo concorrentes, mas aceitas como “normais” no universo das opções intelectuais, e que estejam ambos
17 MOSCA, Gaetano. Op. cit., p. 54.
30 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
representados pela produção de membros da elite. Tampouco o fenô-meno se confunde com uma disputa entre dois ou mais membros de elites intelectuais distintas. Uma ideia “herética” deve necessariamen-te provir dos estratos inferiores (em geral, do subgrupo intermediário), não encontrar defensores na elite, e desafiar um ou mais pressupostos estabelecidos pelo alto escalão.
A elite não restringe o seu exercício à elaboração teórica e concei-tual. Esta certamente é, em termos quantitativos, uma fração pequena do seu output geral, ainda que sua importância funcional seja enorme. Ocorre que mesmo as análises empíricas desenvolvidas por membros da elite, incluindo aquelas formuladas tendo como objeto questões conjunturais, acabam funcionando como elemento norteador das re-flexões de intelectuais intermediários, o que significa dizer que exer-cem um forte peso “teorizante” sobre o grupo como um todo. Em outras palavras, as conclusões tiradas pela elite, sejam teóricas ou apli-cadas, funcionam como guia e demarcador de limites, sendo tomadas pelos estratos inferiores como verdade ou ponto de partida para novas elaborações. Outro aspecto que demonstra a amplitude e o impacto do output intelectual da elite provém da tendência a se concentrarem em temas de alcance nacional ou internacional, escopo de atuação que foi identificado por Mills como sendo próprio da natureza das eli-tes18. As relações que a elite intelectual reserva com as elites políticas, bem como seu papel de “conselheiros” de grupos influentes contribui para este direcionamento.
Já expusemos algumas funções exercidas pela elite intelectual, mas não todas. Além de ser responsável – desfrutando de legitimidade jun-to ao grupo para tal – pela demarcação do terreno teórico possível em que ocorrerão os debates e a construção de visões de mundo e de sociedade, a elite atua na formação de novos intelectuais de nível intermediário (mas raramente de nível básico), alguns dos quais serão preparados para ocuparem posições na elite, garantindo assim a sua renovação e continuidade.
O output intelectual da elite raramente tem como público-alvo os intelectuais de nível básico, formuladores de opinião não especia-lizada, ainda que estes possam – e usualmente o façam – recorrer
18 MILLS, C. Wright. Op. cit., p. 28.
31SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
ao produto do trabalho da elite. Geralmente ocorre uma mediação por parte dos intelectuais intermediários, que através da produção de obras de divulgação e outros expedientes, estabelecem o vínculo entre o topo e a base (ou mesmo entre o estrato intermediário e a base, já que a divulgação científica também difunde o produto do primeiro). No campo da formação acadêmica, é raro que membros da elite atuem no treinamento de intelectuais básicos. A elite in-telectual também se dedica à formação de opinião dos mais altos escalões da sociedade, atuando junto à elite política, às elites em-presariais e outras minorias que exerçam influência vertical sobre determinado grupo. Assim sendo, as relações entre a elite intelectual e outras elites tende a ser intensa; não raras vezes intelectuais de destaque abandonam temporariamente (ou em caráter definitivo) o exercício funcional do subgrupo de origem e ingressam na elite po-lítica, retornando ou não posteriormente para o grupo dos intelec-tuais. Este fenômeno também foi identificado por Wright Mills entre as elites do poder americanas, envolvendo no caso a elite política, econômica e militar19.
A elite cumpre sua função e seus membros se preservam no subgru-po através de expediente semelhante ao empregado pelo subgrupo in-termediário. Utilizam-se amplamente dos canais regulares de difusão do output intelectual e buscam a regularidade em suas intervenções públicas, fator este mais importante para o sucesso funcional do que contribuições apoteóticas, mas efêmeras. Tendem a se utilizar do tra-balho de intelectuais intermediários, do próprio trabalho ou mesmo do esforço de outros membros da elite para organizar a memória de sua atuação, destacando o processo de “evolução pessoal” perpas-sando subgrupos inferiores até o acesso à elite, bem como suas prin-cipais contribuições intelectuais, de modo a constituírem um legado identificável para os intelectuais futuros; é próprio de um membro da elite pretender manter seu “poder” através desta memória, e da ma-nutenção de suas principais ideias em circulação. Por esta e por outras razões a elite é, em comparação com os demais subgrupos, uma mi-noria consciente de sua identidade funcional e fortemente organiza-da. Utiliza-se das instituições às quais se vincula bem como de outras
19 MILLS, C. Wright. Id. ibid, p. 340.
32 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
instituições que venham a constituir para manter em pleno funciona-mento o exercício de seu poder. Institutos de altos estudos, grupos de pesquisa selecionados, organizações e fundações, bem como o apara-to institucional em torno de publicações periódicas especializadas são nichos utilizados pela elite para sua organização. Na medida em que, comparativamente, a elite intelectual revela uma coesão superior à evidenciada pelos estratos inferiores (o que é absolutamente evidente em relação ao subgrupo básico), ela se torna uma “minoria organi-zada” tal como concebido por Mosca; o poder da minoria, exercido diretamente sobre os demais intelectuais individualmente, torna-se de difícil resistência20. E quanto maior se torna a “comunidade” de intelectuais, menor é sua coesão interna, mais pulverizados são seus membros e menor se torna a elite em proporção ao todo, ampliando portanto sua capacidade de interferência sem ser contestada.
4. iDEoloGiA, ESColHAS TEóRiCAS E A FoRMAÇÃo DAS ‘EliTES’ iNTElECTUAiS
Dentro de cada subgrupo funcional são identificáveis várias outras subdivisões horizontais (que não estabelecem uma escala de hie-rarquia, portanto), baseadas em posturas ideológicas e teóricas as-sumidas pelos intelectuais. Nos níveis básico e intermediário, estas divisões não cumprem papel fundamental no estabelecimento da coesão e identidade dos subgrupos, que são normalmente manti-das tanto pela identidade ocupacional quanto pela consciência da própria função exercida. No nível intermediário são identificáveis formas de associação baseadas em critérios ideológicos ou teóricos (grupos e associações de estudos, entre outros), mas que, se auxiliam no cumprimento da subfunção, não são cruciais para a preservação do indivíduo no respectivo subgrupo. No que diz respeito à elite, contudo, tratando-se de um estrato muito mais organizado que os demais, os recortes horizontais de cunho ideológico ou teórico dão origem a grupos com forte identidade e unidade, que por mais que não estabeleçam relações de dominação entre si, estão em constan-te confronto pela expansão de sua influência no interior do grupo
20 MOSCA, Gaetano. Op. cit., p. 54.
33SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
funcional (especialmente pela atração de mais intelectuais interme-diários para a sua “causa”), e no conjunto da sociedade como um todo. É desta forma que podemos falar não de uma elite, mas de “elites” intelectuais, cuja identidade e unidade de seus membros está intimamente ligada a um conjunto de “princípios intelectuais fundamentais”. A legitimidade desfrutada por estes princípios na so-ciedade garante a permanência de uma elite intelectual determinada e assegura-lhe um séquito de intelectuais intermediários dispostos a levar a “causa” adiante, sem os quais o exercício funcional da elite torna-se impossível. A legitimidade pode ser reconhecida por dados grupos sociais não intelectuais e não por outros, mas é indispensável que seja aceita por algum grupo minimamente influente. Transfor-mações históricas que tornem determinados “princípios fundamen-tais” indesejáveis ou simplesmente rejeitados por todos os grupos minimamente influentes são a causa direta do declínio e dissolução de uma determinada elite.
A existência, portanto, de “elites” intelectuais concorrentes não permite, todavia, que um de seus membros ignore os “princípios fundadores” das elites adversárias. Uma das características de inte-lectuais neste subgrupo está na familiaridade com a produção do grupo funcional como um todo, o que inclui o output de outras eli-tes, sem rejeições de caráter ideológico ou fundadas em preferências teóricas. Pertencer à elite significa também funcionar como “guar-dião” do depositório intelectual de uma dada sociedade. O domínio de conceitos e conhecimentos alheios aos “princípios fundamentais” que definem a sua elite conduz muitos destes intelectuais ao ecletis-mo, o que, dependendo de seu grau de complexidade, pode levar ou não à criação de uma nova elite, fundada em princípios renova-dos (e inovadores, na maior parte dos casos). Uma importante es-tratégia de retórica adotada pelos intelectuais de elite no confronto com representantes de elites adversárias consiste na utilização de categorias do discurso do oponente contra ele próprio, o que requer conhecimento amplo e suficientemente sólido para garantir o suces-so da investida.
34 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
4.1 CoNDiÇõES DE ACESSo à EliTE iNTElECTUAl
Quanto às formas de acesso, as elites intelectuais igualmente se assemelham às demais elites identificáveis nas sociedades ocidentais do pós-guerra. Constituindo-se em um grupo eminentemente fe-chado, organizado, com espaços de convivência próprios e relações com outros grupos sociais de grande poder, as elites intelectuais têm critérios rígidos de admissão de novos membros. Mosca e, principal-mente, Pareto insistiram na ideia de que o acesso à elite dirigente é exclusivo aos indivíduos detentores de superioridade moral, ma-terial e intelectual. Pareto em especial via a elite como um grupo de homens que possuem os mais altos índices nas atividades que executam. Ainda que tanto um quanto outro admitissem casos de indivíduos alçados à elite sem desfrutar dos atributos de superiori-dade esperados, ambos entendiam que o acesso estava amplamente condicionado a capacidades pessoais acima da média, e portanto, ao mérito e à excelência21. Schumpeter, mesmo não estando ligado diretamente à teoria das elites, mas tendo feito importantes contri-buições no campo das relações entre elite e democracia, também afirmava que o mérito inovador de um indivíduo (e de uma família) seria o elemento crucial para levá-la ao escalão máximo de uma “classe” (entendida aí de um modo razoavelmente livre, como ca-mada ou grupo social, funcional ou profissional)22. Não pretende-mos desenvolver a crítica às ideias de Mosca e de Pareto quanto às elites políticas, mas aplicando alguns dos princípios enunciados por estes pensadores ao estudo das elites intelectuais, vemos que são de difícil identificação teórica.
O acesso às elites intelectuais não está relacionado necessariamente com a excelência do output intelectual. Desta forma, uma produção teórica abundante e inovadora não é uma credencial suficiente, ainda que possa servir de argumento para calar vozes discordantes em caso de uma disputa de poder intraelite, tendo como objeto a admissão de um novo membro. O ingresso em uma elite intelectual depende, sobretudo, de dois fatores, o primeiro dos quais igualmente percebido
21 MOSCA, Gaetano. Id. ibid, p. 54; PARETO, Vilfredo. Op. cit., pp. 72-73.22 SCHUMPETER, Joseph Alois. Imperialismo e classes sociais. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro, Zahar, 1961, pp. 147; 158; 163.
35SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
por Mosca e Pareto nas elites políticas, e outro que é exclusivo. Trata-se da hereditariedade (em sentido diferente ao originalmente conce-bido) e do reconhecimento.
Mosca afirma que, não raras as vezes, novos membros da “classe política” eram herdeiros de membros passados, e, desta forma, se beneficiavam dos atributos “superiores” transmitidos por mecanis-mos biológicos. Isto faria com que a elite se tornasse hereditária, visto que riquezas e valores comportamentais seriam mantidos pelo direito de propriedade e pela herança genética, portanto, por fato-res sociais e naturais conjugados23. Segundo Pareto, tal seria ainda mais evidente nas elites “profissionais”, nas quais somente o méri-to e a excelência garantiriam o ingresso de novos membros, nunca critérios alheios a estes. Afirmava igualmente que a riqueza herda-da habilitava um indivíduo à elite24. Entretanto, ressalvas feitas por Mosca indicam que tais princípios não se aplicariam à “competência intelectual”, afirmando que as capacidades mentais são o elemen-to menos influenciado pela hereditariedade genética, apontando a frequência de casos em que indivíduos de intelecto sofisticado ge-ravam filhos com potencial sofrível (não entraremos no mérito de se a hereditariedade genética realmente se aplica a quaisquer campos da dinâmica social).
Assim, devemos levar em conta as percepções dos fundadores da teoria das elites, mas temos de qualificá-las segundo nosso objeto. De fato, a “hereditariedade” consiste em um mecanismo eficaz para o ingresso nas elites, mas ela está longe de significar uma vinculação ge-nética. Como indicado por Mosca, a classe dirigente impõe seu perfil, aspirações, comportamento, visões de mundo e estrutura de capitais (sociais, intelectuais, etc.) como padrão de excelência, requisitos para qualquer novo aspirante à elite, que devem ser emulados e domina-dos caso um postulante pretenda ter sucesso em sua escalada social25. Em todos os círculos da “elite do poder”, segundo Mills, verifica-se a preocupação em recrutar e treinar sucessores dentro dos valores e
23 MOSCA, Gaetano. Op. cit., p. 62.24 PARETO, Vilfredo. Op. cit., p. 74.25 GRYNSZPAN, Mario. Ciência, política e trajetórias sociais: uma sociologia histórica da teoria das elites. Rio de Janeiro, FGV, 1999, p. 106.
36 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
padrões que os tornariam, em tese, indivíduos de “alto gabarito”26. Assim, vemos que o critério da herança se aplica não em sua acepção biológica ou econômica, mas fundamentalmente intelectual. Se é ver-dade que os “descendentes” surgem como membros mais habilitados para renovar a elite, no caso em questão isto significa que a “pater-nidade intelectual” tende a ser o vetor mais importante que incide sobre as chances de acesso de um indivíduo ao nível da elite. Em outras palavras, é comum que integrantes seniores preparem seus pró-prios sucessores, garantindo a eles o domínio dos conceitos, padrões de comportamento público e horizonte ideológico que constituem os “princípios fundamentais” partilhados pelos membros da elite e que conferem a ela unidade e identidade.
Além disso, é através destes mesmos membros seniores que os neófitos ganham acesso privilegiado aos canais de difusão de seu output e de intervenção em assuntos de sua especialidade. Assim, a “excepcionalidade do mérito” mais uma vez não constitui con-dição indispensável para o ingresso na elite; um intelectual de alta capacidade de produção e inovação não tem sua admissão garantida se compete com outro de capacidade mediana, mas herdeiro dos códigos, ideias, visões de mundo e representações próprias daquela elite específica.
A rigor, os “exames” para ingresso na elite são livres, não sendo portanto limitados por qualquer barreira jurídica ou política, estando habilitados membros de todas as classes sociais que se enquadrem nos requisitos credenciais estabelecidos. Como lembra Schumpeter, o acesso ao “topo” de uma “classe” depende do grau de sucesso com que um indivíduo cumpre sua função, já que a aptidão para tal estaria espalhada por toda a sociedade. Sendo que no caso das elites intelec-tuais, “cumprir a função” tem como requisito o domínio dos “princí-pios fundamentais”, além de boa dose de tutela, o que faz com que nem todos os aptos tenham um background apropriado27.
Além da “herança”, outro importante critério de admissão é o re-conhecimento. A aceitação de um determinado intelectual como membro da elite requer que ele seja tomado como interlocutor por
26 MILLS, C. Wright. Op. cit., p. 347.27 SCHUMPETER, Joseph A. Op. cit., pp. 184; 187; 192. MOSCA, Op. cit., p. 63.
37SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
um ou mais integrantes da própria elite. Isto é particularmente mais fácil quando se considera a existência de uma “herança” sólida, e via de regra os tutores e os que estão a ele imediatamente ligados são os primeiros a aceitarem a interlocução de seus “pupilos”, um forte sinal para o restante da elite de que emerge dos rankings inferiores um novo integrante.
Existem casos nos quais nem a herança exerce influência importante e nem o reconhecimento vem após fortes embates, o que é o exemplo das “heresias” que resultam na elevação de um indivíduo ou conjunto deles à condição de elite. Como vimos, ocasionalmente intelectuais in-termediários desafiam aspectos dos “princípios fundamentais” de uma determinada elite, e pela utilização dos canais de difusão do output apropriados, bem como por questões de cunho conjuntural que de-vem ser consideradas, conseguem “atrair a atenção” de determinados membros de elite a ponto de dar início a um debate que, dependendo de seus resultados, permite tamanha notoriedade ao “herético” que habilita sua mobilidade vertical, que será preservada somente se tiver condições de cumprir as funções de elite (ampla difusão do output, formação de novos intelectuais intermediários e candidatos à elite, formação de opinião de alto nível, etc.). Caso contrário, o “herético” tende a ter passagem efêmera pela elite, desfrutando de um intenso e rápido prestígio, e um tão veloz declínio no momento seguinte, sendo conduzido novamente às fileiras do grupo intermediário.
A influência exercida pelas outras identidades de um indivíduo (ocu-pacional, de classe, etc.) em sua atividade funcional é tão maior quan-to mais próximo da base se encontra um intelectual. Entre as elites esta influência se torna bastante rarefeita. Intelectuais de base e mesmo de nível intermediário com frequência permitem uma forte interferência das expectativas que têm como membros de um grupo ocupacional ou de uma classe social no exercício de suas “funções”, além de se-rem bastante suscetíveis à influência dos interesses e necessidades de grupos não intelectuais. A militância partidária, a inserção em organi-zações da sociedade civil com ethoi específicos e a profissão de prin-cípios religiosos são fatores que influenciam, e, em muitos casos, até condicionam, o output de intelectuais de base e intermediários, mas entre a elite a presença destas influências tende a ser reduzida sempre que entra em choque com os “princípios fundamentais”.
38 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
Schumpeter ressaltou que a adesão de um indivíduo em prol dos interesses de sua “classe” não é automática e nem sempre acontece. Não seriam raras ainda as situações nas quais um indivíduo renega a sua própria identidade de classe (aqui entendida em seu sentido econômico) na medida em que, eventualmente, entra em conflito com outras identidades, tais como a funcional ou a ocupacional28. No caso das elites intelectuais, isto é ainda mais evidente, ao pas-so que a identidade funcional e o respeito aos “princípios funda-mentais” são capazes de sufocar em ampla medida outras identi-dades. Mills não identificou entre as “elites do poder” americanas uma coincidência entre o que chamou de “origem e carreira social” e suas diretrizes políticas. Uma vez na elite, homens das “altas ca-madas” podem surgir como defensores dos interesses imediatos dos mais pobres, da mesma forma que indivíduos provenientes da clas-se trabalhadora podem surgir como defensores dos interesses mais conservadores e hostis à sua classe social. Nem todos aqueles que representam os interesses ou atuam em prol de uma classe ou grupo qualquer precisam pertencer a ele29. Em um grupo de elite, os rituais, critérios de admissão, louvor, honra e promoção, que predominam e tornam seus membros “semelhantes”, atuam de modo a permitir que comportamento e expectativas de seus integrantes venham a ser convergentes, o que levou Mills a observar a manifestação de uma verdadeira “consciência” de elite30.
4.2 A EliTE iNTElECTUAl CoMo UM GRUPo DE STATUS
A elite intelectual em seu conjunto constitui-se como um grupo de status, tal como proposto por Weber. Um grupo de status não se define pela sua posição relativa no mercado nem no processo produtivo, tampouco por interesses econômicos ou pela posse de bens e oportunidades de rendimentos, fatores estes que indicariam uma determinada “situação de classe”. Define-se não como com-ponente da ordem econômica, que delimita a forma pela qual se-rão distribuídos bens na sociedade, mas como parte importante da
28 SCHUMPETER, Joseph A. Op. cit., p. 135.29 MILLS, C. Wright. Op. cit., p. 331.30 MILLS, C. Wright. Id. ibid, pp. 332-334.
39SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
ordem social; em suma, pelo modo através do qual a honra e o prestígio social são distribuídos. A elite intelectual desfruta de ele-vada situação de status no conjunto da sociedade, expressa pelo reconhecimento positivo de sua existência e função pelos grupos mais influentes, o que confere honra ao indivíduo na proporção em que maior notoriedade adquire perante os subgrupos intelectuais inferiores e perante outras elites. A “luta pelo poder” desempenha-da pela elite intelectual obedece à distinção feita por Weber acerca dos interesses específicos de um grupo de status, que antes de bus-car exercer sua ação em prol do enriquecimento, o faz tendo como horizonte a aquisição de mais honra social, expressa pela medida com que seu poder (imposição de sua opinião a despeito de oposi-ções) é exercido31.
Ao contrário das classes sociais, amplas e normalmente amorfas, a elite como um grupo de status constitui uma comunidade, carac-terística partilhada com outros grupos de status. Mills também indi-cou que as elites tendem a se comportar de modo mais comunitário que as classes o fazem usualmente, tendo em vista o caráter seleto e reduzido de seus componentes; seus membros geralmente se co-nhecem, têm vivência social ativa, frequentam os mesmos espaços, se reconhecem como parte de uma “casta” específica, e tomam suas decisões levando em conta os demais integrantes da “cúpula”. For-mam assim uma entidade social compacta e consciente de si, tendo um comportamento diferenciado quando relacionado a membros da elite e da não elite32.
Não sendo a posse um critério definidor da elite intelectual na sua condição de grupo de status, pessoas com ou sem propriedades po-dem partilhar dele, dentro dos condicionantes já citados. De certo modo, a honra de status a que almeja a elite se opõe à mera posse econômica33. Entretanto, pertencer à elite e desfrutar dos privilégios a ela referidos requer um determinado “estilo de vida” esperado de seus membros, que se define por convenções e rituais nem sempre ao al-cance econômico de qualquer um “apto” ao exercício funcional34. Tal
31 GERTH, Hans e MILLS, C. Wright. Op. cit., p. 212.32 MILLS, C. Wright. Op. cit., p. 20.33 GERTH, Hans e MILLS, C. Wright. Op. cit., p. 219.34 GERTH, Hans e MILLS, C. Wright. Id. ibid, pp. 219-220.
40 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
impasse costuma ser resolvido no processo de ascensão à elite em si, tendo em vista que o status inicial geralmente é seguido de privilégios materiais e oportunidades profissionais em nichos de alto rendimento, cujo acesso é em grande parte controlado pela elite intelectual. Ainda que o interesse econômico com a atividade intelectual seja mais forte quanto mais próximo da base da pirâmide se encontra o subgrupo, o que significa dizer que a expectativa de rendimentos pecuniários com o exercício funcional seja muito intensa entre intelectuais básicos, e gradualmente substituída pela busca de honra social quanto mais pró-ximo do nível de elite, é indiscutível que as recompensas financeiras garantidas pelo reconhecimento de um intelectual como membro da elite costumam ser suficientes para permitir que se integrem aos rituais e estilo de vida esperado pelos membros da “casta”35.
5. A RECoMPoSiÇÃo DAS EliTES iNTElECTUAiS
O exercício de tão amplo poder e a garantia de tantas vantagens sociais não vêm sem riscos. Por mais imponente e inabalável que possam parecer as elites intelectuais, elas são o subgrupo funcional mais suscetível a instabilidades e mesmo a rupturas. O exercício funcional de uma elite vive em permanente ameaça tendo em vista o lugar ocupado por ela na cadeia de geração de conhecimentos novos, e pelos fatores que definem sua existência. Na medida em que são as opções teóricas e ideológicas (os “princípios fundamen-tais”) que determinam a identidade e a unidade de uma elite dada e a sua função sendo justamente a delimitação dos marcos nos quais novos conhecimentos serão fundados e novos debates serão desenvolvidos, uma mudança histórica nas expectativas e perspec-tivas da sociedade (em especial dos grupos mais influentes), que tornem dados “princípios fundamentais” indesejáveis ou somente menos legítimos, é suficiente para desencadear um movimento de implosão de uma elite intelectual. A desestruturação se inicia pelo topo e se propaga gradualmente até atingir os níveis básicos da pi-râmide. Podemos chamar este processo de recomposição das elites intelectuais.
35 GERTH, Hans e MILLS, C. Wright. Id. ibid, pp. 222-223.
41SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
A recomposição foi prevista pelos teóricos das elites. Mosca afir-ma que, entre a classe política, quando uma mudança de forças políticas desencadeia uma necessidade de novas “capacidades” se formarem na administração do Estado em detrimento de antigas, e quando as velhas “capacidades” envergadas por uma elite “tradi-cional” perdem importância, haveria inevitavelmente uma transfor-mação na composição da classe dirigente, com a queda de antigos líderes e princípios, e a ascensão de novos líderes e ideias36. As sociedades seriam marcadas por um constante conflito entre a ten-dência do monopólio político por parte dos elementos dominantes que transmitem herança e a sublevação de novas forças vindas da não elite, capazes de deslocar do poder seus ocupantes tradicionais em determinadas circunstâncias. Para Pareto, as elites perderiam seu “vigor” com o passar dos anos e seriam com isto ameaçadas por grupos vindos da base da sociedade e plenos de capacidade inovativa, que com isso derrubariam os velhos membros da elite e tomariam seu lugar, em um fenômeno que identificou como “cir-culação de elites”37.
Algo semelhante e ligeiramente mais complexo ocorre entre as elites intelectuais em momentos de rupturas históricas que significa-tivamente interfiram na validade de seus “princípios fundamentais”, que se aproxima mais da proposta de Robert Michels e das consi-derações de Schumpeter. A recomposição das elites não significa a substituição excludente de antigos membros por novos, uma reno-vação completa dos quadros. Quando os “princípios fundamentais” de uma elite perdem sua força e capacidade de expressar verdade, há um intenso processo de rearticulação no qual membros buscam “refúgio” nos princípios de outra elite, passando costumeiramente a ser reconhecidos por ela como interlocutores “semelhantes” e, a partir de um output intelectual renovado pelos princípios recém-adotados, tornam-se membros reconhecidos. Este é o mecanismo mais comum, segundo Michels, para a renovação das elites, ou seja, absorção e assimilação de novos integrantes perpetradas pelos ve-lhos, que podem se expressar pelos instrumentos de tutelagem em-
36 MOSCA, Gaetano. Op. cit., p. 66.37 PARETO, Vilfredo. Op. cit., pp. 77-78.
42 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
preendidos pelos intelectuais seniores sobre jovens aptos ao posto de elite, ou, da maneira como agora exposta, pela incorporação dos intelectuais de uma elite em decadência38. A “adaptação” requer amplo esforço intelectual e exige articulações políticas e sociais. Nem todos os membros de uma elite serão bem-sucedidos no es-forço de migrarem para outras elites e evitarem, portanto, a perda de sua posição no grupo funcional. É da opinião de Schumpeter a existência da ligação entre o sucesso dos membros de uma “classe” (entendida de modo amplo) e a sua adaptabilidade a situações so-ciais modificadas. Uma excessiva especialização, afirma, pode tor-nar a adaptação impossível, sendo esta uma das razões pelas quais o conhecimento amplo de programas de pesquisa, teorias e ideologias concorrentes identifica um membro da elite, e quanto maior for este conhecimento, maior a chance de um intelectual permanecer no nível de elite, mesmo após a elite específica a qual estava vincu-lado vir a sucumbir39.
Em um momento de recomposição, muitos intelectuais de elite permanecem fiéis aos “princípios fundadores” da elite em declínio, e, por razões variadas, escolhem “afundar com o navio”. Incapa-zes ou resistentes em adotar novos princípios, muitos insistem em manter seu output intelectual em níveis de produtividade intensos, a despeito do número de interlocutores e da legitimidade social des-frutada minguarem progressivamente, até estarem restritos a círcu-los de pouca ou nenhuma influência, o que consolida a perda do status de elite, com todas as consequências derivadas. Em muitos casos os membros “decaídos” simplesmente não são mais capazes de cumprir as tarefas do grupo funcional, e o abandonam. Outros conseguem adaptação tardia em níveis da pirâmide inferiores e pas-sam a atuar como intelectuais intermediários ou básicos. Alguns ain-da conseguem migrar para outras elites (política, econômica, etc.), dependendo do grau de articulação que mantinham previamente com estes setores. De qualquer maneira, stricto sensu, permanecer fiel aos princípios de uma elite em declínio significa o ostracismo enquanto intelectual.
38 MICHELS, Robert. “A Lei de Ferro da Oligarquia”. Trad. Sérgio Magalhães Santeiro. In: SOUZA, Amaury de (org). Op. cit., p. 90.39 SCHUMPETER, Joseph A. Op. cit., p. 195.
43SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
Em exemplos mais bem-sucedidos, os intelectuais de uma elite em queda são capazes de formular e defender novos princípios a ponto de criarem uma nova elite dos escombros de uma primeira e consoli-dar sua posição por meio de ampla difusão de um output intelectual renovado, atraindo com isto outros pensadores de elite, intermediários e membros influentes de outros grupos sociais. Elites nascidas desta forma, assim como aquelas originadas a partir de “heresias” vindas de escalões inferiores, tendem a desfrutar rapidamente de um prestígio de “vanguarda” junto à sociedade, porque pelo menos em linhas ge-rais parecem representar o novo, ainda que a maior parte dos “novos fundamentos” tenda a se constituir em derivação dos fundamentos esposados pela elite decaída dos quais provieram os fundadores da nova elite.
A recomposição das elites intelectuais começa pelo topo, por elas próprias, portanto, e gera efeitos que se alastram pela pirâmide gradualmente. Após a adaptação de alguns, da cooptação de outros por parte das elites preexistentes, ou da criação de novas elites, os intelectuais intermediários e básicos respondem com lentidão pro-porcional à proximidade que guardam em relação à base. Ambos persistem em manter seu output nos marcos da elite dissolvida por tempo variado. Progressivamente, os membros cooptados ou os fundadores de uma nova elite iniciam intenso processo de “recon-quista” de seus antigos intelectuais intermediários, que vão pouco a pouco sendo “convertidos” ou aderem aos princípios emanados de elites alternativas na medida em que seu output, produzido ain-da segundo “princípios fundamentais” deslegitimados, começa a ser criticado por outros intelectuais já adaptados ou pela opinião pública especializada a qual pretendem informar. Os intelectuais do subgrupo básico têm uma adaptação ainda mais lenta e proble-mática, persistindo por longo período na adoção dos “princípios” de uma elite dissolvida. A adaptação dos estratos básicos tende a acontecer na medida em que o grupo se renova fisicamente, ou seja, ao passo que antigos membros se desligam e novos membros são admitidos, estes últimos já treinados por intelectuais interme-diários “reformados”.
A desintegração de uma elite tem sido historicamente acompa-nhada da ascensão de novas elites, o que significa dizer que a expe-
44 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
riência aponta para a persistência da influência organizada de uma minoria sobre grupos majoritários fragmentados. Em suma, até en-tão, muitas elites intelectuais se dissolveram, mas a elite intelectual no geral permanece40.
40 MOSCA, Gaetano. Op. cit., p. 51.
45SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 10-45 | JANEiRo > AbRil 2009
REFERÊNCiASDAVIS, Kingsley; MOORE, Wilbert E. Alguns princípios de estratificação.
Trad. Luiz Antonio Machado da Silva. In: VELHO, Otávio Guilherme (Org.) et al. Estrutura de classes e estratificação social. 6. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1976.
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico e outros textos. Trad. José Arthur Giannotti, Miguel Lemos, Margarida Garrido Esteves. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
GERTH, Hans (Org.); MILLS, C. Wright (Org.). Max Weber: ensaios de so-ciologia. Trad. Waltensir Dutra. 2. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1971.
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Trad. Car-los Nelson Coutinho. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991.
GRYNSZPAN, Mario. Ciência, política e trajetórias sociais: uma sociologia histórica da teoria das elites. Rio de Janeiro: FGV, 1999.
GURVITCH, Georges. Definição do conceito de classes sociais. Trad. Rosa Maria Ribeiro da Silva. In: VELHO, Otávio Guilherme (Org.) et al. Estrutura de classes e estratificação social. 6. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1976.
MERTON, Robert. Sociologia: teoria e estrutura. Trad. Miguel Maillet. São Paulo: Mestre Jou, 1970.
MICHELS, Robert. A lei de ferro da oligarquia. Trad. Sérgio Magalhães San-teiro. In: SOUZA, Amaury de (Org.). Sociologia política. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1966.
MOSCA, Gaetano. A classe dirigente. Trad. Alice Rangel. In: SOUZA, Am-Trad. Alice Rangel. In: SOUZA, Am-aury de (Org.). Sociologia política. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1966.
PARETO, Vilfredo. As elites e o uso da força na sociedade. Trad. Alice Ran-Trad. Alice Ran-gel. In: SOUZA, Amaury de (Org.). Sociologia política. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1966.
SCHUMPETER, Joseph Alois. Imperialismo e classes sociais. Trad. Walten-sir Dutra. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1961.
46 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
CUlTURAS URbANAS E EDUCAÇÃoExPERiMENTAÇõES DA CUlTURA NA EDUCAÇÃo
Ecio Salles
47SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
Este artigo visa refletir sobre as possibilidades de a cultura contribuir para a melhoria da educação, notadamente em escolas que adotaram o horário in-tegral como política pública. Pretende-se demonstrar que, nesse contexto, a cultura tem-se mostrado uma linguagem importante, capaz de fazer diferença positiva no processo educativo e influenciar políticas públicas nesse sentido. Em diversas cidades brasileiras, ações culturais, muitas delas oriundas das peri-ferias, vêm atuando em parceria com escolas modificando-as produtivamente, potencializando os sujeitos, incidindo sobre a comunidade. Em particular, se-rão abordadas duas instituições específicas, as quais atuam em parceria com o Estado, no caso, as prefeituras de suas cidades, e têm alcançado resultados expressivos ao realizar ações culturais em escolas públicas: o Grãos de Luz e Griô, em Lençóis, Bahia; e a Escola Livre de Cinema, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Não se trata de “instrumentalizar” a cultura nem de esvaziar o papel tradicional da Escola, mas de incrementar a aprendizagem dos alunos median-te práticas, técnicas e experiências artísticas que redimensionem seu lugar no mundo e na vida.
This article aims at to reflect on the possibilities of the culture to contribute for the improvement of the education, specially in schools that had adopted the full time as public politics. As long as it goes, Culture has presented itself as an important language, capable of doing a positive difference in the educational process and to influence public politics in this direction. Many of cultural acti-vities, most of them coming from the poor areas of the city, have been acting in partnerships with schools changing them productively, empowering people and focusing on the community. In particular, two specific institutions will be analysed, which act in partnership with the public administration, in the case, the government of its cities, and have reached remarkable results when they perform cultural actions in public schools: Grãos de Luz e Griô, in Lençóis, Bahia; and Escola Livre de Cinema, in Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. It doesn´t mean neither to treat Culture as a “tool” nor empty the traditional role of Edu-cation but to increase the learning of the students through artistic practices, techniques and experiences that resize their places in the world and in life.
48 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
1. iNTRoDUÇÃoA cultura é nossa arma.
Damian Platt e Patrick Neate
De que formas pode a cultura participar do processo de melhoria da educação no Brasil? Este artigo propõe algumas, entre inúmeras possíveis, respostas para essa questão. Em diversas localidades no Bra-sil inteiro, há experiências que estão participando ativamente desse esforço. Aqui, foram selecionadas duas delas: o projeto Grãos de Luz e Griô, em Lençóis, na Chapada Diamantina, Bahia; e a Escola Livre de Cinema, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Esse recorte se deveu ao fato de ambas terem criado soluções cria-tivas e inovadoras, desenvolvido parcerias com escolas públicas das regiões nas quais estão inseridas e vêm sendo peças-chave no desen-volvimento de políticas públicas voltadas para a educação. Por último, mas não menos importante, essas instituições têm uma visão de cul-tura como algo vivo, como processos e estratégias que se desdobram como ação no cotidiano, conforme se discutirá adiante. Certamente, a cultura por si não representa a solução definitiva para os grandes desafios colocados para o país, entre os quais o educacional.
Mesmo assim, as ainda escassas, mas expressivas, práticas culturais que se desenvolvem no cotidiano de um grande número de escolas do país, como ações micropolíticas que afetam a vida das pessoas, podem indicar uma tendência, apontar um caminho entre tantos, capaz de fortalecer os esforços comuns de formulação de políticas públicas consequentes na área. Não por acaso, o Ministério da Cul-tura tem um programa voltado especificamente para esse contexto, o Ação Escola Viva.
A Ação Escola Viva tem como objetivo integrar os Pontos de Cultura à escola de modo a colaborar para a construção de um conhecimento reflexivo e sensível por meio da cultura. Desta forma, o programa es-tará contribuindo para a expansão do capital social brasileiro – primor-dial no processo de sustentabilidade do desenvolvimento econômico, no qual o “saber-fazer” e o “saber-ser” de cada canto do País possa ser alargado e aprofundado, mantendo-se aberto à chegada de novas linguagens, gerando capacidades de criação, tolerância, autonomia e criatividade – imprescindíveis à construção da cidadania. Com esta
49SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
ação poderemos resgatar a interação entre cultura e educação, sem que haja distinção de valor e de atitude entre emoções, sentimentos, pensamento e conhecimento, de modo que a cultura seja praticada como uma forma de inteligibilidade da identidade nacional, da emo-ção (in http://www.cultura.gov.br/cultura_viva/).
Embora o Grãos de Luz seja um Ponto de Cultura e a Escola Livre de Cinema não, os dois participam de programas em suas cidades cuja atuação em parceria com escolas públicas se orientam pelos princípios descritos anteriormente. No caso da Escola Livre, sua atuação se dá no âmbito do Programa Bairro-Escola, da Prefeitura de Nova Iguaçu.
O Bairro-Escola é uma reorientação dos processos socioeconômico-culturais da cidade, por meio de políticas públicas intersecretariais que giram em torno da educação, organizadas em três eixos principais, a Requalificação Urbana, o Ensino Integral e a Proteção da Vida e Defesa dos Direitos Humanos, com o objetivo de promover o desen-volvimento da cidade e das práticas da cidadania, através do estímulo a participação dos diversos setores da sociedade, visando que Nova Iguaçu se afirme como uma Cidade Educadora. (in http://www.bairro-escola.novaiguacu.rj.gov.br).
Com base nessas referências, propõe-se aqui apresentar práticas que demonstram a viabilidade de ações culturais como potencializadoras de práticas escolares. Em vez de lamentar os problemas da educação, essas experiências estão propondo soluções. A partir da leitura do ma-terial produzido pelas instituições mencionadas – considerando que o material produzido e publicado sobre elas é ainda muito reduzido – e de entrevistas com os fundadores de uma delas, procura-se mostrar como essas questões estão sendo viabilizadas na prática.
2. EDUCAÇÃo No bRASil
A Educação no Brasil é um problema complexo. Quando o rapper Mano Brown, do grupo paulistano Racionais MCs, disse em uma en-trevista, há alguns anos, que as crianças estavam perdendo tempo na escola, não emitiu apenas uma opinião polêmica. Talvez de maneira provocativa, acabou expressando um sentimento nada incomum: o
50 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
de que a escola pública brasileira está em crise, não forma mais nin-guém e não mais representaria, especialmente para as classes pobres, um caminho possível de formação pessoal e mobilidade social.
Até a década de 60, o principal desafio no país era o de garantir a democratização do acesso de contingentes expressivos da população – crianças ou adultos – aos bancos escolares. Esse processo até que foi realizado, mas em prejuízo da qualidade. Uma matéria da revista Carta Capital enfatiza que o Brasil, “além de alfabetizar menos, [...] alfabetizou com pior qualidade do que a maioria dos países do mun-do. Quanto mais ofereceu educação às massas, mais deteriorou a sua qualidade” (COSTA, 2003: 28-31).
Eblin Farage, em pesquisa realizada para o Observatório de Favelas – organização social de pesquisa, consultoria e ação pública dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos – defende que a crise por que passa a educação brasileira hoje se deve à política de ajuste estrutural do Consenso de Washington, “em cujos preceitos se assentam as privatizações promo-vidas pelos governos neoliberais” (FARAGE, 2008). Isso teria, informa a autora, resultado em números alarmantes: “22 milhões de analfabetos adultos, 15 milhões de analfabetos funcionais, 3 milhões de crianças de até 14 anos fora da escola”. Segundo Farage:
Os sintomas de um país extremamente desigual – subordinado aos interesses do capital internacional e voltado para a garantia da acu-mulação capitalista – se farão sentir de forma devastadora nas es-colas dos espaços populares dos grandes centros urbanos. Isto se explica, principalmente, pelo lugar ocupado por essa população na racionalidade do capitalismo, ou seja, a de superpopulação relativa (FARAGE, 2008).
Os últimos anos, entretanto, sinalizam para uma nova situação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibiliza da-dos que apontam certa melhora em alguns aspectos. A Síntese dos Indicadores Sociais 2008 revela que, no período entre 1997 e 2007, houve diminuição da taxa de analfabetismo das pessoas com mais de 15 anos (foi de 14,7% para 10%). Verificou-se crescimento do índice de estudantes cursando o nível médio na idade adequada, entre 15 e
51SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
17 anos, que era de 26,6% e subiu para 44,5%; também se registrou aumento do número de alunos que completam o curso nos níveis fundamental, médio e superior; criação de mais escolas de ensino fun-damental, médio e superior; e redução na defasagem série/idade no ensino fundamental. “Em 1997, o percentual de estudantes defasados era de pouco mais de 43,0%, reduzindo-se em 2002 para 32,3% e chegando a 25,7%, em 2007.”
Em contrapartida, nesse mesmo período a desigualdade de acesso de brancos e pretos e pardos ao nível superior aumentou. “Em 1997, 9,6% dos brancos e 2,2% dos pretos e pardos, de 25 anos ou mais de idade, tinham nível superior completo no país; em 2007, esses percentuais eram de 13,4% e 4,0%, respectivamente.” E há o proble-ma do analfabetismo funcional. É duvidosa a qualidade do ensino de leitura – além dos princípios básicos de cálculos matemáticos, aconte-cimentos históricos, dados geográficos... – oferecido pelas escolas pú-blicas às crianças e adolescentes. Segundo pesquisas recentes, houve sensível diminuição da taxa de analfabetismo funcional entre pretos e pardos, mas a desigualdade em favor dos brancos se manteve e o número total de analfabetos funcionais ainda é muito alto.
Embora entre as crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade, faixa etária correspondente ao ensino fundamental, o ensino esteja prati-camente universalizado (97,6%), os resultados da pesquisa mostram que este alto índice de freqüência à escola nem sempre se traduz em qualidade do aprendizado. Entre as 28,3 milhões de crianças de 7 a 14 anos, que pela idade já teriam passado pelo processo de alfabetização, foram encontradas 2,4 milhões (8,4%) que não sabem ler e escrever. Isto não significa que estas crianças não estejam na escola: 2,1 milhões delas, ou seja, 87,2%, das que não sabiam ler e escrever, freqüentavam estabelecimento de ensino. Deste grupo de 2,1 milhões, 1,2 milhão vivia no Nordeste do país1.
Por outro lado, episódios frequentes na mídia expõem uma realida-de crítica na sala de aula, onde alunos entram armados, fazem amea-
1 Todos os dados foram encontrados no documento Síntese de Indicadores Sociais – 2008, do IBGE, in http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1233&id_pagina=1.
52 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
ças aos professores e, às vezes, chegam a agredi-los2. Outra questão foi apontada por Jaílson de Souza e Silva, Coordenador do Observatório de Favelas da Maré e atualmente Secretário de Educação em Nova Iguaçu. Em uma palestra para estudantes de Comunicação, Jaílson cri-ticava a situação da educação no país afirmando que, hoje em dia, “as crianças entram na escola falando e saem mudas” (SILVA, 2008). Con-clui-se que é necessário fortalecer os modos de expressão das crianças e adolescentes nas escolas e criar os meios para isso. Quero sugerir que a cultura tem uma contribuição decisiva a dar nesse contexto.
Numa crítica ao filme Entre os muros da escola3 em uma revista britânica, Michael Wood defende que o longa “não foi feito para falar sobre cultura. O filme foi feito para falar da relação entre professor e aluno”. Nesse contexto, uma discussão em torno do uso do modo sub-juntivo acaba apontando o que, para Wood, é o verdadeiro problema: a grade curricular, os “parâmetros curriculares” e os conteúdos. Wood conclui, afinal, que “o professor é escravo do sistema, e os alunos só veem o exercício de tirania pela tirania”. Considerando o estado de constante conflito que domina as relações na escola, é difícil não esta-belecer analogia com a peça teatral Entre quatro paredes, de Jean-Paul Sartre, em que aparece a famosa expressão “o inferno são os outros”.
Faz tempo que Paulo Freire apontava a necessidade de uma pers-pectiva dialógica no que concerne à prática educativa. “Por que não estabelecer uma ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamen-tais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” (FREIRE, 1996: 30). Embora haja honrosas exceções aqui e ali – que,
2 Esse problema merece um estudo aprofundado em outro momento. Num debate de que participei no início de 2008, um jovem interno de uma institui-ção para infratores contou que ingressou na vida do crime porque, além das dificuldades de aprendizagem que tinha, certo dia a professora corrigiu uma indisciplina sua mandando um grupo de alunos maiores da classe lhe darem uma surra e jogarem-no dentro da lixeira da escola (nenhum nome pode ser citado aqui em função de acordo realizado com a referida instituição).3 A narrativa do filme, baseada em livro de François Bégadeau (que atua no filme, no papel do professor Marin), cobre um ano letivo na vida de alunos entre 13 e 14 anos de idade em uma escola pública num bairro da periferia de Paris. O grupo reúne exclusivamente imigrantes; os atores são alunos de escolas do mesmo bairro, diligentemente preparados pelo diretor do filme, Laurence Cantet. O título original do filme é Entre les murs.
53SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
no entanto, apenas confirmam a regra, tão raras que são –, Freire tem sido muito citado e homenageado, pouco ouvido realmente.
3. A CUlTURA E oS EFEiToS DE CENTRAliDADE
Entre as exceções mencionadas, há a Escola Estadual Guadalajara, no bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em que o agenciamento cultural fez a diferença, atraindo a atenção dos alunos para as aulas e contribuindo na criação de grupos de teatro, música e grafite. Ou a Escola Presidente Campos Sales, em Helió-polis, na Zona Sul de São Paulo, que derrubou as paredes da sala de aula e criou um novo ambiente de disposição das turmas de mesma série, favorecendo o viés de uma pedagogia radicalmente dialógica. Esses poucos casos apontam, como sustentava Paulo Freire (1996: 35), a disponibilidade ao risco e aceitação do novo. O recurso à cultura como forma de estabelecer o diálogo propõe um pensamento sobre o outro não como a possibilidade do inferno, tampouco a do paraíso. Mas como a possibilidade do encontro, com suas múltiplas e (a priori) indecidíveis potencialidades. O fator decisivo é que, havendo o en-contro, há a possibilidade do reconhecimento e o acontecimento da responsabilidade, da ética, da criticidade, da alegria e da esperança que Paulo Freire defendia como inerentes à prática educativa.
A cultura é decisiva nesse contexto. Ela ocupa um lugar central na economia, nas relações sociais e na vida cotidiana. Stuart Hall, por exemplo, assinala “a enorme expansão de tudo que está associado a ela, na segunda metade do século XX, e o seu papel constitutivo, hoje, em todos os aspectos da vida social” (HALL, 1997: mimeo). Embora a cultura tenha sido sempre importante, nas últimas décadas vem alar-gando sensivelmente seu raio de atuação, obtendo também o reco-nhecimento de outros setores a respeito de sua relevância crescente no contexto contemporâneo.
A expressão “centralidade da cultura” indica aqui a forma como a cul-tura penetra em cada recanto da vida social contemporânea, fazendo proliferar ambientes secundários, mediando tudo. A cultura está pre-sente nas vozes e imagens incorpóreas que nos interpelam das telas, nos postos de gasolina. Ela é um elemento-chave no modo como o
54 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
meio ambiente doméstico é atrelado, pelo consumo, às tendências e modas mundiais (HALL, 1997: mimeo).
Hall põe em questão o lugar da cultura no mundo contemporâneo e sua ocorrência tanto na sociedade quanto na análise social. Ele orga-niza seu argumento em torno de duas dimensões das centralidades da cultura: uma substantiva – o lugar que a cultura ocupa “na estrutura empírica real e na organização das atividades, instituições, e relações culturais na sociedade, em qualquer momento histórico particular”; outra epistemológica: “como a ‘cultura’ é usada para transformar nos-sa compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo” (HALL, 1997: mimeo). Neste artigo, a fim de manter o foco em seus objetivos principais, será dada prioridade à primeira dimensão.
Desse modo, propõe o autor, haverá um viés dessa revolução cultu-ral que afetará as relações globais, sobretudo devido à intensificação das trocas culturais mediante as novas tecnologias de informação e comunicação. Um processo que conduz à compressão espaço-tempo, reduzindo as distâncias e incrementando as relações entre diferentes partes do globo, conduzindo ao risco de homogeneização cultural. Contudo, Hall contrapõe-se a essa linha de pensamento – “as conse-quências desta revolução cultural global não são nem tão uniformes nem tão fáceis de ser previstas”. Assim, conclui o autor, é mais prová-vel que esse processo “produza ‘simultaneamente’ novas identifica-ções ‘globais’ e novas identificações locais do que uma cultura global uniforme e homogênea” (HALL, 1997: mimeo).
A revolução cultural de que fala Stuart Hall, em suas formas substan-tivas, não se restringe à dinâmica macro das relações globais. Ela tam-bém penetra no nível do microcosmo. “A vida cotidiana das pessoas comuns foi revolucionada”, não de maneira regular ou homogênea, lembra o autor. Embora o ritmo das mudanças se diferencie em cada localidade geográfica, “são raros os lugares que estão fora do alcance destas forças culturais que desorganizam e causam deslocamentos” (HALL, 1997: mimeo).
Por outro lado, a cultura também se constitui de forma transversal. Já não é possível ver na cultura apenas a coleção de bens simbólicos, nem um sinônimo, diria Joel Rufino dos Santos, de saber ou de patri-mônio artístico e científico. Tampouco é produtivo encará-la como um
55SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
campo isolado, protegido. Em nossa era imaginal, completa o autor, “ela pode ser melhor definida como uma substância plástica de que tudo é feito, os objetos e os interstícios entre os objetos” (SANTOS, 2004: 191).
Ao mesmo tempo em que a cultura ganha relevância como a subs-tância plástica que molda os objetos e as relações, a voz das periferias, “falando alto em todos os lugares do país”, tem-se apresentado como, nas palavras de Hermano Vianna, “a novidade mais importante da cultura brasileira na última década” (VIANNA, 2006). O que configura uma dinâmica cultural que é especificamente urbana, e enfrenta os benefícios e os problemas dessa condição.
O campo gravitacional no qual transita a expressão cultura urbana, conforme a penso aqui, reúne palavras que se atraem mutuamente: processo, linguagem, subjetividade, experiência. São termos diferen-tes entre si, mas que deixam – especialmente se pensados em face do conjunto cultura e educação – perceber um destino compartilhado: a perspectiva de ampliação ou universalização dos direitos e o aprofun-damento democrático.
Estes são pontos definidores das estratégias dos grupos que desen-volvem ações culturais na cidade. Em primeiro lugar, a cultura é en-tendida como um modo de estar na vida. Nesse contexto, deixa-se de lado o ponto de vista da cultura como representação e passa-se a en-tendê-la a partir de suas estratégias e procedimentos, que deslancham processos continuados de ação criativa com a vida. A cultura pensada como processo atua no cotidiano das pessoas, modificando-as produ-tivamente, potencializando os sujeitos das ações, incidindo sobre a co-munidade: reforça laços, estimula a conquista de autoestima, produz pensamento sobre o lugar de cada um na rua, no bairro, na cidade, no país, no mundo, abrindo-se à possibilidade de transformá-lo, de democratizá-lo profundamente. Trata-se de investir nos processos mi-cropolíticos, balizados na consideração do desejo e da produção de subjetividades, capazes de obter efeitos na macropolítica (PELBART, 2007): reinventar a cidade, criar efeitos de centralidade onde seja considerado periférico e desvalorizado.
Trata-se de estimular o desejo, experimentar todas as linguagens, compartilhar a emoção, a inteligência, potencializar e empoderar os sujeitos e os discursos, tomar posse da própria existência. Como per-
56 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
cebe Ivana Bentes, “é preciso tomar posse das linguagens e dos meios, tomar posse das câmeras, pois as questões de pertencimento e auto-estima passam pela potência da imagem e da visibilidade” (BENTES, 2007). E também garantir o direito à fruição, ao gozo estético.
Por um lado, a cultura designa a capacidade de determinados gru-pos em desenvolver o seu trabalho com organicidade e legitimidade nas comunidades onde se estabeleceram. Nos últimos anos, os mo-vimentos dos jovens – em especial dos jovens negros e pobres – têm sido responsáveis pela produção de uma nova subjetividade a partir das periferias do Brasil. Transformaram suas comunidades, a partir de uma dinâmica que combina comportamentos de resistência com os das redes sociais de produção, inaugurando espaços de criação e de “trabalho comum” (NEGRI & COCCO, 2005: 57).
É notável como, no mundo inteiro, o fenômeno da proliferação das favelas tem se tornado um elemento marcante do crescimento dos centros urbanos. Segundo relatório do Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas – The challenge of the slums [O desafio das favelas]4 –, os moradores de favela representam 78,2% da popu-lação urbana dos países menos desenvolvidos e constituem um terço da população urbana global. E pelo menos metade dessa população é composta por jovens com menos de 20 anos de idade (DAVIS, 2006: 198). Sob um determinado ponto de vista, esse fenômeno é preocu-pante, uma vez que resulta do aumento da desigualdade social, do desemprego e da miséria, além de favorecer o recrudescimento da violência urbana.
Por outro lado, também é o locus onde proliferam ações criativas, capazes de ir além dos discursos de superação da pobreza e produzir formas de expressão bastante significativas. Os meios de expressão aí encontrados são os mais diversos, desde o saquinho de pão impresso, distribuído nas padarias de Vitória pelo Projeto Forninho e funcionan-do como um jornalzinho regional; os saraus poéticos promovidos pela Cooperifa nos bares de Capão Redondo, na periferia de São Paulo, transformando o bar no verdadeiro “espaço público” das favelas; as intervenções públicas e midiáticas do coletivo Bijari em áreas gentrifi-
4 “A primeira auditoria verdadeiramente global acerca da pobreza urbana” (DAVIS, 2006: 196).
57SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
cadas de São Paulo; o T-bone Açougue Cultural e suas atividades em Brasília (chegou a ter dez mil livros em seu açougue para empréstimo gratuito à população); o pessoal do Media Sana em Pernambuco, com sua militância política e estética, juntando vídeo e música; o Enraiza-dos, e suas múltiplas atividades através do hip-hop, falando a partir de Nova Iguaçu para o Brasil inteiro e alguns países no mundo; a incrível experiência do Espaço Cubo, em Cuiabá, com a produção de festivais de rock independentes, produzindo uma economia local tão consistente que gerou uma moeda própria, o Cubo Card; ou ainda o trabalho da Fundação Casa Grande, no Ceará, em que as crianças participantes assumiram a gestão do projeto.
E mais, iniciativas como as do Grupo Cultural AfroReggae, do Ob-servatório de Favelas, da Cia. Étnica de Dança e da Cufa, no Rio; do Eletrocooperativa e do Bagunçaço, na Bahia; da Casa do Zezinho e a do Hip-Hop, em São Paulo... Inúmeros outros projetos e experiências espalhados pelo país têm em comum a conjugação dos aspectos men-cionados acima com uma profunda e consistente inserção em seus territórios de atuação. Nem todos os grupos têm sua origem nos locais em que atuam (e mesmo essa “origem” não seria por si garantia de legitimidade). Aqueles que obtiveram os melhores resultados nesse processo são os que, ao entrarem em contato com o contexto social no qual investiram, a um só tempo o modificaram e se permitiram modificar por ele.
Essas iniciativas são, talvez, representativas de uma nova modalidade de arte. E o artista hoje já não pode deixar-se levar pelo mito român-tico do ser solitário, inspirado, acima das coisas do mundo (PELBART, 2007). Ele se torna uma espécie de operário, de produtor ou operador de ações criativas, sempre inserido na mobilização coletiva, em que cada ponto da rede é um foco de irradiação cultural. Assim, caem por terra as noções consolidadas sobre a relação centro/periferia, a de-pendência em relação às instituições reconhecidas e os clichês sobre inclusão social, cidadania, precariedade, reivindicação e conflito. Está em suas mãos a potência de reinventar a subjetividade coletiva, os meios de produção, de troca e de consumo, a própria mídia.
Nas periferias do Brasil, os casos em que essa forma de articulação foi determinante para o êxito das iniciativas – especialmente no que se refere a projetos ligados à educação e à cultura – são numerosos.
58 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
Nessas organizações, a música, a dança, o teatro, o circo e a capoeira, entre outras, são também linguagens que promovem um certo diálo-go, aquele capaz de reescrever trajetórias de vida, modificar pessoas e comunidades, repensar a vida e transformá-la. Como afirma George Yúdice (2004: 17), em seu estudo sobre o assunto, a cultura hoje “está sendo crescentemente dirigida como um recurso para a melhoria so-ciopolítica e econômica”.
Em entrevista à Heloísa Buarque de Holanda, Yúdice explica o con-ceito: “cultura já não é mais arte. A arte é só a ponta do iceberg da cultura. A verdadeira cultura é a criatividade humana” (HOLANDA, 2005). Iniciado na década de 90, esse discurso hoje é, segundo o autor, praticamente hegemônico. A noção da cultura como recurso, que demanda organização e capacidade de gestão, não significa con-siderá-la apenas como mercadoria, mas perceber a ambivalência pre-sente nessa percepção, a qual engloba também as questões da inclu-são social e da cidadania. A cultura como recurso está presente tanto na multiplicação de franquias do Museu Guggenheim pelo mundo, quanto nas atividades socioculturais desenvolvidas pelo Grupo Cul-tural AfroReggae, que lhes garantem patrocínios não apenas do Esta-do, mas de empresas e organismos de cooperação internacional, por exemplo: Ministério da Cultura, Natura e Fundação Ford (cf. www.afroreggae.org).
A questão é como dinamizar essa criatividade, viabilizar, para ter uma série de resultados: auto-estima, emprego, fim do racismo. E isso está muito vinculado ao trabalho das ONGs e à cooperação internacional. E a cultura é o lugar onde mais se manifesta essa criatividade. Então, por sua natureza a cultura serve para alavancar a criatividade (HO-LANDA, 2005).
Nessa perspectiva, abre-se a possibilidade de investimento, a partir do campo cultural, em outra vida possível, afetando e associando-se ao movimento da vida social, numa recusa decidida de acomodar-se à ordem dominante. É por isso que, apesar de a forma de organização pelas ONGs encontrar limites à sua atuação – o risco de cooptação, devido a sua adesão à grande mídia; o desvio do sentido de suas lutas ao participar de redes abrangentes, com setores das classes dominan-
59SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
tes etc. –, no fim das contas não cessam de elaborar a cultura popular como “gestos ritualísticos de produção de subjetividade autônoma por parte dos pobres”, como define Muniz Sodré (2006: 221). Ou, como acredita Peter Pál Pelbart, esses grupos vivem
na carne a constatação de que o capital maior é a própria vida, e que sua potência de expansão e de constituição extrapola o poder do ca-pital e o seqüestro da vitalidade social dali advinda. É uma pequena revolução biopolítica (PELBART, 2007).
Por outro lado, o processo de articulação não se dá apenas no in-terior das periferias. Uma vez realizado esse movimento, as próprias periferias, a partir da ação dos grupos organizados, promovem um outro nível de articulação, agora com setores externos às comunidades – agências de fomento, empresas, governo, mídia... –, visando poten-cializar seus projetos e atividades.
Esses agenciamentos tendem a se complexificar ainda mais no mo-mento em que as desigualdades sociais e a violência urbana passam a ocupar o centro das preocupações. Nesse momento, algumas orga-nizações, em especial aquelas que se valem da cultura como recurso, passam a investir fortemente na criação de modos de aproximação entre os espaços sociais antagonizados por questões sociais, raciais/ét-nicas ou geográficas.
Por outro lado, uma parte significativa dos grupos atuantes nas pe-riferias, notadamente os que se valem da cultura para desenvolver as suas ideias, atuam na direção contrária: no questionamento e cons-tante enfrentamento das “fronteiras”. A impressão inicial é a de que identificaram os fossos que dividem e separam as pessoas – os quais passam por questões sociais, raciais, econômicas, geográficas, de gê-nero – e decidiram “construir pontes” sobre esses abismos.
As ações da cultura na Educação partem do entendimento de que a cultura não é um produto, um ente concreto, tampouco se resume à lógica dos eventos. Ela é processo, “algo que se esconde dentro e atrás do produto”, e como tal tem efeitos duradouros no território onde se desenvolve. “A terminação urus, em culturus, indica pro-cesso, ação em realização, e não produto”, lembra Joel Rufino dos Santos (2004: 187).
60 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
Por outro lado, a cultura é capaz de promover experiências, pro-vocar e explorar percepções e sensações sobre o território, sobre o mundo e sobre a vida. Nesse contexto, também se deixa de lado o ponto de vista da cultura como representação e passa-se a entendê-la a partir de suas estratégias e procedimentos, as quais deslancham pos-sibilidades de ação criativa com a vida. Não se trata de levar cultura aonde quer que seja, mas de potencializar forças e desejos.
Ladislau Dowbor (2006: mimeo) entende que “a educação não deve servir apenas como trampolim para uma pessoa escapar da sua região: deve dar-lhe os conhecimentos necessários para ajudar a transformá-la”. Igualmente, e talvez ainda mais, a cultura. Para Gilles Deleuze e Felix Guattari,“ a cidade é o correlato da estrada. Ela só existe em função de uma circulação e de circuitos; ela é o ponto assinalável sobre os circuitos que a criam e que ela cria”. É fundamental, portan-to, pensar o território para além das “cercas que separam quintais” (Raul Seixas). Deleuze e Guattari (1997: 122) afirmam ainda que a cidade “é uma rede, porque ela está fundamentalmente em relação com outras cidades”. No âmbito de cada cidade, por sua vez, as ações que juntam cultura e educação serão da ordem do comunitário. Essas ações serão o correlato da rua, uma vez que ligam os vizinhos entre si, ligam suas casas às escolas, às igrejas e templos, aos equipamentos culturais, às quadras esportivas, às praças e aos inumeráveis pontos de encontro das pessoas, suas histórias e memórias.
Esposito deixa bem claro que a comunidade não é um ente, nem um sujeito coletivo, mas uma relação, o limiar em que se encontram su-jeitos individuais. Sua formulação é preciosa: “A comunidade não é o entre do ser, mas o ser como entre: não uma relação que modela o ser, mas o próprio ser como relação” (SODRÉ in PAIVA, 2007: 8).
A formulação de Esposito a respeito da comunidade, lida acima por Muniz Sodré, ajuda a fazer a conexão que estou tentando aqui entre cidade e comunidade, porque a teia de relações que está envolvida aí, conforme a entendo, é potencialmente capaz de agir no sentido do aprofundamento democrático. Ela convida à participação, ao mesmo tempo em que a incrementa, na medida em que expõe os partici-pantes à linguagem artístico-cultural, portanto à dimensão do estético,
61SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
do crítico e, eventualmente, do transgressor, sem dogmatismos nem censuras. Quanto mais pessoas forem envolvidas no processo, forem engajadas na rede, mais amplos serão seus efeitos: um indivíduo afeta o outro, juntos afetam a comunidade. A perspectiva é que a rede se amplie até afetar o conjunto da cidade e, a partir daí, o país, quem sabe o mundo. A escola, evidentemente, é um ponto decisivo nessa história. Embora, deve-se reconhecer, não se trata de algo simples, não problemático.
A relação entre a produção artístico-cultural e a instituição de ensino (...) é, por princípio conceitual, conflituosa. Se, por um lado, a área artística tem na transgressão a mola propulsora de sua construção, as instituições acima citadas pautam-se na normatização. Como, então, favorecer um espaço de transgressão e criação, de formação de sen-tidos e significados no interior dessas instituições? (LEITE e OSTETTO, 2004: 11).
No contexto escolar esse entendimento passa por interferir na re-lação professor-aluno, de modo que este se torne um operador de estratégias de troca de saberes5, preocupando-se menos com a trans-missão vertical dos conteúdos (que não deixam de ser necessários e importantes) para dar maior atenção às formas capazes de estabelecer o diálogo-aprendizagem.
4. A CAMiNHADA Do VElHo GRiô
Drão, o amor da gente é como um grãoGilberto Gil
No Estado da Bahia, Chapada Diamantina, na comunidade conhe-cida como Lençóis, há um projeto que está fazendo a diferença na vida das pessoas, nas escolas da região e no território onde ele se de-senvolve. A história do Grãos de Luz e Griô foi construída pela história de vida de muitas pessoas e entidades, seus afetos, saberes, conflitos
5 Essa definição é inspirada em argumentos de Marcus Vinícius Faustini, ci-neasta, diretor teatral e atualmente Secretário de Cultura em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
62 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
e sonhos de um mundo melhor, segundo Lílian Pacheco (2006: 24), hoje coordenadora do projeto. Vale a pena traçar, ainda que resumida e precariamente, a trajetória dessa experiência.
Sua origem remonta a 1993 e está, desde o início, ligada à formação de uma teia de relações que ultrapassa as fronteiras do lugar. Naquele ano, um grupo de mulheres, lideranças locais entre as quais Dona Maria Luíza e mães da comunidade, apoiadas posteriormente por Dona Zélia Caribé, prepararam uma sopa a fim de distribuí-la às crianças e famílias do bairro Alto da Estrela, na periferia da cidade. Enquanto isso, seu Ma-noel Alcântara desenvolvia uma horta comunitária, reunindo crianças e adolescentes. Faltava juntar as duas iniciativas. Então, entrou em cena Jane da Silva Pellaux, uma brasileira que vivia na Suíça e visitava Lençóis regularmente. Ela “propôs a integração destas e outras iniciativas, com o seu apoio e de amigos da Suíça, para a criação de um projeto de educa-ção para crianças e adolescentes”. Assim, narra Lílian Pacheco:
Nasceu o Grãos de Luz no espaço das madres da Igreja Católica de Lençóis, unindo as iniciativas anteriores com oficinas de artesanato e reforço escolar. Mais tarde, a iniciativa foi apoiada pela argentina Ji-mena Paratcha, ex-moradora de Lençóis que passou a residir na Ingla-terra, e Jimmy Page, guitarrista do Led Zepellin. Todas essas lideranças se vincularam pelo sonho de criar e apoiar projetos de educação e proteção às crianças e adolescentes do Brasil (PACHECO, 2006: 24).
A cidade de Lençóis está situada na região do Parque Nacional da Chapada Diamantina, a 410 quilômetros de Salvador, capital baiana. Sua população gira em torno de dez mil habitantes, a maioria afrodes-cendentes, dos quais 49,8% vivem abaixo da linha da pobreza (renda per capita familiar menor que 1/2 salário mínimo, IBGE 2000), em especial nas comunidades rurais. A extração do diamante já foi a base da economia local, tendo entrado em crise no início da década de 90, provocando empobrecimento na região. Por outro lado, é “uma das maiores reservas ambientais do Brasil. Tombada como Patrimônio Histórico Nacional desde 1974” (PACHECO, 2006: 12).
O nome Grãos de Luz alude, por um lado, aos “mitos de chamamen-to do diamante dos garimpeiros da região”; por outro, ao imaginário social em que a criança é associada à semente. “A palavra luz, por
63SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
sua vez, remete à sabedoria”, completa Lílian Pacheco. A partir daí, desenrolou-se uma longa história – a experiência amadureceu e se ex-pandiu6; novos parceiros chegaram, outros talvez tenham partido. O fato é que essa experiência concretiza de maneira exemplar, criativa e inovadora, a ideia de aliar cultura e educação. Nesse ínterim, segundo dados fornecidos pela instituição, chegou a envolver mil crianças e adolescentes, fortalecendo a identidade dos participantes e o vínculo afetivo e cultural entre 11 escolas e comunidades em Lençóis, além de desenvolver e sistematizar práticas de educação inovadoras.
O projeto se consolidou a ponto de, em 2006, o Ministério da Cul-tura ter partido de sua forma de atuação para elaborar um projeto de abrangência bem mais ampla: a Ação Griô Nacional. Trata-se de uma ação integrada aos Pontos de Cultura e às ações Escola Viva, Cultura Digital e Projovem Adolescente do Programa Cultura Viva da Secreta-ria de Programas e Projetos Culturais (SPPC) do Ministério da Cultura. A inspiração e a concepção para o projeto derivaram da criatividade e inovação metodológica do Grãos de Luz e Griô. Segundo informa um folder da Ação, ela é “coordenada por uma gestão compartilhada en-tre o Grãos de Luz e Griô e a SPPC/MinC”, com o objetivo de “acom-panhar, instrumentalizar, capacitar, articular e sistematizar projetos de educação, cultura e economia comunitária de autoria dos Pontos de Cultura”. A gestão da ação conta com redes regionais de griôs apren-dizes, griôs e mestres de tradição oral que são bolsistas nos Pontos de Cultura, além de educadores e estudantes de escolas e universidades públicas do Brasil. Ainda segundo o mesmo folder, o projeto está “revi-talizando a rede de transmissão oral de municípios e regiões do Brasil, construindo uma pedagogia e uma política de forma participativa e vivencial” em todo o país.
O Secretário de Programas e Projetos Culturais do MinC, Célio Tu-rino, em texto de apresentação ao livro de Lílian Pacheco, destaca a importância do projeto, uma vez que parte
6 Em 2002, o projeto Grãos de Luz e Griô expandiu a caminhada do Velho Griô (figura mítica e política que representou e sensibilizou o imaginário social da comunidade participante, bem como a postura e metodologia dos seus pesquisadores, educadores e coordenadores) para 15 municípios da Chapada Diamantina; em 2006 passou a influenciar uma política nacional baseada em sua metodologia.
64 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
de um processo acumulado de construção de um conhecimento; de envolvimento comunitário na Chapada Diamantina; de discussões só-lidas sobre como associar a cultura tradicional com o processo edu-cacional; de valorização da cultura no âmbito local, indo mais além, abrindo novos horizontes tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos (TURINO in PACHECO, 2006: 14).
Esse movimento de espalhar a ideia do Grãos de Luz e Griô pelo ter-ritório nacional é importante, uma vez que dá escala a uma experiência bastante inovadora. Em contrapartida, ele enfrentará os problemas da escala. Em algumas localidades talvez o projeto não tenha o êxito devi-do, em outras pode seguir rumos inesperados. Por outro lado, é preciso salientar que a Ação Griô Nacional não se pretende uma replicação lite-ral do projeto lençoense. Ao contrário, a ideia é que cada unidade nas diferentes cidades do país desenvolva a proposta segundo suas próprias concepções e metodologias. Desse modo, o Jongo da Serrinha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para citar apenas um exemplo, pratica os prin-cípios e ações do projeto Griô a seu modo, adaptando-os a seus méto-dos e práticas. A expectativa é que a rede política organizada valorize a identidade coletiva griô, viabilizando a manutenção e a permanência dessa identidade em contextos diferentes. Evidentemente, na diáspora das ideias, pode ser que, em algum momento, as múltiplas experiências em torno da Ação Nacional tenham se distanciado tanto que já não sejam reconhecíveis como partícipes do mesmo processo. O que não chegaria a negar a proposição inicial, uma vez que demonstra o acerto da metodologia inicial e aponta para a abertura a novas possibilidades de ação, a novas soluções estéticas e metodológicas, eventualmente até políticas, e a novos devires Griô.
O que está em jogo, no final das contas, é não limitar, como in-dica Célio Turino, as atividades do Ponto de Cultura7 apenas à sua comunidade, “mas apresentar soluções e políticas criativas e inova-doras para a rede, para todas as experiências comunitárias que tratam a cultura de uma forma muito mais ampla”. O que significa também não circunscrever a compreensão da cultura às artes ou expressões
7 Em 2005 o MinC reconheceu o Grãos de Luz e Griô como integrante do programa Cultura Viva, tornando-se, portanto, um Ponto de Cultura.
65SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
simbólicas, mas tratá-la também “enquanto identidade, cidadania e economia” (TURINO in PACHECO, 2006: 14).
Voltando ao ponto de partida, em Lençóis é facilmente perceptível um elemento que perpassa ativamente as práticas, conceitos e narra-tivas do projeto: a poesia. A linguagem poética é decisiva na estética griô. Não se trata apenas de inserir aqui e ali um poema a título de ilustração das ideias, na verdade as próprias ideias partem de um en-tendimento poético do mundo. Isso aparece muito nitidamente, por exemplo, na forma com que Lílian Pacheco descreve as situações ou conceitos de sua atividade, ou quando propõe, entre as prioridades do Projeto Griô, não apenas mobilizar e capacitar os educadores e os alunos, mas “encantá-los”. Para quem não participa desse contexto, ou já está demasiadamente capturado pela lógica do mercado e do consumo, talvez não seja tão fácil entender essa linguagem. Contudo, é ela que inspira a criação de redes autônomas, que contribui para produzir, retomando palavras de Peter Pál Pelbart, “territórios existen-ciais alternativos àqueles ofertados ou mediados pelo capital”; que, se ainda não encontraram, estão resolutamente em busca de respostas para as questões colocadas pelo filósofo:
De que recursos dispõe uma pessoa ou um coletivo para afirmar um modo próprio de ocupar o espaço doméstico, de cadenciar o tempo comunitário, de mobilizar a memória coletiva, de produzir bens e co-nhecimento e fazê-los circular, de transitar por esferas consideradas invisíveis, de reinventar a corporeidade, de gerir a vizinhança e a soli-dariedade, de cuidar da infância ou da velhice, de lidar com o prazer ou a dor? (PELBART, S/D).
Dessa maneira, os realizadores do projeto podem afirmar que “a magia do Velho Griô e dos griôs da tradição oral local e seus rituais de vínculo e aprendizagem encantam os educadores da rede munici-pal” (PACHECO, 2006: 35. Grifos meus). Magia e encantamento, mas também memória e vida são palavras-chave para o processo cultural-pedagógico, cujo modelo de ação é elaborado por meio de quatro estratégias integradas. Cada uma delas é direcionada a determinados setores sociais e idades, facilitando a criação de uma roda. São elas
66 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
a. Oficinas e cooperativas com crianças, adolescentes, jovens e suas fa-mílias; b. Caminhada do Velho Griô, com griôs e grupos culturais nas escolas e comunidades. c. Integração da tradição oral no currículo de educação municipal, com educadores municipais e atores de todas as idades do sistema municipal de ensino. d. A Roda da Vida e das Idades, com todos os participantes, em diálogo com parceiros dos três setores sociais, conselhos municipais, estaduais e federais, universidades, proje-tos, programas e políticas do país e do mundo (PACHECO, 2006).
5. iNClUSÃo SUbJETiVA: A ESColA liVRE DE CiNEMA
A linguagem e a vida são uma coisa só.Guimarães Rosa
No bairro Miguel Couto, na periferia de Nova Iguaçu, logo que saímos da rua principal e dobramos à direita na Rua Santos Filho, estamos em frente ao prédio que abriga a Escola Livre de Cinema. De pronto, chama atenção a fachada inteiramente vermelha, deco-rada com 16 rodas de bicicleta ligadas entre si por correntes as quais, por sua vez, se ligam ao corpo de uma bicicleta fixada na parede, na base da construção. As crianças que chegam para as oficinas não resistem a se sentar e pedalar, fazendo com que todas as rodas girem ao mesmo tempo.
Essa fachada, no contexto do trabalho desenvolvido pela Escola Li-vre de Cinema, já é o início do processo, ela já demonstra em que ambiente se ingressará. Realizar oficinas de audiovisual, ensinar o do-mínio das técnicas, abordar temáticas contemporâneas, estéticas ino-vadoras, nada disso é suficiente aqui. O próprio local de trabalho, sua arquitetura, o lado de fora e o lado de dentro – no saguão de entrada, em vez de bancos ou cadeiras, há dezenas de almofadas coloridas onde os alunos, seus pais e eventuais visitantes podem sentar e passar o tempo – têm que estar sintonizados com a estratégia de instigar e burilar o olhar, a percepção e a sensibilidade dos alunos.
Como que reverberando as considerações de Andreas Huyssen so-bre as cidades, que as entendia como signo, embora “agora talvez num sentido mais pictórico e mais relacionado à imagem do que num
67SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
sentido textual” (HUYSSEN, 2000: 91), mas descartando as contradi-ções que o autor enxerga aí, a Escola cria um espaço onde a memó-ria, as histórias de vida e as especificidades – históricas, urbanísticas ou mesmo anedóticas – do bairro, antes ignoradas, são transformadas criativa e produtivamente em filmes.
Anderson Barnabé, um dos coordenadores do projeto, observa que os alunos das oficinas são “estimulados a todo momento a trazerem a sua vivência para o processo de aulas, de modo que o seu cotidiano faça parte da suas experiências fílmicas”8. Ora, a cidade de Nova Igua-çu, regra à qual Miguel Couto não escapa, teve sua história contada até hoje pelos barões do café, da laranja, senhores de terra e quejan-dos. A experiência da Escola, portanto, cria a possibilidade de que o signo da cidade, de que as suas palavras não sejam escritas apenas pelas elites. Ela abre o espaço para que o povo, os pobres, contem a sua própria história, segundo o seu ponto de vista.
Criada em 2006, a Escola Livre de Cinema é resultado de uma par-ceria entre o Reperiferia (ver adiante sobre esse projeto) e a Prefeitura de Nova Iguaçu, através do programa Bairro-Escola9. “É a primeira escola de audiovisual na Baixada Fluminense, totalmente gratuita”, se-gundo depoimento de Anderson Barnabé,
e já atendeu neste período mais de mil alunos, entre crianças, jo-vens e adultos, com aulas de cinema. Miguel Couto é a periferia do município, a Escola se instalou aí com o fim de atender às comu-nidades mais afastadas do centro, por serem as mais pobres e com pouco acesso à informação e aos processos culturais complexos da contemporaneidade.
8 Entrevista dada ao autor em 20 de março de 2009.9 O Bairro-Escola é uma reorientação dos processos socioeconômico-cultu-rais da cidade de Nova Iguaçu, por meio de políticas públicas intersecretariais que giram em torno da educação, organizadas em três eixos principais: a Requalificação Urbana, o Ensino Integral e a Proteção da Vida e Defesa dos Direitos Humanos; assim, o Bairro-Escola tem como objetivo promover o de-senvolvimento da cidade e das práticas da cidadania, através do estímulo à participação dos diversos setores da sociedade, visando a que Nova Iguaçu se afirme como uma Cidade Educadora (in www.novaiguacu.gov.rj.br).
68 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
O destaque, ainda segundo Barnabé, são as Oficinas de Documen-tário e Animação, destinadas a alunos do segundo segmento do ensino fundamental, da rede pública local. “Os alunos têm acesso a todos os processos necessários para realização de um vídeo, seja ele de docu-mentário ou animação.”
A ideia para a criação da Escola foi do cineasta e diretor teatral Marcus Vinícius Faustini. Ele já tinha construído uma longa história de atuação no campo da cultura na cidade do Rio de Janeiro – dirigiu peças de teatro, como Capitu ou Eles não usam black-tie, e realizou documentários relevantes, com destaque para Carnaval, bexiga, funk e sombrinha, sobre as turmas de Clóvis da cidade. Oriundo de Santa Cruz, onde, com outros cinco companheiros, fundou o Reperiferia, uma organização cujos objetivos, de maneira sintética, são repensar a periferia e dar-lhe voz. Conforme lemos em sua página na internet, trata-se de “estabelecer uma nova dinâmica perceptiva sobre a subje-tividade”. Para isso, o projeto pretende desenvolver “uma expressão estética e econômica da periferia da cidade e um projeto pedagógico com foco de ação em práticas culturais para a juventude” (www.repe-riferia.com.br).
O que envolve também “desestigmatizar as visões superficiais sobre a periferia, que a colocam apenas como espaço de violência e miséria social. Esses princípios vão aparecer também, com maior ou menor ênfase, nas ações desenvolvidas pela Escola Livre de Cinema. Para Faustini, a questão decisiva para a Escola reside no fato de que ela está situada em um lugar como Miguel Couto.
Isso coloca esse território como centro. Não seria relevante ela ape-nas estar localizada ali. Neste sentido podemos dizer que ela existe para promover experiências audiovisuais com o mundo, a vida e o território. Todas as ações e metodologias da Escola são pensadas a partir destes três elementos10.
O eixo principal é a prática de experiências com técnicas cinemato-gráficas em oficinas. A estratégia de combinar as percepções de mun-do, vida e território são postas em prática através do uso da câmera,
10 Entrevista dada ao autor em março de 2009.
69SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
tendo em mente a necessidade da percepção do outro. Conforme Anderson Barnabé, a apropriação da linguagem do documentário, o uso da oralidade diante da câmera “e o fato que ela pode expressar identidades e subjetividades a partir do olhar sobre o outro e sobre o seu território é que pautam as ações cotidianas da Escola”.
Talvez por isso, em suas palestras ou nos debates de que participa, Faustini reitere sempre que a câmera deve ser entendida como um lápis. Ela “pode ser um instrumento autoral de quem a usa. Os alunos são incentivados a pensar assim. É um encorajamento estético”.
De posse desse lápis, as crianças e adolescentes participantes do projeto propuseram a realização de documentários que escapam às temáticas usuais em projetos que visam “formar para a cidadania” ou “fortalecer a autoestima”11. Um dos projetos tinha o objetivo de descobrir o porquê de haver tantas pastelarias de chinês no bairro; o outro se propôs a filmar a tentativa, frustrada, diga-se de passagem, das crianças de entrar numa agência bancária da região. Também pro-duziram uma série de animação intitulada Iguaçu e sua turma, que aborda o universo do personagem criado pelos alunos. Iguaçu é um menino que mora em Nova Iguaçu e vive aventuras com a ajuda de uma geladeira mágica.
Pode-se aventar que há poucas semelhanças entre a experiência de Miguel Couto e a de Lençóis, além de ambas terem logrado transfor-mar suas ações culturais comunitárias em políticas públicas, envolvidas diretamente com novas tecnologias e práticas de educação. Pode-se depreender que, enquanto o Grãos de Luz e Griô está decididamente apegado à tradição e à oralidade, a Escola Livre de Cinema opta pela tecnologia, pelos modos obstinadamente contemporâneos de atuação cultural. No entanto, a aposta na vida e na abertura ao novo fazem as histórias de um e de outro comungarem. Paulo Freire sustentava que:
É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O ve-lho que preserva uma validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo continua novo (FREIRE, 1996: 35).
11 Sem descartar a importância desses procedimentos, naturalmente.
70 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
Na verdade, são instâncias que se completam. Nas andanças do Ve-lho Griô, ele não deixa de perceber e se apropriar das novas tecnolo-gias, que passam a compor seu balaio de histórias e lembranças. Por sua vez, o descolado jovem Iguaçu (e sua turma) é provocado pelas junções de saberes populares e acadêmicos, pelas possibilidades de aliar tecnologia e tradição, de somar a partir daí sua vida, sua com-preensão do território e do mundo onde vive. Ambos trazem pistas, sugestões, talvez muito sutis, mas já visíveis, de possíveis respostas para outras questões propostas pelo filósofo Peter Pál Pelbart, reiteradas aqui numa clave diferente:
Mais radicalmente, impõe-se a pergunta: que possibilidades restam de criar laço, de tecer um território existencial e subjetivo na contramão da serialização e das reterritorializações propostas a cada minuto pela economia material e imaterial atual? Como reverter o jogo entre a va-lorização crescente dos ativos intangíveis tais como inteligência, cria-tividade, afetividade, e a manipulação crescente e violenta da esfera subjetiva? Como detectar modos de subjetivação emergentes, focos de enunciação coletiva, territórios existenciais, inteligências grupais que escapam aos parâmetros consensuais, às capturas do capital e que não ganharam ainda suficiente visibilidade no repertório de nossas cida-des? (PELBART, S/D).
6. CoNClUiNDo...
Numa das oficinas culturais realizadas por oficineiros culturais do projeto Bairro-Escola, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a tare-fa era desenhar livremente, inclusive fora das marcações, dos limites, propostos pela página de exercícios do livro escolar. Todavia, em uma reunião de avaliação de resultados do processo, uma das professoras da escola protestou: “A gente levou um tempão pra ensinar à criança desenhar dentro do círculo, e, agora, com as oficinas, eles aprendem a desenhar fora!”
Essa história, que poderia dizer dos limites da educação tradicional, revela exatamente o contrário: o inesgotável poder de renovação e de criação possível de ser encontrado na escola, desde que se abra ao novo, ao inesperado, ao não curricular. E, ao mesmo tempo, demonstra
71SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
o papel efetivo que a cultura pode desempenhar no processo, desde que se determine a entender e colaborar com os princípios da forma-ção escolar, a atuar junto, em vez de contra. Nesse contexto, a cultura tem se mostrado uma linguagem importante, capaz de fazer diferença positiva no processo educativo. Não se trata de “instrumentalizar” a cul-tura nem de esvaziar o papel tradicional da escola, mas de incrementar a aprendizagem dos alunos mediante práticas, técnicas e experiências artísticas que redimensionem seu lugar no mundo e na vida.
Essas práticas, técnicas e experiências são hoje uma referência para a formulação e execução de políticas públicas12. Sabe-se que as cida-des brasileiras são territórios marcados por desigualdades sociais pro-fundas. Por isso mesmo, as políticas públicas, após mais de vinte anos da redemocratização das instituições brasileiras, não podem eximir-se de criar soluções para a sua superação. Uma das chaves para o êxito dessa tarefa reside na efetivação de direitos.
O professor Jorge Luiz Barbosa, coordenador do Observatório de Favelas, comenta que os debates atuais sobre a cidadania na agenda política ampliaram o tema em três direções principais: “invenção de novos direitos sociais; o uso do território como prática substancial dos direitos e a redefinição do espaço público” (BARBOSA, 2008). Essas dimensões implicam, também, o reconhecimento de novos sujeitos de direitos, os quais vinham sendo historicamente alijados do proces-so democrático. Para Barbosa, o reconhecimento desses novos sujeitos “e a inflexão territorial das políticas de garantia de direitos são dimen-sões que configuram a nova concretude para a construção de uma agenda democrática na metrópole” (BARBOSA, 2008).
Na redefinição do espaço público, é preciso rejeitar o entendimento de que o termo público, quando associado à política, designe estrita-mente poder estatal. De acordo com Barbosa,
12 Por exemplo, a Ação Escola Viva do Ministério da Cultura foi diretamen-te influenciada pelos projetos culturais do Programa Bairro-Escola, de Nova Iguaçu, do qual a Escola Livre de Cinema faz parte. E o Grãos de Luz e Griô estimulou a criação de uma ação nacional a partir da pedagogia dessa organi-zação, de modo a “Não limitar as atividades do Ponto de Cultura apenas à sua comunidade, mas apresentar soluções e políticas criativas e inovadoras para a rede, para todas as experiências comunitárias que tratam a cultura de uma forma muito mais ampla.” (TURINO in PACHECO, 2006: 14)
72 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
o público não se limita ao Estado. E política só pode ganhar sentido como afirmação de ações plurais de empoderamento dos cidadãos, levando em consideração suas diferenças e os seus territórios de exis-tência (BARBOSA, 2008).
Esse é um movimento que, de forma análoga ao que Ladislau Dow-bor sustenta para a relação entre educação e desenvolvimento local, nos tira “da atitude de espectadores críticos de um governo sempre insuficiente, ou do pessimismo passivo”. Com isso, “devolve ao cida-dão a compreensão de que pode tomar o seu destino em suas mãos, conquanto haja uma dinâmica social local que facilite o processo” (DOWBOR, 2006: mimeo).
As duas experiências narradas aqui – as quais nem de longe dão conta da miríade de ações, projetos e iniciativas que trafegam no mes-mo sentido – são, a meu ver, demonstrações cabais desta possibilida-de: a de influenciar políticas públicas capazes de agir no sentido do empoderamento dos sujeitos, de produzir novos direitos e de garantir o conhecimento do território, das práticas cotidianas e das vidas des-ses sujeitos.
Ressalte-se apenas que, uma vez que estamos no terreno da cultura e da arte, é importante que as metodologias de ação – o que é mui-to perceptível no trabalho dos grupos incluídos aqui – não recaiam na normatização ou no engessamento disciplinar do que se entende por cidadania. O crítico e professor de cinema francês Alain Bergala (2008: 26) compreende que “a arte não precisa de explicadores, mas de experimentadores”. Trata-se de priorizar a lógica da linguagem, em detrimento da lógica da mensagem. Uma vez que se tome posse da lin-guagem, a experiência estética se torna uma forma de estar na vida, de afetá-la e transformá-la, ativamente. Pelo que se viu, pode-se argumen-tar que essas questões estão presentes tanto em Nova Iguaçu quanto em Lençóis, mas também se proliferam pelo país, onde quer que os agenciamentos culturais e as escolas formais, em uníssono, o desejem. Essas práticas demonstram que, apesar do momento desfavorável no que tange à educação, é preciso estar aberto a novos possíveis.
Abrir-se ao possível é acolher, tal como acontece quando nos apaixo-namos por alguém, a emergência de uma descontinuidade na nossa
73SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
experiência; e construir, a partir da nova sensibilidade que o encontro com o outro proporciona, uma nova relação, um novo agenciamento (LAZZARATO, 2006: 18).
Seu desafio é justamente o de criar pontes capazes de abrir as vias de acesso em direção a um outro mundo possível, para o quê a cultura e a educação, juntas, podem representar as ferramentas mais apro-priadas. Os problemas, entraves, empecilhos, certamente serão mui-tos. Há dificuldades de ordem econômica e estrutural. Haverá, certa-mente, resistências de alguns, má vontade de outros. Mesmo assim, deve-se ir em frente. Edward Said escreveu – referindo-se ao papel do intelectual e à questão palestina, mas permito-me adaptar suas palavras aos agentes envolvidos na questão da cultura e da educação no contexto brasileiro – que o seu lar provisório
é o domínio de uma arte exigente, resistente e intransigente, dentro da qual não é possível, infelizmente, nem se esconder nem procurar soluções. Mas é apenas nesse precário mundo solitário que se pode verdadeiramente compreender a dificuldade daquilo que não pode ser compreendido e ir em frente e tentar assim mesmo (SAID, 2003: 41).
Afinal, são eles que promovem as articulações – constroem as pon-tes – que tornarão viáveis as perspectivas de travessia, de contato, de diálogo. Um diálogo que terá de ser qualificado no percurso, porque, ao mesmo tempo em que se dialoga, também se medem forças. No fi-nal, apesar das contradições, ele traz à luz do dia sinais “de um discur-so que é diferente – outras formas de vida, outras tradições de repre-sentação” (HALL, 2003: 342); se essa diferença será capaz de mudar o mundo é difícil dizer, mas, desde já, compõe uma força constituinte de um novo tempo, cuja marca é a criatividade e a imprevisibilidade.
74 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
REFERÊNCiASBARBOSA, Jorge Luiz (Coord). Relatório final do projeto Rio Democracia.
2008. Disponível em: <http://www.riodemocracia.org.br/riodemocracia/Site/noticias/noticia.php?id_content=61>.
BENTES, Ivana; PELBART, Peter Pál. Texto de relatoria para o encontro Onda Cidadã, Circo Voador, RJ. Rio de Janeiro, 2007. Inédito.
BERGALA, Alain. A hipótese cinema. Rio de Janeiro: Booklink, 2008.COSTA, Antonio Luiz M. C. Não se ufane tanto. Seu país. Desigualdade. Car-
ta Capital: política, economia e cultura, São Paulo, v. 10, n. 261, out. 2003.DAVIS, Mike. Planeta favela. Rio de Janeiro: Boitempo, 2006.DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs: capitalismo e esquizofre-
nia. São Paulo: Ed. 34, 1997. v. 5.DOWBOR, Ladislau. Educação e desenvolvimento local. 2006. Mimeo-
grafado.FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática edu-
cativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.HALL, Stuart. A centralidade da cultura: as revoluções culturais do nosso tem-
po. Revista & Realidade, Porto Alegre, v. 22, n. 2, p. 15-46, jul./dez. 1997.______. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte:
UFMG; Brasília: UNESCO, 2003.HOLANDA, Heloísa Buarque de. Entrevista com George Yúdice. Revista Z
Cultural, Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, ago./nov. 2007.HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos,
mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.IBGE. Síntese de indicadores sociais. 2008. Disponível em: <http://www.
ibge.gov.br/ home/presidencia/noticias/noticiavisualiza.php?Id_noticia=1233&id_pagina=1>.LEITE, Maria Isabel; OSTETTO, Luciana Esmeralda. Arte, infância e forma-
ção de professores: autoria e transgressão. Campinas: Papirus, 2004. LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Rio de Janeiro: Ci-
vilização Brasileira, 2006.NEGRI, Antonio; COCCO, Giuseppe. Glob(AL): biopoder e lutas em uma
América Latina globalizada. Rio de Janeiro: Record, 2005.
75SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 46-75 | JANEiRo > AbRil 2009
PACHECO, Lílian. Pedagogia Griô: a reinvenção da roda da vida. 2. ed. Lençóis, BA: Grãos de Luz e Griô, 2006.
PELBART, Peter Pál. Biopotência e biopolítica no coração do império. Disponível em: <http://multitudes.samizdat.net/Biopolitica-e-Biopotencia-no.html>.
SAID, Edward. Cultura e política. Rio de Janeiro: Boitempo, 2003. SANTOS, Joel Rufino dos. Épuras do social: como podem os intelectuais
trabalhar para os pobres. São Paulo: Global, 2004.SILVA, Jaílson de Souza e. Palestra de abertura. In: CONGRESSO DE ES-
TUDANTES DE COMUNICAÇÃO, 3., Rio de Janeiro, 2008. Rio de Janeiro, UERJ, 2008.
SODRÉ, Muniz. As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política. Petrópolis: Vozes, 2006.
______. Prefácio. In: PAIVA, Raquel (Org.). O retorno da comunidade: os novos caminhos do social. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.
VIANNA, Hermano. Central da periferia. 2006. Disponível em: <http//centraldaperiferia.globo.com>.
WOOD, Michael. The class: directed by Laurent Cantet, 2008. London Re-view of Books, London, v. 31, n. 5, 12 mar. 2009. At The Movies. Disponível em: < http://www.lrb.co.uk/v31/ n05/wood01_.html>. Acesso em: 12 março 2009.
YÚDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo Horizonte: UFMG, 2004.
SiTES CoNSUlTADoS:
www.afroreggae.org.www.bairroescola.novaiguacu.rj.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home.www.cultura.gov.br/cultura_viva/.www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_
noticia=1233&id_pagina=1.www.novaiguacu.rj.gov.br/.www.reperiferia.com.br.
76 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
RElAÇõES iNTERNACioNAiSUMA iNTRoDUÇÃo Ao SEU ESTUDo
Franklin Trein
77SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Na última década, ou talvez já há um pouco mais de tempo, o Brasil, embora com um significativo atraso em relação a outros países, não só no Hemisfério Norte, mas mesmo na região sul-americana, deu início à formação acadêmica de profissionais na área de relações internacionais. Foram abertas dezenas de cursos de relações internacionais, nos níveis de graduação e pós-graduação em universidades privadas, principalmente, mas também alguns em universidades públicas. A falta de tradição e mesmo a ausência de uma legislação mais es-pecífica contribuíram para a diversidade de propostas, que infelizmente não são expressão de riqueza dos cursos, mas muito mais o resultado das dificul-dades de entender e de formular um currículo acadêmico para uma área de conhecimento com a complexidade das relações internacionais. Na intenção de contribuir com o debate e talvez trazer alguns esclarecimentos que possam permitir a elaboração de propostas de cursos com maior densidade substan-tiva, mais coerência de objetivos e mais equilíbrio em suas disciplinas, nos propomos a apresentar algumas reflexões a seguir, que estarão divididas em dois momentos: o primeiro, de caráter teórico e, a seguir, em termos gerais, uma análise provocada pelo que está acontecendo nos cursos acadêmicos de relações internacionais no Brasil.
Over the last decade, or perhaps a bit farther back yet, Brazil made its debut in the field of academic education targeted at international relations professionals, though still lagging far behind other countries in the Northern Hemisphere and South America alike. Many private universities implemented dozens of interna-tional relations graduate and undergraduate degree courses, while some public institutions were quick to follow suit. The lack of tradition and the absence of a more specific body of law have largely contributed to such a variety of pro-posals. These, in turn, have sadly proven to be less a sign of a striking array of course offerings than the result of some clear difficulty in understanding and designing an academic curriculum for as complex a field as international re-lations. In an attempt to join the ongoing debate on this topic and contribute some clarifications that may assist in drafting course program proposals that rely on a solid content framework, consistent targets and well-balanced course subjects, we offer some thoughts here from two different perspectives: one of a theoretical nature, and the other – from a more general point of view – as an analysis spurred by the current scenario of international relations academic courses in Brazil.
78 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
1. iNTRoDUÇÃo
Se podemos partir da breve definição de que a ciência política tem como objeto o poder com relação ao Estado, podemos seguir afirman-do que as relações internacionais se dedicam ao estudo das relações de poder entre os atores internacionais, que são, em primeira ordem e no que diz respeito ao poder político, os Estados nacionais e as or-ganizações internacionais, e as empresas e corporações internacionais, no que se refere ao poder econômico.
Uma outra observação pertinente é a de que a ciência política, como o estudo das relações de poder internas de um país, toma em con-sideração o fato de que há uma hierarquia de poderes e que todos estão submetidos a uma lei suprema – a Constituição. Nas relações in-ternacionais não há hierarquia e não há Constituição. As organizações internacionais – a ONU1, a OMC2 ou a Corte Internacional de Justiça3 – são entidades criadas por consenso, mas sem poder efetivo. Frequen-temente são desrespeitadas em seus princípios e em suas decisões. Nas relações internacionais a última instância não é a lei – o constrangimen-to jurídico —, mas a força, como força militar, econômica ou política, às quais os Estados mais fortes costumam recorrer, separadamente ou em conjunto, para impor sua vontade e seus interesses.
Ao lembrarmo-nos do método de trabalho em relações internacio-nais deve ser dito que a pesquisa nesta área não tem uma metodolo-gia específica, estabelecida como nas ciências da natureza e mesmo como em algumas áreas das ciências sociais com tradições mais sedi-mentadas. Geralmente o exame do objeto é feito através de diferentes abordagens em que se recorre a aproximações históricas, sociológicas, econômicas, jurídicas, estatísticas, psicológicas, psicossociais, antro-pológico-culturais e ainda filosóficas. Assim, a pesquisa em relações internacionais não deve se limitar somente ao exame sistemático dos
1 ONU – Organização das Nações Unidas – Organismo internacional, funda-do em 24 de outubro de 1945, que congrega atualmente 192 países.2 OMC – Organização Mundial do Comércio – Organização internacional, fundada em 1994, conta atualmente com 152 países membros.3 Corte Internacional de Justiça é o organismo principal de justiça da ONU. Tem sua sede em Haia, Holanda.
79SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
fenômenos identificáveis imediatamente como “externos”. Questões “internas” são, com frequência, de importância decisiva para o bom resultado de uma análise de conjuntura internacional.
A seguir examinaremos no plano teórico algumas contribuições di-tas clássicas da ciência política, na intenção de delimitar fronteiras do objeto das relações internacionais.
2. TEoRiAS ClÁSSiCAS
Poderíamos começar uma análise das teorias clássicas das relações internacionais com Aristóteles, mas isto nos levaria muito longe, uma vez que os Estados modernos estão bastante distantes do que era uma cidade-estado na Grécia antiga. Da mesma forma haveria fontes bas-tante ricas para serem examinadas na Idade Média. Mas, neste caso, ainda estaríamos longe da atualidade, já que ali iríamos tratar de Es-tados teológicos. Assim, optamos por examinar inicialmente o pensa-mento de Thomas Hobbes4 (1588-1679), a primeira das contribuições importantes para a formação do Estado moderno, como conhecemos nos dias atuais.
Examinaremos especialmente a obra a que Hobbes deu o título de Leviatã, ou a matéria, a forma e o poder de um estado eclesiástico e civil (1651).
A passagem talvez mais conhecida do Leviatã é aquela em que Hobbes diz: “Homo homini lupus” (homem é o lobo do homem). Em outras palavras, o autor está se referindo à condição natural, ou ao que ele também chama de “estado de natureza” do homem. Assim, a ordem e a harmonia entre os indivíduos é, antes de tudo, uma opção pela sobrevivência. Admitir que alguém exerça o poder sobre os de-mais, sem ser contestado na sua força e na sua legitimidade, é o preço pago pelos homens para evitar a luta de todos contra todos. A ordem será tão mais estável, diz Hobbes, quanto maior for o poder e a deter-minação daquele que se encontra no cume da pirâmide política.
Dois séculos antes de Auguste Comte (1798-1857) nós temos em Hobbes um pensador positivista, preocupado com a cientificidade do
4 Thomas Hobbes, filósofo, representante do empirismo, foi talvez o mais im-portante entre os pensadores britânicos do século XVI.
80 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
conhecimento e com sua positividade. Era importante para ele que sua obra tivesse um efeito normativo e pudesse, deste modo, orientar as relações entre os homens e os Estados.
Para Hobbes as relações entre os Estados não são diferentes da-quelas entre os indivíduos, sua característica principal é o estado de guerra permanente entre uns e outros. Nas relações internacionais não há uma hierarquia de poder. Ali subsistem condições naturais ou um estado de natureza. Portanto não é válido falar de uma or-dem propriamente dita. Uma consequência importante, neste caso, é que nas relações entre Estados nada é ilegítimo, injusto e menos ainda ilegal. No entanto, os Estados, como os únicos detentores de soberania e de poder de coação na Comunidade Internacional, por uma questão de sobrevivência ou por ser a solução de menor cus-to, optam muitas vezes por firmar pactos uns com os outros. Eles buscam, desta forma, estabelecer alianças que possam reforçar suas defesas diante de ataques de terceiros, ou que pelo menos possam garantir que não serão alvo de agressão. Hobbes adverte, contudo, que os Estados só respeitam a letra e o espírito desses acordos en-quanto lhes for conveniente, pois a única coisa que conta é a própria sobrevivência.
O pensamento hobbesiano influenciou a todos os grandes autores da ciência política a partir do início do século XVII até os contempo-râneos. E, entre os mais destacados do nosso século, deve ser citado aqui o nome de Raymond Aron5 (1905-1983). A importância de Aron é devida, por um lado, as suas contribuições à teoria das relações in-ternacionais em si e, por outro, por ser ele um autor contemporâneo dos mais polêmicos.
Mas recuemos novamente na história para examinarmos outros pensadores clássicos e podermos ainda destacar, brevemente, aque-la que é, ao nosso entender, a contribuição mais fundamental da teoria hobbesiana no campo das relações internacionais. Quero referir-me ao chamado “estado de natureza”. Hobbes nos diz: “há uma condição natural, própria do homem que não é aquela que nós podemos observar quando os homens vivem em sociedades orga-
5 Raymond Aron, cientista político, sociólogo, foi responsável por uma das mais importantes contribuições da França ao estudo das relações internacio-nais no século XX.
81SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
nizadas na forma de Estados”. Ou seja, uma sociedade organizada em um Estado, onde os indivíduos convivem em relações apoiadas em uma ordem mínima não são formas naturais, espontâneas, por assim dizer. Pelo contrário, são condições construídas pela vontade humana, por decisão racional, pela capacidade dos homens de esta-belecerem entre si relações diferentes daquelas que a natureza lhes determinaria.
Kant6 (1724-1804), filósofo alemão do século XVIII, em seu Ensaio sobre a paz perpétua assume a perspectiva de Hobbes, quando ob-serva, “o estado de paz entre os homens que vivem juntos não é um estado de natureza, este é muito mais um estado de guerra, se não sempre declarada, no entanto sempre uma ameaça”.
Outra observação no mesmo sentido nós podemos encontrar ainda nos Princípios da filosofia do Direito de Hegel7 (1770-1831), também um pensador clássico da filosofia alemã. Diz ele: “Como a relação entre os Estados tem por princípio sua soberania, resulta que ela não está regida por nenhum poder superior, senão que ela se encontra em um estado de natureza.”
Na mesma perspectiva de pensamento, entre os autores contempo-râneos, um bom exemplo é Georges Burdeau8 (1905-1988). Em seu extenso Tratado de ciência política, Burdeau argumenta insistentemen-te contra a ideia de uma sociedade internacional. Segundo ele não pode haver uma sociedade onde não há uma ideia de direito, onde não há lei. As relações internacionais não estão regidas por leis. O que há é um consenso entre as partes. Os termos de um tratado entre dois Estados são aqueles que eles definirem. Ninguém pode impor aos Estados contratantes a inclusão ou exclusão de cláusulas e, a rigor, ninguém pode impor a eles o respeito aos termos do tratado firmado,
6 Immanuel Kant, filósofo, responsável por uma das mais importantes con-tribuições para toda a filosofia moderna. Sua obra trata de todos os temas relevantes para a sociedade e a cultura de sua época.7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo, considerado a expressão mais ela-borada do chamado Idealismo Alemão, como seu compatriota Kant, tratou de uma extensa lista de problemas pertinentes à filosofia.8 Georges Burdeau, francês, professor de Direito Constitucional e Ciência Política, considerado um dos grandes autores contemporâneos nas suas áreas de trabalho acadêmico.
82 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
sob pena de ferir os próprios princípios que determinariam a não in-gerência em assuntos de terceiros Estados e que estabelecem ainda a observância do respeito à soberania do outro e de não intervenção em seus assuntos internos.
Esclarecendo as palavras de Burdeau, poderíamos dizer um pouco mais da posição “jusnaturalista”9 de Hobbes. Ou seja, não havendo uma autoridade coatora legítima, no plano das relações internacio-nais, investida dos poderes legais para fazer cumprir a lei – e tal auto-ridade não existe, pelo fato de que, a rigor, não há uma lei —, não se poderia falar propriamente de uma sociedade internacional. Esta é a ideia básica do pensamento hobbesiano.
Isto não significa dizer que, em termos práticos, por conveniência de todos, ou pelo menos dos mais fortes, não existam regras de convivên-cia na comunidade internacional. Pelo contrário, há regras e muitas. O que contribui para que a cada dia as relações internacionais se tornem um jogo ainda mais complexo.
Antes de passar ao exame de uma outra perspectiva de compreen-são das relações internacionais, gostaríamos de fazer algumas conside-rações sobre a contribuição de um outro autor de grande importância para o pensamento político moderno que foi Karl von Clausewitz10 (1780-1831). Tratando-se de um destacado militar da Prússia no final do século XVIII e início do século XIX, certamente não só seu nome, mas muitas de suas ideias, especialmente no campo militar, já são bastante conhecidas.
Clausewitz em sua obra Der krieg – A guerra – expressa uma posi-ção muito próxima daquela de Hobbes. Ele observa que a guerra não pertence ao campo das artes e das ciências, senão que ao da existên-cia social. Para ele a guerra tem por característica ser um conflito de grandes interesses, regidos pela violência. Somente ela se diferencia de outros conflitos. Clausewitz entende que seria melhor comparar a guerra ao comércio, este sim claro conflito de interesses nas relações
9 O jusnaturalismo é a doutrina jurídica segundo a qual existe um “direito natural”, ou seja, um sistema de normas diverso do sistema fixado pelo Esta-do, responsável pelo direito positivo. O jusnaturalismo é assim uma doutrina oposta ao chamado “positivismo jurídico”.10 Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz, general e estrategista militar na Prússia, é considerado um dos grandes mestres da arte da guerra de todos os tempos.
83SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
humanas. Todavia, a guerra se parece mais com a política, que por sua vez, pelo menos em parte, pode ser comparada com uma espécie de comércio quando praticado em grande escala.
Raymond Aron, em seu livro Pensar a guerra – Clausewitz, comen-tando esta passagem citada, observa que poderia parecer aos leitores menos avisados que na concepção do general prussiano as relações in-ternacionais não passariam de mais um capítulo da estratégia – enten-dida aqui como a arte na condução das ações militares. Aron sublinha que a conhecida frase de Clausewitz, “a guerra é a continuação da política por outros meios”, foi interpretada, com frequência, de forma invertida, ou seja, como se a política fosse a continuação da guerra. Ora, em conformidade com o jusnaturalismo hobbesiano, a política é a opção pela não guerra, ela é a suspensão da guerra e mesmo a superação da guerra pelo entendimento. A política seria o consenso. Para Aron o que Clausewitz afirma é que quando se rompe o consen-so, volta-se à guerra e sempre à guerra. Mas a guerra significa outros meios, diferentes dos da política. Nas relações internacionais guerra e política são planos diferentes, não há entre eles uma linha contínua, que possa ser traçada por uma mesma estratégia.
Servindo também como origem de diferentes concepções das rela-ções internacionais, em uma perspectiva não só divergente, mas opos-ta ao jusnaturalismo, nós encontramos os representantes do direito positivo. Eles se constituíram, desde meados do século XVIII, nos prin-cipais inspiradores do direito internacional público.
O principal problema para o direito positivo foi, desde o início, o da construção de um ordenamento jurídico capaz de impor-se a Estados soberanos. Os primeiros esforços tiveram a intenção de assimilar o Es-tado a uma pessoa moral, como havia feito o direito natural. A seguir, no entanto, entendeu-se que a melhor solução estava no contrato. Assim, o contratualismo11 passou a ser a tendência predominante no plano teórico do direito positivo.
De fato, era fácil observar que os Estados, com frequência, busca-vam regular suas relações com outros Estados pela via dos protocolos, dos acordos, dos tratados, das convenções. As limitações de poder, de
11 O contratualismo supõe, em primeiro lugar, a igualdade entre as partes contratantes e a seguir se apoia no princípio de que o contrato é resultado de interesses comuns ou convergentes.
84 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
soberania e de liberdade, nestes casos, são voluntárias e não impostas, e por isto assimiladas e incorporadas completamente à realidade dos Estados contratantes.
Divergindo dos jusnaturalistas, o direito positivo entende que as re-lações internacionais não se pautam pela lei da selva, da luta de todos contra todos. Ainda que a ordem jurídica que organiza as relações sociais no interior de um Estado não seja comparável à ordem vigente na comunidade internacional, já que ali não há nenhuma autoridade superior, isto não significa, dizem os seus representantes, que os Es-tados não possam atuar de forma coordenada e subordinada a uma vontade geral. Em outras palavras, ainda que o ponto de partida possa ser um estado de natureza, nada impede que os Estados, enquanto so-ciedade organizada, possam se civilizar e conviver em paz e de modo cooperativo entre si. Contra a máxima hobbesiana: “Homo homini lupus”, passou a valer a “pacta sunt servanta”, ou seja, o que foi objeto do pacto deve ser respeitado.
Como observamos de início, o plano jurídico das relações interna-cionais é certamente de grande relevância, mas não esgota todas as suas dimensões. Sendo assim, retomemos o problema a partir de uma nova perspectiva. Vejamos, ainda que brevemente, qual pode ser a contribuição da história no exame das relações internacionais.
Antes, porém, cabe aqui a observação de que a história enquanto ciência, em princípio, pretende ser um discurso neutro, rigoroso. Pelo menos a história tradicional, que chamamos de historiografia, é assim. No exame das relações internacionais ela se recusa a pagar tributo a esta ou àquela visão filosófica ou a uma ou outra perspectiva jurídica. Este propósito de cientificidade, contudo, não evita as controvérsias, e mesmo os conflitos entre aqueles que, de um lado, se dedicam à história diplomática e aqueles que, de outro, defendem uma história das relações internacionais, numa clara pretensão de poder trabalhar numa abordagem mais abrangente do problema.
A confusão entre diplomacia, política externa e relações internacio-nais é antiga e se mantém até o presente. Os especialistas costumam dizer que a polêmica durou até a I Guerra Mundial, do que discor-damos. Deste modo a história diplomática poderia, de fato, dar conta de temas da política externa e das relações internacionais como se fossem seus.
85SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
A partir dos anos 30, e mais ainda depois de 1945, a Comunidade Internacional ganhou um número significativo de novos integrantes e isto aconteceu de forma muito rápida. Em consequência, as rela-ções internacionais se tornaram mais complexas. Essa complexidade significou novos problemas para aqueles que insistiram em continuar a analisá-la somente a partir de uma perspectiva diplomática. Alguns historiadores, e entre eles principalmente os franceses, como Febvre12 (1978-1956), Bloch13 (1886-1944) e Braudel14 (1902-1985), levanta-ram a necessidade de a abordagem histórica ganhar mais amplidão.
Assumindo a tendência então em moda, Renouvin15 (1893-1974) e Duroselle16 (1917-1994) deixaram contribuições expressivas para a história das relações internacionais, nas quais são examinados aspec-tos geográficos, demográficos, econômicos, financeiros, ideológicos e sociais, entre outros.
Com o que foi dito até aqui, podemos concluir que o direito natural, o direito positivo e a historiografia são para as relações internacionais abor-dagens convergentes e, em boa medida, complementares, mas mesmo assim limitadas, não conseguindo produzir análises satisfatórias aos estu-dos das relações entre os atores da Comunidade Internacional. A partir desta perspectiva passamos ao exame das teorias ditas não clássicas.
3. TEoRiAS NÃo ClÁSSiCAS
A seguir abordaremos algumas concepções no estudo das relações internacionais desenvolvidas ao longo do século XX. Vamos examinar, em primeiro lugar, a posição de alguns teóricos que contribuíram para o que ficou conhecido como escola sociológica de inspiração anglo-saxônica. Ela está formada, principalmente, por representantes norte-
12 Lucien Febvre, historiador francês, coautor da chamada École des Annales.13 Marc Léopold Benjamim Bloch, historiador francês, coautor com Febvre da École des Annales.14 Fernand Braudel, historiador francês, parceiro de Febvre e Bloch na École des Annales.15 Pierre Renouvin, historiador francês, responsável por uma das mais impor-tantes obras da história das relações internacionais de todos os tempos.16 Jean-Baptiste Duroselle, historiador francês, escreveu uma extensa obra de-dicada, principalmente, à história política contemporânea.
86 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
americanos, embora façam parte dela autores importantes como Hans Morgenthau e Henry Kissinger.
Duas características principais marcam esta escola. De um lado faltam aos seus representantes a unidade e a coerência das perspectivas clássicas. Com isto coexistem ali conclusões divergentes e contraditórias sobre um mesmo fenômeno, ainda que examinado mais ou menos segundo uma mesma ótica e com um mesmo método. A segunda observação é de que essas teorias ganharam relevância na medida em que os Estados Unidos foram se projetando como uma potência mundial a partir de 1945.
A teoria de matriz norte-americana das relações internacionais encontra-se fortemente influenciada pelas correntes cientificistas17, desenvolvidas na Europa do século XIX, para as quais foram expres-sivas as contribuições de Saint-Simon18 (1760-1855) e de Auguste Comte19 (1798-1857). Nela são facilmente identificáveis também as influências do organicismo20 desenvolvido por Spencer21 (1820-1903), que por sua vez se subdivide em duas tendências bastante marcadas, de um lado os behavioristas22, ou comportamentalistas, e de outro os funcionalistas23.
17 O cientificismo, ou a valorização das verdades resultantes do chamado mé-todo científico, teve forte influência da filosofia positivista, que alguns críticos costumam classificar como “filosofia científica”.18 Saint-Simon, filósofo francês, economista, um dos fundadores do socialis-mo utópico.19 Auguste Comte, filósofo francês, fundador do positivismo, um dos pensado-res mais influentes da filosofia moderna.20 A concepção de organicismo na obra de Spencer é resultado de seus es-tudos de biologia, que o levaram a conceber a sociedade como um “corpo social”, cujas relações se dariam na forma própria a um organismo biológico.21 Herbert Spencer, filósofo inglês, um dos principais representantes do posi-tivismo na língua inglesa.22 Behaviorismo, do inglês behavior, é o nome dado à escola de psicologia que toma por objeto o estudo do comportamento.23 Funcionalismo é a escola de pensamento sociológico geralmente associada à obra de Émile Durkheim, que se caracteriza por definir seu objeto como o “fato social”, que tem como base o comportamento de cada indivíduo na sua funcionalidade. Ainda em outras palavras, o funcionalismo “procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções realizadas por indivíduos ou suas consequências para ela como um todo.
87SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Os behavioristas, por coerência metodológica, devem partir sempre dos indivíduos, enquanto tais, para, por meio dos diferentes estágios de organização e complexidade da sociedade, chegar até os Estados e deles passar à Comunidade Internacional. Os funcionalistas têm na ideia de sistema, desenvolvida por Talcott Parsons24 (1902-1979), o seu conceito-chave. A primeira dificuldade entre os funcionalistas está, desde logo, na noção do sistema. Duas definições podem ser adotadas, geralmente não para resolver o problema, mas tão-somente para situá-lo. A primeira diz, de forma simples, que sistema é uma “reunião de elementos interdependentes”. Esta mesma acepção é ex-pressa ainda de modo mais elaborado por cientistas políticos funcio-nalistas no “II Informe do Clube de Roma”. Ali Mesarovic25 (1928-) e Pestel26 argumentaram que “o enfoque sistêmico consiste em conside-rar conjuntamente a totalidade dos aspectos de uma situação ao invés de isolá-la em um só dado ou em uma sequência de dados”.
É importante observarmos que, ao explicitar a ideia de sistema, aqueles autores acabam por nos revelar que entendem as relações entre elementos integrantes de um sistema como formas simples de articulação. Nesta medida empobrecem aquelas relações, se compa-radas com outras perspectivas de análise. De qualquer modo os fun-cionalistas nos dão uma segunda definição de sistema, que está mais voltada para um sistema social. Neste caso um sistema é um conjunto de relações entre um determinado número de funções exercidas por um número igualmente determinado de atores.
Retornamos aos behavioristas para observar como eles procedem metodicamente. Em primeiro lugar realizam a coleta e a classificação de dados empíricos referentes ao fenômeno em questão. Depois dão um tratamento quantitativo àqueles dados, o que é sinônimo de uma análise estatística. Por fim, constroem modelos que podem ser teóricos ou empíricos. A teoria dos jogos pode ser considerada uma aplicação particular do método behaviorista. Da mesma forma o chamado mo-
24 Talcott Parsons é um dos mais importantes sociólogos da sociologia norte-americana.25 Mihajlo D. Mesarovic, cientista sérvio, engenheiro, deu expressivas contri-buições no campo da matemática aplicada às questões do desenvolvimento global, especialmente relacionadas às teses do “Clube de Roma”.26 Eduard Pestel, com Mesarovic, também integrante do “Clube de Roma”.
88 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
delo analítico usado pelo conhecido cientista político Karl Deutsch27 (1912-1992) é uma variante de behaviorista.
As divergências entre os behavioristas são significativas e a impos-sibilidade de conciliação tem permitido aos críticos apontar tanto a forma arbitrária como costumam ser escolhidos os atores de um sistema quanto à rigidez metodológica de seus procedimentos analí-ticos. Em consequência, os behavioristas vêm perdendo espaço para os funcionalistas quando se trata do debate teórico e da influência sobre os formuladores de política externa principalmente nos países de língua inglesa.
Para demonstrar o poder heurístico de sua teoria, os funcionalis-tas costumam dividir as relações internacionais em sucessivos pe-ríodos, ou seja, o que chamam de sistema de equilíbrio, que com-preende a época dita clássica das relações internacionais – séculos XVIII e XIX; depois viria o sistema bipolar flexível, correspondendo ao período que se inaugura ao fim da II Guerra Mundial e vai até a década de 80; o sistema bipolar rígido, que diz respeito a mo-mentos determinados dentro do sistema anterior; por fim o sistema internacional universal, isto é, o último e atual, caracterizado pela dominação de um único ator internacional sobre os demais. Para os críticos do funcionalismo a sua grande limitação está no fato de que ele é mais descritivo do que analítico. Sua vitalidade viria menos de seus conceitos e mais das inúmeras contribuições que se complementam, e até se justapõem, quando da abordagem de um mesmo fenômeno.
Antes de passarmos a nossa pergunta central, se é possível uma teoria das relações internacionais desde um ponto de vista epistemológico, queremos completar o exame de algumas das contribuições teóricas mais relevantes com que se confrontam os analistas contemporâneos, considerando mais uma delas. Refiro-me à teoria implícita ao pensa-mento de Karl Marx28 (1818-1883). É necessário dizer que evitamos falar de marxismo, para não ter que considerar aqui obras como as de
27 Karl Deutsch, nascido na República Checa, naturalizado norte-america-no, foi um dos mais importantes cientistas políticos dos Estados Unidos no século XX.28 Karl Marx, filósofo alemão, economista, fundador do socialismo científico, foi autor de extensa obra crítica do modo de produção capitalista.
89SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Lenin29 (1870-1824), Mao Tsé-tung30 (1893-1976) e Trótski31 (1879-1940), pois, ainda que importantes, nos levariam muito longe neste breve ensaio.
O exame será conciso e por isto iniciamos observando que a teoria de Marx se distingue completamente de todas as demais. Ela parte de fundamentos próprios, que estão construídos na forma de uma filo-sofia da história de clara inspiração metodológica no pensamento de Hegel, ainda que com o propósito de ser o avesso do idealismo hege-liano. O ponto de partida de Marx, como é bastante conhecido, são as relações de produção e mais particularmente as relações de produção capitalistas. Ele entende que nessas relações se confrontam interesses antagônicos. De um lado estão os proprietários privados do capital – o capitalista – e de outro aqueles que detêm a força de trabalho – o trabalhador. O Estado, suas instituições e suas políticas, ainda na con-cepção de Marx, são elementos de uma superestrutura de dominação político-ideológica, que atua na defesa dos interesses do capital.
Deixando de referir aqui outros aspectos importantes do pensamento marxiano, mas sem desconsiderá-los e passando as suas consequências no campo das relações internacionais, nos detemos, em primeiro lugar, no fato de que para Marx o Estado não é mais uma entidade soberana, regida por valores universais, sejam eles econômicos, sociais, políticos, ou se se quiser, éticos. Assim, as relações internacionais não se dão no interesse de Estados, como representantes de toda a Nação, senão que no interesse da classe de proprietários do capital – o capitalista —, a burguesia nacional que se apropria do Estado. Os entendimentos, as alianças, ou as rivalidades, os conflitos nas relações internacionais não expressam, para Marx, os verdadeiros interesses das sociedades nacionais como um todo. Isto pelo simples fato de que não existe uma sociedade nacional no sentido próprio do termo. Qualquer sociedade
29 Lenin, pensador marxista, revolucionário russo, líder da revolução que le-vou ao poder em Moscou o partido Comunista em 1917, dando origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.30 Mao Tsé-tung, pensador marxista, revolucionário chinês, líder da revolução popular que levou ao poder o Partido Comunista chinês em 1949, criando a República popular da China.31 Leon Trótski, pensador marxista, revolucionário bolchevique, responsável pela criação do Exército Vermelho.
90 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
nacional, sob o regime capitalista, está dividida entre os interesses an-tagônicos do capital, de um lado, e do trabalho, de outro.
No Manifesto Comunista, em 1848, e ainda de forma mais elaborada no artigo sobre a Guerra Civil na França, de 1871, Marx pretende de-monstrar que os conflitos internacionais são sempre disputas de poder com vistas à exploração, à obtenção de vantagens econômicas, mes-mo quando suas alegações tenham sido de ordem moral ou religiosa. Em um artigo escrito para o New York Daily Tribune, em 25 de junho de 1853, ele examina as relações entre a Inglaterra e a Índia, concluin-do que o comportamento de dominação colonialista da burguesia in-glesa se expressa concretamente na brutalidade com que ela trata a sociedade indiana. Mas, diz Marx, nem todos os representantes da aristocracia da Índia eram vistos como inimigos pelos ingleses. E para a surpresa dos que se deixam iludir pelas aparências, a recíproca tam-bém é verdadeira, nem todos os aristocratas indianos viam os ingleses como seus inimigos. Alguns, em troca de vantagens pessoais, admitiam colaborar com os colonizadores e, mais do que isto, se identificavam com seus atos e passavam a tratar com a mesma agressividade os seus concidadãos. Com essa observação, Marx pretende chamar a atenção para uma maior identidade de interesses entre a burguesia inglesa e representantes da burguesia indiana, do que destes últimos com o que poderiam ser os interesses gerais da Índia e todo o seu povo.
Para Marx as relações internacionais, enquanto expressão dos interes-ses das burguesias nacionais, não poderiam deixar de ser palco perma-nente de conflitos. A lógica da exploração capitalista imporia a necessi-dade de dominação de uns sobre os outros. A paz jamais seria resultado de uma vontade sincera ou algo almejado por ter um valor em si mesma. A paz seria somente o resultado de conveniências entre as partes ou, o que pode ser pior, uma farsa a encobrir relações de dominação.
A harmonia nas relações internacionais, a paz verdadeira, para Marx não seria jamais o resultado de tratados firmados entre capitalistas. So-mente quando os representantes da força de trabalho se unissem num pacto internacional é que a paz seria confiável e duradoura. Marx via nos operários aqueles homens que, não tendo nada a perder, não estariam movidos pelas mesmas necessidades de exploração do outro que o capitalista e assim não teriam conflitos de interesse, pelo con-trário, eles representariam a vontade coletiva de progresso de toda a
91SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
sociedade em âmbito planetário.Estas palavras hoje soam abstratas, desconectadas da realidade. Para
alguns críticos são expressão de um ideal, de uma utopia distante, ou ainda simplesmente expressões poéticas. Outros veem em Marx o equívoco das teorias ilusórias e das falsas ideias.
Marx, ao mesmo tempo em que, com sua teoria, abre novo campo de reflexão sobre as relações de subordinação da política externa à política interna, por outro lado, por ter subestimado tão significativa-mente as relações políticas privilegiando as econômicas em suas aná-lises, acaba por nos advertir sobre a importância dos fatores políticos nas relações internacionais.
Marx não chegou a produzir uma avaliação suficiente da tecnologia como elemento presente nas relações internacionais. Sua teoria tratou da tecnologia somente na condição subproduto da economia. Assim, ele não teve como considerar a hipótese de que o desenvolvimento técnico pudesse dar a uma máquina de guerra autonomia suficiente para fazer dela um poder em si mesma, com interesses próprios, capaz de produzir tanto aliança como conflitos, não só no âmbito interno – como no caso do complexo industrial-militar norte-americano – mas também externo, no campo das relações internacionais.
Uma última observação para encerrar o exame do pensamento de Marx. Seus críticos, sejam eles simpáticos às suas teses ou não, geralmente coincidem em afirmar que sua obra contribuiu significa-tivamente para desfazer a ilusão de que seria possível assumir uma posição de neutralidade em relações internacionais. Em nenhuma situação, seja ela real, empírica, ou teórica, abstrata, iremos encon-trar valores que nos permitam construir uma verdadeira ética das relações internacionais.
4. UMA TEoRiA PoSSíVEl
Após estas considerações voltamos à pergunta sobre a possibilidade de elaboração de uma teoria das relações internacionais propriamente ditas. Para examinar esta questão vamos buscar apoio em Raymond Aron, uma vez que ele se propôs o mesmo problema e com isto nos legou algumas reflexões bastante interessantes.
A resposta de Aron à questão sobre uma teoria das relações inter-
92 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
nacionais é de que, se adotarmos como critério de teoria científica aqueles parâmetros que definem as ciências matematizáveis, ou que suportam demonstrações teoremáticas, então torna-se impossível fa-larmos de relações internacionais como ciência. Para sustentar sua tese ele nos oferece vários argumentos. Examinarei brevemente só aqueles que entendemos como de maior importância.
Aron observa que em relações internacionais há que se levar em conta variáveis internas e variáveis externas. Resulta que, na prática, é impossível, por exemplo, no caso do Estado, definir com rigor o que é política interna e o que é política externa. Outro argumento é o de que não há nenhuma possibilidade de serem estabelecidas relações quantitativas de causa e efeito, em se tratando de fenômenos de rela-ções internacionais. Sua conclusão é de que o principal obstáculo para a formulação de uma teoria das relações internacionais não decorre tanto do grau de complexidade do objeto, mas talvez muito mais da natureza específica das relações em questão. Neste sentido Aron é acompanhado em seus argumentos por vários autores norte-ameri-canos, os quais chegam à conclusão de que a melhor hipótese seria propor uma teoria aproximativa. Oran Young32, destacado professor da Universidade da Califórnia, é um deles. Ele considera possível uma teoria geral das relações internacionais, mas observa que ela ainda não existe em sua forma acabada. Assim, não nos restaria outra alternativa do que se continuar trabalhando na construção de novos questiona-mentos e novas opções metodológicas, talvez tomando como exem-plo a economia e a demografia.
Voltando a Raymond Aron, sua hipótese mais elaborada de uma teoria das relações internacionais se sintetiza no que ele chama de abordagem sócio-histórica. A perspectiva histórica não deve ser só descritiva, adverte Aron, e a sociológica, por sua vez, deve estar aberta às múltiplas faces do fenômeno em sua dimensão social.
Diante de dificuldades como estas que acabamos de apresentar para a elaboração de uma teoria das relações internacionais, resta-nos uma hipótese, no entanto, suficientemente razoável. Ela é acompa-nhada por muitos teóricos da ciência política, entre eles pelo professor
32 Oran Young é professor, atualmente, da Bren School of Environmental Science & Management, na Universidade da Califórnia, Santa Barbara.
93SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Young, ao qual já fizemos referência. Trata-se, no caso, da possibilida-de de construção de uma teoria a partir da identificação e delimitação do objeto das relações internacionais.
4.1 o PRoblEMA Do obJETo
A definição do objeto, neste caso, não é só uma questão teórica, ela é também uma dificuldade prática. A natureza multidisciplinar e interdisciplinar, de um lado, e a complexidade das relações, de outro, são, em primeira instância, os obstáculos para a pesquisa e mesmo para ação mais eficiente no campo das relações internacionais. No esforço para se estabelecer seu objeto próprio e seu campo de ação somos tentados a buscar uma separação entre as relações internas e as relações externas, apoiando-nos, para tanto, na diferença dos atores presentes em cada caso. Assim, o critério seria: sempre que tivermos os Estados como agentes, estamos diante de relações internacionais; as relações internas, por sua vez, estariam marcadas pela presença de indivíduos ou de sujeitos coletivos não estatais, tais como empre-sas, sindicatos, partidos, organizações não governamentais e outras. Ocorre que, juntamente com os Estados também assumem um papel importante nas relações internacionais organizações tais como a ONU, a Otan33, a UE34, o Mercosul35, a OMC, o FMI36, a Opep37 etc. Mas não são somente estas as que têm atuado de forma significativa no campo internacional, senão que ainda há outras organizações como as federações internacionais dos sindicatos, dos partidos políticos e as representativas de profissionais liberais igualmente com forte atuação na Comunidade Internacional, para lembrar somente algumas.
O fato de que as relações sejam de conteúdo político, econômico, social, cultural ou qualquer outro, também não serve como elemen-to de referência para distinguirmos as que são externas das internas.
33 Otan: Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma organização inter-nacional de cooperação militar e defesa mútua, criada em 1949 sob a lideran-ça dos Estados Unidos. A Otan tem sua sede em Bruxelas.34 UE: União Europeia35 Mercosul: Mercado Comum do Sul36 FMI: Fundo Monetário Internacional37 Opep: Organização dos Países Exportadores de Petróleo
94 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Diante de tal complexidade, parece não restar nenhum outro critério para definir o objeto teórico e o campo de ação das relações inter-nacionais que o conceito de soberania. E soberania, como sabemos, refere-se ao poder de mando, à autonomia de fazer a guerra e tam-bém de assinar a paz. Em outros termos, será de natureza externa toda relação que, levando a um impasse, possa significar o abandono de qualquer ordenamento jurídico, restando como última solução o recurso à força, isto é, à guerra.
Se o conceito de soberania nos permite dar um passo importante na determinação do objeto das relações internacionais, mesmo assim es-tamos ainda muito distantes de uma solução suficiente do problema. Se as relações internas caracterizam-se por estarem sob permanente ordenamento jurídico, rompendo com ele somente nos casos extre-mos, de guerra civil, não podemos pretender que a diferença com as relações internacionais seja tão só de natureza processual. Há também uma dimensão de conteúdo a ser levada em conta. Por sua natureza e por seu horizonte formal, as relações internas se prestam a um grau de previsibilidade que dificilmente ocorre nas relações internacionais. Nestas últimas, os princípios jurídicos, políticos, econômicos, morais e outros encontram-se permanentemente sob a tensão de um orde-namento que pode ser suspenso em nome da soberania nacional ou de uma “razão de Estado”. Com esta definição de relações interna-cionais não se está negando a existência de um direito internacional e menos ainda a vigência de um efeito vinculante para as partes, de-corrente dos atos praticados sob sua égide. A história, no entanto, é testemunha de que, embora declarado válido, os princípios do Direito Internacional, com frequência, se mostram ineficazes para resolver as controvérsias resultantes de interesses divergentes entre os atores das relações internacionais. Os dados históricos ainda são mais significati-vos ao revelar que a ruptura dos compromissos com a ordem jurídica internacional é muito mais frequente do lado dos países com maior desenvolvimento econômico, social e político – em uma palavra os mais desenvolvidos – do que do lado dos miseráveis. A situação torna-se ainda mais grave, em termos de direito, na medida em que aqueles mesmos países mais desenvolvidos, valendo-se de sua superioridade militar, não raras vezes recorrem a ameaças para impor aos tribunais internacionais decisões que lhe sejam favoráveis, ou então para im-
95SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
pedir que determinações ditadas por uma Corte ou por organismos internacionais, como a ONU, venham a ser cumpridas.
A partir do século XIX, e depois da II Guerra Mundial ainda com maior intensidade, surgiram, ao lado dos Estados, as grandes empresas como atores de relações internacionais. A presença das empresas na Comunidade Internacional significou um elemento altamente com-plicador, em particular do ponto de vista jurídico, ou seja, do Direito Internacional.
As empresas, por definição, perseguem interesses particulares e não coletivos, seus objetivos se reduzem, em última instância, às relações de ganhos econômicos, ou seja, de lucro. Quando elas vão buscar seus fins fora de seus países de origem tornam-se, em consequência, agentes diretos de relações internacionais. Ocorre que os caminhos que levam mais rapidamente ao lucro nem sempre coincidem com os princípios do Direito Internacional ou com os interesses dos países anfitriões dos capitais externos que vão buscar realização em seu terri-tório. Diante de conflitos de interesses evidenciam-se dois elementos importantes: de um lado o fato de que, salvo raras exceções, as em-presas não contam com poder militar próprio; por outro, elas detêm considerável poder econômico, muitas vezes expresso por um patri-mônio e/ou balanço anual de valor superior ao PNB do país anfitrião. Isto se traduz, em última instância, em um poder político enorme e até mesmo insuportável. O resultado de relações tão assimétricas é o descaso pelas regras do Direito Internacional. Comportamentos assim são referendados pela simples omissão do país de origem da empresa infratora ou então estimulados por ações diplomáticas e mesmo mili-tares, que podem ir muito além da simples intimidação política.
Dito de outra forma, as empresas de porte internacional provocam muitas vezes um efeito de envolvimento dos Estados que transcen-dem as relações diplomáticas tradicionais, como relações de Estado a Estado, que são as relações supostamente no interesse coletivo. Sempre que isto acontece, não é para ratificar as regras do Direito Internacional, mas para contorná-las ou então simplesmente para deixá-las de lado em favor de relações de força que irão beneficiar os interesses privados.
96 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
5. iNTEGRAÇÃo REGioNAl E RElAÇõES iNTERNACioNAiS
Para concluir esta primeira parte deste ensaio de introdução ao tema das relações internacionais, vamos tratar brevemente da questão da integração regional na Europa Ocidental. Com isto, pretendemos exa-minar as relações internacionais no contexto em que Estados nacionais se associam, criando uma instituição supranacional para a qual transfe-rem parte de sua soberania, não sob coação, mas como consequência de decisões livres e soberanas, legítimas e legais. Tomar o exemplo da União Europeia é uma opção ditada pela maturidade da experiência dos europeus em um projeto de integração regional, que, se não deve ser tomado da forma acrítica para o caso do Mercosul, nem por isto deve ser esquecido nos seus acertos e erros.
Não entraremos na discussão dos aspectos jurídicos, presentes nos instrumentos de direito que sustentam a integração dos países da Eu-ropa Ocidental para formar a União Europeia. Eles são demasiados extensos e complexos para serem examinados neste momento. Ape-nas para esclarecer as dificuldades a que queremos nos referir, bastaria lembrar que o “Tratado sobre a União”, assinado em Maastricht em 7 de fevereiro de 1992, não revogou nenhum dos “Tratados” que deram origem às “Comunidades”, na década de 50, e nem mesmo o ato que as unificou na forma de “Comunidade Europeia” em 1967.
Continuando com a União Europeia, como exemplo, há aqui dois aspectos a serem considerados: primeiro o da relação dos países mem-bros da União com terceiros países, e, segundo, o dos países membros entre si. Na relação com terceiros países o que pode ser observado é uma relação ambígua, que tende a permanecer assim ainda por muito tempo, apesar de que o Tratado de Maastricht estabeleça claramente o propósito de a União vir a exercer uma política de defesa e seguran-ça comuns em nome de todos os Estados membros. Esta decisão está agora mais explícita e consolidada nos termos do Tratado de Lisboa38. Isto significa dizer, em outros termos, que uma parte significativa das relações internacionais será transferida do âmbito das políticas nacio-nais para a esfera das políticas comunitárias, supranacionais.
38 O Tratado de Lisboa foi assinado a 13 de dezembro de 2007.
97SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Assim, deverão conviver duas instâncias de formulação e execução de política externa nos países da União Europeia: uma interna, nacio-nal, e outra externa, supranacional. A articulação e a harmonia entre a instância nacional e a supranacional se constituirão em uma prática, para a qual ainda não há regras escritas, a ser construída como parte das relações dos países membros entre si. Essa coexistência de políti-cas será um desafio não só para a União Europeia, senão que exigirá dos países não membros, que mantêm relações com ela e com seus países membros, uma nova postura.
No momento, atravessamos um período de conformação dessas re-lações. Não houve tempo até aqui para que se firmassem doutrinas políticas, e mesmo jurídicas, sobre esta nova realidade das relações in-ternacionais. Neste sentido elas só contribuem para reforçar a obser-vação inicial a respeito da complexidade desta área. O problema não está posto só para a investigação científica, senão que também para a formulação de estratégias e para a implementação de ações concretas.
Concluída esta primeira parte, que acreditamos poder contribuir para a elaboração de um programa de ensino e pesquisa na área das relações internacionais, passamos, a seguir, ao exame do problema referido à realidade dos cursos acadêmicos oferecidos no Brasil. Não examinaremos nenhum caso em particular, senão que nos moveremos no nível de considerações que dizem respeito à área no seu todo.
6. AS RElAÇõES iNTERNACioNAiS CoMo DiSCiPliNA ACADÊMiCA
As muitas experiências acadêmicas, em particular aquelas que estão organizadas com base em uma estrutura departamental, encontram dificuldades para trabalhar de forma interdisciplinar. O problema, no nosso entender, é que o objeto das relações internacionais – as rela-ções de poder entre os Estados nacionais – não pode ser apreendido da melhor forma, se examinado somente por perspectivas separadas, tais como da história, da economia, da sociedade, da área jurídica ou outras. Por isto mesmo, o ponto de vista privilegiado de análise das relações internacionais fica sendo o da política, e assim passamos a chamar aqui de política o somatório de todas aquelas diferentes perspectivas mais uma, esta última de caráter filosófico, uma vez que ela está constituída, em primeira instância, por uma visão de mundo.
98 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Por seu lado, a filosofia política que sustenta toda e qualquer teoria das relações internacionais é ela própria o resultado de várias dis-ciplinas filosóficas, dentre as quais destacaríamos: a epistemologia, a antropologia filosófica, a filosofia da história, a ética, para ficar só com as principais.
Observamos ainda que, ao destacar o ponto de vista da política para tratar das relações internacionais, não estamos dispensando as análises feitas pelas outras disciplinas. Pelo contrário, reconhecemos nelas o seu poder heurístico. Só advertimos que os resultados produzidos por seus respectivos métodos de investigação devem ser reestruturados tendo em vista os objetivos de construção de um conhecimento que diz respeito a um fenômeno complexo, cuja característica principal é a convergência de uma diversidade de determinações na constituição das relações de poder, na acepção explicitada no início deste ensaio.
Na concepção acadêmica de um programa de ensino de relações internacionais, a melhor hipótese, ao nosso entender, é a de que as disciplinas, complementares da análise política daquelas relações, já tenham com ponto de partida uma postura de convergência, isto é, interdisciplinar. Um exemplo para esclarecer melhor o que pretendo dizer: podemos fazer uma análise do ponto de vista estritamente eco-nômico das relações entre países e ela, sem dúvida, poderá produzir resultados interessantes, que mereçam e devam ser considerados por um analista de relações internacionais. No entanto, se aquela análise das relações econômicas partir de uma outra perspectiva, a da eco-nomia política internacional – isto significa se manter aberta às de-terminações provenientes de outros campos: social, jurídico, cultural e outros —, ela chegará necessariamente a resultados distintos, que, no caso, serão muito mais relevantes, porque estarão dando conta da natureza de seu objeto de forma muito mais ampla e abrangente.
Devemos advertir, no entanto, que esta não é a compreensão de teoria das relações internacionais encontrada com mais frequência, até porque a disciplina “relações internacionais” tem uma forte marca anglo-saxônica, ou para ser mais correto, norte-americana, e a relação entre a política e a filosofia é, de modo geral e dominante, algo estra-nho para a cultura dos Estados Unidos. Pragmatismo e funcionalismo, as filosofias mais difundidas nas sociedades de língua inglesa, trataram de dar um caráter científico à filosofia, o que acaba por mascarar e
99SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
mesmo por inibir a sua dimensão como visão de mundo, tal como encontramos na tradição do continente europeu, a qual, neste senti-do, remonta ao pensamento clássico grego. Assim, a política na língua inglesa é sempre uma ciência e não uma filosofia. Ela é geralmente politics e só raramente policy.
Voltando à pergunta inicial, agora de forma mais explícita: relações internacionais, multidisciplinar ou interdisciplinar? Respondemos que só podemos entendê-la como sendo uma tarefa interdisciplinar. Isto tem sérias implicações. A primeira delas é de como acomodar o ensi-no e a pesquisa de relações internacionais na estrutura acadêmica de nossas universidades, que é disciplinar, apoiada em departamentos e ainda com graves entraves de funcionalidade.
O segundo problema no ensino de relações internacionais, tal como vem sendo prática em nossas universidades, é de conteúdo, ou seja, o de como fazer convergir e, por fim, integrar diferentes perspecti-vas, tradicionalmente estanques, para constituírem abordagens inter-disciplinares daquela área. Como superar limites epistemológicos e metodológicos para podermos trabalhar de forma interdisciplinar. O exemplo que foi dado, o da economia política internacional, está lon-ge de ser plenamente válido. Há muitas compreensões distintas do que seja economia política, o que faz com que algumas delas estejam tão distantes de uma perspectiva interdisciplinar quanto as teorias de microeconomia. Isto tudo nos leva a uma conclusão que, embora des-confortável, não nos abate: a tarefa da construção da área de relações internacionais como uma atividade acadêmica é complexa, difícil e exige uma verdadeira mudança de cultura, por assim dizer, uma vez que deveremos romper com a visão cartesiana do objeto de investiga-ção para, em seu lugar, construir uma nova percepção.
A pergunta que se impõe imediatamente é: que nova percepção seria esta? Poderíamos ser tentados a responder que esta nova percepção seria holística. Porém, se o recurso ao conceito de holismo39 pode nos facilitar a tarefa da resposta, ele nos traz um ônus. Primeiro porque a nossa tradição cartesiana, em princípio, rejeita a hipótese de uma teoria do todo como teoria científica e, segundo, como consequência disto
39 O holismo tem por princípio que um sistema, seja ele qual for, não esgota suas propriedades na soma de suas partes.
100 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
mesmo, encontramos dificuldades quando pretendemos fundamentar uma teoria abrangente, de caráter interdisciplinar, do ponto de vista epistemológico e mesmo metodológico.
A primeira consequência que devemos concluir então é que a tarefa a que nos propomos, ou seja, a de construir a área de relações inter-nacionais como campo de reflexão interdisciplinar na acepção que damos a interdisciplinaridade é um fazer pioneiro, o desbravamento de um território ainda não conquistado. Será esta observação verda-deira para a nossa tradição acadêmica?
Nossa resposta é sim e não. Sim porque, e sobre isto voltaremos a falar mais adiante, o trabalho acadêmico na área de relações interna-cionais no Brasil é muito incipiente, se considerarmos a sua importân-cia e necessidade para o nosso desenvolvimento enquanto nação. De-vemos acrescentar que, mesmo no que vem sendo feito, são poucos os exemplos de uma abordagem interdisciplinar. Geralmente o que encontramos são os resultados da justaposição de disciplinas.
Nossa resposta é não, na medida em que, fora da tradição anglo-sa-xônica, podemos encontrar elaborações bastante consistentes no sen-tido do que vimos nos referindo como interdisciplinar. É verdade que lhes falta uma sistematização como gostaríamos de encontrar. Muitas contribuições são fragmentadas e aquelas que elaboram teoricamente não chegam a se constituir numa teoria completa, na dimensão como nós estamos acostumados a encontrar no campo das teorias discipli-nares das ciências humanas.
Alguns exemplos, na intenção de deixar mais claro em que direção estamos nos movendo, quando fazemos a crítica das teorias das re-lações internacionais em geral, considerando especialmente as mais presentes nos nossos meios acadêmicos, e também, em particular, ou seja, a crítica de nossa produção intelectual na área. Esta distinção é importante uma vez que a produção da segunda, normalmente, de-corre das condições da primeira.
Começando por um autor que acreditamos ser bastante conhecido dos que trabalham com o ensino e a pesquisa de relações internacio-nais, lembramos aqui, em especial, a contribuição de Marcel Merle40
40 Marcel Merle tem uma importante contribuição no campo da sociologia das relações internacionais.
101SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
(1929-), em seu intento de fazer uma abordagem sociológica das re-lações internacionais. A nosso ver Merle, professor da Universidade de Paris, é um exemplo interessante de um esforço de construção do que entendemos ser uma análise interdisciplinar. Por sua impor-tante contribuição, um segundo autor que também pode ser citado é Giovanni Arrighi41 (1937-). Este, italiano, que já trabalha há algum tempo nos Estados Unidos como professor na Universidade Estadual de Nova York, mas que não aderiu à teoria política norte-americana, tem nos oferecido reflexões no campo da economia política que se destacam exatamente por sua riqueza e abrangência na abordagem de seus objetos, sem perder a consistência e o rigor da análise. Ou-tro exemplo é Victor Flores Olea42 (1932-), um dos mais destacados acadêmicos do México, pesquisador do Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Unam. A con-tribuição de Olea vai um pouco mais longe para os nossos interesses aqui, uma vez que ele se ocupa de construir, ainda que não de for-ma exaustiva, os fundamentos teóricos, isto é, onto-epistemológicos, de seu trabalho interdisciplinar. Arriscaríamos afirmar que a obra de Olea já nos permite falar de interdisciplinaridade nas relações inter-nacionais com suficiente consistência para sustentarmos um diálogo de alto nível com a tradição disciplinar das ciências sociais. Como quarto e último exemplo, queremos citar o nome de Elmar Altvater43 (1938-), professor aposentado de economia política internacional da Universidade Livre de Berlim. Sua formação básica é a de um economista político, mas sua obra é muito mais ampla, exatamente porque ele assume o objeto de suas análises numa perspectiva muito mais aberta. Altvater também não elabora uma teoria das relações internacionais de forma sistemática, mas seus textos nos oferecem suficientes elementos para reconstruirmos suas bases teóricas e po-dermos identificar os elementos interdisciplinares que constituem as suas reflexões.
41 Giovanni Arrighi, economista e sociólogo, tem uma importante contribui-ção para o estudo das relações capitalistas globais.42 Victor Flores Olea, mexicano, cientista político, ensaísta, diplomata, fotógra-fo, autor de relevantes trabalhos para a análise das relações internacionais.43 Elmar Altvater, cientista político e economista, tem importantes reflexões sobre as relações internacionais no sistema capitalista.
102 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Em outras palavras, o trabalho de construção da área de relações in-ternacionais como um campo interdisciplinar não está terminado, mas já tem um bom começo. Integrar-se a ele talvez seja o grande desafio e é isto mesmo que pode torná-lo mais interessante.
Passando agora a uma nova questão, nossa abordagem continuará sendo apenas uma aproximação do problema, pois a intenção deste ensaio é mais de levantar perguntas do que de resolver as muitas di-ficuldades que observamos na área de relações internacionais, ainda em formação em nossas universidades.
Por que trabalhar sobre relações internacionais? Vamos nos deter um pouco nesta pergunta, tendo em consideração o fato concreto de que nos encontramos no Brasil de hoje, com todas as suas implicações. Para o exame do que significa fazer análise de relações internacionais em nosso país no momento atual seria indispensável uma longa análi-se das condições conjunturais e estruturais em que nos encontramos. Como isto foge ao escopo deste trabalho, vamos avançar sem a preo-cupação de qualquer aproximação mais sistemática do problema.
É um fato que dispensa apresentação isto que vem sendo chamado de globalização. Sobre globalização já se escreveu tanto nos últimos tempos e já se disse coisas tão díspares, que preferimos nosso entendi-mento resumir em poucas palavras, direcionando sempre para o que nos interessa aqui. Globalização é nome da ordem internacional esta-belecida após a dissolução da União Soviética, cujos parâmetros bá-sicos foram assentados no famoso consenso de Washington. Ou seja, globalização significa, fundamentalmente, a hegemonia econômica, política e militar dos Estados Unidos e o primado dos interesses do capital nas relações interestatais e intergovernamentais. Desta forma estamos dizendo que para nós as relações internacionais não se esgo-tam nas relações interestatais e intergovernamentais.
O Brasil é, por destino histórico, uma das grandes nações do mundo. Quando falamos de destino, queremos dizer que ser uma grande na-ção não foi uma escolha. Realizar-se como grande nação ou manter-se como grande nação, isto sim pode ser uma escolha. Até hoje não nos parece claro que a sociedade brasileira tenha consciência disto. Pelo contrário, entendemos que só em alguns momentos de nossa história e nas palavras de poucos homens públicos e de poucos intelectuais, não só brasileiros, é que nos aproximamos de uma reflexão sobre este
103SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
tema. Quando se fala sobre o destino do Brasil como país, geralmente o discurso não passa de uma obra de retórica, ou então cai numa análise técnica mais próxima de um balancete contábil do que de um ensaio de economia política.
Se desde sempre a compreensão da realidade de uma nação não podia prescindir do conhecimento de sua inserção internacional, o sé-culo XX em suas últimas décadas fez disto um elemento absolutamente indispensável. Não raro é possível ouvir a observação de que o Brasil, por ser um país continental, tem dificuldade de se compreender como parte de um todo maior, como integrante da comunidade internacional. Isto até pode ser correto, mas é somente parte da verdade. Certamente há muitos outros fatores dificultando a formação de uma consciência de nossa nacionalidade: a herança colonial, privilegiando oligarquias obtusas, a composição multiétnica da sociedade brasileira, o fato de, praticamente, não termos conflitos de fronteira e mesmo a nossa forma-ção histórica são elementos indispensáveis a uma análise consistente de nossa percepção de realidade como nação. Mas estes seriam só alguns fatores que lembraríamos aqui como relevantes para o exame das cau-sas de nossa falta de consciência, ou se quiser, de nossa falta de identi-dade nacional, e, consequentemente, da ausência de uma percepção do Brasil como um ator importante no contexto internacional.
A construção da autoconsciência de uma nação é uma tarefa com-plexa, de toda a sociedade, a ser realizada dentro de uma perspec-tiva histórica. Em outros termos, ela exige um grande esforço, uma disposição coletiva a ser persistida por muito tempo, ou melhor, pelo tempo todo, pois trata-se da construção de um imaginário-concreto que nunca se conclui, mas que deve ser iniciado, conscientemente, em algum momento, sob pena de a nação se perder a si mesma, sem que jamais tenha estado na posse de seus valores, aqueles que de uma ou de outra forma sempre existem.
Numa realidade em que impera a ordem econômica capitalista não há como viver de forma autárquica. As relações com o mundo exterior são uma condição de sobrevivência. Isto é algo bastante sabido, sobre o que já não há mais grandes polêmicas. Este fato vale para o Brasil, tanto mais quanto nós somos, quantitativamente, uma das grandes eco-nomias do mundo. Vale ainda porque temos uma grande população e um grande território; vale porque a sociedade brasileira não é discreta
104 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
perante as demais. Nós temos manifestações culturais e nos esportes que nos projetam diante dos olhos de outras sociedades nacionais. Nós temos ainda indicadores sociais de integração étnica, ao lado de ini-magináveis desigualdades que não nos permitem passar despercebidos diante de outros povos. Por fim, sem qualquer pretensão de esgotar o tema, é verdade também que, embora discreta, vista muitas vezes como tímida e atuando aquém das expectativas, a diplomacia brasileira nos projeta permanentemente por seu profissionalismo.
O Brasil, que não se sabe ou que sabe muito pouco de si no sentido de uma consciência de sua nacionalidade, tem uma presença na co-munidade internacional completamente desproporcional a sua capa-cidade de resposta às demandas que esta mesma presença engendra. O poder político do Brasil está completamente defasado da expectati-va que a comunidade internacional tem com respeito a nossa atuação nos foros internacionais. Vivemos em uma realidade ambivalente. De um lado não somos uma nação anônima, somos vistos, lembrados, respeitados. De outro somos considerados um ator inexpressivo, sem vontade, sem objetivo, sem poder. Esta tem sido nossa imagem ao longo de toda a nossa história.
Entendemos que o estudo das relações internacionais se põe na pers-pectiva de uma dialética da identidade e da diferença. Sabemos que, ao me posicionar assim, numa perspectiva epistemológica hegeliana, po-demos estar provocando fortes reações críticas, comprometendo tudo o que já disse ou que ainda venha a ser dito. No entanto, não temos como fugir a isto, uma vez que não encontramos em nenhum outro pensador um instrumento mais eficiente para abordar este objeto.
É Hegel quem nos ensina, na dialética da consciência, desenvolvida nas páginas da Fenomenologia do espírito, que o conhecimento de si passa, necessariamente, pelo conhecimento do outro. Cada um só descobre a si mesmo como uma identidade do eu consigo mesmo e como diferença do outro. Isto supõe, porém, o conhecimento do outro como diferente de si. Traduzindo para o contexto que nos diz respeito aqui, devemos dizer que o conhecimento que cada um bus-ca de sua identidade nacional passa pelo conhecimento da realidade internacional – o outro da realidade nacional. Isto pode parecer um simples jogo de palavras para os não iniciados. No entanto, na ver-dade, a proposta de Hegel nos remete a uma lógica que é matriz do
105SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
pensamento ocidental, uma vez que a tese de que o conhecimento só terá consistência se ele for capaz de estabelecer a identidade e a diferença nós já encontramos, originalmente, em Aristóteles. Definir, para Aristóteles, significa estabelecer o gênero próximo e a diferença específica. Definir tem na raiz o conceito de fim, ou seja, de limite, de fronteira. Definir é estabelecer a fronteira, é dizer o que está dentro e o que está fora, o que pertence e o que não pertence, o que é e o que não é. O que Hegel fez é demonstrar que a definição aristotélica é, na verdade, uma relação dialética, isto é, uma relação em que o que está dentro e o que está fora só existem porque estão em relação entre si. Não há um dentro sem algo que esteja fora, ou para o que nos inte-ressa aqui: a realidade nacional é tudo aquilo que não é a realidade internacional, mas só é uma enquanto não é a outra.
Dito isto, se depreende que entendemos o estudo das relações inter-nacionais como uma tarefa de duplo significado. Por um lado é condi-ção da construção de nossa identidade nacional e por outro é o próprio conhecimento de nosso entorno internacional, condição indispensável para a inserção de qualquer indivíduo na comunidade humana.
Pode parecer estranho à primeira vista, mas é esta exatamente a tese que defendemos: o estudo de relações internacionais contribui para o conhecimento da realidade brasileira no sentido da construção de uma identidade nacional. Por sua vez a construção de uma identidade nacional é condição indispensável, desde um ponto de vista epistemo-lógico, para que o conhecimento da comunidade internacional entre nós brasileiros possa adquirir rigor e densidade.
Poderia abrir um parêntese aqui para discutirmos uma questão que está na ordem do dia de nossas relações internacionais e que tem, sa-bidamente, fortes e diretas consequências em nossa realidade interna. Referimo-nos neste momento ao ingresso do Brasil no corpo perma-nente do Conselho de Segurança das Nações Unidas44. Isto nos permi-tiria utilizar todo o aparato conceitual que está explícito ou embutido no que acabamos de apresentar como resposta à pergunta inicial de por que construir um conhecimento sobre relações internacionais?
44 Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão da ONU encarre-gado de examinar e tomar decisões sobre questões que envolvam a paz e a segurança de países membros, em decorrência de problemas internos ou de conflitos com outros países.
106 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Propomos agora uma terceira e última questão no âmbito deste en-saio: o que deve se entender por estudo de relações internacionais?
Um aviso aos ortodoxos, aos bem-comportados da teoria: mais uma vez fugiremos às regras estritas. Com esta observação queremos di-zer que sabemos não pertencer a nenhuma escola de pensamento na área das relações internacionais. Isto nem sempre é bom, pois em teoria, muitas vezes é melhor andar mal acompanhado do que sozi-nho. Acontece que nunca conseguimos nos sentir bem sob a proteção de um “ismo”, principalmente de um “ismo” de modismo. Por outro lado nunca nos sentimos suficientemente seguros para declarar-nos fi-lhado a uma determinada escola. Sempre tem nos faltado mais algum conhecimento que nunca chega a ser conquistado completamente. Em síntese, para sermos claros e honestos, nos sentimos incapazes de pertencer a uma escola. Assim, não nos resta outra alternativa do que sair juntando os cacos das teorias que encontramos ao longo da longa caminhada que nos conduziu até este ponto da vida acadêmica. A única coisa que reivindicamos é o direito de reconhecer nossos erros, por esforço próprio ou apontado por nossos críticos, e poder mudar de instrumental teórico sem ficar em débito com ninguém.
Relações internacionais, para o nosso consumo intelectual, signifi-cam imediatamente tudo o que diz respeito à interação entre dois ou mais atores da comunidade internacional; e como atores da comuni-dade internacional, por excelência, entendemos os Estados nacionais, em seguida os governos, que via de regra se sobrepõem aos Estados, usurpando da legalidade e da legitimidade de que estão investidos. Mas há ainda muitos outros atores das relações internacionais, tais como as organizações internacionais, sejam elas interestatais ou su-praestatais, ou ainda intergovernamentais. Exemplificando, para dei-xar mais claro, as primeiras são representadas pelas Nações Unidas e todas as suas agências. Para as segundas, um bom exemplo pode ser a União Europeia. Para as terceiras, entendemos que o exemplo mais próximo de nós é, sem dúvida, o Mercosul. Está claro que se exami-narmos do ponto de vista estritamente jurídico, considerando a letra dos tratados que deram origem às instituições citadas, provavelmente não teremos opiniões unânimes e nossa classificação poderá ser criti-cada. Por isto fazemos a ressalva de que estamos considerando muito mais uma situação de fato do que de direito.
107SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Os atores internacionais, no entanto, há muito deixaram de estar só na esfera do Estado. A sociedade civil, para falar com uma terminologia tipicamente hegeliana, vem se tornando, de forma crescente, um cam-po fértil de atores de relações internacionais. Estes são conhecidos, de maneira geral, pela sigla ONG, ou seja, organização não governamental. As ONGs, por sua vez, se subdividem em dois grandes grupos, se não considerarmos uma larga zona cinzenta entre seus dois extremos. De um lado temos as corporações internacionais, as grandes empresas, pre-sentes em um grande número de países através de suas filiais ou de seus representantes indiretos. Sua marca são os seus negócios visando lucros econômicos e/ou financeiros. No outro extremo nós encontramos as organizações de interesse privado, frequentemente reivindicando reco-nhecimento de seus ideais e de suas ações como de interesse público, que atuam basicamente como grupos de opinião. Entre elas, como dis-semos, há uma enorme quantidade de instituições que vão desde as mais ingênuas e inofensivas até as grandes lavanderias de dinheiro da corrupção e do tráfico de influência, armas e drogas.
O estudo de relações internacionais, no nosso entender, não se es-gota na análise dos fenômenos que envolvem dois ou mais atores ou instituições que congregam diferentes atores da comunidade interna-cional, como os citados. Tais estudos supõem ou então se complemen-tam através da análise de países, de regiões ou ainda de problemas do sistema internacional, ou, para ficar com uma terminologia que usamos de início, problemas da ordem internacional.
Mais uma vez damos exemplos para nos fazer entender melhor. Se queremos estudar as relações internacionais do Brasil com a Alemanha é imprescindível que se conheça, e muito bem, aquele país. Para isto deve-mos concentrar grandes esforços e tempo suficiente para examinar pro-fundamente a realidade alemã, tanto na sua dimensão interna como suas relações internacionais com terceiros países, ou seja, sua política exterior.
A Alemanha serve ainda para o nosso segundo exemplo. Ela faz parte da União Europeia. A União Europeia é um fato determinante da rea-lidade da Europa Ocidental neste momento e desde o início dos anos 1950, quando a Europa começou um processo de integração regional entre os Estados nacionais. Assim, a União Europeia é não só um fato histórico no contexto da comunidade internacional, como é ainda uma realidade iniludível para o conhecimento consistente da Alemanha.
108 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Avançamos com mais um ponto para completar esta série de exem-plos, antes de voltar à consideração das implicações do estudo dos dois casos anteriores. Quando nos referimos a problemas do sistema internacional temos em mente o caso, por exemplo, da preservação ambiental, ou da preservação e utilização da água potável em âmbito mundial. Estes são dois problemas de grande complexidade técnica e política, de grande interesse para toda a comunidade internacional, cujo equacionamento não pode se fazer esperar. Tratá-los, no entanto, exige não só elevados conhecimentos técnico-científicos como uma inestimável competência política, esta talvez mais complexa e difícil de ser adquirida do que aqueles, uma vez que para ela não costuma existir manuais e menos ainda regras fixas.
Voltemos ao caso de estudo de organizações internacionais. O exa-me deste tipo de ator das relações internacionais oferece dificuldades bem específicas, que podem exigir muito trabalho, mas nada de insu-perável. Uma organização internacional tem sempre um estatuto jurí-dico bem definido, no qual encontramos suas atribuições e regras de funcionamento. A rigor a análise acaba se concentrando, geralmente, em boa medida, na reconstrução de sua história. Como as principais organizações internacionais têm suas atividades muito bem documen-tadas, poderia se pensar que seria suficiente consultar a literatura dis-ponível a respeito da mesma. O resultado, como podemos constatar, é que a maior parte das análises sobre as organizações internacionais não passam de resenhas, dificilmente de boa qualidade, sobre o que já se publicou a respeito do mesmo assunto. Não há como fazer um bom trabalho sem um contato direto, sem se vivenciar a realidade da instituição que se quer estudar. O conhecimento consistente sobre uma organização supõe a capacidade de desenvolver a análise de fon-tes primárias, de ir buscar as informações diretamente em seus arqui-vos, de observar o exercício de suas funções no seu cotidiano.
Está claro que estamos nos referindo a análises que sejam verdadei-ramente úteis para a tomada de decisões em relações internacionais. Portanto não interessam os trabalhos que ficam no simples exercício de descrever a organização, ainda que procurando ser exaustivo, mas sem a capacidade de analisar as dimensões políticas de sua atuação. E quando falamos de dimensões políticas estamos nos referindo simples-mente a “para que ela serve, para quem ela serve e como ela serve”.
109SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
O que vamos observar, a seguir, para o estudo de um país, vale na mesma medida para o estudo de uma região. Em outras palavras e reto-mando o exemplo da Alemanha e da União Europeia, os procedimentos metodológicos são os mesmos, ainda que, no caso da União Europeia, por sua complexidade, uma análise que pretenda ter efetiva consistên-cia exija muito mais trabalho do que o caso de um único país.
Antes de avançar com nossas observações, devemos fazer mais um esclarecimento: não desconsideramos, de forma alguma, os estudos que se ocupam de aspectos bem determinados da realidade de um país. Assim, a análise econômica ou mesmo só do mercado externo de um país, se conduzida com rigor, será sempre uma fonte importante de consulta e de indicações para a condução de um trabalho mais abran-gente, isto é, para aquele que tem o propósito de se tornar um especia-lista na perspectiva que interessa à análise de relações internacionais.
Primeira observação: o esforço necessário à formação de um es-pecialista sobre um país ou uma região é tão grande que se torna muito raro encontrarmos todos os conhecimentos em uma só pessoa. Geralmente é tarefa para uma equipe. Isto não quer dizer que não possam existir algumas pessoas que, dotadas de extraordinária capa-cidade intelectual, sabem tudo ou quase tudo sobre o seu objeto de interesse. Como o mais provável é que nos deparemos com grupos de trabalho, não muito numerosos, mas altamente concentrados em suas atividades, é certo que todos eles conhecerão muito de muito e cada um muito mais ainda de um determinado aspecto da realidade do país ou região a que se dedicam coletivamente. As melhores análises que temos encontrado são, sem dúvida, aquelas conduzidas numa perspectiva interdisciplinar. A dedicação de cada um a questões es-pecíficas supõe, antes de mais nada, uma base de conhecimentos co-muns, que começa com os elementos jurídico-políticos que definem a estrutura do Estado, e segue com a forma do governo e as relações econômicas, sociais, políticas e jurídicas na esfera da Sociedade Civil, tal como aqueles elementos estão definidos formalmente. A forma-ção histórica do país também faz parte do acervo comum a todos. A mesma coisa vale para o campo da cultura, em que conhecimentos produzidos pela antropologia social e ciências afins, e pela psicologia social se complementam com conteúdos das manifestações artísticas, nas suas formas clássicas, populares e de vanguarda.
110 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
Não só um domínio da língua, mas ainda a vivência da realidade cotidiana do país é condição indispensável para o conhecimento do especialista. Em outras palavras, ninguém poderá ter conhecimentos sobre um país ou região se não tiver uma grande intimidade com sua realidade. Isto só é possível se cumpridas duas condições básicas: pri-meiro um estudo sistemático sobre sua realidade e, segundo, uma pro-ximidade com seu cotidiano, suficiente para lhe permitir o acesso a elementos imponderáveis de sua conformação nas suas estruturas mais fundamentais, ou seja, econômica, política, social, jurídica, cultural.
Em outras palavras, ninguém conhece um país ou região sem ter vivido lá. O contato direto, continuado, é tão indispensável quanto o estudo sistemático e permanente das melhores fontes a seu respeito. Tudo isto, no entanto, ainda não será suficiente se não soubermos por que e para que nos especializamos em nossos conhecimentos.
Para concluir, gostaríamos de observar que, pela experiência que pudemos recolher ao longo de já agora quase quatro décadas de tra-balho na área de relações internacionais, a formação de um analista é um longo processo, que nunca se esgota. Pelo contrário, um bom analista de relações internacionais pode perder rapidamente sua com-petência, conquistada após demorados anos de trabalho. Basta para isto que ele se distancie teórica e praticamente de seu objeto.
Hoje o Brasil pode contar com muito poucos internacionalistas, em-bora eles tenham uma extraordinária e inadiável contribuição a dar para o desenvolvimento econômico, político e social da sociedade brasileira. A falta de competência no campo das relações internacio-nais entre nós é só mais uma das nossas muitas carências históricas, mais um dos obstáculos, no nosso entender, à superação de nosso sub-desenvolvimento crônico. Por isto vemos como tarefa inadiável contri-buir para que a geração de novas vocações possa se dedicar em tempo integral ao estudo de relações internacionais para que assim, dentro de alguns anos, venhamos a contar com uma massa crítica de interna-cionalistas à altura das necessidades e dos interesses brasileiros.
111SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
REFERÊNCiASALTVATER, Elmar et al. A crise dos paradigmas em ciências sociais e os
desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Contraponto: CORECON, 1999.ARON, Raymond. Paz e guerra entre as nações. Tradução Aníbal Fernan-
des. Brasília, DF: UnB, 1986.ARRIGHI, Giovanni. Caos e governabilidade no moderno sistema mun-
dial. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto: UFRJ, 2001.BLOCH, Marc Leopold Benjamin. Apologie pour l’histoire ou métier
d’historien. Paris: Librairie A. Colin, 1952.BURDEAU, Georges. L’État. Paris: Éditions du Seuil, 1970.CLAUSEWITZ, Carl von. Vom Kriege. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1972.COMTE, Auguste. Système de politique positive. Paris: Éditions Larousse,
1851. 4v.DEUTSCH, Karl Wolfgang. Curso de introdução às relações internacio-
nais. Brasília, DF: UnB, 1983.______. Política e governo. Brasília, DF: UnB, 1983.DUROSELLE, Jean Baptiste. L’Europe, de 1815 a nos jours: vie politique et
relations internationales. Paris: PUF, 2002.FEBVRE, Lucien Paul Victor. Combats pour l’histoire. Paris: Librairie A. Co-
lin, 1992.FLORES OLEA, Victor Manuel; MARIÑA FLORES, Abelardo. Crítica de la
globalidad: dominación y liberación en nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Re-chts. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.
HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, Matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Tradução João Paulo Monteiro, Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
KANT, Immanuel. Zum ewigen Frieden. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.
112 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
LENIN, Wladimir Il’ich. Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Berlin: D. Verlag, 1973.
______. Die sozialistische Revolution und des Selbstbestimmungsrecht der Nationen (Thesen). Berlin: D. Verlag, 1973.
______. Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa. Berlin: D. Verlag, 1972.
MAO, Zedong. Oeuvres choisies de Mao Tse-Toung. Pékin: Éditions du Peuple, 1966.
MARX, K. Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Berlin: D. Ver-Berlin: D. Ver-lag, 1973.
______. Der Bürgerkrieg in Frankreich: adresse des Generalrats der Inter-nationalen Arbeiterassoziation. Berlin: D. Verlag, 1973.
______. Die Klassenkämpfe in Frankreich, 1848-1850. Berlin: D. Verlag, 1973.
______. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: D. Ver-lag, 1973.
______. Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin: D. Verlag, 1973.MERLE, Marcel. Les acteurs dans les relations internationales. Paris: Eco-
nomica, 1986.______. Forces et enjeux dans les relations internationales. Paris: Eco-
nomica, 1981.MESAROVIC, Mihajlo D.; PESTEL, Eduard. Stratégie pour demain: deux-
ième rapport au Club de Rome (1974). Traduit Mireille Davidovici et Isabelle Vermesse. París: Éditions du Seuil, 1975.
PARSONS, Talcott. Politics and social structure. New York: Collier-Macmil-lan, 1969.
RENOUVIN, Pierre. Historia de las relaciones internacionales: siglo XIX y XX. Traducción Justo Fernández Buján et al. Madrid: Ediciones Akal, 1990.
RENOUVIN, Pierre; DUROSELLE, Jean-Baptiste. Introducción a la historia de las relaciones internacionales. Traducción Abdieu Macías Arvizu. Méxi-co: Fondo de Cultura Económica, 2000.
SAINT-SIMON, Henry, comte de.; THIERRY, A. De la reorganisation de la societé européene ou de la nécessité et les moyens. Madrid: Ed. Cát-edra, 1985.
113SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 76-113 | JANEiRo > AbRil 2009
SPENCER, Herbert. First principles. London: Williams & Norgate, 1900. (A system of synthetic philosophy, v. 1).
TRÓTSKY, Léon. Questions de politiques étrangères (1907-1925). Paris: F. Maspero, 1971.
YOUNG, Oran R. (Ed.). The effectiveness of international environmental regimes: causal connections and behavioral mechanisms (Global Environ-mental Accord: strategies for sustainability and institutional innovation). Cam-bridge, Mass.: MIT Press, 1999.
114 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
A EVolUÇÃo FAz SENTiDo. iNClUSiVE NA ATiViDADE FíSiCA?Hugo Rodolfo Lovisolo
115SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
Procurarei neste ensaio justificar razoavelmente um conjunto de tarefas, que implicam assumir pontos de vista diferentes dos que estamos habituados a colocar em prática quando falamos das relações entre atividade física e saúde, atividade física e autono-mia. As tarefas que proponho são: primeiro, apresentar a possibilidade de uma expli-cação fisiológica para o paradoxo da rejeição ou falta de adesão daquilo que, segundo a própria fisiologia, faria bem: a atividade física. Construir, então, uma fisiologia do “não”, da recusa ou abandono, a partir de possíveis razões fisiológicas, esquecendo o “refúgio” das justificativas psicológicas ou sociais. Não creio que a tarefa seja possível se não levarmos a sério a escuta clínica dos que reclamam da atividade física. Em segundo lugar, integrar no mesmo marco de entendimento tanto a hiperatividade quanto a hipoatividade, pensando suas limitações e efeitos diferenciados a partir dos aportes de uma fisiologia do “não”. Em terceiro lugar, pensar os dados contraditórios da atividade física tendo em vista o problema da dor e seus significados. Em quarto lugar, retomar como marco a teoria da evolução para entendermos do que estamos falando no campo normativo da fisiologia da atividade física. Em quinto lugar, pensar os efeitos positivos e negativos (fisiológicos, psicológicos e sociais) da estilização e da estetização. Por último, abandonar a simplicidade da afirmação de que viver mais tempo é viver melhor e, ainda, de que a autonomia dos idosos é um valor em si mes-mo. Lembrando que parece que nos dedicamos a dar respostas que fazem declinar a solidariedade, a reciprocidade, o apego, o respeito entre os diferentes, enfim, aquelas coisas que faziam do homem um animal social para Aristóteles.
In this essay, I try to reasonably justify a set of tasks which imply assuming viewpoints that are different than the ones that we are commonly used to bring up (or to put in practice) when discussing about the relationships between physical activity and health. The task proposed here are: first, to present the possibility of a physiologic explanation for the paradoxes of rejection or lack of adhesion to those actions that accordingly to physiology itself would be wealthy or do good: physical activity. The-refore, the construction of physiology of “not”, of declining or abandoning, starting from possible physiological reasons and forgetting the “refugee” of psicological or social justification. I do not believe that this enterprise is possible if not seriously considering listening to the clinical data on complains on physical activity. Follo-wing, one must put on the same understanding frame both hyperactivity and hy-poactivity, thinking about their different limitations and effects from the inputs of a physiology of “not”. In third place, one must reflect about the contradictory data arising form physical activity, considering the significance of the problem of pain and its meanings. Fourth, to reconsider as a framework the theory of evolution so that one can understand of what is being said in the normative field of physiology of physical activity. Fifth, one must think about the positive and negative effects (physiological,psicological and social) of stylizing and estethicizing. At last, one must abandon the simplistic assertion that living long is living better and, also, that the autonomy of the eldest is a value itself. It must be remembered that it seems that we are dedicated to provide answers that make declining solidarity, reprocity, affec-tion, the respect among diverse people, that is, those things that made man/woman a social animal for Aristoteles.
116 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
1. CoNSENSo E obSESSÃo
Sabemos que a pesquisa nem sempre apresenta novas ideias ou combinações originais de ideias conhecidas, como Pascal sustentava ser a finalidade da atividade do pensar. No campo da pesquisa, a mera ausência de refutação de alguma hipótese no experimento aumenta nossa confiança nos conhecimentos já gerados. O aumento da con-fiança é um efeito importante do artigo ou do relatório de pesquisa. O artigo pode ser redundante ou confirmatório de resultados já obtidos. A replicação da pesquisa é um modo válido de produzir confiança e redundância, enfim, de contribuir para gerar uma comunidade que partilha uma matriz disciplinar. Contudo, aumento da confiança não implica a produção de conhecimentos opostos ao paradigma ou ma-triz disciplinar dominante (KUHN, 1989).
Devemos reconhecer, no entanto, que os resultados discordantes dos aceitos levam frequentemente à não publicação, quer por au-tocensura, quer por censura externa (BECKER, 1993). O novo deve apresentar-se com força repetitiva para deslocar a repetição do velho ou com o dramatismo suficiente, por exemplo, na autoinoculação de uma bactéria para demonstrar que as ulcerações não resultam do es-tresse e que, portanto, podem ser tratadas com antibióticos. Ou na re-alização de uma cirurgia placebo da mamária cujos efeitos temporais benéficos, durante aproximadamente três meses, são semelhantes aos da cirurgia real (HORGAN, 2002). Talvez, daqui a um tempo se des-cobrirá que a angioplastia tem efeitos que não diferem significativa-mente da “angioplastia placebo”, difícil de realizar por motivos éticos. Contudo, poderia se fazer um cateterismo e informar aos pacientes do grupo de controle que os extensores foram colocados nos lugares certos. Por certo, não seria ético. Assim, a ética protege a angioplastia do teste empírico. Simular uma angioplastia é possível, simular a ativi-dade física é quase impossível. Como não temos placebo da atividade física não conhecemos seus possíveis efeitos. Os sedentários, portanto, estão excluídos do benefício do placebo da atividade física.
Replicar pesquisas, se possível com aperfeiçoamentos metodológi-cos e instrumentais, é uma atividade forte no campo das ciências que operam na dita área da saúde. Entretanto, a partir de limites não muito claros, devemos passar a nos interrogar sobre o que não explicamos
117SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
e não apenas sobre o já explicado. Os limites não muito claros têm como indicador a insatisfação com o fazer e dão lugar à argumentação dialética, no sentido proposto por Aristóteles e renovados por Perel-man e Olbrechts-Tyteca (2005).
O que denominamos “ensaio” deve argumentar para surpreender, deve propor dizer alguma coisa diferente como, por exemplo, suspei-tar das premissas com as quais operamos. O ensaio, por pertencer ao campo da argumentação, deve partir de um lugar comum ou acei-to pelos leitores e levá-los para algum lugar não esperado, talvez um novo possível. É o que me proponho no presente trabalho. Creio que o ensaio permite tal licença, pois, uma de suas principais funções é arejar e refinar as perguntas que nos fazemos e não, apenas, criticar a tradição ou as ideias dominantes.
No campo da fisiologia do esforço, das ciências dos esportes e da atividade corporal, domina a ideia de que a atividade física praticada de forma regular tem efeitos positivos sobre a saúde da população. A última fórmula recomenda a prática de 30 minutos diários, divi-didos em blocos de 10 ou 15 minutos. Declaro, para eliminar mal-entendidos, que o fato de eu concordar ou não com esta opinião, de estar ou não convencido, é irrelevante para minha argumentação e que também não estou seguro sobre o caráter de “último” da fór-mula. Contudo, a baixa intensidade recomendada, que horroriza a muitos profissionais da educação física, não poderia funcionar como um placebo?
O ponto de maior consenso é que a atividade física protege ou di-minui em longo prazo os efeitos negativos da entropia da idade e que melhora o idoso em termos musculares, respiratórios e de composição corporal (MATSUDO, et alii, 2000). Ou seja, seus principais efeitos de saúde se realizam no longo prazo a partir da atividade sistemática no presente. A mídia se dedica obsessivamente a promover a relação po-sitiva entre atividade física e saúde e se refere aos resultados positivos das pesquisas. Todavia, se o leitor consultar o Google poderá observar que existem mais de 670.000 referências positivas para a relação entre atividade física e saúde. Já o Google Acadêmico menciona mais de 16.400 artigos. Assim, parece que sobra informação.
Parto, então, de uma observação banal: apesar do consenso forte parece existir certa obsessão em realizar pesquisas que demonstrem os
118 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
efeitos positivos da atividade física, ou seja, produzir relatórios e arti-gos redundantes. Qual então o sentido da pesquisa redundante? Será o de apenas manter um campo em aberto, um campo de trabalho ou apenas funciona como elementos de propaganda a partir do valor da pesquisa científica?
No esporte competitivo, o atleta treina com objetivos de curto prazo e o treinamento regula-se por objetivos mais ou menos imediatos a serem alcançados em provas e competições. A tentação de levar o de-sempenho ao limite (desafio) e a própria repetição (estimulação) po-dem, como já é reconhecido, gerar lesões e até doenças. A prática da atividade física com objetivos estéticos, por sua vez, deve demonstrar seus efeitos benéficos no curto ou médio prazo, aproximando cres-centemente o corpo da ou do praticante dos padrões desejados na modificação das formas vistas no espelho, nas medidas da avaliação funcional e nas roupas ou no comentário dos outros. Assim, passam a serem altamente valorizados os quilos ou centímetros perdidos, poder usar uma calça comprada tempos atrás, a imagem no espelho e os comentários favoráveis das pessoas (LOVISOLO, 1997 e LOVISOLO, 2006). Ao contrário, os efeitos benéficos, protetores, antientrópicos, da atividade física para recuperação, conservação e melhoria da saúde se situam no longo prazo e não são detectados imediatamente, sobre-tudo se realizada sob orientação dos programas de atividades ditos moderados. Os benéficos são silenciosos e não se acumulam, deixam de agir quando a prática se suspende. Em contrapartida, há consenso sobre a perda dos supostos efeitos benéficos quando a atividade cessa (MIRA, 2000). Assim, a atividade física não parece constituir um capi-tal que se acumula sob o ponto de vista da saúde. Mira, além de des-tacar a não acumulação do capital atividade física, realizou de forma fundamentada um pergunta central: estamos saudáveis por fazermos atividade física ou fazemos atividade física por estarmos saudáveis? De fato, há dúvidas sérias sobre a direção da causalidade e, mais ainda, quando os resultados são produtos de pesquisas epidemiológicas, em que a variável temporal, anterioridade de uma variável sobre outra, não é controlada.
Tentarei insinuar neste ensaio que a obsessão por provar os benefí-cios e por desenvolver protocolos que maximizem os efeitos e gerem adesão contribui para que pensemos o fenômeno da “não adesão” de
119SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
forma pouco criativa e, sobretudo, que essa obsessão cria obstáculos epistemológicos para o entendimento da atividade física pela própria fisiologia. Sugerirei que retomemos a biologia da fisiologia e que a reintegremos de forma explícita na teoria da evolução. Argumentarei a partir do que considero consensual, isto é, dos acordos partilhados no campo das relações entre atividade física e saúde.
Observo que a própria linguagem usada, “adesão” e “não adesão”, pareceria implicar o campo da consciência (cuja base é a tradição religiosa e política) e, portanto, privilegiar a catequese, a educação, a informação ou a propaganda. Vários autores já descreveram a pastoral da saúde, da higiene, da atividade física e da terceira idade. Estarí-amos diante de um sujeito fisiologicamente inativo e deslocando o campo da fisiologia quando usamos essas expressões que pertencem a outras tradições? Ao invés, se usarmos o termo “resistência”, um ter-mo muito mais próximo da física e da fisiologia, estaremos indicando duas coisas: por um lado, a possibilidade de intervenção de algum mecanismo fisiológico (resistência à insulina, resistência ao esforço, como exemplos) e, por outro, a atividade fisiológica do sujeito em contraposição à não incidência fisiológica que transmite a categoria de “não adesão”. O deslocamento massivo para a “não adesão” propõe que seja lido (a) como ausência da reflexão da fisiologia e (b) como eliminação de um sintoma clínico. O deslocamento estaria ocultando problemas para a teoria canônica das benesses do exercício físico? Ou será que a resistência tem um papel funcional, como alguma doença protege de outras, geralmente menos tratáveis, como demonstrou de forma clássica Canguilhem (2000)?
Devo esclarecer, para não ser mal-entendido, que me situo no cam-po oposto daqueles que desejam banir os esportes seja qual for sua natureza, competitiva ou de lazer, ou que apostam em algum deles denegrindo o outro. Mais ainda, valorizo a disciplina e o esforço de su-peração do atleta, mesmo à custa das dores e de suas mazelas, e o tra-balho de orientação dos técnicos e treinadores competentes. Admiro a beleza do gesto esportivo que resulta, habitualmente, da combinação do talento com a disciplina. Creio que resultados de excelência no campo das ciências e das artes também demandam tipos semelhantes de combinação e, quase sempre, uma dedicação esforçada e uma vontade poderosa. Admiro também as pessoas que, com disciplina e
120 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
esforço, fazem algum tipo de atividade física para manter a saúde e mesmo para aprimorar a proporcionalidade das formas (LOVISOLO, 1995, 1997 e 2000). Entretanto, não pretendo fazer de minhas admi-rações ou gostos uma imposição, uma norma, e me preocupa encon-trar razões substantivas para entender a conduta prática que rejeita ou recusa a atividade física. Tentarei que o leitor me acompanhe na procura de razões substantivas, biológicas e fisiológicas, para o “não”, para a recusa. Não estou totalmente satisfeito com a fisiologia do “sim” e creio que devemos alongar o campo de inquirição e reflexão para uma fisiologia do “não”. Em outras palavras, focar os obstáculos fisio-lógicos para a prática da atividade física.
As bases epidemiológicas da relação positiva são altamente conhe-cidas e duas delas se destacam. Por um lado, as relações entre ativida-de física, classificada por algum critério de intensidade, e a esperança de vida e o controle de doenças, especialmente as degenerativas. Por outro, as relações entre o Índice de Massa Corporal (IMC), de Quetelet, e as mesmas variáveis dependentes. Dois tipos de efeitos salutares são habitualmente destacados: o de prevenir doenças, es-pecialmente cardiovasculares, e o de conservar funções como força, resistência e elasticidade, que diminuiriam significativamente com a velhice. O efeito conservador é situado habitualmente no contexto mais geral da autonomia do idoso, pois a conservação das funções re-duziria a dependência do idoso. Sedentarismo e obesidade, embora sejam coisas diferentes, aparecem como faces da mesma moeda em termos de resposta, pois a atividade física combateria ambos os males (embora existam vozes que duvidam da eficácia isolada do exercício e lhe outorgam um peso muito menor no controle da obesidade do que à dieta, às cirurgias ou recomendam a combinação no estilo de vida saudável).
A tarefa central do interventor ou educador físico, portanto, é a de desenvolver o hábito da atividade física sistemática, ainda que moderada, na população, embora uma parcela dos promotores, pa-radoxalmente, possa ser qualificada como sedentária. A fórmula da “vida ativa” agrega os objetivos de organismos nacionais e interna-cionais de saúde e propõe criar adesão à atividade física sistemática que, defendem alguns, deveria também ser objetivo para a atividade física escolar.
121SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
O que seria consenso torna-se então uma espécie de obsessão. Para um antropólogo marciano, diante de tanto consenso, surgiria a questão: para que tanto esforço em provar os benefícios, amplamente aceitos, da atividade física? Do que a obsessão seria sinal, o que indi-caria ou ocultaria?
Eu tenho observado, enquanto antropólogo não totalmente marcia-no, que a obsessão é provocada, sobretudo, pela insatisfação em face dos baixos percentuais de praticantes sistemáticos, aliada ao cresci-mento da proporção de obesos na população. Os indicadores de ade-são são considerados baixos para o conjunto da população, embora os mesmos sejam diferenciados quando se consideram as distribuições por gênero, idade, etnia e segmento social, além das diferenças de de-senvolvimento entre nações e regiões. O aumento da obesidade é lido como queda na atividade corporal na vida cotidiana que se agregaria ao aumento da disponibilidade alimentar e a composições inadequa-das. Assim, a pastoral da atividade física pesquisa e reitera argumentos e propõe novos protocolos para convencer a população a assumir a prática sistemática. Ao mesmo tempo, essa pastoral demanda mais e melhor promoção da atividade física, e se desdobra em múltiplas pas-torais: escolar, alimentar, da velhice (DRUMMOND, 2004) e estética, entre outras, sendo a última justificada pela fórmula: “vício motivacio-nal, porém virtude dos efeitos” (LOVISOLO, 2006).
As propostas dessas pastorais encaminharam-se na direção de pro-mover a associação da atividade física com dimensões e efeitos de prazer, com o intuito de atrair ou fidelizar os praticantes. Note-se que a recomendação de atividade com prazer reconhece que não há prazer intrínseco nem geral. A postulação do prazer é mais um sinal da desconformidade com os indicadores da prática, além de ser pelo menos paradoxal, pois muitos “prazeres” são qualificados como vícios negativos para a saúde, como álcool, cigarro, drogas, televisão, inatividade e comidas e, alguns deles, no passado, foram vistos como pecados. Podemos até decidir não termos filhos para evitar o abando-no de vários prazeres da vida que seus cuidados demandam. Dizem que Epicuro recomendava isso, sorte que seus pais não aderiram a sua recomendação! Assim, nem todo prazer é fisiologicamente funcional para a saúde ou moral sob o ponto de vista social. Temos de reconhe-cer que se está recomendando um “vício bom”, para provocar a ade-
122 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
são e isto é, pelo menos, paradoxal. No campo da ideologia da “vida ativa” o prazer pareceria um dever ser até do trabalho. Assim, temos de lavar a louça com prazer. Creio que por baixo do pano transcorre a ideia de que a saúde está associada ao prazer que seria proporcionado pelos “vícios bons”. As dores, os sofrimentos, o desprazer seriam, logi-camente, contrários à saúde e, talvez, à vida. Observo que na música e na literatura popular, cigarro e álcool foram associados ao prazer e, ainda, existem exemplos de associação da droga com o prazer. Se isso for possível, enfatizar o prazer pode ser uma faca de dois gumes.
Estamos perante o “hedonismo dos praticantes”. Supõe-se que a variação da atividade, a inclusão do lúdico e da sociabilidade, o rela-cionamento afetivo harmonioso entre instrutores e praticantes, entre outros fatores, colaboram para a adesão e a manutenção da prática. Os gerentes de academias vivem procurando as variações das ativida-des e dos equipamentos como formas de atrair e reter sua clientela. Pareceria que seus clientes perdem o prazer na monotonia e, então, mudar sempre é a palavra de ordem. Surpreender com a novidade para derrotar a resistência crescente que parece afiliada com a mo-notonia. Mais ainda, muitos novos equipamentos são apresentados como redutores do esforço ou maximizadores dos efeitos da prática. A publicidade dos aparelhos promete a redução do peso e das medidas e, por vezes, apresenta corpos belos e poderosos obtidos com esforço reduzido. Assim, temos vários indicadores que dizem: se queremos adesão temos de reduzir o esforço; se queremos adesão temos de fazer prazeroso o esforço da atividade física, se pretendermos adesão teremos de seduzir os praticantes.
Estamos, portanto, distantes das propostas originais de Cooper para desenvolver a aptidão física baseada na disciplina e no esforço (LO-VISOLO, 2000). Além disso, seus rígidos indicadores de avaliação fo-ram em grande parte esquecidos no campo da atividade física para a saúde, quer sob o nome de “atividade moderada” ou de “vida ativa”. O discurso sobre os benefícios reconhece em suas propostas, mais implícitas do que explícitas, que para uma grande parcela da popu-lação manter a prática é difícil, pois se torna cansativa, entediante, rotineira. Assim, a prática deve incluir a dimensão do prazer ou do antitédio. Em outros termos, além de fazer atividade física, as pessoas devem se divertir, como supomos que ocorre com os amadores na
123SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
prática dos esportes, por exemplo, nas peladas dos fins de semana, para ficar “aderidos” ou habituados. A diversão ou o prazer pode ser lido também como uma forma de redução da disciplina, do esforço e da vontade necessária. Observe-se que o discurso que afirma o prazer e o que afirma a vontade podem conviver, embora sejam contraditó-rios, pois, para o senso comum, quando há prazer não é necessária a vontade e, sem prazer, haja vontade. Este jogo linguístico faz lem-brar a formulação bem-humorada de Marx Twain: trabalho é quando fazemos alguma coisa por obrigação, lazer é quando fazemos o que desejamos.
Entre os praticantes sistemáticos e intensivos, sobretudo entre os que seguem de alguma forma o modelo “cooperiano”, e que constituem a parcela menor da população, não raro encontram-se declarações que associam a corrida a um “vício”, a uma “cachaça”, na lingua-gem popular brasileira. Reconhecem, por exemplo, a dependência em relação à corrida diária e declaram que sem ela se sentem mal. No contexto do protocolo de Cooper, o vício foi visto e cantado como positivo. Hoje surgem dúvidas sobre os benefícios de uma prática que parece se tornar compulsiva, pari passu com o reconhecimento dos efeitos não salutares do treinamento no esporte competitivo (LOVI-SOLO, 2000).
Destaquemos, no entanto, que os praticantes que se estimulam com a corrida, por exemplo, não parecem reconhecer a necessidade do esforço, da disciplina ou da vontade. Pareceria que para eles é fácil correr doze quilômetros por dia. Da mesma forma que parece ser fácil para alguns dominar a leitura, enquanto outros sofrem para adquirir um domínio, por vezes, até precário. Se a mente é como um canivete suíço, a qualidade diferencial de seus instrumentos pode incidir nas habilidades e competências mentais dos indivíduos (MITHEN, 1998: cap. 6). São conhecidas as diferenças entre crianças do mesmo con-texto social para adquirirem habilidades e competências básicas ou mínimas no campo da leitura, da escrita e do cálculo. Comentários equivalentes poderiam ser feitos em relação às matemáticas ou para as formas argumentativas e lógicas do pensar ou para as habilidades no domínio da bola, entre tantas outras. Assim, parece que mesmo no campo da atividade física acreditar na igualdade da “tábula rasa”, mes-mo que pensada como desempenhos físicos mínimos ou básicos, não
124 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
nos levará à tão sonhada adesão. Vejam-se os comentários de Pinker (2004) sobre os problemas e obstáculos que se derivam do a priori da tábula rasa. No campo da seleção e formação de atletas a tábula rasa não existe e os indivíduos são altamente diferenciados em termos de morfologia, fisiologia, neurofisiologia, psicologia e, até, formas de sociabilidade. Estamos no mundo das diferenças tanto para selecionar quanto para orientar os protocolos de treinamento (no mundo da dife-rencia que faz a diferencia, por menor que ela seja). Portanto, a inter-venção, de saúde e desempenho, embora suponha a mesma base te-órica, implica pressupostos antagônicos (tábula rasa versus tábula não rasa, igualdade versus diferenças nas caracterizações dos indivíduos e nos protocolos).
Proponho partir de um princípio básico: para muitos a atividade física significa montantes de esforços que não estão dispostos a reali-zar. A fisiologia do esforço deveria nos proporcionar explicações em termos biológicos para a recusa, a rejeição ou as tentativas que levam ao abandono, portanto, deveriam ser explicitados os mecanismos es-pecíficos ainda que condicionados geneticamente.
Na tentativa de explicação do efeito de adicção procurou-se vin-cular a atividade, em altos níveis de intensidade, com a geração de substâncias estimuladoras do sistema nervoso que provocariam bem-estar. Assim, a primeira indicação é que a atividade física funciona como geradora de “drogas” além de certa intensidade de sua prática. Duas observações merecem ser feitas. A primeira, os praticantes que não alcançam a intensidade necessária para a geração das substâncias estimuladoras apenas teriam castigo, nunca acederiam aos prêmios proporcionados pelas drogas autogeradas. Quais sob o ponto de vista fisiológico seriam os limiares de intensidade a partir do qual as subs-tâncias recompensadoras são produzidas? Em segundo lugar, o fato de as substâncias serem geradas pelo organismo não significa que tal geração seja em si positiva, dado que há disfuncionalidades do ex-cesso (hiper) e da escassez (hipo). O organismo gera a anormalidade fisiológica ou a doença que nem sempre resulta do acidente ou da interiorização de agressores externos. Assim, afirmar que a produção das substâncias é um processo natural do organismo nada diz sobre suas virtudes, como alguns parecem pensar. Contudo, se aceita que estaríamos diante do “vício bom”, em contraposição aos vícios ali-
125SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
mentares ruins como drogas, cigarro, álcool e o “vício da inatividade” ou “sedentarismo”. Existiriam vícios bons ou formas boas de depen-dência? Dom Quixote não ficou doido pelo vício bom da leitura? E, antes dele, Santo Agostinho pensava que a dedicação intensiva a uma paixão, hoje diríamos a um vício, era nociva e devia ser compensada, contrapesada, por outras paixões. O próprio Cooper afirmou nos seus últimos trabalhos que os que correm mais de vinte e quatro quilôme-tros por semana o fazem por razões outras do que a saúde. Assim, creio que nos deveríamos perguntar se a “hiperatividade” física não seria o lado oposto do sedentarismo, da “hipoatividade”. O que in-dica ou oculta a hiperatividade? Ambas as condutas se desviariam do normal ou do equilíbrio? Somente o moderado seria bom, mesmo quando entendido como medíocre?
Há um par de dados brutos e conflitantes que não vejo como seriam integrados com franqueza, e com confiança, pela fisiologia. O primei-ro é que alcançar o condicionamento supõe um caminho doloroso, suado, esforçado e sua perda é fácil, rápida, sem esforço. O segundo é que, de forma dominante, engordar é fácil e emagrecer muito difícil em contextos de abundância.
Podemos afirmar que a genética nos conformou tendencialmente para engordar, para acumular energias em contextos caracterizados pela afluência alimentar cíclica. E talvez, como Harris (1984) apontou, a predisposição para considerar como comida a “gordura” é universal. Observo que as crenças dos primitivos parecem ecoar nas propostas do aumento da ingestão de gorduras e proteínas para, por exemplo, aumentar os níveis de testosterona, no caso dos homens.
Aqui a biologia se torna um poderoso instrumento de integração narrativa. Entretanto, o que a biologia nos estaria dizendo quando se faz tão penoso alcançar o condicionamento? Estaria afirmando que ge-neticamente o esforço não vale a pena? O custo não deveria também ser integrado na narrativa fisiológica? Teríamos genes que, ao contrário do caso da obesidade, resistiriam ao condicionamento e sinalizariam a resistência no esforço, nas dores do treino? A base do sedentarismo, da recusa à atividade, estaria geneticamente codificada? Teríamos de modificar geneticamente o sedentário e o obeso?
Os promotores da atividade física raramente enfrentam perguntas desse teor. Mais frequentemente, acusam a sociedade industrial de,
126 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
com seus engenhos poupadores de esforços, na esfera do trabalho e da vida cotidiana, multiplicar os efeitos negativos da falta de ativi-dade física. Alimentação abundante, composição inadequada e falta de atividade gerariam a obesidade. O rolo compressor para que as pessoas pratiquem atividade física possui argumentos poderosos, con-vincentes. Contudo, a maioria resiste! Talvez por não termos respostas convincentes para as perguntas que fazemos a partir de observações banais da experiência pessoal?
2. oMiTiNDo E ESQUECENDo
A obsessão por provar os benefícios da relação entre a atividade físi-ca e a saúde, e a compulsão por divulgá-la, faz esquecer o cenário no qual se dá a insatisfação com a prática. Vejamos alguns dos elementos desse cenário.
Em primeiro lugar, a obsessão leva a esquecer que a relação positi-va entre atividade física e saúde, especialmente a moderada, já fora formulada pelos gregos e repetida ao longo dos últimos 2.500 anos, como apontei em outros trabalhos (LOVISOLO, 2000). Estamos, por-tanto, diante de uma tradição de conhecimento que as pesquisas ape-nas reforçam e especificam, mas pouco acrescentam ao consenso de que o corpo se beneficia da atividade física. Atribui-se a Aristóteles a distinção entre o caráter negativo do treinamento do atleta e o positi-vo da atividade moderada, especialmente a caminhada, para a saúde (LOVISOLO, 2000). Contam os biógrafos, com toda naturalidade, que o mestre Comênio, doente, iniciou uma longa caminhada para recu-perar sua saúde, o que se deu no século XVII.
Em segundo lugar, que, nas últimas décadas, a recomendação da atividade física para a saúde tornou-se matéria corriqueira, e até can-sativa, dos diferentes meios de comunicação. Assim, seria difícil afir-marmos que a recusa da prática se baseia em falta de informação, promoção, propaganda, conscientização, “inculcação” ou como se queira denominar. Nada indica, no entanto, que maior publicidade mudará os dados da prática, embora o coro dos contentes insista até o cansaço na necessidade da informação.
Observo que ainda domina a crença popular, ou afirmação rotineira, no poder dos meios de comunicação para modelar tanto nossas cren-
127SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
ças quanto nossas condutas. Os defensores da “mais informação” ou “mais propaganda” pareceriam estar imbuídos dessa crença popular, embora poucos comunicólogos hoje confiem no poder dos meios de comunicação de entrar sob nossa pele como uma “agulha hipodérmi-ca”. Tal crença, entretanto, funciona como obstáculo epistemológico: não permite reconhecer que há informação e promoção mediática até em demasia da atividade física, embora a sucessão de campanhas e de mensagens pareça fracassar. Os índices de praticantes não são satisfatórios para os promotores, embora de praxe sejam eles os que os elaboram. A confiança no poder da mídia, aliada da obsessão, leva a demandar mais e mais “inculcação” pela crença na população, ao invés de se elaborarem perguntas de pesquisa que permitam entender a resistência à prática: a recusa, o “não”.
Em terceiro lugar, que a fórmula ideológica dominante de felicidade é juventude, beleza e saúde (Jubesa) e que a atividade física aparece altamente recomendada, quase obrigatória, para a obtenção desses valores (LOVISOLO, 2006). Assim, além da saúde, valores tão signifi-cativos como juventude e beleza reforçam o esquema ideológico da adesão, embora gerando não poucas contradições em termos de ava-liação moral das intenções ou motivações para a atividade física.
Estamos, portanto, diante de um “fato” histórico e socialmente cons-truído, que pouco se questiona: a atividade física é boa! Da mes-ma forma que não se questiona a necessidade de reduzir o consumo de gorduras na alimentação, de comer verduras e frutas frescas e de beber líquido em quantidades elevadas. Estamos diante de lugares-comuns, apresentados como fatos comuns. Entre esses fatos, está a crença no poder quase absoluto da mídia. Fora tão forte o seu poder, todos deveríamos dedicar-nos à prática, pelo menos moderada, da ati-vidade física, para atingirmos as metas de juventude, beleza e saúde. A insatisfação dos profissionais da atividade física com o grau de adesão e sua obsessão em inculcá-la indicam que, para as expectativas da ca-tegoria profissional, a grande maioria da população não está fazendo aquilo que é um fato diuturnamente afirmado e divulgado pelos meios de comunicação. Por outro lado, a obsessão com a pesquisa, tanto em termos de atividade física como de dietas, está gerando resultados difíceis de serem assimilados e compatibilizados. Com efeito, assiste-se à proliferação de matérias contraditórias, sistematicamente reali-
128 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
zadas pela mídia, sobre a atividade física e as dietas. Recentemente, uma revista semanal teve como capa a denúncia sobre o que chama a “Diferença das dietas”. A revista relata como as certezas se tornaram dúvidas e o que seria benéfico perdeu esse caráter. O significativo é que salienta o deslocamento dos fundamentos tradicionais e univer-sais da dieta para a diferenciação entre homens e mulheres baseada, além da clássica morfologia, na necessidade de geração de dopamina e serotonina. Assim, os estudos neurofisiológicos aparecem com novas referências para a dietética. A natureza é reintroduzida como base nas diferenças entre homens e mulheres, embora isto possa desagradar aos defensores das diferenças como meros produtos históricos ou constru-ções culturais. A tábula rasa começa a rachar em várias direções.
Diante desses fatos (talvez meros factóides), deveríamos reconhecer que nossa crença sobre a força inculcadora dos meios de comunica-ção merece ser revista criticamente. Os teóricos da comunicação há várias décadas criticam tal crença salientando, sobretudo, a diversi-dade das formas de recepção. Contudo, eles tiveram menor êxito em desmontar a velha teoria da “agulha hipodérmica” do que tiveram em criar sua aceitação popular, e estão em débito com o esclarecimento. A crença no poder da mídia é dominante na própria educação física, como podemos comprovar cotidianamente na sala de aula da gradu-ação e da pós-graduação.
A obsessão e a ansiedade com que se buscam evidências para a do-bradinha atividade/saúde são provocadas pela sensação de fracasso. A obsessão leva ao esquecimento da longa tradição de promoção da ati-vidade física, da também longa crença no poder dos meios de comu-nicação e do valor e difusão da fórmula Jubesa. O esquecimento faz recomendar mais daquilo que já foi distribuído no tempo e no espaço. A sensação de fracasso se traduz em impotência ou atividade frenética para acumular evidências a favor da prática, para exigir condições de infraestrutura para as práticas e maior divulgação de seus benefícios. Ou seja, insiste-se em bater nas mesmas teclas, ao invés de se parar e perguntar: quais são as razões fisiológicas para que a maioria das pes-soas não faça uma atividade que considera tão benéfica? Como uma parcela significativa de ex-atletas se torna sedentária?
Podemos estar presenciando um caso típico de motivações em competição? As pessoas convivem, por um lado, com a representa-
129SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
ção social relativamente consolidada, no plano discursivo, de relações positivas entre atividade física e saúde, e, por outro, constatam pra-ticamente a demora na chegada dos efeitos prometidos, a efemeri-dade dos mesmos e a presença da dor, do tédio, do cansaço, enfim, de todos os percalços e preços do envolvimento com as proposições inculcadas por outros? E, então, o que a fisiologia que fundamenta a relação positiva tem a dizer?
3. ExPliCANDo ‘AD HoC’ A FAlTA DE ADESÃo
Ao invés de se fazerem perguntas radicais, direcionadas para a raiz do problema, listam-se fatores ad hoc para explicar a insatisfação com os percentuais de praticantes. Falta de consciência ou educação, falta de condições, falta de tempo, falta de prazer nas atividades física, falta de adequação das propostas e de seus protocolos às necessidades das pessoas, entre outros, são os mais mencionados e contemplados na elaboração de novas formas de intervenção. As propostas formuladas nas últimas duas décadas lidam com um ou mais dos fatores mencio-nados. E deslancham-se campanhas privadas e públicas, destinadas a motivar a população para a prática da atividade física. Os resultados, entretanto, são pouco animadores. Por que será que a prédica, antiga e massiva, dos benefícios da atividade física sistemática é pouco efi-ciente na criação da adesão a sua prática? Será que sempre as propos-tas e a publicidade estão erradas?
Creio que quando a educação física pesquisa os fatores ad hoc ou entende a rejeição como multifatorial está errando o alvo do entendi-mento. Tenho sugerido que as pessoas enunciam respostas precodifi-cadas, “fatores”, para lidar com a “culpa” de não estarem seguindo a norma de proteger sua saúde mediante a atividade física. Assim, dizer que as pessoas não têm tempo ou condições tem pouco valor, pois é situar-se no círculo das explicações ad hoc que aparecem nos meios de comunicação (LOVISOLO, 2002). Em outros termos, recebemos das pessoas, enquanto respostas, as informações que divulgamos. Ficamos fechados diante de respostas que poderiam fazer pensar de modo um pouco diferente, especialmente aquelas que implicam lógicas diferen-tes das dos promotores da atividade física. Eu perguntaria: temos feito pesquisas para compreender os sentidos e emoções, por exemplo, da
130 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
família de obesos e sedentários? É possível escolher os prazeres da gas-tronomia em detrimento dos do movimento corporal ou do sexo? Ou os prazeres do presente ao invés da segurança no futuro? Se os arautos do futuro incerto nos bombardeiam com seus negros prognósticos, para que apostar no futuro? Um corpo arredondado não poderia ser sedutor e erótico, se o ser é esférico como já foi pensado? Fazer atividade física com objetivo de saúde é como poupar para o futuro, para a velhice. Será que provoca muito mais bem-estar a conversa com os amigos re-gada a cerveja e linguiça frita que transpirar na esteira? Os historiadores podem listar um antigo e numeroso conjunto de afirmação sobre o prazer de conversar, de jogar conversa fora. Com a cerveja, nossa von-tade de conversar é ainda melhor. Será que a maioria prefere gastar no presente, enfim, procrastinar? Sabemos pouco sobre essas coisas, po-rém, temos de reconhecer que estamos trabalhando com significados sociais e que os estamos pesquisando de forma talvez grosseira. Temos de enfatizar e refinar o entendimento do “não” ao invés de reiterar pes-quisas sobre a positividade, sobre o “sim” da atividade física e o não da obesidade. Vários filósofos e ensaístas nos últimos anos têm se detido sobre o gordo, sobre gula e até sobre o ventre dos filósofos e dimen-sões que merecem resgate foram focadas; nem sempre a obesidade foi um destino maldito para as pessoas (COUPRY, 1990; ONFRAY, 1999a e ONFRAY 1999b). Precisamos do entendimento, mais fisiológico do que cultural do “não”, para fundamentar as recomendações para a saúde a partir do entendimento de suas recusas.
4. ARGUMENTANDo PARA ESCoVAR oS DENTES E PARA FAzER ATiViDADE FíSiCA
No campo da saúde vigem algumas tradições de “inculcação” bem-feita. A propaganda para escovarmos os dentes, por exemplo, que é muito mais recente do que a da atividade física, e com menores investimentos, teve enorme êxito. Os produtores de creme dental pu-blicitaram o sorriso maravilhoso, da mesma forma que os produtores de aparelhos de ginástica publicitam ventres fantásticos, bíceps eston-teantes, seios e coxas com as quais podemos sonhar. Escovar os dentes deixou de ser publicitado e passamos a nos concentrar nos modos de escovar os dentes, na limpeza interdental, na qualidade diferencial
131SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
de um creme dental sobre outro (o creme Total tornou-se moda!). Poderíamos, heuristicamente, fazer-nos a mesma questão em relação à vacinação: passamos da revolta, historiada por Murilo de Carvalho, em Os bestializados, para a procura. A televisão nos mostra as famílias de canoa nos cantos do Brasil levando suas crianças para serem vaci-nadas. Como a campanha deu certo no caso de escovar os dentes e da vacina e não deu certo no caso da atividade física sistemática? Creio que este deveria ser o tipo de questão comparativa se pretendermos entender a baixa adesão, e para isto não se pode abandonar o plano da experiência dos sujeitos e suas avaliações com essas atividades.
A campanha para escovar os dentes teve grande êxito em termos comparativos, tanto quanto o enriquecimento da água com flúor. De fato, saibamos ou não, cuidamos de nossos dentes quando levamos água à boca, embora não façamos isso para cuidar dos dentes! Não há nada semelhante no campo das atividades corporais. Vejamos algumas explicações para imensa adesão ao hábito. Em princípio, e seguindo o modo de pensar dos economistas, importa salientar que o custo de escovar os dentes é relativamente baixo e grande são seus benefícios que se manifestam em termos de bem-estar. Necessitamos de água, escova, creme, fio dental e poucos minutos ao dia tentando seguir as prescrições dos especialistas. Sob o ponto de vista existencial, a ex-periência da dor de dentes e o medo que nos provoca estão bastante generalizados. Assim, com pouco esforço tentamos nos livrar de expe-riência tão desagradável ao mesmo tempo que fazemos mais branco nosso sorriso. Como não lembrar Tom Hanks tentando arrancar um dente na ilha solitária! Portanto, escovar os dentes responde à fórmula de: pouco esforço, grandes benefícios!
A relação custo versus benefício merece ser avaliada com circuns-tância. Veja-se o caso da adesão às campanhas de vacinação. Sabemos que no início houve recusa à vacinação por várias razões: baixa efici-ência, dores e febre, entre outros males. Passei pelas dores da vacina na minha infância, depois pela vacina quase sem efeitos observáveis pelo próprio receptor. Diante da melhora das vacinas, a adesão cres-ceu rapidamente. Ou seja, a melhora provocou uma tremenda queda nos custos subjetivos, acelerando a adesão.
Podemos então pensar que o custo de escovar os dentes e da vaci-nação preventiva é relativamente baixo quando comparado ao custo
132 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
de realizar atividade física, tanto sob o ponto de vista do tempo “gasto” quanto sob o dos investimentos em equipamento e/ou academias. Um economista reducionista afirmaria que as equações de custo/benefício explicariam o investimento na atividade de proteção dental, massiva, versus o baixo investimento da população como um todo na atividade física sistemática. Mais ainda, temos geralmente uma sensação de pra-zer ou gosto quando escovamos os dentes, favorecida pela possibilida-de de encontrarmos no mercado a escova e o creme dental de nossa preferência. O hábito se reforça a si mesmo. Escovas e cremes dentais ocupam lugar de destaque nos supermercados e farmácias. É tudo tão fácil que, mesmo que sejamos céticos em relação aos efeitos benéficos da prática de escovar os dentes, a prudência nos leva a fazê-lo, sobre-tudo sendo tão fácil, implicando esforços tão pequenos! A prudência parece contar com menos força diante de uma maravilhosa torta de chocolate, comemos a torta e nos prometemos fazer dieta amanhã, ou diante da perspectiva de realizar atividade física, não a fazemos e nos prometemos começar na próxima segunda.
Assim, a questão parece que se inverte: deveríamos tentar explicar a conduta dos compulsivos pela atividade física. Como alguém chega a ser viciado no esforço de correr mais de três vezes por semana? Como alguém chega a ser viciado em transpirar na academia todos os dias, durante horas? A inversão da questão me parece uma forma de superar o obstáculo epistemológico. Temos que deixar de pensar que o normal e bom é aquilo que se define como funcional sob o ponto de vista fisiológico de prolongar a vida ou manter a autonomia. Estes valores têm muito mais cara de cultura do que de biologia, muito mais presença do desejo de durabilidade do que de conceitos fisiológicos. Por que seria fisiológica ou biologicamente normal viver mais, adoe-cer menos na velhice e manter a autonomia? A mudança nas “recei-tas” para atingirmos esses valores ou objetivos sociais indicaria que a fisiologia, e a medicina, estão, nas suas pesquisas, profundamente influenciadas pelos valores que dão origem às receitas, apesar de se considerarem “científicas”, no sentido de livres de valores sociais? Os valores em pauta não fazem sentido para a teoria da evolução e se afirma que nada faz sentido em biologia sem ela.
A expressão “para ganhar dois anos de vida com a atividade física é necessário perder muito mais tempo realizando-a” expressa o ponto
133SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
de vista de uma economia de migalhas. Mais ainda quando as pesqui-sas indicam que o efeito de proteção desaparece rapidamente quando cessa a atividade física; a prática, portanto, não se torna tesouro nem capital (MIRA, 2000). E nem vacina!
Eu tenho sugerido a hipótese de que as recomendações das práticas ditas moderadas, um conjunto amplo e inconsistente de atividades corporais, resultaram muito mais da recusa das populações à prática sistemática ou intensiva, do que das considerações fisiológicas (teóri-cas) ou epidemiológicas (empíricas) sobre seus benefícios. Entretanto, parte considerável dos profissionais da área da educação física, que acreditam nos efeitos benéficos da atividade sistemática e intensa, olha com suspeitas para as práticas ditas moderadas, desconfia de sua eficiência para gerar os efeitos protetores que se lhe atribuem. Eles compartilham uma longa experiência psicológica que afirma: sem es-forço não existe resultado! No caso da atividade física, a dor sempre foi um indicador do esforço de alongar, de estimular o músculo, de aumentar a resistência. Se a procura da dor é um destempero da exis-tência, a orientação pela ausência de qualquer dor é uma redução da mesma. Parece que o equilíbrio entre dor e não dor deveria orientar-nos. Diria que uma boa parcela dos médicos clínicos comunga do ide-al do moderado, sobretudo, da caminhada realizada em nível baixo ou moderado de exigência. Creio que a crença resulta muito mais da tradição do que da observância das correlações na clínica e, talvez, do mero raciocínio de que caminhar não faz mal a ninguém e o paciente sente que está fazendo alguma coisa. É possível que a recomendação da caminhada e sua realização conformem um placebo. Os placebos são importantes, não os eliminaria. Seria o placebo a forma dominante da bruxaria científica? Não sei. O que podemos afirmar é que, ainda no caso dos placebos, os modernos procuram demonstrar que são resultados de pesquisa científica. Será que o ato de mostrar dados de pesquisa favoráveis à atividade física poderia ser similar ao punhado de penas com sangue que o bruxo cospe para demonstrar que tirou o mal do corpo? Estaríamos diante da eficácia simbólica do placebo da atividade física e pela qual seria suficiente a consciência de sua importância para existirem efeitos práticos? Creio que a obra de Fraga (2006) gera elementos que fundamentariam uma resposta positiva.
Precisamos, no entanto, dar conta da evidente contradição entre as
134 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
crenças nos benefícios protetores da prática e a baixa adesão à mesma. Como deixamos de fazer aquilo que é bom para o corpo? Habitual-mente entendemos que os quadros patológicos significam um percen-tual pequeno de portadores no total da população – a anorexia, por exemplo, quando vista como abstinência alimentar. No caso da falta da atividade física, da abstinência de esforço, a ideia de patologia não faria sentido, dado que a maioria teria esse sintoma. Considerar seus portadores como patológicos significaria entrar no mundo fantástico de O Alienista, de Machado de Assis, onde todos são internados. A diferença é que o médico machadiano, num átimo de lucidez, flagrou o equívoco do tratamento, mandou soltar a todos e foi internar-se na Casa Verde.
O abstinente do esforço pode ser considerado patológico? Econo-mizar, num sentido muito básico, significa poupar esforços. Poupar o esforço físico é patológico ou apenas economia fisiológica? Se partir-mos da fisiologia, temos que reconhecer que o esforço se vincula aos mecanismos básicos de ataque ou fuga, de raiva ou medo, de uma alta explosão emocional que tudo invade e que se faz dona de nosso cor-po e mente permitindo a realização de esforços que não faríamos sem ela. A excitação nos domina. Quando afirmamos que faltou raça aos atletas, não estamos dizendo que a emoção, que possibilita o esforço, esteve ausente? Ou que estavam apáticos, pouco excitados pelo obje-tivo de ganhar? Então, qual o significado fisiológico de realizar esforços sem o correlato emocional ou sem excitação? Temos relações sexuais quando não estamos excitados ou emocionados? Será que o corpo fi-siológico recusa o esforço sem emoção ou excitação? A emoção pode tanto ser resultado de estímulos externos quanto internos. Podemos fugir muito tempo do urso, porém, também podemos correr muito tempo na esteira porque nossa mulher nos abandonou ou para que não nos abandone? Fugir da solidão pode ser muito mais necessário na cidade do que fugir do urso.
No campo da fisiologia, a contradição desdobra-se sob o ponto de vista das explicações: os benefícios se explicam fisiologicamente, en-quanto a recusa ou a abstinência se justifica mediante variáveis psi-cológicas ou sociológicas. Tentemos ser unitários, superar a dualidade das explicações. Em outros termos, estas duas observações não conse-guem ser conjugadas na mesma teoria. Enquanto os benefícios resul-
135SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
tam da aplicação dos conhecimentos da fisiologia e da epidemiologia, a recusa da prática pretende ser explicada com variáveis da consci-ência, psicológicas ou sociais, ou por condições favoráveis ou não à sua efetivação (tempo, equipamentos, etc.). Não conheço tentativas de explicar a recusa ou o fugir da atividade física a partir de variáveis fisiológicas em contextos de representações que lhe atribuem efeitos benéficos de saúde. Insisto, não temos uma fisiologia do não! Eu não conheço nenhuma teoria fisiológica que saliente, por exemplo, que as pessoas com baixo VO2 rejeitem a prática aeróbia por terem altos cus-tos, dores excessivas ou porque o cérebro lhes manda parar, pois fica com pouco alimento, isto é, por razões fisiológicas, embora tal tipo de rejeição pareça sensata para ser testada. Não conheço nenhum traba-lho que apresente as relações entre a capacidade de hipertrofiar fibras musculares e a conduta na atividade física. Digamos que pratico e não hipertrofio o músculo na medida desejada ou o faço muito lentamen-te; se comparado a outros praticantes, para que continuar praticando? Diferenças de respostas fisiológicas entre os atletas, diante do mesmo programa de treinamento, parece ser uma boa razão para o uso do doping que as compense. Não castigamos o uso dos óculos que corri-ge uma deficiência, entretanto castigamos o uso de drogas que tem o mesmo sentido, por entendermos que sua função principal não é a de compensar, mas ao contrário, ganhar uma vantagem adicional.
De fato, sob o ponto de vista fisiológico pressupõe-se que todos po-dem e devem fazer atividade física sistemática, mesmo quando há in-dicações de que as pessoas podem escolher, intuitivamente, tipos de trabalho em função do menor ou maior esforço despendido para sua realização, como na famosa pesquisa entre cobradores e motoristas de ônibus em Londres. Lembremos que os primeiros apresentavam melhores indicadores que os segundos e as primeiras interpretações atribuíam os mesmos à maior atividade física dos cobradores. Os co-bradores escolhiam o trabalho de maior esforço por disporem, com anterioridade, de condições favoráveis ao mesmo. Então, existiria uma escolha do trabalho em função do menor custo ou esforço fisiológico! O forte e resistente podia no passado escolher o trabalho de estivador, enquanto o fraco e pouco resistente procurava o emprego leve. Assim, sob o ponto de vista fisiológico, dizemos que a atividade física é neces-sária para o funcionamento saudável do corpo e, sob o ponto de vista
136 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
social, temos interiorizado seu valor positivo no campo das represen-tações. Entretanto, domina um percentual baixo de praticantes. Como tal contradição ocorre? Será que a fisiologia foi invadida pela ideia da igualdade democrática ou tábula rasa? Se assim for, não se teria aban-donado o marco de sentido da teoria da evolução que afirma (não há dois indivíduos iguais na mesma espécie) e valoriza as diferenças entre os indivíduos de uma espécie (isto é bom para a espécie)? Assim, todos podem e deveriam fazer atividade física, como todos podem e devem votar! E, pior ainda, todos terão ótimos benefícios fazendo atividade física! Sabemos que as relações elaboradas para a população não vi-goram para cada indivíduo! Mas parece que fazemos de conta de que vigoram! Creio que ainda não sabemos por não tentarmos outras per-guntas que nos levem a outras estratégias de pesquisa.
A explicação da recusa é fraca por duas razões principais: a) A publicidade conseguiu que as pessoas internalizem a positivi-dade da relação entre prática e saúde, a tal ponto de se sentirem culpáveis quando não realizam atividade física; são, portanto, cons-cientes e favoráveis à mesma. b) É raro encontrar condições que realmente impeçam sujeitos sau-dáveis e livres de correr ou caminhar realizando o esforço que os técnicos da prática estabelecem para cada condição individual (ida-de, gênero e condição física). Paremos, então, de listar fatores de pouco peso para tentarmos explicar, no mesmo movimento, tanto a não prática quanto seu vício. Da mesma forma que a imunidade e o contágio devem ser explicados pela mesma teoria.
5. bUSCANDo A boA TEoRiA
A boa teoria integra dados empíricos de uma área de reflexão e pesquisa. A teoria está viva quando novas relações entre conceitos ou variáveis podem ser incorporadas aos seus mecanismos explica-tivos, na medida, então, que supera a existência de explicações ad hoc de relações empíricas – que por vezes são as únicas que domi-nam uma área de conhecimento – ou de “hipóteses” que carecem de qualquer possibilidade de produção de evidências. A teoria é melhor ainda quando nos permite operar o mesmo conjunto sistemático de explicações para dados aparentemente divergentes ou contraditórios,
137SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
aumentando a consistência das crenças científicas. Pelas razões an-teriores, Gould (1999) escolhe a teoria de Alvarez, do desastre, para explicar a desaparição dos dinossauros, pois há evidência de desastres provocados por meteoros na presença do irídio, metal raro na Terra, e, ao mesmo tempo, a teoria dá conta de outras desaparições que ocorreram.
O problema teórico que se coloca é: qual abordagem permitiria explicar simultaneamente os benefícios da prática da atividade física e sua recusa, quando levamos em consideração a crença positiva nos mesmos, e o vício da atividade? Qual teoria poderia integrar essas observações, aparentemente contraditórias ou divergentes? Em minha opinião, enquanto a fisiologia se recuse a fornecer uma resposta bio-lógica para a recusa, refugiando-se em justificações internas (psicoló-gicas) ou externas (condições), formuladas pelos próprios não prati-cantes (a partir de um círculo vicioso de interação com especialistas e mídia), estará tentando ocultar o sol com uma peneira e negando-se a um melhor entendimento do problema. Em outros termos, recu-sa assumir o problema e o coloca fora! Quando fazemos exercício físico estamos sendo fisiologicamente adequados, quando resistimos estamos fora do campo da fisiologia, seremos tratados pelos psicólo-gos ou pelas políticas públicas. O corpo é sábio quando faz exercício, torna-se burro quando economiza esforço! Estamos num mundo de explicações dualistas!
Ao invés de investir em explicações unitárias, investe-se em gerar protocolos de atividades cada vez mais reduzidos, de menor esforço, até que as pessoas digam: “Poxa vida! Eu não sabia que fazia atividade física!” Creio que as importantes contribuições do Celafics estão nos levando para esse porto (FRAGA, 2006). Mais ainda, a redução do tempo recomendado pode levar à situação do burguês de Molière que descobre que falava em prosa ou a afirmar que sedentário é apenas quem não sabe que faz atividade física, embora a faça.
Permitam que seja insistente: dar uma resposta biológica implica fa-zer significativas as observações sobre a recusa em termos biológicos, abandonando a facilidade de formulações ad hoc em termos psico-lógicos ou sociológicos, que os fisiologistas fariam melhor em deixar nas mãos de seus colegas das ciências humanas e sociais. Negar-se a explicar a recusa, em termos biológicos, implicaria desconfiar da
138 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
relação positiva entre atividade física e proteção, no sentido anterior-mente indicado? Explicar implicaria ter de abandonar a tábula rasa, a suposição da igualdade da reação de todos ao exercício?
Dito de forma asseverativa: o deslocamento para os fatores psicos-sociais significa tanto (a) um abandono da teoria biológica quanto (b) uma desatenção a possíveis variáveis intervenientes que modificariam as relações canonicamente supostas entre treinamento físico e capaci-dade de esforço, treinamento físico e sentimento de bem-estar.
Vejamos um exemplo do efeito da desatenção às variáveis inter-venientes. A distribuição de leite em pó, promovida com as me-lhores intenções pela Nestlé na América Latina e motivada pelos seus supostos efeitos benéficos em termos alimentares, encontrou resistências ao consumo por parte de pessoas que declaravam que não lhes fazia ou caía bem. Os pesquisadores descobriram que um percentual relativamente alto de pessoas adultas (alguns falam de 40%) não tinha em funcionamento o mecanismo bioquímico res-ponsável pelo processamento da lactose. Se tivessem continuado a insistir no diagnóstico da diarréia do leite em pó como produto de motivos psicológicos ou culturais não teria sido descoberto o meca-nismo causador. Se tivéssemos continuado a insistir no efeito do es-tresse nos transtornos do aparelho digestivos não se teria descoberto o papel das bactérias. Creio que não há pesquisa suficiente sobre os mecanismos fisiológicos das pessoas que declaram que a atividade física não lhes faz bem, deixa-os mais cansados ou doloridos. O fácil deslocamento para a consciência ou para a vontade passa a funcio-nar como obstáculo epistemológico secundário para pesquisar, sob o ponto de vista fisiológico, as interações de variáveis intervenientes que poderiam provocar esses efeitos não canônicos. Digo secundá-rio, pois considero que o principal obstáculo é o abandono da teoria evolucionista sem a qual nada, segundo declaram os biólogos, faz sentido na vida.
6. REToMANDo A TEoRiA
Fui convencido pelos biólogos de que nada faz sentido sem a teoria da evolução. Assim, por exemplo, posso pensar que a tendência a consumir e acumular gorduras no corpo é uma característica evolutiva
139SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
funcional para um mundo em que períodos de abundância alimentar, sobretudo provenientes da pesca e caça, se alternavam com períodos de fome ou de subalimentação. Este efeito “urso”, geneticamente co-dificado, traria um impulso positivo e funcional de ingestão além do gasto em contextos onde os supermercados e o excesso de produtos alimentares são inexistentes e que, portanto, obrigam a estabelecer a reserva no próprio corpo. De fato, regulamos a alimentação dos animais domésticos e o veterinário receita a qualidade e a quantida-de de alimentação de nosso cachorro, enquanto o cachorro da rua come tudo o que puder. Mais ainda, esses contextos naturais cíclicos de praxe se caracterizariam pelo considerável esforço para a obtenção alimentar (andar ou correr, remar, fazer atividades manuais, etc.). Os nativos da Amazônia mudam de acampamento quando o custo do deslocamento (esforço) para obterem caça supera seus benefícios. O contexto de insegurança alimentar é medido em milênios, enquanto o contexto de segurança alimentar tem menos de um século e vigora apenas para uma parcela reduzida da população mundial que conta com renda suficiente. Se concordarmos com essas hipóteses, resulta fácil entender que populações que viveram em contextos de escas-sez e de trabalho duro, quando cresce a oferta alimentar e diminui o esforço do trabalho, tendem rapidamente a tornar-se obesas. É nes-se tipo de contexto em que a atividade física apareceu como receita privilegiada e massiva, enquanto aumento da capacidade de realizar esforços, manutenção da força, resistência e elasticidade dos corpos diante da entropia, fator de prevenção e de combate à obesidade e doenças, entre outras formas de expressão. É por essas razões que os Estados Unidos comandam o processo de pesquisa e intervenção (LOVISOLO, 1995).
Mudadas as condições de oferta alimentar, o comando genético que acumula reservas no corpo poderia se tornar inadequado ou disfuncional, sob o ponto de vista da codificação médica da saúde, levando a mecanismos variados de intervenção para o controle das relações desproporcionadas entre ingestão e gasto que resultam em acúmulo de reservas. Neste contexto explicativo, e ainda quando não existam fundamentos, isto é, relação consensual entre argumen-tos e evidências, parece aceitável a hipótese de que a codificação genética provoque a vontade da ingestão que geraria ansiedade, en-
140 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
tre outros sintomas, quando não satisfeita. O obeso poderia gritar, em função dos argumentos: modifiquem-me geneticamente! Obser-vo que o acúmulo de gorduras no organismo apenas aparece com seus efeitos negativos, segundo as pesquisas médicas, além da idade da etapa reprodutiva. A obesidade faz sentido funcional sob o ponto de vista da teoria da evolução; o princípio básico da teoria evolu-cionista, a necessidade de reprodução genética, não estaria sendo afetado. A natureza estaria pouco preocupada pelo entupimento das nossas artérias e a morte por acidentes circulatórios além do tempo de reprodução. Mais ainda, morrer seria um benefício sob o ponto de vista da reprodução da população, pois eliminaria concorrentes não reprodutivos dos reprodutivos em relação aos alimentos escassos fornecidos pelo meio. Assim, a obesidade faria sentido porque não teria efeitos negativos para reprodução da população nem do gene egoísta para as condições de vida de quase 50.000 anos. Sob o pon-to de vista cínico, também faria sentido, seria um bem para os custos das aposentadorias.
Sob o ponto de vista evolutivo, uma população com muitos velhos, que consomem e não se reproduzem, seria negativa para a dinâmica populacional. Apenas funcionaria quando a produtividade de produ-ção das condições de vida fosse altíssima – pois bem, esse é o nosso mundo! Os que criticam o capitalismo porque gera sedentarismo de-veriam também criticá-lo por gerar um percentual crescente de popu-lação velha em função do desenvolvimento econômico, da produtivi-dade e da substituição do esforço humano pelo trabalho dos motores que, aliados com as políticas públicas de saúde e com os avanços terapêuticos, fez que a esperança de vida dos países desenvolvidos dobrasse ao longo do século XX! Talvez devessem criticá-lo porque os aposentados saudáveis e os velhos sarados continuam trabalhando e há muitos jovens desocupados! O crescimento da população velha não faz sentido sob o ponto de vista da teoria da evolução, ao contrá-rio dos obesos que, parece, faziam sentido.
A obesidade, no entanto, deixaria de fazer sentido na cultura medicalizada e estetizada. A cultura medicalizada se preocupa por aumentar a esperança de vida além do tempo de reprodução e cria-ção da prole e, então, situa a obesidade como risco para a vida e a perda das funções de força, elasticidade e resistência como perda
141SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
da autonomia. A atividade física torna-se fator destacado na pre-venção do risco. Há, no entanto, outro valor cultural talvez mais importante que a diminuição dos riscos. A estetização dos corpos, que é uma estilização, coloca o obeso fora das relações sociais que exigem padrões corporais bem diferentes dos que desenvolve a partir da pulsão genética para a acumulação de gorduras. Sob o ponto de vista da evolução, os que têm um código genético pro-penso a transformar (de forma econômica) alimentos em gorduras, acabariam, diante da seleção estética, diminuindo a reprodução de seus genes egoístas, a não ser que se escolham entre si, reduzindo, igualmente, sua distribuição na população. Em outras palavras, a campanha contra a obesidade pode ser pensada pelo lado de seu efeito eugênico: pela promoção da reprodução dominantemente entre os não obesos. Estamos diante de uma nova eugenia que não se reconhece enquanto tal?
Isto nos leva a um paradoxo: fisiologistas, médicos, esteticistas e promotores da atividade física estariam no mesmo barco da estetiza-ção como estilização dos corpos (LOVISOLO, 1995). Médicos e fisio-logistas funcionalizariam a estilização como saúde, isto é, como nor-ma vital. Os esteticistas apenas estilizam, colocando o obeso como grotesco. Parece que todos eles estão muito mais do lado da cultura, da civilização como estilização, que do lado da fisiologia ou da na-tureza, que pouco se importa, a não ser funcionalmente em relação à reprodução, com características secundárias de atração social e sexual. Mais ainda, em contexto de carência alimentar o obeso pode ser visto como aquele que possui meios alimentares, portanto, obje-to desejável para a reprodução. Talvez disso decorra a confusão que dizemos que os antigos faziam entre saúde e obesidade. Talvez eles não confundissem, apenas entendessem que o gordo era desejável porque conseguia alimentos, já que era capaz de fazer seu próprio estoque de energia sob a forma de gordura que, também, poderia ser funcional para resistir às doenças. Sob o ponto de vista da fun-cionalidade da evolução, a funcionalidade dos corpos estilizados e duráveis seria um contrassenso, a não ser que estejamos expressando com a estilização uma nova relação funcional ou de adequação com o meio. A cultura estética estaria expressando uma nova necessidade funcional?
142 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
7. MoSTRANDo SENTiDo NA TEoRiA EVolUCioNiSTA
Se partirmos da imagem de que estamos movidos geneticamente para a sobrevivência reprodutiva, a atividade física – para proteger da morte e da dependência a que levaria a velhice, mediada pela situação de serem os velhos concorrentes alimentares não reproduti-vos dos reprodutivos, que teriam interesse em seu desaparecimento e substituição por novos – não faria sentido. Muito menos sentido faria no caso das mulheres que, em média, deixam de ser reproduti-vas antes dos homens e morrem, em média, mais tarde. Uma natu-reza consequente, segundo o paradigma evolucionista, faria com que deixássemos de nos preocupar biologicamente com a morte além de nossa capacidade ou limite reprodutivo. Creio que a dimensão bio-lógica faz sentido nas narrativas culturais que colocam a morte como doadora de sentido para a vida. Elas dizem: como valorizar e realizar as escolhas do presente sem o futuro da morte? Lucrécio construiu o paradoxo de que a vontade de prolongar a vida equivale a pretender ter nascido antes. Hoje podemos dizer que seu paradoxo é inconsis-tente, porém poderia fazer sentido para outras condições.
Consequente com ela mesma, a natureza faria que investíssemos nossos esforços na reprodução. Podemos pensar, portanto, que te-mos invertido os “determinantes naturais” e posto no seu lugar valo-res sociais: vivermos muito, além da etapa reprodutiva, e chegarmos a velhos ativos, autônomos. Eis aí o grande paradoxo: pretende-se elaborar argumentos biológicos ou fisiológicos para valores culturais, centrados no prolongar a vida ativa usando, entre outros recursos, a atividade física sistemática. Seria isto mero cientificismo?
Contudo, há um ponto no contexto da teoria da evolução, em que a atividade física sistemática pareceria fazer sentido. Há uma concentração da prática da atividade física, quando observada nas academias, entre os jovens, sobretudo entre as fêmeas. Poderíamos sugerir, seguindo o gene egoísta, que elas e eles, porém, sobretudo elas, estão desenvolvendo características favoráveis para a seleção sexual dos parceiros. Estão realizando esforços para modelar o cor-po de forma a aumentar suas probabilidades de reprodução genéti-ca. Mediante a atividade física elas maximizariam as probabilidades
143SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
de conquistar parceiros, enfim, de serem cantadas e encantadas. A biologia, entretanto, pode sofrer deslocamentos pela cultura e, assim, a admiração de homens e mulheres, e, sobretudo das últi-mas ou de si mesmas no espelho, poderia substituir os parceiros reprodutivos que implicam a maioria das culturas que conhecemos o grupo social de pertencimento, de apego, de ajuda mútua e tantas outras ações sem as quais não poderíamos existir. Hoje, a beleza, mesmo que suada e sofrida, poderia ser vista como um “atrator” social substitutivo do grupo de parentesco, de sociabilidade, de pro-teção, de circulação, de mobilidade social e até de êxito profissional em variadas ocupações?
Já na etapa reprodutiva, quando as obrigações com essa prole fraca e dependente que a natureza nos deu ganham importância cres-cente, a saída da atividade física sistemática tornar-se-ia dominante. As taxas de praticantes despencariam a partir desse momento, que poderíamos estimar por volta dos 30 e poucos anos. A tarefa a partir dessa idade é outra. Contudo, a atividade física cresce entre as mu-lheres que já passaram à etapa reprodutiva e os cuidados da prole, tenham ou não tido filhos. Trata-se agora de manter o corpo firme, rígido e sem gorduras. Trata-se de remodelar suas partes no esforço da atividade física. Os discursos confirmam isso, quando atribuem à atividade física a manutenção de juventude e até afirmam que os velhos podem ser jovens. O velho jovem é uma metáfora, portan-to, um deslocamento. Faz acreditar no impossível: um velho ativo e autônomo é isso: um velho ativo e autônomo, jamais um jovem. Da mesma forma que um jovem doente é apenas isso: um jovem doente, sob o ponto de vista fisiológico, ainda quando lhe digam que parece um velho. A diferença está clara na brincadeira de Dennett (1997): o velho aceitaria colocar seu cérebro em um corpo jovem, este não aceitaria que seu cérebro fosse a parar em um corpo velho! Entrementes, o velho “sarado” pode transmitir a imagem de que pos-sui recursos para permanecer como tal e, então, ser atraente para as mulheres jovens. Seria como o obeso de antigamente ou o caçador eficiente? Em tudo isto, quem parece perder mais é a velha “sarada”, pois ainda não existem indícios fortes de que sejam atraentes para os machos jovens, embora aqui e acolá apareçam casais de homens jovens e mulheres “maduras” e os informes sobre seus recursos se
144 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
multiplicam. Poderá chegar a ser culturalmente atraente em propor-ções significativas tal tipo de relação? É possível, mais ainda quando a tradução para a cultura dos impulsos do gene egoísta – aumentar sua presença no mundo mediante a reprodução na valorização da família e dos filhos – pareceria ter perdido força.
A “crise da família” talvez seja mais ideológica que real, ou seja, falamos dela porque constatamos que já não tem a importância que supomos tinha para os nossos avós. Falamos da “crise da família” de modo semelhante ao que fazemos com a “crise da autoridade”. Há os que festejam ambas as crises pelas suas possibilidades; há os que lamentam a perda da família e da autoridade, ambas, de fato, estreitamente vinculadas nas visões construídas sobre o passado. En-tretanto, inventamos outras “importâncias” como, por exemplo, a da felicidade sexual, a da vida natural e a da vida ativa. No seio dessas invenções, a atividade física, a manutenção das formas e funções, tem papel de destaque. Assim, se aquele “tesouro” de família e auto-ridade ficou sem lugar, tentamos criar outros. Então, se já não valori-zamos o investimento no corpo dos outros, da prole, restaria apenas investir no próprio? Neste sentido trabalha quem faz de seu corpo um tesouro que deve ser cuidado, moldado, mantido, aumentado em termos de atração e, até, posto como lugar da morada de Deus? Quais as relações desses novos tesouros com a biologia e a teoria da evolução? Podemos fazer desta conduta uma norma? E que tipo de sociedade poderia ser construído a partir dela?
Creio que tracei as linhas de um conjunto de tarefas. Primeiro, dar uma explicação fisiológica para o paradoxo da rejeição daquilo que, segundo a própria fisiologia, faria bem: a atividade física. Construir, então, uma fisiologia do não, da recusa ou abandono a partir de ra-zões fisiológicas, esquecendo as justificativas psicológicas ou sociais. Não creio que a tarefa seja possível se não levarmos a sério a escu-ta clínica dos que reclamam da atividade física. Em segundo lugar, integrar no mesmo corpo explicativo tanto a hiperatividade quanto a hipoatividade, pensando suas limitações e efeitos diferenciados a partir dos aportes de uma fisiologia do não. Em terceiro lugar, pensar os dados contraditórios da atividade física tendo em vista o problema da dor e seus significados. Em quarto lugar, retomar como marco a teoria da evolução para entendermos do que estamos falando no
145SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
campo da fisiologia da atividade física. Em quinto lugar, pensar os efeitos positivos e negativos (fisiológicos, psicológicos e sociais) da estilização e da estetização. Por último, abandonar a simplicidade da afirmação de que viver mais tempo é viver melhor e, ainda, de que a autonomia dos idosos é um valor em si mesmo. Lembrando, por último, que parece que nos dedicamos a dar respostas que fazem declinar a solidariedade, a reciprocidade, o apego, o respeito entre os diferentes, enfim, aquelas coisas que faziam do homem um ani-mal social para Aristóteles.
146 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
REFERÊNCiASALVES JUNIOR, Edmundo de Drummond. A pastoral do envelhecimento
ativo. 2004. 621 p. Tese (Doutorado em Educação Física) – Programa de Pós-graduação em Educação Física, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2004.
AZEVEDO, F. Da educação física. São Paulo: Melhoramentos, [19--?]. v. 1.BAGRICHEVSKY et al (Org.). A saúde em debate na educação física. Blu-
menau: Nova Letra, 2006. v. 2.BECKER, H. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Huci-
tec, 1993.BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura damodernidade. Tradução Carlos Felipe Moises, Ana Maria L. Ioriatti. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 1986. 360 p. BETTI, M. Por uma teoria da prática. Motus Corporis, Rio de Janeiro, v. 3,
n. 2, p. 73-127, dez. 1996.BLOOM, Harold. The American religion: the emergence of the post-Chris-
tian nation. New York: Simon &Schuster, c1992.BRICEÑO-LEÓN, R. A cultura da enfermidade como fator de proteção e
de risco. In: VERAS, Renato Peixoto et al (Org.). Epidemiologia, contextos e pluralidade. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 1998. p.121-131.
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1995.
COUBERTIN, P. de. Essais de psychologie sportive. Paris: Librairie Payot, 1913.
COUPRY, F. O elogio do gordo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.DAWKINS, R. A escalada do monte improvável. São Paulo: Companhia
das Letras, 1998.______. O gene egoísta. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1979.DENNET, D. C. Tipos de mente rumo a uma compreensão da consciên-
cia. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. DUMAZEDIER, J. A revolução cultural do tempo livre. São Paulo: SESC:
Nobel, 1994.ELIAS, N. A condição humana. Lisboa: Difel, 1991.
147SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
ELIAS, N.; DUNNING, E. Deporte y ocio en el proceso de civilización. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
FRAGA, A. Exercício da informação. Campinas: Autores Associados, 2006.
GADAMER, H. El estado oculto de la salud. Barcelona: Gedisa, 1996.GOULD, S. Bully for brontosauros. New York: W.W. Norton & Company,
1991. ______. O sorriso do flamingo. São Paulo: Martins Fontes, 1990. HACKING, I. La domesticación del azar. Barcelona: Gedisa, 1995.HARRIS, M. Bueno para comer. Madrid: Alianza, 1989.HAYFLICK, L. Como e por que envelhecemos. Rio de Janeiro: Campus,
1996. HIRSCHMAN, A. As paixões e os interesses. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1979. HOBSBAWM, E.; RANGEL, T. A invenção das tradições. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1997.HORGAN, J. A mente desconhecida. São Paulo: Companhia das Letras,
2002.KUHN, T. A tensão essencial. Lisboa: Ed. 70, 1989.LOVISOLO, Hugo. Atividade física e saúde: uma agenda sociológica de pes-
quisa. In: MOREIRA, Wagner Wey; SIMÕES, Regina (Org.). Esporte como fa-tor de qualidade de vida. Piracicaba: Universidade Metodista de Piracicaba, 2002. p. 277-296.
______. Atividade física, educação e saúde. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 112 p.______. Educação física: a arte da mediação. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.______. Em defesa do modelo JUBESA (juventude, beleza e saúde). In:
BRAGRUCHEVSKY, Marcos et al (Org.). A saúde em debate na educação física. Blumenau: Nova Letra, 2006. v. 2.
______. Estética, esporte e educação física. Rio de Janeiro: Sprint, 1997. ______. Hegemonia e legitimidade nas ciências dos esportes. Motus Cor-
poris, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 51-72, dez. 1996. MANDELL, Richard D. Sport, a cultural history. New York: Columbia Uni-
versity Press, 1984. 340 p.MATSUDO, S. M..; MATSUDO, V. K. R.; BARROS NETO, T. L. Efeitos bené-
148 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
ficos da atividade física na aptidäo física e saúde mental durante o processo de envelhecimento. Revista Brasileira de Atividade Física, Londrina, v. 5, n. 2, p. 60-76, abr.-jun. 2000.
MIRA, Carlos Alberto Magallanes. O declínio de um paradigma: ensaio crí-tico sobre a relação de causalidade entre exercício físico e saúde. 2000. Tese (Doutorado em Educação Física) – Programa de Pós-graduação em Educação Física, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2000.
MITHEN, S. A pré-história da mente. São Paulo: Universidade do Estado de São Paulo, 1998.
MOREIRA, V.; SIMÕES, R. (Org.). Esporte como fator de qualidade de vida. Piracicaba: Universidade Metodista de Piracicaba, 2002.
NISBET, R. A. História da idéia de progresso. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 1985.
OLIVEIRA, R. Habermas, Rawls & nós: os desafios da ética médica ao sul do Equador. Universidade e Sociedade, Brasília, DF, v. 8, n. 17, p. 105-116, nov. 1998.
ONFRAY, M. A razão gulosa: filosofia do gosto. São Paulo: Rocco, 1999. ______. O ventre dos filósofos, crítica da razão dietética. São Paulo:
Rocco, 1990.PERELMAN, C. H. ; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da argumentação: a
nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2005.PINKER, S. Tabula rasa: a negação contemporânea da natureza humana.
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.POLIAKOFF, Michael. Combat sports in the ancient world: competition,
violence, and culture. New Haven: Yale University Press, c1987. 202 p.RABINBACH, A. The human motor. Los Angeles: University California
Press, 1992.ROSEN, G. Uma história da saúde pública. São Paulo: Universidade do
Estado de São Paulo, 1994.SHARPELES, R.W. Stoics, epicureans and skeptics. Londres: Rou-
tledge, 1996.SOARES, C. Educação física no Brasil. São Paulo: Autores Associados, 1994.SPENCER, Herbert. Da educação moral, intellectual e physica. Lisboa:
Nova Livraria Internacional, 1887. 251 p.
149SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 114-149 | JANEiRo > AbRil 2009
______. On social evolution. Textos selecionados e editados por J. D. Y. Peel. Chicago: University of Chicago Press, [1972]. 270 p.
TANI, G. Cinesiologia, educação física, esporte: ordem emanante do caos na estrutura acadêmica. Motus Corporis, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 9-49, dez. 1996.
TURNER, B. S. El cuerpo y la sociedad: exploraciones en teoría social. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
VERAS, Renato Peixoto et al (Org.). Epidemiologia, contextos e pluralida-de. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 1998. 166 p.
VIGARELLO, O. O limpo e o sujo: a higiene do corpo desde a Idade Média. Lisboa: Fragmentos, 1985.
150 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
‘DESiGNERS’, SUJEiToS PRoJETiVoS oU PRoGRAMADoS?Marco Antonio Esquef Maciel
151SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
O texto busca refletir sobre os conflitos e desafios postos para o profissional formado em desenho industrial (designer) na atualidade. Considera-se, nesse sentido, a padronização estética pós-moderna mediante o extraordinário pro-cesso de utilização de softwares como um dos fatores centrais dos conflitos existentes, e, ao mesmo tempo, elemento desafiador na formação e atuação do designer. O ensaio fundamenta a sua análise no pensamento histórico-dialético, através do qual percorre o itinerário das passagens da modernidade para a pós-modernidade, explorando tanto as questões relacionadas com a macroestrutura produtiva da sociedade como as questões relacionadas com as ideologias estéticas em disputa.
The text aims at reflecting on the conflicts and challenges posed to the industrial designer of the present. Accordingly, it is taken into consideration the standard post-modern aesthetics through the extraordinary process of using software as a central factor of conflicts, and at the same time challenging element in the for-mation and actions of the designer. The test bases its analysis on the historical and dialectical thought, which travels the route of passage from modernity to post-modernity, exploring both the issues related to productive macrostructure of society as the issues related to aesthetic ideologies in dispute.
152 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
iNTRoDUÇÃo
O presente ensaio busca refletir sobre os conflitos e desafios postos para o profissional formado em desenho industrial (designer) na atua-lidade. Considera-se, nesse sentido, a padronização estética pós-mo-derna mediante o extraordinário processo de utilização de softwares como um dos fatores centrais dos conflitos existentes, e, ao mesmo tempo, elemento desafiador na formação e atuação do designer. O ensaio fundamenta a sua análise no pensamento histórico-dialético, através do qual percorre o itinerário das passagens da modernidade para a pós-modernidade, explorando tanto as questões relacionadas com a macroestrutura produtiva da sociedade como as questões re-lacionadas com as ideologias estéticas em disputa.
Entende-se aqui o Design como um ramo da atividade humana cujas características multidisciplinares apresentam-se imbricadas na esfera artístico-cultural e na científico-tecnológica em geral, nos as-pectos semiológicos relacionados com diversas formas de linguagem (visual, auditiva etc.), nos aspectos psicológicos com ramificações na sociologia, na antropometria, na ergonomia, na antropologia e na filosofia. Portanto, por força do seu ofício o profissional do Design lida cotidianamente com um universo de questões que vão da arte à técnica, da ciência à política. Dessa proximidade, ele apreende e extrai os elementos necessários para o exercício renovado das suas tarefas cotidianas, como parte do esforço para superar a alienação a que está submetido no processo do trabalho. Nessa perspectiva, compreendemos que a consciência de tal esforço é parte integrante daquilo que Marx denomina como percepção sensível. Com efeito, para ele a história é, na verdade, o resultado do esforço do corpo humano, através de suas extensões que chamamos de sociedade e tecnologia, em luta pelo autocontrole dos seus poderes. Aponta-se, ainda, que o mundo construído se apresenta, desde as formações sociais primitivas às mais complexas, como uma “metáfora mate-rializada do corpo”, no qual o sistema de produção econômica re-presenta o elemento que rege o processo de descorporificação e espiritualização de homens e mulheres. O pensador considera como natureza sensível o próprio elemento do pensamento, a linguagem. Em decorrência, aponta que se deve pensar a reflexão teórica como
153SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
prática material (apud Eagleton, 1993, p. 147). Para tanto, nos seus Manuscritos econômicos e filosóficos (MEF), depreende-se que a per-cepção sensível
[...] deve ser a base de toda ciência. Só quando a ciência na sua for-ma dupla da consciência sensível e da necessidade dos sentidos – i.e. só quando a ciência começa pela natureza – ela é verdadeiramente ciência. Toda a história é uma preparação, um desenvolvimento, para que o homem se torne o objeto da consciência sensível e para que as necessidades do “homem enquanto homem” tornem-se necessidades (sensíveis) (Marx, apud Eagleton, 1993, p.147).
Ainda nessa perspectiva, pode-se apontar, segundo Mészáros (1981, p. 83), que na filosofia marxiana o trabalho, em sua “forma sensível”, assume sua significação universal, tornando-se não somen-te a “chave” para a compreensão das determinações que são ineren-tes a todas as formas de alienação, como também é o “centro de re-ferência da estratégia prática que visa à superação real da alienação capitalista”. Não obstante as considerações de Marx indicarem cien-tificamente a importância do conhecimento estético na formação humana, o modo de produção capitalista, particularmente o presidi-do na atual lógica pós-moderna, tem sido pródigo em nos oferecer exemplos paradoxais de uma situação aparentemente descontrola-da. Dessa forma, conforme observado nos últimos cinquenta anos, o extraordinário desenvolvimento das forças produtivas, sobretudo no campo tecnológico, estendeu para além das paredes das fábricas e dos centros de pesquisa o uso cotidiano de máquinas cada vez mais sofisticadas. Da mesma maneira, a expansão da indústria cultural e a intensificação do comércio de moda, de beleza e de produtos afins levaram o mundo a uma estetização da vida social mediante a banalização da linguagem artística moderna, outrora por muitos considerada “canônica”. Portanto, essas ideias levam a crer que a banalização das máquinas e a estetização da vida social provocaram o que Fredric Jameson denominou de “alívio pós-moderno”. Perante as limitações e os rigores modernos, paradoxalmente, esses mesmos aspectos induziram a um novo processo de reificação do homem, do trabalho, da vida social. Levaram, em suma, a um ajuste ao padrão
154 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
de acumulação flexível em busca de maior eficiência produtiva, sen-do que, sob essa ótica, as intensas tecnologização e estetização da vida social não representaram ganho algum.
Isso posto, considera-se que a origem do Design enquanto ativi-dade profissional é essencialmente moderna, confundindo-se com a própria gênese da Revolução Industrial. Não é por outro motivo que Souza dirá que o Design assim como a moderna consciência social e a cultura da técnica são “fortemente influenciados pelo modo de produção capitalista e industrial” (2000, p. 20). Em nosso país, aponta-se que as atividades profissionais relacionadas com o desenho de produtos e a programação visual se encontravam em plena atividade desde o início dos anos 1950. A esse propósito, o governo do então presidente da república, Juscelino Kubistchek, fincado sob uma bandeira nacional/desenvolvimentista que o nor-teava, se prestou para que se firmassem as primeiras tentativas ins-titucionais de formação do profissional de Design no Brasil. Assim, numa perspectiva de modernização, a necessidade de qualificação e formação de pessoal especializado ajustava-se às propostas de melhorar, ao mesmo tempo, o aparato tecnológico da indústria bra-sileira, aperfeiçoando tanto o sistema educacional como os centros de pesquisa. Dessa maneira, o governo propunha à indústria buscar a qualificação de seus quadros a fim de atender às novas demandas do mercado que certamente surgiriam.
Em tempo, é pertinente apontar segundo o pensamento dialético de Karel Kosik, para quem a compreensão de um fenômeno exige que se chegue até a essência: “sem o fenômeno, sem a sua manifestação e revelação, a essência seria inatingível” (2002, p. 16). Ao adotá-lo como uma das nossas referências de estudo, tivemos a oportunidade de verificar que em todas as atividades humanas se encontram três formas de carga de trabalho inerentes às tarefas relacionadas com os trabalhadores: a física, a cognitiva e a psíquica. Verificamos, ainda, que ao se inter-relacionarem, cada uma dessas formas pode deter-minar uma sobrecarga ou um sofrimento na realização de tarefas. Tal demanda se impôs mais fortemente à medida que, empiricamente, crescia em nós a sensação de uniformização dos padrões estéticos, caracterizando aquilo que Jameson (1990) denomina subordinada-mente de “morte do sujeito” e “pastiche”. Nesse sentido, o estudo
155SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
de Kosik despertou a nossa atenção para a relação entre a exigência do ajuste produtivo no exercício das tarefas e o abandono da criati-vidade no pós-modernismo, considerando as atuais possibilidades do profissional como confiscar, citar, retirar, acumular e repetir imagens já existentes (CRIMP apud HARVEY, 2002, p. 58). Dessa forma, a ne-cessidade de avaliarmos, dentre outros fatores, a dimensão do papel prescritivo na forma de trabalhar do designer gráfico, exercida pelos algoritmos predeterminados e em ordem de execução, e a existência de um enorme banco de imagens e de tipos de fontes (alfabetos) tipo-gráficas fizeram-se presentes.
Dentre os aspectos centrais que historicamente têm contribuído para uma visão hipostasiada da realidade, certamente se encontra a divisão social do trabalho. A progressiva substituição do trabalho artesanal, do fator de autoconhecimento e conhecimento global da tarefa, da liberdade de criação por parte do trabalhador, pela es-pecialização presente no trabalho socialmente dividido resultou na perda da autoestima e do reconhecimento do trabalho realizado, fazendo com que os profissionais se tornassem meramente repetido-res de tarefas já programadas num modo de produção regido pela “máquina”.
Marx há muito já ressaltava a sensação do perigo de que a grande indústria reduzisse a capacidade de trabalho humano a um mero complemento das máquinas (apud SANTONI RUGIU, 1998, p. 17). Nessa perspectiva de análise, parece-nos correto ressaltar que, no modo de produção capitalista, os trabalhadores têm os seus proces-sos de trabalho subordinados de forma mais intensa aos meios de produção. Ao estudar a problemática da reificação, o próprio Marx já havia chamado a atenção para o trabalho morto, cuja realidade identificamos no trabalho contido nos computadores e nos progra-mas eletrônicos desses computadores. Diante disso, é imperativo que nos perguntemos sobre a perda de mestria por parte do trabalhador, e em que medida isso importa para a sua transformação em escravo do próprio trabalho. Da mesma forma, para Kosik, o indivíduo já há algum tempo perdeu a consciência de que este mundo é criação do homem (2002, p. 74). Por outro lado, ele ressalta que essa realidade aparente pode ser mudada e transformada de modo revolucionário, efetivamente, na medida em que reconhecermos que a realidade é
156 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
produzida por nós, no sentido de que somos nós mesmos os que a produzem (idem).
A força dessas reflexões nos leva a crer que, por conseguinte, a concorrência no processo de trabalho do designer faz com que esse profissional busque maior agilidade e velocidade na produção de seus produtos, o que, na nossa hipótese, o remete, sob essa imposi-ção, a buscar por novos métodos de produzir (muitas das vezes, sem nenhum projeto) de forma mais simplificada, menos “trabalhosa” – aqui inserimos este termo de modo a enfatizar que o profissional busca simplificar em demasia a sua criação –, não observando que isso pode acarretar uma perda da qualidade de seu trabalho. Em contrapartida, cabe ressaltar que esses profissionais devem transcor-rer a busca para, como executores, serem seus próprios criadores, donos de seus próprios meios de expressão, não se limitando a fazer recortes, meras alterações em produtos já prontos, ou ainda, reali-zar “decalques”. Conforme analisa Lukács (1978, p. 5-6), o homem, num processo de desenvolvimento de suas próprias capacidades com vistas a alcançar níveis mais altos (aperfeiçoamento) na sua relação com o seu ser e a natureza, o faz através do trabalho. E é, ontologicamente, por meio deste que se possibilita esse “desenvol-vimento superior”, o “desenvolvimento dos homens que trabalham, alterando a adaptação passiva, meramente reativa, do processo de reprodução ao mundo circundante”, haja vista que na relação com esse mundo circundante, o transforma de maneira consciente e ati-va. Portanto, o trabalho, na esfera ontológica, “converte-se no mo-delo da nova forma do ser em seu conjunto” (idem). Por outro lado, a atividade produtiva é
atividade alienada quando se afasta de sua função adequada de me-diar humanamente as relações sujeito-objeto, entre homem e nature-za, e tende, em lugar disso, a levar o indivíduo isolado e reificado a ser absorvido pela “natureza” (MÉSZAROS, 2006, p. 77).
Considerando esses conflitos, seria possível afirmar que com o grande incremento da tecnologia também no campo da arte e, de forma específica, no campo profissional dos designers, constata-se que esses profissionais se veem diante de uma nova perspectiva: a
157SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
utilização indiscriminada de softwares gráficos por indivíduos que não estão absolutamente qualificados para exercer tal profissão, os quais são chamados, pelos próprios designers, de “micreiros”1. Con-tudo, o que é mais grave, segundo a nossa ótica, ao serem inseri-dos nessa relação de “batalha” comercial, permitem-se abandonar gradativamente aquilo que lhes é mais importante: a criação e a imaginação humanas, utilizando-se de um ideário de abandono ao método projetual, de crescimento por etapas, inserindo-se na filoso-fia do acaso, que os remete à ideologia de que a “tecnologia pode fazer” o seu trabalho. Na nossa percepção, essa é uma situação em-blemática vivida por inúmeros profissionais desse setor: deixarem-se imergir gradativamente num processo no qual poderá perder seu poder de gerir a criação e, além disso, perceber que o seu trabalho vivo está cada vez mais sendo subordinado a um trabalho morto. E ainda nesse aspecto, sob a ótica de Jameson (1994, p. 10), ver que o fruto de seu trabalho − a sua “arte” − passa a ser apenas uma parte a mais da produção de mercadorias, em que o profissional perde o seu status social e identidade, defrontando-se com as opções de se tornar um reprodutor técnico da arte, inserindo-se em um sistema de “criação” padronizado. Observa-se também que há uma certa taylorização nesse campo. Pode-se ressaltar uma estética repetitiva, que volatiliza o objeto original – a obra de arte, o trabalho gráfico, o objeto projetado, o que Jameson (idem) denomina como “a noção de repetição”, também presente em Jean Baudrillard (1994)2.
Não se quer – é bom que se ressalte – banir a tecnologia do mundo
1 No entanto, parece-nos correto refletir que não está nos “micreiros” o pro-blema, mas no novo modus operandi (posto pela reestruturação produtiva dos anos 1990), materializado por um pujante e fetichizado incremento de tecnologias computacionais. 2 Para Jameson (1994, p. 9), a estrutura repetitiva daquilo que Baudrillard denomina o “simulacro (isto é, a reprodução de ‘cópias’ que não têm ori-ginal) caracteriza a produção mercantil do capitalismo de consumo e marca nosso mundo de objetos com irrealidade e ausência, que hoje flutua livre do ‘referente’ (por exemplo, o lugar antes ocupado pela natureza, pelas matérias-primas e pela produção primária, ou pelos ‘originais’ da produção artesanal ou da artesania), completamente diverso de todo o experimentado em qual-quer formação social anterior”.
158 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
da arte e da cultura, em absoluto, a mesma deve servir a quem a criou, atendendo às suas necessidades e anseios, funcionando com um in-grediente e “extensão de seu corpo”. Não se objetiva apontar aqui que o profissional de Design deva abster-se do uso das “qualidades” estéticas obtidas pelo uso da “ferramenta tecnológica” na reprodução das apresentações finais de seus produtos gráficos (os trabalhos im-pressos; “a exposição”), mas, questionar o processo de elaboração e construção de suas “ideias”, e aí está inserido o processo educacional e formador desse profissional. Ou seja, o seu processo de investigação e apreensão das mesmas. Até que ponto o uso indiscriminado dessa tecnologia está alienando e dominando o ato criativo e imaginativo do homem, imerso num mundo pós-moderno − o seu saber-fazer? Busca-se compreender nesse desenho de mundo subsumido “uma nova fase do capitalismo, marcado pelo efêmero e o descartável, pela sedução da imagem e paroxismo da velocidade, pelo consumismo, pela indústria cultural, financeira, de serviços e de informação [...]” (FRANCO, 2001, p. 312). Dessa maneira, de acordo com as reflexões de Debord, vivemos numa sociedade saturada de signos e imagens: “a onipresença e a onipotência da imagem no capitalismo de consumo” (DEBORD, apud JAMESON, 1994, p. 14). Logo, as reais prioridades ficam no mínimo invertidas, no campo em que tudo é mediado pelo domínio da cultura.
HÁ QUE SE PRoDUziR, MAS SEM PERDER A iMAGiNAÇÃo JAMAiS
Procurando contrapor essa égide projetual, faz-se necessário que se confira relevo por uma intermediação do autor em sua plenitude, em busca daquilo que lhe é mais caro: a imaginação e a criação humanas. Para tanto, nas reflexões do teatrólogo Augusto Boal estão sedimentados argumentos que nos direcionam a depreender que “somos todos produtores culturais. Cultura é o fazer, o como fazer, o para quê e para quem se faz”. Nesse campo, parece legível apontar que o designer, também produtor de cultura, deva ser regido por essa diretriz. A arte está ligada à cultura. “A cultura é o ser humano, é o que há de humano no ser, é aquilo que o distingue dos outros ani-mais.” Portanto, nós não devemos perder nossa condição humana criadora e, além disso, temos de assumi-la. Conforme ele explica, se
159SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
sabemos que para cobrir a mesa é necessária uma toalha, sabemos também que qualquer costureira é capaz de cortar um pano: eis a toalha. A diferença entre esse simples produzir e ir mais além é o que caracteriza o sujeito criador e define o produto artístico. Para o sujeito criador não basta cobrir a mesa, é preciso responder às suas necessidades estéticas, agradar também aos sentidos. Nesse caso, o valor do artefato é maior, “tão grande que pode ser impossível usá-la como toalha que protege a mesa: é necessário proteger a toalha” (BOAL, in: Caros Amigos, janeiro, 2001).
De certo modo, pode-se apontar que não somos como os animais irracionais que, através de seus instintos, constroem do mesmo jeito os seus ninhos, casulos, nem somos como os pássaros que cantam as mesmas canções para se acasalar na busca por sua competição biológica. Não existe um fator genético padrão que predetermine o que deve ser feito. O trabalho para nós possui uma essência que nos permite ir além dessa predeterminação biológica. Assim, pelo “papel da consciência”, que, segundo Lukács (1978, p. 45), deixa de ser um simples “epifenômeno da reprodução biológica” e que, portanto, ontologicamente, através do trabalho, os homens se desenvolvem, produzem a si mesmos e a natureza. Nessa ótica, Marx aponta o produto como um resultado, que desde o começo do processo já ha-via sido concebido na “representação do trabalho” (apud LUKÁCS, 1978, p. 4). Também ressalta que o animal constrói segundo o pa-drão e a necessidade de sua espécie, ao passo que o “homem sabe como produzir de acordo com o padrão de cada espécie e sabe como aplicar o padrão apropriado ao objeto; deste modo, o homem constrói também em conformidade com as leis da beleza” (MARX, 1964, p. 165).
Com efeito, desde os primeiros indícios da humanidade, fomos capazes de inventar, reinventar, e diante de um novo fato-problema, encontrar soluções criativas para ir além do necessário imediato. Salienta-se que essa é uma das características de maior notoriedade no homem, no sentido de que reage de maneira diversificada e cria-tiva em alguma situação enfrentada. Nesse contexto, com base nas reflexões feitas por Lukács (1978, p. 5), é justo “designar o homem que trabalha, ou seja, o homem tornado homem através do trabalho, como um ser que dá respostas”, tendo em vista que o homem “ge-
160 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
neraliza, transformando em perguntas seus próprios carecimentos e suas possibilidades de satisfazê-los”, e acrescenta ainda que, quando em “sua resposta ao carecimento que a provoca, funda e enriquece a própria atividade com tais mediações, frequentemente bastante articuladas” (idem).
Em torno dessas considerações, mediante os aportes da Ergonomia, podemos inferir que existirá conflito nas relações de trabalho desses profissionais de Design, ao levarmos em consideração que não nos sentimos em estado de bem-estar, sempre que nos encontramos dian-te de situações repetitivas, mecânicas e uniformes (monótonas). Seria possível considerar que nos atores dessa nova imposição, nesse mo-dus operandi tecnologizado, há uma incorporação do saber-fazer da criação, gerando uma nova relação de poder imposta pela introdução dessa tecnologia (aqui vista, principalmente, através dos insumos da computação gráfica) e, por conseguinte, o abandono gradativo das competências e habilidades inerentes desses profissionais – os desig-ners. Daí vem a privação, de forma parcimoniosa, da imaginação e da criação, e, o mais grave, a perda do domínio próprio de seu método de trabalho, de seus aprendizados e treinamentos. Desse modo, o ho-mem se insere num sistema de “coisas” já previamente prontas, e, em decorrência, é nesse locus que ele próprio se aliena e se transforma em um objeto de manipulação. Parece correto afirmar que é o que podemos chamar de desqualificação do processo de criação humana, que origina uma subordinação cada vez mais forte do trabalho produ-zido pelos designers gráficos, à estética dos produtos com resultados pictóricos intrinsecamente associados à lógica capitalista de reprodu-ção pós-moderna. Por outro lado, é forçoso notar que “a obra não é apenas manual: também a imaginação é uma técnica, é geradora de imagens que povoam o espaço da mente antes do espaço do mundo” (Argan, 2000, p. 18). Esse aspecto também está presente em Baudelai-re (1993, p. 87), que afirma que quanto mais possuirmos imaginação, mais obteremos resultados menos fastidiosos, desgastantes e custosos em nosso ofício, ou seja, mais aptos estaremos para nos aventurarmos e enfrentarmos as dificuldades impostas.
Do mesmo modo, Argan (2005, p. 266) afirma que a imaginação é uma “faculdade que nos permite pensar em nós mesmos de forma diferente do que somos [...]. A imaginação ética e politicamente inten-
161SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
cionada é a ideologia, e não pode haver projeto sem ideologia”. Ade-mais, imaginar e criar é fazer arte, e tem representado, desde a pré-história, uma atividade fundamental nos seres humanos (BOSI, 1999, p. 8). Em toda a sua história, o homem sonhou, comunicou e repre-sentou, da maneira mais criativa, a realidade em que existia como ser no mundo. Com efeito, desde os primeiros atos de qualificação e reinvenção de sua existência, o homem interferiu como um “mágico”, como, por exemplo, na “simples” tarefa de beber água. Ou seja, em sua empiria, ele observou e analisou que, ao quebrar uma fruta, cuja casca traria mais facilidade e conforto para tomar água, qualificou sua existência. Assim, o homem, na sua necessidade ontológica de sobre-vivência, de desenvolvimento, e de representação e interação com as coisas da natureza, criou e concebeu objetos e imagens.
Acrescente-se ao conjunto dessas ideias que o homem, como existên-cia própria no mundo, precisou estar bem na sua relação com a natureza. Pareyson ressalta que em todas as atividades e maneiras operativas do ho-mem, está sempre presente um lado inventivo, inovador e criador, como condição primeira de toda a realização humana. Ainda destaca-se que este pensador considera três momentos da estética no processo artístico: o fazer, o conhecer e o exprimir (apud BOSI, 2000, p. 8). Se tomarmos o designer como um artista, ele possui totais condições para realizar um fazer criativo e imaginativo. Ao colocarmos a arte como um somatório de atividades pelas quais se transforma e se reestrutura a natureza, nos pare-ce legítimo afirmar que essa relação processual pode e deve ser conside-rada como uma relação de trabalho. Como descreve Marx, “trabalho é em primeiro lugar um processo que se passa entre o homem e a natureza [...]. É uma atividade intencional que tem por fim a produção de valores de uso, a apropriação de elementos naturais”. E ele acrescenta ainda que o “trabalho é um movimento que culmina num produto” (MARX, 1994, p. 202). Essas citações visam corroborar uma visão da arte como atividade que também constrói produtos e que tem valor próprio, agregado e im-portante para os profissionais deste estudo. Em nossa forma de observar, ela está intimamente ligada à sua relação de trabalho. Ainda aos olhos de Marx, o desenvolvimento do modo de produção capitalista permitiu ao homem a descoberta de que ele tem não apenas a capacidade de modi-ficar a natureza pelo seu trabalho, mas, também, a de operar sobre a sua própria natureza, desenvolvendo-a.
162 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
Fazendo eco a esse pensamento, Fischer considera a arte como “substituto da vida”, como mediadora do equilíbrio entre o homem e o meio que o circunda. O homem deseja absorvê-lo e integrá-lo a si próprio. Sente que deve ser trazido para si aquilo que a humanidade, como um todo, foi capaz de produzir. Ele vê a arte como um meio indispensável para a conjunção do homem com o todo. Ela “reflete a infinita capacidade humana para associação, para a circulação de ex-periências e ideias” (1981, p. 11). O autor vê o trabalho para um “ar-tista” inserido num processo de consciência e racionalidade, ao fim do qual resulta a “obra de arte como realidade dominada”. Assim sendo, para alcançar o seu objetivo, torna-se necessário “dominar, controlar e transformar a experiência em memória, a memória em expressão, a matéria em forma”. Na arte, coexistem a tensão e a contradição dialé-tica, e a mesma deriva de um longo e intenso processo de experiência da realidade, como também necessita ela mesma ser construída e se configurar mediante a objetividade (FISCHER, 1981, p. 11).
Considerando o designer como um profissional estreitamente afi-nado com esse jogo do ato da criação, deve-se levar em conta suas características intrínsecas quanto aos treinamentos, conhecimentos, aprendizados e aventuras pelo mundo da cultura e da estética. Não obstante, a busca cada vez mais imposta pelas relações socioeconômi-cas em sua vida profissional, faz com que ele se articule e se arrisque por novos caminhos e pelas vias tecnológicas de expressão artística. Conhecendo os novos meios de se exprimir e posicionar dentro de seu contexto social, mercadológico e em seu processo de concorrên-cia, ele apreende ideologias, modismos, teorias e conceitos de forma tal que possa impensadamente ou não ceder aos apelos e “sugestões” dessa nova imposição formal tecnologizada. Assim, ao posicionarmos o Design imerso numa mercantilização da vida posta pelo capitalismo tardio, auxiliado por uma intensa informatização dos vários segmen-tos de nossa sociedade, trazendo, por conseguinte, uma padronização para grande parte desses setores, como necessidade da própria crise de realização e de reprodução do capital, deve-se atentar e refletir para o problema da estandardização para a massa, com uma finalida-de unilateral, a mercantilização dos produtos. Quanto mais se estan-dardiza, mais se padroniza, mais advém a possibilidade de multiplica-ção, e, com isso, diminuindo custos e aumentando o consumo.
163SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
Nesse contexto, a atividade do Design está submetida à mesma situ-ação de qualquer outra categoria profissional que produz bens de uso social, por isso é imperioso que não se prescinda de questionamentos para qual público e com qual finalidade social ela se destina. Fazendo um pequeno paralelo com esse contexto, remeteremo-nos às refle-xões de Paula Astiz3, nas quais afirma que para ser designer hoje não pode se resumir somente ao exercício de uma atividade técnica, não se restringindo a possuir competência em uma predeterminada e já aceita linguagem visual, e sim, “sobretudo”, ter a capacidade do uso da imaginação para aí, sim, criar soluções de “forma lógica e criativa”, que são motivadas por critérios específicos do projeto e não por mo-dismos. Além disso, um designer não se permite ser passivo ao criar so-luções para os problemas, deve fazê-lo imbuído de questionamentos do status quo vigente. E, como ela, acreditamos também num Design gráfico contestador, “formador de opinião, com um discurso ativo na produção de novas formas de conhecimento e contribuições significa-tivas à nossa sociedade” (ASTIZ, 2003, p. 22).
PRoFUNDAS MUDANÇAS à ViSTA
Postas as considerações, achamos pertinente tecermos um pano de fundo sobre as transformações sofridas por nossa sociedade, capita-neadas por um novo padrão de acumulação. Nesse sentido, Harvey (2002, p. 135-138), refletindo sob os sérios problemas enfrentados pelo “regime de acumulação”4 fordista, já em meados dos anos 1960, ocasião em que se completara a recuperação da Europa Ocidental e do Japão, e, de modo geral, no período compreendido entre 1965-1973, demonstra que se tornou mais evidenciada a incapacidade do
3 Arquiteta pela FAU-USP, Mestra em Design Gráfico em 1997, no Royal Col-lege of Arts, de Londres. No seu artigo intitulado: Um design gráfico formador de conceitos e opiniões. Para ver mais: O valor do design: guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico. – São Paulo, SENAC São Paulo; ADG Brasil Associação dos Designers Gráficos, 2003, p. 22-24.4 “Um regime de acumulação descreve a estabilização, por um longo período, da alocação do produto líquido entre consumo e acumulação; ele implica al-guma correspondência entre a transformação tanto das condições de produção como das condições de reprodução de assalariados” (HARVEY, 2002, p. 117).
164 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
fordismo e do keynesianismo em manter contidas as contradições (inerentes) do capitalismo. Ademais, o autor salienta que a rigidez de “investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo” para os sistemas produtivos em massa dificultava uma maior flexibilidade no planejamento e que também “presumiam crescimento estável em mercados de consumo invariantes”. Nesse contexto, também existiam conflitos de rigidez nos “mercados, na alocação e nos contratos de trabalho”. Tais problemas somados, e por trás dessa rigidez, desenca-dearam uma onda inflacionária que iria culminar num cerceamento da expansão do pós-guerra no mundo capitalista5.
Nos anos de 1973-1975, com uma forte deflação posta, demons-trou-se a não equidade entre as finanças do Estado, ou seja, os re-cursos do Estado estavam muito aquém das demandas que o mesmo poderia financiar. Sob esse cenário, deflagrou-se uma “profunda crise fiscal e de legitimação”. Concomitantemente, “as corporações viram-se com muita capacidade excedente inutilizável (principalmente fábri-cas e equipamentos ociosos)” sob uma configuração de intensificação da competição.
Dessa forma, obrigou-as a uma nova conformação, adentrando a um período de “racionalização, reestruturação e intensificação do contro-le do trabalho” (HARVEY, 2002, p. 137). No mundo da produção, foram adotadas estratégias corporativas de sobrevivência nessa confi-guração de deflação, a saber: “mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do capital” (HARVEY, 2002, p. 137-140). Sob uma profunda recessão capitalista trazida pela ins-tabilidade econômica que teve início em 1973, que, segundo Harvey, “exacerbada pelo choque do petróleo”, retira o mundo capitalista do
5 “O ímpeto da expansão de pós-guerra se manteve no período 1969-1973 por uma política monetária extraordinariamente frouxa por parte dos Estados Unidos e da Inglaterra. O mundo capitalista estava afogado pelo excesso de fundos; e, com as poucas áreas produtivas reduzidas para investimento, esse excesso significaria uma forte inflação. A tentativa de frear a inflação ascen-dente em 1973 expôs muita capacidade excedente nas economias ocidentais, disparando antes de tudo uma crise mundial nos mercados imobiliários e se-veras dificuldades nas instituições financeiras.” (HARVEY, 2002, p. 136)
165SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
“sufocante torpor da estagflação” e desencadeia um conjunto de pro-cessos que solaparam o compromisso fordista de outrora. Com base nas reflexões do autor, pode-se afirmar que nas décadas de 1970 e 1980 – um período de reestruturação da economia e também um rea-justamento nas esferas social e política – começou a se conformar, em meio a tantas oscilações e incertezas, uma série de experiências novas nos domínios da organização industrial e da vida social. Registra-se que essas “novas” experiências representam os “primeiros ímpetos da passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, associa-do com um sistema de regulamentação política e social bem distinto” denominado “acumulação flexível” (HARVEY, 2002, p. 140-141). Esse “novo” regime se opôs frontalmente com a rigidez fordista. Apoiava-se sob um pilar: a flexibilidade. Assim, processos de trabalho, mercados de trabalho, produtos e padrões de consumo deverão ser regidos sob esse padrão de acumulação. A título de melhor ilustração, o autor caracteriza esse regime pelo
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas manei-ras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobre-tudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial tecnológi-ca e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre os setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então subdesenvol-vidas. [...] Ela também envolve um novo movimento que chamarei de “compressão do espaço-tempo no mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de transpor-te possibilitou cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado (HARVEY, 2002, p. 140).
Esse cenário está posto no palco da grande maioria dos setores de nossa sociedade, uma ideologia de produção flexível. No entanto, pa-rece que, nessa égide, o sentido de ser “flexível” não se deteve ao seu real significado de origem. Nesse sentido, bem teorizado por Richard Sennet, aplica-se a expressão “capitalismo flexível”, reportando-se a
166 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
um sistema que vai de encontro à rigidez burocrática e aos mode-los de uma rotina produtiva cega. Em decorrência, “pede-se” à classe trabalhadora uma maior agilidade na produção, maior abertura para mudanças a um breve prazo e que esteja continuamente aberta a as-sumir riscos, perdendo, dentre outras, a dependência às leis e aos procedimentos formais (SENNET, 2000, p. 9). Ora, segundo o autor, nota-se uma digressão também para o significado de “carreira pro-fissional” que, aplicado ao sentido do trabalho, significa dizer que é “um canal para as atividades econômicas de alguém durante a vida inteira”. Nessa ordem, há por parte desse “capitalismo flexível” um bloqueio nesse canal – “uma estrada reta da carreira” –, possibilitando um desvio abrupto para os trabalhadores de um tipo de trabalho para outro. Assim, sob a paleta desse desenho produtivo, as pessoas fazem somente “fragmentos” de trabalho ao longo de suas vidas, vindo a desconhecer o todo, havendo uma alienação de seu trabalho e do resultado deste (idem).
Ainda nessa mesma linha de pensamento, Sennet (1999, p. 51) salienta para a perda do sentido original da palavra “flexibilidade”, oriundo de uma simples observação de árvores se curvando sob as forças do vento, no entanto – é aqui o ponto central da reflexão –, os seus ramos sempre retornam à posição de outrora. Ou seja, o termo deveria se referir à capacidade do comportamento humano de ser tênsil; adaptar-se às conjunturas variáveis, se “dobrando” a elas sem, no entanto, se deixar “alquebrar” pelas mesmas. Metamorfoseando-se e forjando-se no mesmo cadinho de um novo sistema produtivo e constitutivo de sociedade – o regime de “acumulação flexível” (ter-mos cunhados por David Harvey). Ocorrido durante as décadas de 1970-80, num espaço em que se viu embrenhado de oscilações e conturbações, levando o capital a se reestruturar produtivamente, tanto do ponto de vista econômico, quanto do social e do político, plasmando uma nova forma de acumulação, associada a um tam-bém distinto sistema de regulamentação sociopolítico. Esse regime é assentado sob pilares que vão de encontro à rigidez do regime de acumulação fordista. Tem como diretrizes centrais a flexibilização dos processos de trabalho, conjuntamente dos mercados de traba-lho, dos produtos oriundos da produção e dos padrões de consumo. Configurou-se pelo aparecimento de novos setores de produção, no-
167SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
vas formas de fornecimento para os serviços financeiros, novos mer-cados, intensificação de taxas na inovação comercial, tecnológica e organizacional (HARVEY, 2002, p. 140). Esse autor ainda aponta que a acumulação flexível foi acompanhada na
ponta do consumo, portanto, por uma atenção muito maior às mo-das fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de indução de necessidades e de transformação cultural que isso implica. A estética relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-mo-derna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais (HARVEY, 2002, p. 148).
Santos (2006, p. 188), nessa perspectiva de análise, ao enfocar o Brasil, aponta que a falência do “milagre brasileiro” mediada por essas instabilidades econômico-sociais do início dos anos 1970, e, de forma mais efetiva, durante a década de 1980, “associada à recessão econô-mica e à abertura dos mercados” – que ganhou concretude no início dos anos 1990 no governo do então presidente Fernando Collor –, “constituem um conjunto de fatores combinados que determinou a crise do capitalismo brasileiro ao final do século XX”. Segundo o autor, essa crise impactou de forma contundente a acumulação de capital, na medida da “quase total impossibilidade das empresas instaladas no território nacional de participarem da competição no mercado inter-nacional”. Haja vista, como já exposto anteriormente, que uma das principais causas desse problema estava posta pelo “esgotamento” do padrão de acumulação taylorista-fordista. É pertinente salientar que no caso brasileiro a reestruturação produtiva não eliminou o “velho” paradigma produtivo por completo, ou seja, ainda há empresas que, embora já tenham introduzido o “novo” padrão flexível, caracterizado pela adoção de novas tecnologias, articuladas com as também novas formas de organização e de gestão produtivas, baseadas fundamen-talmente no modelo japonês chamado “toyotismo”, ainda permane-cem utilizando o “velho” modelo taylorista-fordista. Nesse sentido, de acordo com Leite,
168 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
Novas e velhas práticas produtivas coexistem, tanto no plano técnico-operacional, como na gestão do trabalho e de qualificação e que mes-mo no âmbito das empresas mais inovadoras, a estratégia é gradual e sincronizada voltada à superação progressiva de gargalos não impli-cando reviravolta total da organização (apud SANTOS, 2006, p. 189).
Com base nessas reflexões, pode-se apontar que, de acordo com Harvey (2002, p. 141), o regime de acumulação flexível “parece im-plicar níveis relativamente altos de desemprego ‘estrutural’ [...], rápida destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de salários reais e o retrocesso do poder sindical – uma das colu-nas políticas do regime fordista”. Nessa perspectiva, segundo Santos, dois impactos sobre o conjunto dos trabalhadores merecem relevo, a saber: a) de “natureza social”, que se materializa sob a forma do desemprego; b) em consonância com o item anterior, se efetiva na exigência de um novo perfil por parte dos trabalhadores, imposto pela introdução das inovações tecnológicas. Traduz-se esse “novo perfil” pelas novas demandas de qualificação, e, em decorrência, pelo au-mento da escolaridade do trabalhador (2006, p. 191). Não obstante, ainda de acordo com o autor, baseada na tese de Leite (1995), “é difí-cil culpar apenas a modernização das empresas” pelos altos índices de desemprego no Brasil. Para elas, outros fatores, além do desemprego, devem ser considerados personagens coadjuvantes na formação do desemprego, tais como a forte recessão e a queda do investimento (no início dos anos 1980), aliado “à falta de mecanismos que possibilitem a efetiva proteção dos trabalhadores” (idem).
A força dessas ideias nos aponta que muitas mudanças foram acar-retadas, principalmente nos processos de produção, trazidas no bojo da reestruturação produtiva da economia e associadas a um intenso processo de informatização de nossa sociedade. Contudo, seria pos-sível afirmar que tais transformações se efetivaram atendendo a inte-resses de pequenos grupos, ditos privilegiados, alijando e alienando uma boa parte da população trabalhadora. Em tempo, não ignoran-do outros aspectos, achamos relevante trazer, sob um recorte peda-gógico a título de uma melhor ilustração e compreensão, as reflexões de Richard Sennet demonstradas através de uma pesquisa empírica
169SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
feita por ele numa padaria americana, de como o processo de fa-bricação de pães se transformou. Como ele mesmo diz: “[...] fiquei espantado ao ver como mudou” (2000, p. 76-80). A que mudanças tão profundas ele se refere? Sob sua análise, atentemos para alguns destaques, nesta breve descrição do problema. Os trabalhadores eram imigrantes, italianos e gregos, predominantemente. O proces-so de fabricação exigia anos de treinamento; na padaria havia muito barulho; exalava-se um cheiro de fermento que se misturava ao do suor humano, nos quentes aposentos; as mãos dos padeiros estavam constantemente mergulhadas em farinha e água; os trabalhadores usavam tanto o nariz quanto os olhos para julgar o momento em que o pão estava pronto. “Era forte o orgulho da profissão”, embora os trabalhadores não gostassem de seu trabalho. Muitas vezes eles se queimavam nos fornos. Havia a exigência de “músculos humanos” devido à tecnologia primitiva dos rolos de massa. Predominava o tra-balho noturno. Havia uma cooperação íntima entre os trabalhadores na coordenação das tarefas diárias (SENNET, 2000, p. 76-88).
A “nova” padaria se apresenta configurada dessa maneira: é con-trolada por um gigantesco conglomerado de alimentos; sua produ-ção é administrada nos moldes da organização flexível; são utilizadas máquinas sofisticadas, reconfiguráveis, produzindo vários tipos e for-matos de pães, a fim de atender às demandas do mercado; o cheiro de suor de outrora não está mais presente; ela é fria, nela reina um “estranho silêncio”. Não é mais um estabelecimento só de homens trabalhando; o turno da noite foi substituído por um horário mais fle-xível. Sennet (2000) chama a atenção para o “local de trabalho high-tech”, flexível, onde tudo é fácil de usar; por outro lado, cumpre notar que os empregados se sentem pessoalmente degradados pela maneira como trabalham. Os “padeiros” não mantêm mais contato físico com os insumos ou os produtos, todo o processo é monitorado nas telas dos computadores, através de ícones “amigos” que correspondem, entre outras, às “imagens da cor do pão, extraídas de dados sobre a temperatura e tempo de crescimento dos fornos”. São poucos os “pa-deiros” que veem de fato os produtos que fazem. Todo o seu modo de produção está configurado nas telas dos microcomputadores, ou seja, “o pão tornou-se uma representação na tela” (SENNET, 2000). Dessa forma, os padeiros, ao trabalharem nesse desenho produtivo, “não
170 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
sabem de fato como fazer pão”. Adiciona-se a isto uma outra carac-terística relevante, no sentido de que eles não têm mais como avaliar com a “precisão” intuitiva, empírica de antes, como, por exemplo, a verdadeira cor da bisnaga. Tudo leva a crer, segundo o autor, que o “trabalho não é mais legível para eles, no sentido de entender o que estão fazendo”. Ele aponta que o processo tecnológico da padaria é um importante fator para essa “fraca identidade com o trabalho”. As máquinas não são mais hostis, todas se apresentam como muito fáceis de usar – como não poderia deixar de ser num regime de produção flexível (SENNET, 2000, p. 80-88).
Por outro lado, o autor constatou que não só nesse tipo, mas em todas as formas de trabalho, como por exemplo, desde “esculpir, a servir refeições”, os indivíduos se identificam com as tarefas desafiado-ras, não com as que são monótonas, repetitivas. A maquinaria, nesse exemplo, é “o único padrão de ordem, e por isso tem de ser fácil para qualquer um, não importa quem, operar”. Para um regime de pro-dução em que impera a flexibilidade, a dificuldade nas operações se torna “contraprodutiva”. No entanto, paradoxalmente, quando esta, juntamente com a resistência, é diminuída, criam-se condições para “a atividade acrítica e indiferente por parte dos usuários” (SENNET, 2000, p. 84). Ao fazermos uma analogia e nos remetermos para o con-texto do Design Gráfico, que tem hoje também como ferramental de produção o microcomputador e, com ele, todo o seu aparato tecno-lógico, poderemos associá-lo aos conflitos postos e com as mudanças ocorridas nesse exemplo concreto.
O autor também indica que em níveis superiores de trabalho téc-nico, o ingrediente da computação enriqueceu o conteúdo dos ser-viços. Este lado “positivo” é demonstrado num estudo que Stanley Aronowitz e William DiFazio (apud SENNET) fizeram sobre o impacto da utilização da ferramenta AutoCAD (um programa de computador que “auxilia” desenhos e projetos), para um grupo de engenheiros civis e arquitetos, em Nova York. Primeiramente, constatou-se que aquelas pessoas que já dominavam habilidades manualísticas, isto é, já estavam acostumadas a representar graficamente objetos à mão livre, sentiram-se “excitadas com a possibilidade de manipular imagens de uma forma flexível na tela”. Não obstante, a utilização desse “novo” ferramental high-tech trouxe para os seus “usuários de alto nível” re-
171SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
flexões a respeito. Pela própria imersão nesse modo de fazer, manipu-lando facilmente e de inúmeras maneiras os desenhos, esses usuários percebem que o que anteriormente lhes era fácil, isto é, a visualização da totalidade do que se projetava, agora apresenta-se com um grau elevado de dificuldade. Ademais, essa “nova” máquina-ferramenta é muito mais “inteligente” que os antigos aparelhos mecânicos. Há a possibilidade de “substituir a inteligência dos usuários pela sua pró-pria”. Nesse sentido, existe a incorporação dos conhecimentos obtidos pela humanidade, ao longo de seu desenvolvimento, para “dentro” dessa “nova” imposição produtiva.
De todo modo, retornando à temática dos desafios enfrentados pelo designer, de acordo com Denis (2000, p. 214), do mesmo modo que a possibilidade de se popularizar as tecnologias digitais, deu-se uma in-jeção, sem sombra de dúvida, de “uma grande dose de liberdade” no exercício da prática efetiva do Design. No entanto, da mesma forma que ele, é pertinente argumentar também que, junto com esse fato, estão também presentes em seu “bojo novos limites para a imaginação humana”. Ou seja, por mais opções que disponha um programa de computação gráfica, ele é operado a partir de um cardápio de coman-dos preestabelecidos, significando dizer que há uma tendência, cada vez mais difícil, de se imaginar possibilidades de execução e resolução de demandas do campo profissional que não constam desse “cardá-pio” ofertado. Cabe notar que, sob esse cenário, há uma tendência a uma pasteurização visual e estética, que nos parece ser um dos gran-des equívocos atualmente observados no exercício da profissão De-sign. Ainda recorrendo ao autor, é pertinente considerar que
a possibilidade de prever o novo não pode existir em uma sequência programada; portanto, o risco de bitolar a excentricidade criativa é constante em qualquer sistema operacional que retira o controle ins-trumental do usuário, mesmo que seja para potencializar de forma exponencial a eficiência da execução (DENIS, 2000, p.214).
172 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
Ainda nessa mesma ordem de pensamento, segundo Gilberto Strunck6,“antes da informatização se banalizar, era necessário um mínimo de talento/adestramento para representar com desenhos e formas, novas ideias”. Contudo, atualmente com tantos softwares e periféricos para os microcomputadores, como scanners, impressoras, uma enorme quantidade de cliparts e imagens disponíveis em “ban-cos” existentes nos programas, bastam “alguns cliques” para se apre-sentarem projetos com excelentes qualidades gráficas. Por sua vez, trouxe grandes transformações no ciclo produtivo do Design gráfico. Necessariamente, torna-se premente uma conceituação mais apurada e integrada para as soluções propostas. Os serviços outrora executa-dos por terceiros passam a ser feitos pelos próprios designers, contri-buindo para um acúmulo e aumento de tarefas. Por conseguinte, isso acarretou uma necessidade de buscar uma atualização e de dominar plenamente esse ferramental técnico e uma redução nos prazos para a execução técnica dos trabalhos. Sob esse novo desenho produtivo os softwares gráficos “simulam” como ficará o produto acabado. No entanto, com as várias facilidades trazidas pelos mesmos, também vie-ram alguns percalços para os designers. Entre eles, situa-se a “nova” percepção por parte dos clientes, no sentido de que é muito fácil criar; por conseguinte, nesse esquema, eles se apresentam como um “simu-lacro de direção de arte; na gostosa tarefa de clicar, mexer e alterar elementos visuais nas telas dos micros”. Strunck finaliza esse tema, e assim como ele, afirmamos que “os verdadeiros diferenciais são a imaginação, a criatividade, a habilidade e o talento para se comunicar visualmente [...]” (2000, p. 20-22).
6 Gilberto Luiz Teixeira Leite Strunck. Renomado designer, formado pela ESDI, M.Sc. Possui inúmeros trabalhos publicados em livros e revistas especia-lizadas no Brasil, Suíça, Japão, Polônia, Inglaterra e EUA. Professor de Design da Escola de Belas-Artes da UFRJ, e diretor de criação da Dia Design, no Rio de Janeiro.
173SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
Tais ideias estão também sedimentadas em Alexandre Wollner7 (2003), que corrobora essas afirmações quando afirma que nos “últi-mos vinte anos, o desenvolvimento da informática mudou a possibi-lidade de ferramental para a expressão artística”. Ainda segundo ele, o computador é uma poderosa ferramenta, muito útil, entretanto ela depende de quem opera, da sua criatividade8. Muitos podem usá-lo, mas devemos tomar o cuidado para não nos rendermos ao “básico já pronto”.
Nessa perspectiva, convivendo num ambiente tenso, regido pela ve-locidade da informação, da rapidez de respostas e soluções, de um mundo altamente competitivo, complexo, e por que não, caótico; adicionado a uma também rápida evolução da informática, observa-se que as mudanças passaram para um outro plano – o plano virtual –, “desmaterializado”, dificultando ainda mais a possibilidade de se per-cebê-las. Nesse sentido, de acordo com Garay (2002), esse novo “de-senho” configura insegurança, e de certa maneira, “ameaça e desesta-
7 Renomado e importante designer. Aceito em 1950 em um curso de Dese-nho Industrial do Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo. Algum tempo depois, ingressou para estudar na Escola de Ulm, na Ale-manha. Retornou ao Brasil em 1958, onde abriu em sociedade com Geraldo de Barros o primeiro escritório de design no país, o Form Inform. Com Niomar Sodré, diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, entre outros nomes, fundou a Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, pioneira do ensino de Design no Brasil.8 Sobre esse tema, nos parece legítimo trazê-lo, sob a análise de Ostrower, afirmando que: “Consideramos a criatividade um potencial inerente ao ho-mem, e a realização desse potencial uma de suas necessidades. [...] Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse ‘novo’, de novas coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capa-cidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, confi-gurar, significar. [...] Desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom singular: mais do que ‘homo faber’, ser fazedor, o homem é um ser formador. Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre os múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro deles. Relacionando os eventos, ele os configura em sua experiência do viver e lhes dá um significado. Nas perguntas que o homem faz ou nas soluções que encontra, ao agir, ao imaginar, ao so-nhar, sempre o homem relaciona e forma” (OSTROWER, 1987, p. 5-9).
174 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
biliza a rigidez ordenada do mundo positivista que foi predominante no modernismo”. Dessa forma, é percebido, de forma indiscriminada em práticas de concepção de produtos oriundos do campo do Design Gráfico, o uso de imagens desfocadas, mal-acabadas, riscadas, desco-loridas, poluídas, recortadas, incompletas, redesenhadas em progra-mas de tratamento de imagens, e sobrepostas no exercício profissional de Design Gráfico.
Por outro lado, não caindo também num outro determinismo tecno-lógico, não seria justo atribuir culpabilidade pela falta de criatividade somente à ferramenta computacional. Parafraseando Denis (2000, p. 215), devemos nos ater a todo cuidado para que possamos evitar, diante da quase universalização de programas gráficos, sítios da in-ternet e bancos de imagens, um “novo dogmatismo nas formas de proceder”. Ou seja, o “velho senso de mistério e de magia diante de uma folha em branco, experiência fundadora nos relatos de tantos mestres do passado, definitivamente não parece se traduzir com a mesma intensidade para o espaço da tela apinhada de ícones e barras de ferramentas”. Ele ainda ressalta que a “própria metáfora de ‘nave-gar’, na rede (em inglês, emprega-se o verbo ‘surfar’) remete a uma noção de deslizar pela superfície sem nunca se aprofundar, o que trai a horizontalidade que tende a caracterizar a experiência internáutica”, e que talvez o maior desafio do designer envolvido com a rede seja de encontrar soluções que resistam, devido à sua qualidade e densidade, a essa proliferação de informações parciais (idem).
Portanto, em meio à fragmentação característica e, de certa forma, enriquecedora da experiência pós-moderna, é necessário que se con-fira relevo e que não percamos o foco em buscar narrativas e lingua-gens mais amplas e unificadas (DENIS, 2000, p. 215). No entanto, cumpre relevar, não deixando de levar em consideração o entorno socioeconômico e político, não se prescindindo de para quem e para que se projetam produtos do campo do Desenho Industrial, ou seja, é imperioso ressaltar que não percamos de vista a totalidade e a efetiva e real ação social daquilo que é oriundo desses projetos. Nessa perspec-tiva, sob as observações de Bueno (2003, p. 40), “os sentidos humanos são históricos, formados ao longo da história”, assim, os mesmos têm a possibilidade de serem educados de forma a contribuir para que haja uma maior percepção e compreensão, indo muito mais além do que
175SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
“apenas sombras e fantasmas projetados nas paredes de uma caver-na”. Ele adiciona que ainda há a possibilidade de uma educação para “algo muito mais sutil e elaborado do que os choques, os excessos de luz, de sinais, de estímulos e de velocidade, a própria cegueira da sociedade do espetáculo” (idem). Isso posto, nos compele reputar que se devam promover ações que conduzam a um pensar sobre o mundo de forma a possibilitar um maior enfrentamento e aproximação com os seus reais problemas e sua essência – essência nos mesmos termos que Karel Kosik invoca em suas reflexões. Ademais, é preciso que
o pensamento crítico considere o mundo visível, das aparências, os próprios simulacros da sociedade do espetáculo. Mas não para neles se deter, aceitando sua lógica de produção e reprodução, como algo inevitável ou pior, criador de liberdade. Uma vez mais, é preciso cri-ticar a passagem, de todo idealista, que transforma a necessidade em virtude, as carências e restrições em mundo plural e aberto. Mas é para trabalhar uma elaboração de outro tipo, uma imaginação crítica e construtiva, capaz de relacionar esse mundo dos simulacros de massa, da própria sociedade do espetáculo, e os níveis mais elaborados de percepção e conhecimento de nossa época. Um outro tipo de ima-ginação pode mesmo ser que aponte para alguma coisa diferente do que existe e se vai reproduzindo. Não como imagens que matam a própria imaginação, à custa de uma exaustiva e monótona repetição, para lembrar aqui Gaston Bachelard (BUENO, 2003, p. 36).
PARA CoNClUiR bUSCANDo RESPoSTAS PARA A PERGUNTA iNiCiAl
Precisamos [...] de designers criativos, construtivos e visão independente, que não sejam nem ‘lacaios do sistema capitalista’, [...] nem ‘geninhos tecnológicos’, mas antes
profissionais capazes de desempenhar o seu trabalho com conhecimento, inovação, sensibilidade e consciência.
Nigel Witheley (1998)
Como já posto anteriormente, tais considerações levaram a impac-tar, substancialmente, a área do Design. Inserido como sujeito nessa lógica produtiva e cultural, desdobrada da reestruturação produtiva da economia, em conjunto com o ideário da pós-modernidade, o indiví-duo sobrevive num mundo de pujante ordem de informações, que se constitui em visões fragmentadas e fragmentos de visões (cuja totalida-
176 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
de somente é recomposta na mente de cada um, e sempre de forma passageira) do efêmero, do acaso, da superficialidade. O que nos leva a crer que afeta, sobremaneira, o campo de formação do Design.
Dessas contradições, sob uma visão macro, pode-se pensar que há uma crise no Design? Giulio Carlo Argan aponta que sim. Para ele, tal aspecto manifesta-se no product design e a ideia da gute form, “como uma divergência crescente entre programação e projeto”. Nesse senti-do, a programação é vista como “preordenação calculada e quase me-cânica”, com tendência não mais a preceder o projeto, mas substituí-lo como busca de “soluções dialéticas para as contradições que se vão de-terminando sucessivamente na sociedade”. Assim, como ele, defende-se e compreende-se que “projeto ainda é um processo integrado numa concepção do desenvolvimento da sociedade como devir histórico”. Isso posto, em contrapartida, de acordo com Argan, “programação é a superação da história enquanto princípio da existência social”. Colo-cada nesses termos, ela subtrai dos indivíduos “toda escolha e decisão, conferindo-as ao poder”. Ele também afirma que toda cultura ociden-tal, com um eixo norteador estruturalmente dualista, é “a distinção e, ao mesmo tempo, o paralelismo, o equilíbrio simétrico entre objeto e sujeito”. Dito de um outro modo: não se pode pensar o objeto em se-parado do sujeito. O sujeito se torna sujeito “porque coloca a realidade como outra e distinta de si; o objeto é objeto apenas porque é assumido e pensado pelo sujeito”. Dessa forma, o autor nos conduz a conformar como objeto a realidade ou um fragmento dessa realidade, se partirmos como princípio de que ela adquire a “singularidade do sujeito”, na me-dida em que é pensada por um sujeito. Da mesma maneira, entende-se o homem como sujeito porque compreende e faz sua a realidade ou um seu fragmento (ARGAN, 2005, p. 251-252).
De acordo com o autor, pode-se afirmar que o Design tem um papel de atuar como “processo da existência finalística não apenas da so-ciedade, mas de toda a realidade”. É ele que promove uma “coisa ao grau de objeto” e coloca o objeto como um ser “perfectível, ou seja, participante do finalismo da existência humana”. Portanto, infere-se, segundo o autor, que a crise é uma crise global. Para ele o mundo moderno possui uma tendência de não mais ser um mundo de “ob-jetos e sujeitos, de coisas pensadas e pessoas pensantes. O mundo de amanhã poderia não ser mais um mundo de projetistas, mas um
177SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
mundo de programados”. Assim, o pensamento ocidental, estrutural-mente objetivador, objetifica as coisas, as pessoas, a realidade inteira (ARGAN, 2005, p. 252). Para ele, a crise do objeto reside na crise do produto. Sob que bases conceituais? Houve duas premissas quando se tentou passar o produto de interesse individual para o produto de interesse coletivo:
1) o valor de qualquer produto da técnica resulta da quantificação mais ou menos ampla da qualidade do unicum-arte assumido como modelo; 2) identificando a qualidade ao valor estético, as técnicas da arte e do artesanato têm a finalidade de produzir valor estético, ou seja, ligar uma experiência estética, ainda que em grau diverso, a todas as coisas de que nos servimos na vida (ARGAN, 2005, p. 254).
Ainda, nessa ordem, o industrialismo sob uma ideologia-utopia origi-nal bauhausiana poderia ter transformado a “velha sociedade vertical, classista, hierárquica”, numa outra diametralmente oposta: “horizon-tal, sem classes, funcional” (ARGAN, 2005, p. 254). Depreende-se, a partir das reflexões do autor, que essa perspectiva reformista estava ancorada basilarmente na busca “mais orgânica de transformação da sociedade através da uniformização de sua cultura material, realizada no outro pós-guerra”. Assim, as ideias que presidiram a filosofia pe-dagógica bauhausiana de Walter Gropius tinha um objetivo de não apenas ser um local de estudantes de metodologias projetuais, mas como proposta de um modelo de uma “sociedade-escola”, isto é, uma sociedade que se constrói, projetando seu próprio ambiente e sua reforma, e ainda, de criar objetos cujo valor não dependesse mais da matéria, e sim da forma, e – importa ressaltar – que fossem utilizá-veis também por classes economicamente não privilegiadas (ARGAN, 2005, p. 244). Na sua ideologia, um objeto como um número de série, logo, sob um viés quantitativo; no entanto, em sua essência, com um valor de qualidade do projeto-modelo de que era a repe-tição. Assim, melhor dizendo, pedagogicamente, mediada pelo uso dos objetos em seu cotidiano, a sociedade aprenderia que “cada ato moralmente válido é um projeto”, isto é, “um passo em direção à re-alização da ideologia em cuja perspectiva fora concebido” (ARGAN, 2005, p. 244).
178 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
Na Alemanha do segundo pós-guerra, procurou-se dar vida a essa filosofia original, de se reestruturar uma Segunda Bauhaus: a Hochs-chule für Gestaltung – ou, como é mais conhecida, a Escola de Ulm. No entanto, não houve êxito nessa tentativa. Argan demonstra que o seu insucesso, em parte, deveu-se pela relutância da grande indústria em posicionar seu telos produtivo com finalidades sociais. Ao deixar de lado essa filosofia, se lançou na busca desenfreada do lucro imedia-to. Também se atribui ao fato de ter sido proposta uma padronização exacerbada ao objeto, num momento em que para o contexto geral da cultura, o conceito de objeto (e, simetricamente, de sujeito) já não mais se cabia propor. E ele faz uma crítica mais veemente a esse fato quando afirma que: “[...] a gute Form se deixa cooptar facilmente: o ‘estilo Braun’ não é mais que apropriação indevida do método de Ulm por parte do neocapitalismo alemão” (ARGAN, 1981, p. 9).
A força dessas ideias nos leva a crer que, ao analisarmos a cadeia pro-dutiva dos produtos, no caso de ocorrer uma mudança numa série de produtos, pode-se depreender que seu processo é determinado pelo “desgaste do produto”, que, por conseguinte, se processa por motivos objetivos ou subjetivos. Quando se obtém resultados de pesquisas fei-tas no âmbito dos projetistas e se constata que há uma necessidade de adequação de um produto que ou uma mudança seja feita por uma melhor correspondência à sua finalidade, seu espectro de aplicação é mais vasto, e, nessa ótica, se processa uma obsolescência objetiva. Se, no entanto, ao invés disso, o desgaste é “programado” sob fins psico-lógicos nos usuários, como incentivo ao descarte – e aí entra todo o aparato do marketing e da publicidade – configura-se nesse modus um “consumo desproporcionado à necessidade”, se processando o que se denomina “obsolescência artificial”. Isto é, um produto já, desde a sua fase projetual, sairia configurado com um tempo de vida cur-tíssimo, ou seja, a data de sua “morte” já anunciada previamente. Aí entram as grandes transformações formais (aparência), os modismos, os simulacros, o marketing, para criar necessidades, anseios e “novos” desejos por parte dos consumidores, em adquirir os “novos produtos”. É, nesse sentido, nessa desproporção, que se apresenta a “espiral sem fim do consumismo”, salienta Giulio Carlo Argan (2005, p. 261-262).
Em vista disso, mudando-se periodicamente a aparência de uma mer-cadoria, reduzia-se o tempo de permanência dessa mesma na esfera
179SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
do consumo. Esta é uma técnica conhecida como “inovação estética”. Está, sobretudo, na subordinação dos valores ligados às marcas – Wol-fgang Haug (1997) chama de “vitória da mercadoria monopolista” –, pois uma determinada marca tende a implantar um monopólio próprio para a sua mercadoria. Haug (1997, p. 55) sinaliza para a convivên-cia da inovação estética por parte dos consumidores, como um fim inevitável, embora sendo fascinante. Há um deslocamento das mer-cadorias de sua manifestação como por si mesmas, para a esfera dos “objetos sensível-supra-sensíveis”, ressalta o autor. É notada, portanto, uma substituição das gerações de mercadorias diferenciadas estetica-mente, como uma estação à outra. Nessa arena, os designers se veem diante de uma tarefa (imposta!?) de, ao projetar uma nova “imagem” para determinado produto, estabelecer, dessa forma, uma nova moda, uma “nova necessidade”. Ademais, Haug indica ainda que, segundo “o impulso deles, a inovação estética é essencialmente caducidade esté-tica; o novo como tal não lhes interessa” (1997, p. 54-55). Portanto, é pertinente considerar que nessa relação se faz presente, muito intima-mente, o Design de produtos, contribuindo para a materialização desse fenômeno mercadológico. Assim, percebe-se que o Design, enquanto arte e técnica, encontra-se constantemente balizado de um lado por uma preocupação estética; de outro, determinado por uma ética.
Nessa ordem de pensamento, Maldonado (1981, p.14) afirma que se deve admitir que o Desenho Industrial não é uma atividade autô-noma, ainda que se possa pensar que suas “opções projetuais possam parecer livres – e às vezes até são –, sempre se trata de opções no con-texto de prioridades estabelecidas de uma maneira bastante rígida”. Ou seja, infere-se que a regulação dos projetos de Desenho Industrial é presidida por esse sistema de prioridades. Sob essa configuração orgânica, não nos causa estranheza o fato de que, na fase de confor-mação dos objetos, sua “fisionomia” apresente mudanças substanciais quando a sociedade decide privilegiar determinados fatores em lu-gar de outros. Por exemplo, fatores relacionados às questões técnico-econômicas ou técnico-produtivas em detrimento aos funcionais; ou os fatores simbólicos indo de encontro aos “técnico-construtivos ou técnico-distributivos” (idem).
Fazendo eco a essas reflexões, Argan (2005, p. 262) caracteriza como Styling o processo deformado e vicioso do projeto que objetiva
180 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
projetar com fins de se obter o máximo de consumo – lucro máxi-mo –, exagerando as características mais “apetitosas, ou comestíveis” de um produto. Nessa linha, se há uma provocação intencionada de impulsos, e se não se obtém uma resposta imediata nos produtos, o consumismo gera um “sentimento contínuo, patológico, frustrante de insatisfação”. Depreende-se desse contexto que, ao invés de termos uma sociedade de consumo como uma sociedade de bem-estar, o que vemos, na realidade, é uma “sociedade irremediavelmente in-feliz”. Em tempo, parece-me importante trazer um pensamento de Argan que reitera essa reflexão:
Tudo leva a crer que serão justamente esses produtos efêmeros, le-ves, coloridos, fáceis de manusear, fáceis de trocar, que constituirão a mutável e vivíssima morfologia do ambiente, e teremos como uma nova natureza fabricada pelo homem e sobreposta à primeira. Resta, enfim, o grande problema dos verdadeiros circuitos de informação e comunicação: a televisão, o rádio, o cinema, o teatro, a imprensa, o esporte. O novo design não deveria por certo consistir em impor a essas atividades, que utilizam amplamente os meios de comunicação visual, uma certa dignidade formal – ao design de objetos deve suce-der, portanto, o design das imagens. A indústria põe em circulação uma enorme massa de imagens. Se pensarmos que, em substância, reduziu os objetos às suas imagens, podemos até dizer que produz e introduz no mercado apenas imagens (ARGAN, 2005, p. 265 – itálicos no original).
Dessa maneira, estando a nossa sociedade exposta a um bombar-deio de imagens, principalmente nas cidades, consequentemente, é promovida a paralisação da imaginação: “faculdade produtora de imagens” (Argan). O autor enfatiza que essa carência de emissão de imagens tem, por conseguinte, uma “aceitação passiva das imagens que formam o ambiente efêmero, mas real, da existência”. Significa dizer que há uma “falta de reação ativa, de interesse, de participa-ção”. Argan afirma que não é outra coisa senão o que se denomina de alienação. E é pertinente adicionar, segundo suas reflexões, que a “alienação, a falta de integração ao ambiente, a paralisação da imagi-nação são a origem da patologia urbana, da violência, do vandalismo,
181SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
das drogas, da neurose coletiva”. Portanto, faz-se necessário envidar esforços objetivando conseguir que a “informação e a comunicação de massa não sejam em mão única e, acima de tudo, não impeçam a comunicação dos indivíduos entre si e com o ambiente” (ARGAN, 2005, p. 265). Dessa forma, põe-se a imaginação nesse patamar pe-dagógico de construção do indivíduo como sujeito em si e para si, pois ela é a “faculdade que nos permite pensar em nós mesmos de forma diferente do que somos e, portanto, propor uma finalidade além da si-tuação presente”. Ele salienta que “sem imaginação pode haver cálcu-lo, mas não projeto”; deve-se utilizar uma metodologia de concepção não mais somente como uma “predisposição dos meios operacionais para pôr em prática os progressos imaginados”, e sim uma imaginação ética e politicamente intencionada, preocupada com as reais necessi-dades dos indivíduos. Em tempo, parece importante ressaltar e trazer à tona que o Design tradicional, criado pela Bauhaus no primeiro pós-guerra, estava estreitamente ligado à pesquisa dos artistas do cons-trutivismo, isto é, tinha em vista “tornar melhor, mais racional, mais eficiente, mais agradável, o ambiente da vida cotidiana”. No entanto, ocupava-se, porém, ainda e apenas, do objeto, “sem considerar que o problema do objeto implica o do sujeito e vice-versa” (ARGAN, p. 265-266).
Assim, uma questão se impõe: parafraseando Argan, que instrumen-tal poderia se prestar para um corpus que parece ser o único programa do Design? De acordo com o autor, um só, no entanto, sob outros níveis e com ramificações diversas: a escola, embora a considerando ainda como um aparelho de classe que tem por finalidade manter a hierarquia das classes. Suas reflexões nos apontam que, ao conceber-mos um desenho de sociedade configurado como uma “sociedade de massa”, nos resta, enquanto uma “dilatação quantitativa da cultura de classe, evitar que às estruturas dos sistemas de informação e de comunicação corresponda uma mudança qualitativa ou substancial da estrutura da cultura – eis, o que parece um dos absurdos mais gros-seiros e perigosos do mundo de hoje” (ARGAN, 2005, p. 267). É for-çoso notar, conforme analisa Frigotto (apud FONSECA, 2006, p. 211), que a escola enquanto instância que permite explorar as contradições que estão postas na sociedade, “é ou pode ser um instrumento para mediar a negação dessas relações sociais de produção, constituindo,
182 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
também um instrumento eficaz na formulação das condições concre-tas que visam superar as relações sociais determinantes entre capital e trabalho, trabalho manual e trabalho intelectual, mundo do trabalho e mundo da escola”.
Com base nas ideias expostas, cabe ressaltar a inserção de meto-dologias projetuais e conhecimentos que municiem alunos (futuros designers), imersos nesse mundo da superfície, do espetáculo e da efemeridade, de maneira que possam melhor compreender critica-mente a real relevância social contida em seus projetos, seja de pro-dutos do uso cotidiano ou de peças gráficas. Da mesma forma que Argan (2000, p. 121), confere-se relevo ao “projeto” como um méto-do que compreende em si mesmo, no seu “traçado”, a “consciência de todas as técnicas inerentes à sua realização”, e que deve estar em correspondência com as demandas práticas no tocante a que, a quem e para que deve servir, não somente a exigência de um só sujeito ou grupo social. Fazer com que a Educação atue como mediação de uma nova produção humana (práxis) não imediatamente práxis, mas mediatamente práxis, se identificando com ela e, ao mesmo tempo, negando-a (contradição) levando a uma nova práxis, eis aí uma impor-tante missão a cumprir.
É importante também ressaltar que esses futuros profissionais de De-sign tenham um compromisso social de plasmarem ações e soluções que desenvolvam contribuições significativas com o desenvolvimento de nossa sociedade. Assim, em sua formação educacional e em ativi-dades de sua inserção profissional, não devam ter uma diretriz única que promova, com tanta pujança, uma lógica projetual de visão uni-lateral, voltada somente para o mercado. Enfatizando-se tal aspecto, Bueno (2003, p. 36) sinaliza que é necessário “trabalhar uma elabora-ção de outro tipo, uma imaginação crítica e construtiva, capaz de rela-cionar esse mundo dos simulacros de massa, da própria sociedade do espetáculo, e os níveis mais elaborados de percepção e conhecimento de nossa época”. Assim, deve-se buscar plasmar um corpus global, não pulverizado, não alienante e compromissado cultural e politica-mente, não se prescindindo de questionamentos perante o público e a finalidade social de seu trabalho.
183SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
REFERÊNCiASANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: J. Za-Za-
har, 1999.ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Pau-
lo: Martins Fontes, 2005.______. Projeto e destino. São Paulo: Ática, 2000.BAUDELAIRE, Charles. Obras estéticas. Petrópolis: Vozes, 1993.BOAL, Augusto. Fala-se em cultura: o que é? Caros Amigos, São
Paulo, 2001.BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 1999.BUENO, André. A educação pela imagem & outras miragens. Trabalho,
Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 2003. CARLSEN, Jon Bang. Um rosto na multidão. Folha de S. Paulo, São Paulo,
29 mar. 1998. Caderno Mais!CAUDURO, Flávio Vinícius. Design gráfico & pós-modernidade. Revista da
FAMECOS, Porto Alegre, n. 13, dez. 2000.______. O imaginário tipográfico pós-moderno. Disponível em: <http://
wawrwt.iar.unicamp.br/GTcompos2002/cauduro.html>. Acesso em: 01 ago. 2005.
DENIS, Rafael Cardoso. Uma introdução à história do design. São Paulo: E. Blücher, 2000.
EAGLETON, Terry. A ideologia da estética. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1993.FONSECA, Laura Souza. Reestruturação produtiva, reforma do estado e
formação profissional no início dos anos 1990. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; FRANCO, Maria Aparecida Ciavatta (Org.). A formação do cidadão produ-tivo: a cultura de mercado no ensino médio técnico. Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006.
FRANCO, Maria Aparecida Ciavatta. O conhecimento histórico e o proble-ma teórico-metodológico das mediações. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; FRAN-CO, Maria Aparecida Ciavatta (Org.). Teoria e educação no labirinto do ca-pital. Petrópolis: Vozes, 2001.
FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1981.
184 SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
GARAY, Boris. Design gráfico e espírito jazzístico: reflexões sobre inovação constante. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DESIGN, 2., 2003, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPED, 2003.
GROPIUS, Walter. Bauhaus: nova arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1997.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2002. HAUG, Wolfgang Fritz. Crítica da estética da mercadoria. São Paulo: Ed.
UNESP, 1997.JAMESON, Fredric. O pós-modernismo e a sociedade de consumo. In: KA-In: KA-KA-
PLAN, E. Ann (Org.). O mal estar do pós-modernismo. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1990.
______. Reificação e utopia na cultura de massa. Crítica Marxista, São Pau-lo, n. 1, 1994. Disponível em: <http//www.unicamp.com.br/cemarx/critica-marxista>.
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. São Paulo: Paz e Terra, 2002.LUKÀCS, Georg. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do
homem. São Paulo: Ciências Humanas, 1978. (Col. Temas, 4).MALDONADO, Tomás. El diseño industrial reconsiderado: definición,
história, bibliografia. Barcelona: G. Gili, 1981.MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civ.
Brasileira, 1980.______.______. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994.______. Capítulo inédito d’O Capital: resultados do processo de produção
imediato. Porto: Publicações Escorpião, 1975.______. Para uma crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural,
1983. ______. O trabalho alienado. In: ______. Manuscritos econômico-filosófi-
cos. Lisboa: Ed. 70, 1964.MELO, Chico Homem de. Os desafios do designer. São Paulo: Rosari,
2003.MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo,
2006.OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vo-
zes, 1987.
185SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 150-185 | JANEiRo > AbRil 2009
PAREYSON, Luigi. Estética: teoria da formatividade. Petrópolis: Vozes, 1993.
REIS, Ronaldo Rosas. Educação e estética: ensaios críticos sobre arte e for-mação humana no pós-modernismo. São Paulo: Cortez, 2005.
______. Trabalho e conhecimento estético. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, 2004.
SANTONI RUGIU, Antônio. Nostalgia do mestre artesão. Campinas: Au-tores Associados, 1988.
SANTOS, Jailson dos. Início dos anos 1990: reestruturação produtiva, refor-ma do estado e do sistema educacional. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; FRAN-CO, Maria Aparecida Ciavatta (Org.). A formação do cidadão produtivo: a cultura de mercado no ensino médio técnico. Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006.
SENNET, Richard. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do traba-lho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2000.
STRUNCK, Gilberto. Viver de design. Rio de Janeiro: 2AB, 2000.O VALOR do design: guia ADG Brasil de prática profissional do designer
gráfico. São Paulo: SENAC São Paulo: ADG do Brasil, 2003.WITHELEY, Nigel. O designer valorizado. Arcos: design, cultura material e
visualidade, Rio de Janeiro, v. 1, 1998.
NÚMERoS ANTERioRESEDiÇÃo 4
CoTAS NAS UNiVERSiDADES bRASilEiRAS - A contribuição das teorias de justiça distributiva ao debateFábio D. Waltenberg
UMA RElEiTURA PREliMiNAR SobRE A RElAÇÃo ENTRE DEMoCRACiA, ESFERA PÚbliCA E DESiGUAlDADE NA SEGUNDA METADE Do SÉCUlo xx NA AMÉRiCA lATiNAÉrica Pereira Amorim
DESENVolViMENTo loCAl E RESPoNSAbiliDADE SoCiAl - As ações de responsabilidade social como um instrumento de interlocução entre as empresas e a sociedadeleonardo Marco MulsAna Paula Fleury de Macedo Soares
FiloSoFiA E DANÇA CoNTEMPoRâNEA - Do movimento ilusório ao movimento totalMaria Cristina Franco Ferraz
o PolíTiCo CoNTRA A PolíTiCA - Uma agenda de pesquisa em forma de manifestoThamy Pogrebinschi
EDiÇÃo 5A iNSUPoRTÁVEl lEVEzA Do CAPiTAl - Excertos a partir de baudrillardAndré Queiroz
MUDANÇAS SoCiETÁRiAS E CRiSE Do EMPREGo - Mistificações, limites e possibilidades da formação profissionalGaudêncio Frigotto
187SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 2009
CoNFUSõES EM ToRNo DA NoÇÃo DE PÚbliCo - o caso da educação superior (provida por quem, para quem?)Ricardo Paes de barros, Mirela de Carvalho, Samuel Franco, Rosane Mendonça e Paulo Tafner
ENTRE A ESPERANÇA E A REAliDADE SobRE A ARTE E o SEU ENSiNo Ronaldo Rosas Reis
SobRE o RElATiViSMo ESTÉTiCo PóS-MoDERNo E SEU iMPACTo ExTRA-ESTÉTiCoWalzi C. S. da Silva
EDiÇÃo 6o PRoGRAMA bolSA FAMíliA E AS CoNDiCioNAliDADES DE SAÚDE EM NíVEl MUNiCiPAl – Um programa populista ou estrutural?Juliana Estrellaleandro Molhano Ribeiro
HUMoR NA liTERATURA bRASilEiRA - No início do século xxleandro Konder
A CiDADE-obRA oU ‘oS olHoS DA CiDADE SÃo DElES’luizan Pinheiro
PobREzA E SAÚDE iNFANTil - Uma análise a partir dos dados da PoF e da PnadMaurício Reis Anna Crespo
A SoCiEDADE iNDUSTRiAl E SUAS VUlNERAbiliDADESSergio Elias Couri
SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 2009188
EDiÇÃo 7CUiDADoS DE loNGA DURAÇÃo PARA A PoPUlAÇÃo iDoSA - Família ou instituição de longa permanência?Ana Amélia Camarano
FAToRES QUE iNFlUENCiAM o AMbiENTE DA ASSiSTÊNCiA à SAÚDE No bRASil - Modelo atual e novas perspectivasFlávia Poppe
SiMUlACRo, SHoPPiNG CENTER E EDUCAÇÃo SUPERioRJosé Rodrigues
PolíTiCAS PASSiVAS DE EMPREGo - Características, despesas, focalização e impacto sobre a pobrezaluís Henrique Paiva
PREViDÊNCiA No bRASil - Debates e desafiosPaulo Tafner
EDiÇÃo 8FAToRES QUE iNFlUENCiAM o AMbiENTE DA ASSiSTÊNCiA à SAÚDE No bRASil – Modelo atual e novas perspectivasFlávia Poppe
AÇÃo AFiRMATiVA: PolíTiCA PÚbliCA E oPiNiÃoJoão Feres Júnior
A ARQUiTETURA NA ‘ESTÉTiCA’ DE lUKÁCSJuarez Duayer
PREViDÊNCiA CoMPlEMENTAR PARA o SERViÇo PÚbliCo No bRASilMarcelo Abi-Ramia Caetano
TRANSFERÊNCiAS DE RENDA FoCAlizADAS NoS PobRES - o bPC versus o bolsa FamíliaSonia Rocha
189SiNAiS SoCiAiS | Rio DE JANEiRo | v.3 nº9 | p. 1-190 | JANEiRo > AbRil 2009
Obtenção de exemplares:Assessoria de Divulgação e Promoção
Departamento Nacional do [email protected]
Tel.: (21) 21365149Fax: (21) 21365470
Esta revista foi editada nas fontes zapf Humanist 601 bT, em corpo 10/9/8,5, e iTC officina Sans,
em corpo 26/16/9/8, e impressa em papel off-set 90g/m2, na Gráfica Duoprint.
ISSN 1809-9815ano 3 | janeiro > abril | 2009
SESC | Serviço Social do Comércio
SESC | Serviço Social do Comércio
ano 3 | janeiro > abril | 2009
0909
www.sesc.com.br
ISS
N 1
809-
9815
97
71
80
99
81
00
5
01
INTELECTUAIS E ESTRUTURA SOCIAL: UMA PROPOSTA TEÓRICADaniel de Pinho Barreiros
CULTURAS URBANAS E EDUCAÇÃOEXPERIMENTAÇÕES DA CULTURA NA EDUCAÇÃO
Ecio Salles
RELAÇÕES INTERNACIONAISUMA INTRODUÇÃO AO SEU ESTUDO
Franklin Trein
A EVOLUÇÃO FAZ SENTIDO. INCLUSIVE NA ATIVIDADE FÍSICA?Hugo Rodolfo Lovisolo
‘DESIGNERS’, SUJEITOS PROJETIVOS OU PROGRAMADOS?Marco Antonio Esquef Maciel�




































































































































































































![· 1n ` ]n9 9y` = > , + # $ ./ ' ) # ($ ( . - 3)](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5c16cb5809d3f2946a8d082b/-1n-n9-9y-3.jpg)