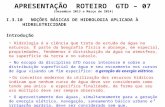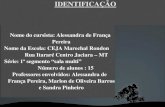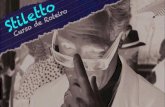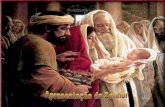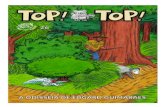APRESENTAÇÃO ROTEIRO GTD - 07 - Noções Básicas de Hidrologia.ppt
Roteiro Apresentação
-
Upload
davi-ribeiro -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Roteiro Apresentação
Antes de adentrar propriamente o ponto sorteado, gostaria de agradecer ao Professor Walber pela oportunidade de participar da seleo de monitoria, assim como agradecer aos demais professores presentes pela pacincia de ouvir informaes que j so, em boa parte, do seu conhecimento. Em razo da seleo, o confronto com o texto do livro e a hermenutica heterorreflexiva foi inevitavelmente enriquecedor; da o agradecimento. Para discorrermos sobre jogo dialgico contratextual crucial conceb-lo como uma etapa da hermenutica heterorreflexiva, esta justificada pela necessidade de crtica cincia do direito habitualmente desenvolvida hoje, ou seja, assentada em certas tradies da modernidade. O jogo dialgico contratextual implica a consolidao de um saber jurdico a ser fundado a partir do problema, isto , das condutas e situaes concretas correlatas (aos invs da nfase normativista), sendo assumida a compreenso enquanto dinmica elementar da existncia humana (inescapvel jogo de projeo de sentido, do qual ningum pode se apartar), potencializada no s pela inter-subjetividade presumida e desenvolvida atravs do contato crtico com os textos de modo isolado (auto-reflexivo), mas tambm pela interao de um outro que se faz presente e descortina ainda mais possibilidades cognitivas sobre o ente. Contudo, para que esta pergunta ganhe uma resposta com sentido claro e robusto, entendemos ser necessrio um percurso mais longo. Se o jogo dialgico contratextual uma etapa no perfazimento da circularidade do sistema jurdico, circularidade arranjada pela hermenutica jurdica heterorreflexiva, preciso situar a crtica epistemolgica que esta alternativa hermenutica traz consigo e os pontos problemticos na nossa pragmtica jurdica espontnea e habitual. Um primeiro ponto importante a perda da percepo em torno da diferena ontolgica. Conceito de suma importncia na obra de Heidegger, a diferena ontolgica vem nos indicar o seguinte: aquilo - o Ser - que torna os entes inteligveis enquanto entes no um ente entre os outros postos no mundo; h, digamos assim, uma qualidade radicalmente diferente entre Ser e ente. Ignorar esse aspecto, esta distino radical, significa desembocar no esquecimento do ser, ainda nos termos de Heidegger: significa tratar, por exemplo, o sentido como uma espcie de atributo material do ente. [Vale lembrar que, em Heidegger, todo ser ser de um ente; no h ente transentitativo] [Exemplo do dilogo com o evanglico] Percebemos que nem todas as correntes filosficas, a exemplo dos tomistas, assumiram a crtica de Heidegger indicada pelo esquecimento do ser na sua abrangncia original (toda a filosofia desde Parmnides): nem todos se reconheceram tal equvoco nas suas filosofias, isto , essa atitude distorcida de tomar o ser na qualidade de super-ente. A despeito dessa polmica envolvendo o Doutor Anglico [Johannes Lotz], enxerga-se inegvel pertinncia da crtica, provida pelo filsofo alemo, quando levamos em conta certas premissas epistemolgicas prprias modernidade: a aceitao de um paradigma radicalmente fundado na distino sujeito-objeto, a partir do qual possvel pensar [de forma ilusria] em sentidos estveis e fixados nas prprias coisas, sentido claros supostamente resgatveis de modo automtico dos textos; a interpretao, sob essa expectativa, seria um recurso secundrio, quando, por uma eventualidade, o texto no se colocasse com clareza. Devemos perceber o seguinte: h uma preocupao epistemolgica recorrente na filosofia: ela versa sobre os limites legtimos dos nossos conhecer. Isso est presente tanto em Kant quanto em Descartes. Problemtico no o interesse por tal tipo de resposta, busca legtima, mas seus termos: a dvida metdica cartesiana , em verdade, um procedimento irrealizvel. Em primeiro lugar, Descartes no capaz de por em dvida o impulso elementar que o motiva a adotar a dvida metdica: temos a algo que escapa pretenso de por tudo em dvida [resduo inexpugnvel de pr-compreenso]. A rigor, o que Descartes chama de dvida corresponde a uma espcie de negao hipottica. A vivncia da dvida a alternncia entre juzos antagnicos, a alternncia entre estados, no ela mesma um estado. Ao trabalhar concebendo a dvida como uma negao, Descartes apenas afirma o primado lgico da afirmao sobre a negao [o ctico inevitavelmente afirma algo quando procura negar tudo]. Por fim, a certeza da continuidade do eu no tempo [ato de duvidar e refletir sobre a dvida] a garantia pela qual podemos falar na vivncia de qualquer dvida. Desse modo, percebemos que a dvida no fundante, mas um movimento secundrio. Contudo, Descartes se emaranha numa rede de iluses a partir da qual capaz de enxergar o sujeito [cognoscente] na condio de referencial absoluto de cognio, tal qual uma razo fora do mundo, tentando suprimir a carga pr-compreensiva. [Consideraes crticas sobre o projeto kantiano comentrio de Hegel] sujeito que pega o peixeFalemos ento sobre os reflexos do paradigma cartesiano no campo jurdico. O desenrolar do saber jurdico foi enquadrado nesse modelo epistemolgico de razo atemporal, fadado a privilegiar o dedutivismo [ou melhor, silogismo] indiscriminadamente em face dos diversos objetos, inclusive aqueles para os quais ele incompatvel. Fbula chinesa O direito toca o reino da contingncia. Portanto, insustentvel qualquer pretenso de encaixar a atividade decisria dentro de raciocnios necessrios, pois os casos no podem ser satisfatoriamente apreendidos em sua riqueza mediante formalizaes do intelecto. Kelsen, o demolidor de dolos, apontou o seguinte: frmulas abstratas de justia nada querem dizer, so inservveis (justia dar a cada um o que seu por direito)! Com propriedade, afirma Kelsen: essas frmulas abstratas supem evidente exatamente aquilo que devem desdobrar ou demonstrar, preencher com carne e osso! [pescar a citao] No mesmo sentido, ao seguir com fidelidade perspectiva normativa [ver o Direito a partir da norma], Kelsen foi capaz, dentro da rgida distino entre sujeito-objeto, de visualizar uma inescapvel indeterminao semntica presente nas normas: a hierarquia entre normas determina sua aplicabilidade vlida, mas seu contedo fica refm de uma vagueza inescapvel. A norma, pela norma, em seu grau elevado de abstrao, nos coloca apenas termos soltos. Quem se sentir a vontade pode abrir um dicionrio e tentar a sorte no jogo de probabilidades!Aqui est: mesmo que isso no venha tona, e a nos falta postura crtica se no explicitarmos este ponto, as normas jurdicas supem, em concomitncia com sua exposio formal, no mnimo uma situao idealizada que lhe confere algum preenchimento que as torna efetivamente instrumentais. Alm disto, isto que acabamos de dizer, acrescentemos o seguinte: a dimenso pragmtica da linguagem no suprimvel, o que est na raiz da compreenso do carter indissocivel entre interpretao e aplicao.Condio necessria para conceber o vnculo inevitvel interpretao e aplicao o abandono do suposta pretensa suficincia do texto. O direito no o texto, assim como a Escritura no a Revelao (Teologia). O texto uma via de acesso ao ente (situaes e condutas) em seu ser, um modo de ilumin-lo rumo a uma deciso propriamente jurdica, um instrumento em favor da autonomia do direito, mas sem olvidar a dinmica compreensiva sempre presente no modo humano de ser no mundo. Ao lidar com textos, estamos lidando com situaes idealizadas. [olho por olho] Repetindo: no podemos esquecer a dinmica compreensiva sempre presente no modo humano de ser no mundo. Podemos esclarecer melhor isto a! Vamos l!O jogo dialgico contratextual uma etapa de valorizao da dinmica compreensiva do homem ciente do equvoco em torno fetichismo do texto, um privilegiar do ente, um privilegiar do problema na condio de ponto de partida para confeco do saber jurdico.Neste curto espao de tempo, pudemos indicar a insuficincia do caminho epistemolgico cartesiano ou kantiano. De todo modo, a literatura est a disposio para aprofundamento. Essa situao requer, conseqentemente, um novo criticismo, com o perdo da expresso um tanto improvisada: novo criticismo. Com isso, uma das tarefas o ajuste das relaes entre filosofia e cincia. A fenomenologia de Edmund Husserl, ponto de origem do caminho filosfico de Martin Heidegger, se insere no cenrio com a pretenso de retornar s coisas mesmas e assim checar a consistncia dos conceitos aparentemente justificados, presentes no campo cientfico, por exemplo, na busca dos dados indubitveis, das evidncias cognitivas que so inescapveis para o ser o humano; apenas a partir deste pilares, esses fatores cognitivos inescapveis para o ser humano, por assim dizer, possvel construir uma cincia vlida [pensemos na cincia jurdica]. sua poca, Husserl detinha certa conscincia de que o cientista moderno passava por apertos por no conhecer as razes de validade de suas proposies, isto , jogado num empirismo desorientado. No se sentia confortvel, por outro lado, estrutura de apriorismos tal como desfiados pelo idealismo.Dentro da fenomenologia de Husserl, para chegarmos aos tais dados indubitveis [os limites da evidncia apodtica so os limites do nosso saber] preciso aplicar a reduo fenomenolgica. Esta reduo significa a atitude de suspender o juzo sobre toda ordem de convico que no seja absolutamente incontornvel: aquelas correspondentes s teses cientficas e filosficas reiteradas mais ou menos mecanicamente, assim como as crenas prprias do nosso agir habitual sobre o mundo. Atacado todo o tipo de dado que no seja inescapvel, temos ao menos de um porto seguro, ponto de partida inicial: a intencionalidade da conscincia [ o resduo fenomenolgico]. A conscincia, por sua vez, marcada pela referncia a algo que no ela mesma, algo diferente do prprio ato de conscincia: a conscincia sempre conscincia de algo. A conscincia no um ente ou uma funo psquica; a relao entre sujeito e objeto no psicolgica [o fato de nos referirmos a algo por meio dos pensamentos no pode ser garantida por uma funo psquica]. A raiz do conhecimento no o psicologismo, mas lgico-transcendental, configurada pela projeo inevitvel da conscincia em sua intencionalidade, abertura a uma rede de essncias (reino de significados, significao humano essncias as quais nos referimos mesmo na ausncia daquilo que indicam, como o lobisomem). A conscincia a relao na qual objeto se d. A fenomenologia seria a cincia das essncias puras, das notas transcendentais e modos tpicos pelos quais determinados objetos aparecem conscincia: o amor, a empatia, etc.Abandonando a pretenso de elucidar supostas idias transcendentais pela reduo prpria da fenomenologia original (sem abandon-la completamente), tomando Heidegger e Gadamer como referncia, a hermenutica jurdica heterorreflexiva est tambm calcada numa espcie de projeo da conscincia, mas uma projeo de sentido cujas balizas so fixadas em razo da inexpugnvel condio existencial do ser humano, ser fadado a compreender, a no se apartar de um universo de sentido intersubjetivo, isto , compartilhado e histrico, no metafsico. A busca rumo compreenso de qualquer coisa a prpria condio existencial do ser humano, nunca fora de alguma qualquer pr-compreenso. Qualquer tentativa de mapear o horizonte cognitivo humano pode apenas intensificar a imerso possvel nessa dinmica, no bloque-la: h uma srie de iluses que seramos obrigados a assumir para empreendermos esta emancipao da razo. Gadamer traz a metfora do jogo para iluminar o tipo de dinmica compreensiva que est sendo referida. O jogo uma totalidade interativa na qual nenhum dos elementos (jogadores ou peas) so centros absolutos em torno dos quais a prtica se estrutura, mas, ao contrrio, estes esto obrigados a reorientar-se continuamente em razo das mudanas no seu entorno. Podemos deslocar essa imagem para pensar a tarefa do intrprete. A interpretao , por assim dizer, uma compreenso qualificada pelo esforo reflexivo. Impresses e contedos dotados de sentido nos assaltam assim que nos deparamos com os entes. Sem dvida, as projees de sentido sobre os entes, quando elaboradas por ns, no so atos individuais, de mrito pessoal, pois no temos absoluto controle sobre as pr-compreenses (papel da tradio). Surge a o problema sobre a confiana que deveramos depositar em toda a compreenso que estamos paulatinamente conquistando sobre qualquer coisa. A constante reviso crtica das nossas pr-compreenses, isto , esse trabalho reflexivo a base da qualificao de uma compreenso enquanto interpretao.Pelo nosso esforo reflexivo, ns obtemos novas perspectivas sobre um ente, atuando como intrpretes. Quando ampliamos esse trabalho de compreenso deixando-o ser permeado pela atividade de outro interprete, dotado das mesmas pretenses de abertura para os entes, temos o espao interativo correspondente heterorreflexividade. No ignoramos aqui que, dada a estrutura intersubjetiva da linguagem e o compartilhamento do mundo prprio condio existencial do ser humano, o confronto com o texto presume um dilogo, por assim dizer, distante da riqueza da presena real.O jogo dialgico contratextual fruto do reconhecimento dessas bases epistemolgicas que situam o problema da verdade no respeito condio existencial do homem e, assim, constitui uma etapa dentro da hermenutica jurdica para que o problema entre em cena, para que os sentidos sobre ele possam ser jogados (com a devida antecipao da razo moral-prtica), neutralizando-se o mpeto obscurecedor das racionalizaes cnicas.Depois de assumirmos (em termos ideais, claro) que, num esforo de esclarecimento recproco, os sujeitos envolvidos puderam suscitar toda - no algo que possa ter um fim - carga de sentido existencial sobre o problema e as situaes correlatas, preciso, ainda, garantir a autonomia do direito dentro desse processo compreensivo, responsvel por nos trazer, de incio, contedos de modo indistinto. A compreenso se antecipa e traz consigo a moral, h uma co-originariedade entre direito e moral, no fenmeno da compreenso. O papel do sistema , ao mesmo tempo, permitir alguma traduo normativa desse jogo de sentidos presente no jogo dialgico contratextual, mas, por outro lado, garantir soluo de problemas por meio de indicaes dotadas de certa autonomia, tambm atravs das normas e textos. Princpios so normas com estrutura peculiar, capazes de permitir o influxo do ser na arena sistmica do direito; em razo disso, fornecem poucos parmetros decisrios pragmticos para determinados casos concretos, mas concretizam a institucionalizao de razes prticas (mediante uma entificao mnima). Desvinculadas das dinmicas da racionalidade estratgica e tecnolgica, os princpios tem sua fundamentao calcada no processo histrico de institucionalizao da razo moral-prtica; no abandonam, portanto, os contedos axiolgicos maturados de modo contratextual, mas converte-os em pontos de orientao deontolgica. [exemplo do Templo de Jerusalm]Algumas observaes: por meio dessa organizao envolvendo sistema e problema, fica repensado o prprio fundamento do Direito. A ttulo de exemplo, se relembrarmos o normativismo de Kelsen e assumirmos suas premissas, estaramos fadados a pular de uma norma autorizadora para outra, todas normas POSTAS, at um ponto em que somos obrigados a supor a presena de uma norma, de ordem lgica, mandando que o direito seja cumprido. H uma fundamentao de ordem lgica pela Cincia do Direito em Kelsen. Como j vimos, na hermenutica jurdica heretorreflexiva, essa fundamentao existencial, o que para alguns pode ser por demais volvel. A precariedade apofntica dos princpios, ou seja, sua carncia de elementos normativos-decisrios determinados, no significa que eles possam dizer simplesmente qualquer coisa, se contratextual, apesar desta ser a tentao de uma abordagem contra ftica da norma, enclausurada na semntica dos termos, em um problema simplesmente textual. [exemplo do Templo de Jerusalm]Os princpios servem para afastar liminarmente algumas solues tecnolgicas, orientado o uso de outras. Mapeadas ou constrangidas as possibilidades aplicativas mediante o recurso aos princpios, preciso ainda caminhar no esclarecimento daquilo que devemos fazer diante do problema, tarefa para a qual as regras, ndices de solues padronizadas, revelam sua importncia, pois garantem a estabilizao de expectativas congruentes. Vale notar, contudo, que esta estabilizao eficaz apenas se considerado um trabalho de compreenso contratextual subjacente, caso contrrio a simples leitura contra-ftica do sistema nos deixar completamente perdidos dentro do leque de sentidos que podem ser extrados [multiplicidade de sentidos completamente contraproducente].A regra no pode existir para substituir a conduta, mas para ser interpretada em razo dela [o que a regra diz sobre nosso caso, no o que a regra quer dizer, solto no ar. Continuando pelo nvel apofntico mais abstrato do sistema [na garantia da circularidade entre problema e problema], importante falar da doutrina. Ela constri suas classificaes sob inevitvel influncia [porm implcita e idealizada] dos problemas concretos, com grau de abstrao superior ao da jurisprudncia. Contribui para a legitimao do sistema pois seus verdadeiros integrantes [aqueles que merecem esse nome] esto imersos na atividade crtica de pesquisa cientfica, aptos crtica inclusive da jurisprudncia. Por que? Cabe esclarecer aqui a noo de doutrina como fonte. Miguel Reale, por exemplo, situa a doutrina fora do mbito das fontes, por no corresponder a nenhuma estrutura de poder, para ele um requisito imprescindvel ao conceito de fonte [o problema da fonte se confunde com o dos processos de formao das normas vinculantes, dotadas de vigncia]. A vem o comentrio: se verdade que um juiz pode prescindir de um determinado autor durante a anlise de um problema, no pode se desvencilhar do aprendizado de certa armadura conceitual para que voc possa mover-se intelectualmente pelo mundo jurdico. Por fim, menciona-se a jurisprudncia, a reiterao sistmica de juzos juridicamente qualificados sobre problemas, nvel apofntico mais concreto; retorna-se ao problema, mas considerada alguma qualificao sistmica. Percebe-se o fechamento das duas pontas do crculo. A jurisprudncia no faz sentido sem o olhar compreensivo anterior sobre a conduta mesma que est sendo alvo de discusso no momento: a jurisprudncia no um ponto de partida, ela presume, condensa, aglutina os tempos anteriores da circularidade, no se fundamentando em si mesma. A jurisprudncia especialmente importante para o exame da coerncia nas decises do sistema; faz parte de uma memria institucional a ser respeitada, um romance em cadeia, ao qual o juiz no vai se submeter cegamente, mas cuja ruptura deve ser devidamente justificada (jogo dialgico contratextual). Ainda pensando numa perspectiva sistmica, no pode ser abandonada a abertura s projees de sentido [projetos compreensivos] que por ventura ainda venham a aparecer. Vimos: o jogo dialgico contratextual visa suscitar a maior e mais diversificada carga ontolgica de significado sobre o ente, pelo qual podemos constranger o leque de alegaes sobre o ente: o apego s coisas mesmas, aqui, tem o sentido de afastar o cinismo de qualquer sujeito a defender seus interesses. Em razo disso, salutar intensificar o dilogo mesmo no plano apofntico. Neste ponto, estamos falando da relao entre juzes e partes; inevitvel que um juiz traga algum pr-julgamento sobre a lide, mas no o o fato dele fechar-se s novas perspectivas advindas do processo. Contudo, s restries s falas das partes correspondem exemplo do aprisionamento do caso a sua certa hiptese presente apenas para ser questionada, no criticada. A fundamentao solitria do juiz se reverte no ato de fuga concretude do problema, a imposio de um texto supostamente dotado de sentido intrnseco. Nessa abordagem contrafctica do direito, o ordenamento sempre uma loteria na qual possvel apostar na indeterminao dos sentidos. Aquilo que comumente chamamos de um fato, na realidade, no o , conforme surge na intuio imediata, mas sim uma adaptao a prticas e exigncias da vida social. (Henri bergon)