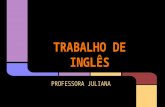Sem título 2.odt
-
Upload
joel-elias-dos-santos -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
Transcript of Sem título 2.odt
Retratos do Brasil na Primeira Repblica2007-03-04Por Edson StruminskiEdson StruminskiEdson StruminskiA ideia republicana consolidou-se no Brasil a partir do questionamento do custo absurdo e do despreparo do Imprio brasileiro frente a guerras internas e a confrontos como a Guerra do Paraguai (1865 - 1870), alm da constatao inevitvel de que o conservador imprio brasileiro mostrava-se incapaz de promover o progresso material a partir dos recursos naturais do pas e de solucionar devidamente questes sociais, como a escravido, almejados por parte da elite brasileira. O republicanismo surgiu assim como movimento poltico e social tendo como base ideolgica o positivismo, doutrina francesa que chegou ao Brasil nessa poca.Demolio do Morro do ConventoDemolio do Morro do ConventoPara os positivistas, o governo uma questo de competncia, do saber cientfico positivo, prtico e objectivo. Porm, na nova sociedade proposta por eles, o individualismo (e o liberalismo) seriam limitados, os actos da vida regulados e a liberdade moral severamente reprimida, pois seria incompatvel com a ordem social.
Ao contrrio dos bacharis do Imprio (advogados, literatos, jornalistas), criticados pelo seu saber suprfluo, a cincia positiva incentivaria a criao de uma nova elite de profissionais: cientistas, mdicos, engenheiros, militares, administradores, arquitectos e urbanistas, cheios de vontade de executar projectos prticos, que iriam propor e experimentar novas concepes sobre a sustentabilidade no Brasil baseadas na ideia do progresso. Aps a criao da repblica no pas, em 1889, decises com enormes consequncias sobre as pessoas passariam para o controle desta nova burocracia cientfico-tecnolgica, formada por estes profissionais.
Mesmo assim o positivismo no era homogneo no governo republicano. No incio da Repblica no Brasil, participaram trs correntes de opinio: liberais, positivistas e militares sem vinculao doutrinria. No entanto, os positivistas acabaram sendo afastados das decises mais importantes do novo governo, muito embora algumas das suas teses tenham persistido at hoje, como a defesa da cincia e da tecnologia como meios para resolver o atraso econmico e social do pas.
Os liberais impuseram a Constituio, o pensamento poltico oficial e a fachada constitucional federalista do pas. Porm, o liberalismo era dissociado da ideia democrtica, mantendo-se, como no imprio com uma face conservadora, vinculado mais ao direito baseado nas posses e na liberdade de dispor dos recursos naturais, do que propriamente na universalizao da democracia.
Alis, para os republicanos, os grupos populares, suas tradies e sinais de sua presena eram fontes de vergonha, limitaes para a ordem e o progresso. Diversos conflitos aconteceram no incio da repblica, em vrios pontos do pas, incluindo longas guerras civis. Ao contrrio do que sugere o senso comum, estas revoltas, como a famosa Guerra de Canudos no serto baiano, no necessariamente eram anti-republicanas e sim contestavam o abuso, o autoritarismo e a truculncia das novas autoridades.
Discriminao racial e a desigualdade social
A instituio da escravido havia desaparecido no fim do Imprio, mas persistiram a discriminao racial e a desigualdade social impedindo maiores avanos do ponto de vista social. A elite governamental tentou relativizar este problema mediante teses eugenistas e tambm incentivando o branqueamento da populao atravs da imigrao de colonos europeus.
O Estado financiou a imigrao em prol dos grandes proprietrios rurais, que na prtica, eram quem sustentavam o imprio. Eles se reorganizaram na repblica quando, sem serem incomodados, promoveram novos pactos oligrquicos. O crescimento de economias regionais do sul e sudeste do Brasil como a paulista, a mineira ou a paranaense, que praticamente sustentaram a repblica no seu incio, era empurrado pela pecuria e principalmente pelo caf e pelo assalto e devastao da floresta primria que era simplesmente queimada para servir de adubo s plantas desta iguaria extica originria da frica e que se tornara, ainda durante o sculo XIX, apreciadssima nos Estados Unidos e na Europa. Permanecia, assim, a continuao da ideia colonialista muito bem exposta por Srgio Buarque de Holanda, de que sustentabilidade era terra farta para gastar e braos (desta vez dos imigrantes) para trabalhar.
Assim, do ponto de vista econmico, a repblica tornou-se muito parecida com o Imprio. As oligarquias agropecurias mineiras e paulistas se revezariam no poder, dando poltica do perodo o sugestivo nome de caf com leite. O pas mantinha a balana comercial limitada a produtos rurais, nos quais a cincia e a tecnologia, to incensadas, tinham efeito restrito.
J a mobilidade da populao brasileira, comum desde a colnia, aumentou com o fim da escravido e com a Repblica, quando destruram-se basties de descontentamento popular e reformaram-se cidades antigas. Junto com a ampliao da rede ferroviria, estes fatos incrementaram a migrao, oferecendo plos de atraco e facilidades de deslocamento. O adensamento populacional na forma de favelas e cortios colectivos evidenciou, porm, o anacronismo das estruturas urbanas.
Criao de novas cidades
Para os republicanos a urbanizao era assim mesmo interessante pela reduo de eventuais resistncias e excessos do poder rural remanescentes do Imprio. A criao de novas cidades como Belo Horizonte, nova capital de Minas Gerais e a modernizao das velhas cidades coloniais como So Paulo, Curitiba ou Manaus representava, tambm, os ideais positivistas de ordem e progresso, o que era particularmente verdadeiro para a capital da Repblica, Rio de Janeiro, s voltas com doenas derivadas do pssimo saneamento urbano. Assim, com a repblica, surgiu uma atmosfera de "regenerao" e saneamento das cidades, que correspondia ao surto de entusiasmo capitalista que varreu o mundo de 1890 at a primeira guerra mundial (Belle poque).
A regenerao do Rio de Janeiro, desde ento carto postal da repblica, foi a mais imponente, com a inaugurao da Avenida Central (actual Rio Branco), novo eixo urbanstico da cidade, com fachadas em art noveau em mrmore e cristal, lampies elctricos e vitrinas com artigos importados. Grandes intervenes ambientais foram feitas. Mangues foram aterrados, rios canalizados e demolidas habitaes colectivas. At tentativas de substituir a natureza nativa pela europeia foram feitas. Pardais foram importados e soltos nas novas avenidas.
Mas NONATO (2004) conta que mesmo aps a inaugurao da avenida, ainda dominava a paisagem o convento dos jesutas e vasto casario colonial, no morro do Castelo. Esta presena incomodava os administradores que conseguiram sua demolio em 1922, no s do convento, mas espantosamente do morro inteiro, considerado insalubre e anti-esttico. Assim, em questo de meses, uma rea verde e seu patrimnio histrico foram demolidos sem que a populao se manifestasse contra, em nome do "progresso" e da "civilizao".
Porm, o modelo parisiense, adequado a uma cidade moderna e industrializada, chocar-se-ia com a sociedade e com a economia brasileiras. Em 1904, a populao chegou a promover, em plena capital federal, distrbios que foram chamados de a Revolta da Vacina. A ideia de que a populao possa ter se revoltado contra a vacinao soa hoje absurda, mas deve ser entendida no contexto da poca. Os jornais liberais do perodo criticavam, aquilo que na poca significava um brutal desrespeito privacidade do cidado, por parte do Estado republicano, militarista, que em nome da cincia e do saneamento, invadia os corpos das pessoas com a vacina obrigatria. Os mtodos eram, na verdade, truculentos.
Modernizao limitada
Assim, a paisagem urbana continuou multifacetada. A modernizao foi pouco abrangente e limitada a poucas manchas nas cidades. As intervenes urbanas realizadas pelos republicanos assemelhavam-se a grandes cirurgias onde as feridas continuavam abertas. Assim para cada rea de cortios demolida para a construo de avenidas e novos palacetes centrais surgiam novas ocupaes precrias mais distantes, muitas vezes em reas verdes que fariam falta no futuro, para as grandes metrpoles. Os moradores tornavam-se favelados, pois eram simplesmente mandados s favas, nome alis derivado de uma planta do semi-rido do serto de Canudos, para onde foram enviados os sobreviventes do massacre de Canudos.
A experincia desta primeira repblica ou Repblica Velha, como ficou mais conhecida, foi mais curta que a do Imprio. 30 anos aps a implantao da repblica no Brasil, criaram-se imagens confusas, onde um progresso abstracto que no pode ser plenamente implantado (e quando foi acabou sendo de difcil compreenso para a populao), convivia com muita natureza morta. assim sintomtico que esta repblica, to pretensamente inovadora, seja hoje chamada de velha. As aristocrticas personagens principais deste perodo emprestaram seus nomes para as avenidas das cidades brasileiras mas, com raras excepes, permanecem inexpressivos, em uma espcie de limbo histrico em funo de sua pouca afinidade com o resto da populao.
A Repblica Velha no conseguiu promover a sustentabilidade social para toda a populao, pois as novas elites se empenharam em reduzir a complexa realidade brasileira, com mazelas do colonialismo e da escravido, a modelos cientficos europeus ou americanos. A repblica criou uma cidadania precria, calcada na iniquidade das estruturas sociais, continuando a geografia oligrquica imperial. Entretanto houve ganhos sociais no perodo, como o maior acesso educao ou a ampliao do direito do voto. Ganhos expressivos aconteceram tambm em urbanizao, saneamento e abastecimento pblicos.
Repblica velha entrou em crise
Entre 1920 e 1930, a Repblica Velha entrou em crise. Era grande o dilema da elite brasileira, que frente ao imperialismo europeu e americano controlava um Estado fraco e endividado, com cidados doentes, incultos. Como no se achariam imperfeitos, frente mistura de raas africanas e nativas que os imperialistas desprezavam? Como no avaliar a natureza do seu pas com o mesmo desprezo? Alm disso eles eram liberais ou positivistas?
A busca do conhecimento e da identidade da sociedade brasileira foi intensa. Surgiram vrios estudos para compreender o pas. Foi um tempo de descoberta do homem e da realidade nacionais, com expoentes como Gilberto Freyre e Srgio Buarque de Holanda, mas tambm de descrena em se alcanar a modernidade nos marcos da democracia liberal. Um dilema que vinha de longe, do perodo colonial, da tradio rural e esclavagista e da cultura ibrica onde se apoiava. Na prtica, como o prprio movimento modernista anunciava nas artes, eram muitas as modernidades possveis, dependendo de onde se queria chegar. Estas ambiguidades marcam a vida social brasileira at hoje.
BIBLIOGRAFIA
RODRIGUES, R. V.A ditadura republicana segundo o Apostolado Positivista. In: Curso de Introduo ao pensamento poltico brasileiro. Braslia: Editora Universidade de Braslia. 1982. Unidade V e VI. p. 11 76
DEAN, W. A ferro e a fogo, a histria e a devastao da Mata Atlntica brasileira. So Paulo: Companhia das Letras, 1997.
BUARQUE DE HOLANDA, S. Razes do Brasil. 20a edio. Rio de Janeiro: Jos Olympio editora, 1988.
SCHWARCZ, L. M. Nem preto nem branco, muito pelo contrrio: cor e raa na intimidade. In: Histria da vida privada no Brasil. So Paulo: Companhia das Letras, 2002. V.4. p. 173 244
NONATO, J.A. O passado morro abaixo. Revista Nossa Histria, Rio de Janeiro. Ano 1, n. 9, p. 68 73, 2004.