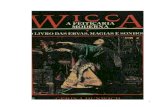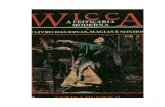Sobre aprendizagem, feitiçaria e etnografia (ou: a escrita ... · PDF fileebós,...
Transcript of Sobre aprendizagem, feitiçaria e etnografia (ou: a escrita ... · PDF fileebós,...

1
Sobre aprendizagem, feitiçaria e etnografia (ou: a escrita feiticeira)
Lucas Marques1
O próprio Don Juan me deu a tarefa de escrever sobre as premissas da feitiçaria. Certa vez, muito casualmente, nos primeiros estágios do meu
aprendizado, ele sugeriu que eu escrevesse um livro para fazer uso das notas que eu sempre tomei. Eu tinha acumulado resmas de anotações e nunca
considerei o que fazer com elas. Argumentei ser uma sugestão absurda, pois eu não era escritor.
- É claro que você não é escritor – disse ele –, então terá de usar a feitiçaria. Primeiro, precisa visualizar suas experiências como se você estivesse
revivendo-as, e assim, verá o texto em seu sonhar. Para você, escrever não será um exercício literário, mas antes uma prática de feitiçaria.
Carlos Castañeda, The power of Silence.
Era uma madrugada de segunda-feira do mês de janeiro de 2015. Estávamos na casa de
José Adário dos Santos, mais conhecido como “Zé Diabo”, e acabáramos de realizar um
ebó2 para um cliente que viera de Brasília. Por se tratar de um trabalho considerado
‘pesado’, quem assumiu o comando do ritual foi Pedro de Alencar, um dos espíritos que
acompanham Zé Diabo. Como de costume, Pedro caminhava com um andar carregado,
falava alto e tinha uma feição risonha, que não largava o sorriso entremeado com
baforadas de um charuto sempre à mão.
O trabalho, feito para exu, já havia terminado; mas, mesmo assim, Pedro de
Alencar resolveu cantar e dançar algumas cantigas para o orixá, percutindo um agogô3.
Eu e Jurandir4 – um amigo e ajudante de Zé Diabo –, enquanto isso, tentávamos
convencê-lo ao contrário, pois o horário já estava avançado e não queríamos chamar a
atenção dos vizinhos. O esforço, no entanto, era vão: Pedro, com uma língua sempre
afiada, nos dava uma resposta ríspida e continuava a tocar cada vez mais alto. Foi assim
que, percebendo que eu havia desistido de tentar convencê-lo a parar, ele me entregou
duas varetas de madeira – chamadas aguidavis – e me mandou tocar o atabaque que
estava no quarto de Exu. Eu, meio sem jeito, demorei a entender o pedido; pois, não
1 Mestrando em antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ – PPGAS/MN. Email para contato: [email protected]. 2 Sinônimo de feitiço, ebó é uma oferenda aos orixás, destinadas a atender algum pedido ou fazer alguma “limpeza”. 3 Instrumento idiofônico formado por duas campânulas de metal. É ele que, em geral, inicia os toques para cada orixá no candomblé. 4 Com exceção de Zé Diabo, os demais nomes que aparecem neste trabalho, bem como o vilarejo que chamei de Caxixi, são nomes fictícios.

2
sendo nem ogã5 nem iniciado, desconhecia quase completamente o conhecimento
prático necessário para tocar os toques solicitados. Ainda assim, ao me deparar com as
baquetas em mãos, me atrevi a arriscar alguns toques, me guiando pelas batidas que
Pedro de Alencar fazia com o agogô. Ele me olhava, rindo, e continuava cantando e
dançando dentro do quarto de Exu. Jurandir observava a cena do lado de fora.
Não sei bem ao certo como nem porquê, mas ouso dizer que a improvisação deu
certo (mais para mim e para Pedro do que para os vizinhos, certamente). Tocamos, por
mais de uma hora, diversos toques para exu, ogum, e até arriscamos alguns outros – sem
o uso dos aguidavis – para o caboclo de Zé Diabo, chamado Guarani, e para o próprio
Pedro, seu boiadeiro. Foi então que, ao me ver tocando, Pedro de Alencar parou e,
soltando uma risada que lhe é característica, disse: “Você tá querendo ser muito sabido
já. Não vou te passar mais nada, seu moleque!”.
***
Essa frase, retirada de um dos trechos do meu caderno de campo, foi ouvida por
mim em diversas situações durante a pesquisa. No entanto, ao invés de revelar algum
tipo de ‘recusa’ na transmissão de um conhecimento, ela me mostrava, antes, que algo
me havia sido passado – ainda que eu não compreendesse muito bem como nem a quê
esse ‘algo’ se referia. De fato, foram raras as ocasiões em que consegui demonstrar que
sabia de alguma coisa; mais raras ainda, no entanto, foram as vezes em que ele
explicitamente me forneceu algum tipo de ‘informação’ ou ‘explicação’ sobre o que
estava acontecendo – ao menos, como veremos, no sentido esperado por mim.
Conheci Zé Diabo em fevereiro de 2012 e, desde setembro daquele ano, venho
acompanhando suas andanças entre sua oficina e diversas casas de candomblé –
incluindo a sua própria, localizada num bairro periférico de Salvador – seja fabricando e
assentando ferramentas de orixá, seja fazendo ebós, oferendas ou participando de festas
e rituais de feitura. Ferramentas de orixá, ou ferramentas de santo, são artefatos
sagrados feitos de ferro que se tornam – ou são feitos para – entidades das religiões de
matriz africana no Brasil: orixás, exus, voduns, inquices, caboclos, etc. Zé Diabo fabrica
essas ferramentas há mais de 50 anos, em uma oficina localizada na histórica Ladeira da
Conceição da Praia, em Salvador, Bahia. Aos 68 anos de idade, ele é hoje considerado
por boa parte do povo de santo de Salvador como um grande ferreiro ou “ferramenteiro-
5 Ogã, no candomblé, refere-se ao cargo dos homens que não são rodantes, ou seja, que não vivenciam a possessão. Eles exercem diferentes funções, como tocar os atabaques, realizar os sacrifícios e cuidar do bom andamento da festa.

3
de-orixá”. Seu processo de aprendizagem técnica com os metais acompanhou sua
aprendizagem com o próprio candomblé: iniciado na religião aos oito anos, Zé Diabo é
também pai-de-santo, possuindo um grande conhecimento em relação a assentamentos,
ebós, feituras, ervas e jogos de búzios.
Entre setembro de 2012 e outubro de 2013, em meu primeiro período de campo,
acompanhei e dei ênfase ao trabalho de Zé Diabo em sua oficina, na fabricação de
ferramentas de orixá (ao processo que ele chama de jabá de Ogum). Ainda que, naquela
época, diversas outras relações – que extrapolavam e muito os limites da oficina – se
impunham sobre minha pesquisa, o meu foco era nos processos técnicos de construção
das ferramentas de orixá, e nos diálogos estabelecidos, ali, entre o homem, a matéria e
os deuses. Essa pesquisa deu origem à minha monografia de graduação, defendida em
fevereiro de 2014, enquanto uma primeira tentativa de diálogo entre a chamada
‘antropologia da técnica’ e os estudos de religiões de matriz africana no Brasil (Marques
2014).
Feita a escolha de estudar processos técnicos e suas relações, a questão da
participação e da aprendizagem tornou-se quase um imperativo para minha pesquisa
naquela época, se quisesse compreender minimamente o que se passava na oficina. Zé
Diabo, por diversas vezes, explicava a minha presença às pessoas que ali chegavam
dizendo que eu era seu “aprendiz”. De um mero discurso, aos poucos passei a ajudá-lo,
junto com seu filho, José, nas diversas tarefas que compunham a oficina, como cortar
chapas, serrar barras de metal, lixar e pintar ferramentas, ou mesmo buscar materiais,
providenciar almoço ou jogar no bicho. Aos poucos fui tendo acesso a tarefas que antes
me eram restritas, como soldar e forjar algumas barras de metal, até que, já no fim do
meu primeiro período de campo, pude forjar o meu primeiro Exu.
Neste segundo período de campo, porém, a situação era um pouco diferente.
Voltei para Salvador em janeiro de 2015, com o intuito de continuar minha pesquisa em
torno das ferramentas de santo; dessa vez, contudo, meu foco recairia sobre as relações
estabelecidas para além e em continuidade com a oficina, ‘acompanhando’ os rituais de
feitura, assentamento, comida etc., ocorridos nas casas de candomblé com as quais, de
uma maneira ou de outra, Zé mantinha relações.
Porém, no decorrer da pesquisa logo percebi que essa escolha me exigiria outros
tipos de disposições e afecções. Se da primeira vez que estive em campo não foram
poucas as vezes em que ouvi a frase “você vai ser ferreiro”; a frase, anunciada logo no
início deste segundo período, depois de eu ter contado à Zé Diabo sobre as intenções da

4
minha pesquisa, foi: “você vai ser pai de santo”. Isso, como era de se esperar, acarretou
em algumas mudanças substanciais na nossa relação.
De uma espécie de ‘aprendiz’ nas artes da ferramentaria de orixás, eu me
tornava, com o decorrer do tempo, algo como um aprendiz nas artes de feitiços, ebós e
assentamentos. De início, apesar do meu receio inicial com a situação, até cheguei a
pensar que essa alcunha me daria acesso a algum ‘conhecimento’ ou ‘informação’ que
não possuía. No entanto essa pretensão – como fui logo obrigado a perceber – era um
movimento de antemão frustrado. Isso porque ser aprendiz, tanto num caso como no
outro, significava uma outra coisa completamente diferente daquilo que eu esperava de
início. Em ambos os casos, “ser aprendiz” não queria dizer que, a partir daí, eu receberia
uma aprendizagem do tipo ‘escolar’ até me tornar, de fato, algo como um ferreiro ou um
pai-de-santo (ou seja, que me seria transmitido um corpus organizado de
conhecimentos, de ‘informações’ na forma de representação); antes, dizia respeito ao
fato de que eu estava participando das relações que ali eram estabelecidas – lidando
com diferentes forças, perseguindo determinados caminhos – e, com isso, sendo
inevitavelmente transformado pela situação.
Em geral, meus anseios (como os de todo etnógrafo iniciante, acredito) por
‘obter informações’ – ou, o que é pior, captar ‘o todo’, a ‘cultura’ ou o ‘ponto de vista
nativo’ – era um movimento sempre fadado ao fracasso. Entrevistas, ainda que me
foram úteis já no final da minha pesquisa, como uma forma de sintetizar algumas coisas
que tinha ‘captado’, geralmente não me revelavam mais do que um discurso já
preparado para outros antropólogos, fotógrafos ou curadores de arte que vinham visitar
a oficina (que, por ser uma das últimas ainda em atividade, é referência em Salvador). A
grande maioria das perguntas informais tampouco me eram respondidas diretamente,
principalmente se os temas tratados diziam respeito ao sistema cosmológico do
candomblé e, mais especialmente, a temas mais ‘delicados’ como assentamentos, ebós,
feituras e feitiços.
De certo modo, poderia dizer que Zé Diabo nunca me considerou um
‘verdadeiro antropólogo’: alguém que, na visão dele, seria um pesquisador ‘sério’, que,
em duas ou três visitas à oficina, coletaria ‘dados’, através de registros audiovisuais e
entrevistas e, depois, lhe daria algum dinheiro em troca de uma ferramenta. Talvez por
minha idade, meus poucos recursos financeiros ou mesmo minha disposição corporal
adotada ao encontrá-lo, não sei ao certo. O fato é que ele nunca me levou muito à sério
enquanto ‘pesquisador’, me tratando mais como um seu ‘aprendiz’, seja nos ofícios com

5
o ferro, seja na arte do candomblé – afinal, como veremos, para ele, eu não estava ali
‘por acaso’. De minha parte, eu sempre preferi tratá-lo como um amigo e, sobretudo,
como um mestre, ao invés de um ‘informante’ ou um ‘nativo’. Essa escolha – que, mais
do que metodológica, foi sobretudo afetiva – me levou a trilhar certos caminhos que
pautaram minha experiência (e também minha ansiedade) em campo: à todas minhas
perguntas ‘curiosas’, Zé Diabo ria, mudava de assunto e acabava não me respondendo.
***
Aos poucos fui percebendo que eu não estava sozinho; ou, ao menos, que não
era o único a me inquietar com o fato de que, no candomblé, “aprender não é
conceptualizado como um corpo perfeitamente coerente e unificado de regras e
conhecimentos, como algum tipo de doutrina sobrecodificada e imposta de cima”
(Goldman 2005:108).
Presenciei, em inúmeras situações, iniciados das mais distintas posições
hierárquicas do candomblé queixando-se para Zé Diabo de não terem aprendido tal
ritual ou cantiga; ou seja, de que seus respectivos pais ou mães de santo não haviam lhe
passado o conhecimento necessário. Em geral, essa queixa era uma forma implícita de
pedir à Zé tal aprendizado, ou, como dizia ele, de “roubar seu conhecimento”: “Esse
povo vem aqui e acha que vai roubar meu conhecimento assim, do nada? Ah, eu já vi
foi muita coisa, meu filho”, me dizia, terminando sempre com um de seus jargões
favoritos: “como diziam os antigos: quem aprendeu, aprendeu; quem não aprendeu,
não aprende mais”.
Aprender ou não no candomblé era uma questão que mobilizava meus amigos
durante o campo – e, como não poderia deixar de ser, me mobilizava também. Se, por
um lado, isso se deve ao fato de que, no candomblé, há muito o que se aprender; por
outro, é porque o próprio conhecimento é alvo de disputas as mais diversas. A princípio,
essa afirmativa poderia fazer eco àquelas tão frequentes nos estudos afro-brasilianistas
sobre ‘disputas de poder’, ‘status’ etc. (como, por exemplo, em Capone 2004). Mas,
como costumava dizer Lévi-Strauss, “isso não é tudo”. Pois, se no candomblé
conhecimento = poder, temos que levar em consideração, antes, que tanto um termo
(conhecimento) quanto o outro (poder) podem ter acepções bem distintas daquelas a que
estamos acostumados.
“Você sabe ler e escrever, é um menino inteligente, mas não tem conhecimento.
Porque o axé é bem diferente, é saber fazer as coisas”, me dizia Zé Diabo, sempre que
comparava o meu ‘conhecimento’ com o que ele possuía. Conhecer, para ele, é

6
sobretudo saber fazer, ou seja, manipular determinadas forças para alcançar certos
resultados. O conhecimento, assim, é uma espécie de processo que produz “força” (e
não apenas uma “substância”), e cultivá-lo é adquirir poder, não no sentido de um
‘status’ perante outros pais ou mães de santo (ou não apenas isso); mas, principalmente,
no sentido de força vital, de axé: uma força que garante, dentre outras coisas, proteção
perante os inimigos. É nesse sentido que, no candomblé, aquele que tem conhecimento
(que “sabe fazer a coisa”) é visto em geral como uma pessoa poderosa.
Por conta disso, ‘aprender’ e ‘ensinar’ no candomblé é sempre um movimento
carregado de riscos. Selma, uma mãe de santo muito próxima de Zé Diabo, sempre
reclamava à ele que ela não tinha aprendido o suficiente. Dizia que, como consequência,
acabou perdendo seu caminho, ficando, portanto, vulnerável a malefícios diversos. Zé
sempre se compadecia da situação, mas alegava não poder fazer muita coisa, uma vez
que não tinha sido ele quem tinha “metido a mão em sua cabeça”, ou seja, a iniciado na
religião. Ensiná-la, nesse contexto, poderia colocar ele próprio também em risco, ao
manipular energias que não haviam sido “feitas” por ele. Para além disso, há o fato de
que, uma vez que se ensina algo, a pessoa que aprende pode utilizar esse conhecimento
para atacar aquele que o ensinou: “o gato só não ensina à onça o pulo”, dizia Zé Diabo,
num misto de jocosidade e apreensão. Assim, se aprender envolve uma série de
responsabilidades, ensinar (ou, como veremos, criar as condições de possibilidade para
a aprendizagem) é igualmente perigoso.
No candomblé, aprender é um processo demorado e lento, que requer paciência
e, sobretudo, atenção ao que está se desenrolando. O processo de aprendizagem do
candomblé é sempre um movimento de captura (Goldman 2005); ou melhor, um duplo
movimento, de capturar e ser capturado pelas forças que habitam o mundo. Essa
captura, no candomblé, é chamada por vezes de “catar folhas”, como nos ensina
Marcio Goldman:
“Aquele que deseja aprender alguma coisa no candomblé, sabe muito bem, e desde o início, que é inútil esperar ensinamentos prontos e acabados de algum mestre, e que deve tratar de ir reunindo, pacientemente, ao longo dos anos, os detalhes que recolhe aqui e ali, com a esperança de que, em algum momento, esse conjunto de saberes adquira uma densidade suficiente para que com ele se possa fazer alguma coisa” (ibid.:108-109).
Certa vez, conversando sobre o aprendizado, Zé Diabo me deu uma explicação
bem interessante sobre o que viria a ser esse “catar folhas”:

7
“É como quando você tá na mata, e tem que pegar as folhas pra fazer um negócio. E não é você achar que alguém vai aparecer e te dizer ‘olha, essa folha usa pra isso, essa praquilo’. É você olhar quando alguém tá fazendo, e conseguir gravar que tipo de folha é, e depois ir tateando a mata até encontrar. Aí você primeiro vai capengando, capengando, chega com a folha errada e o pai de santo manda você voltar, e por aí vai... Até, quando ver, você já tá sabendo alguma coisa”
Capturar conhecimento, assim, não é somente reunir ‘dados’ ou ‘informações’
sobre tal ou qual coisa; antes, trata-se de deixar o conhecimento “enraizar-se nas
profundezas do seu ser” (Cossard 1970:227), através de um engajamento corporal ativo
com o ambiente e seus contextos. É criar-se continuamente através da tentativa, do erro
e, sobretudo, da experimentação: trata-se de “tatear” a mata, “capengar” até conseguir
fazer a coisa certa. Saber, além de envolver força, é portanto parte da própria
constituição da pessoa no candomblé (ver Goldman 1987). É somente através do
engajamento prático que esse saber tornar-se possível, constituindo assim a própria
pessoa. O aprendizado, como dizem Rabelo & Santos (2011:189), “procede pela
participação e envolvimento gradativo em contextos de prática (especialmente ritual) e
raramente envolve transmissão sistemática de conteúdos”.
Detinha, uma das filhas de santo de Zé Diabo, sabe bem disso. Ela havia entrado
no candomblé já há algum tempo, embora ainda não tivesse sido iniciada. Já senhora,
passou a frequentar um terreiro em um município vizinho a Caxixi, cidade onde mora, a
alguns quilômetros de Salvador. Foi lá que conheceu Zé Diabo, que frequentemente
fazia trabalhos para a casa. Depois de alguns anos de convívio no terreiro, Detinha (por
motivos que não vêm ao caso agora) acabou rompendo com o pai-de-santo e se
afastando da casa, ato repetido por Zé Diabo pouco tempo depois. Após uma série de
disputas, ela conseguiu finalmente levar os santos que tinha assentado para sua
residência. Foi então que, sabendo que seu caminho era ser mãe de santo, começou a
montar sua própria casa de orixá, nos fundos de sua residência. Zé Diabo passou a
ajudá-la, e foi assim que, aos poucos, ela foi se tornando sua filha de santo – ou seja,
também uma espécie de “aprendiz”, embora num grau muito distinto do meu6.
Seu desejo de ‘aprender’ aumentava a cada dia, ainda mais porque, após os
conflitos com seu antigo pai de santo, saber era uma forma de se proteger de qualquer
6 Ainda que, por conta do intenso convívio com Zé e suas práticas, eu também fosse considerado um filho de sua casa.

8
incidente. Zé Diabo, no entanto, se limitava a realizar os rituais necessários da casa
(como assentar e dar comida aos santos e fazer limpezas e ebós), fazendo com que
Detinha participasse ativamente de cada um deles – ainda que, na maior parte das vezes,
sem explicar os detalhes de cada ação. Detinha se queixava, dizendo que Zé não
passava nada e que, desse modo, ela nunca conseguiria se tornar mãe de santo. Zé
Diabo por vezes retrucava, dizendo que a única maneira de aprender era fazendo, não
ficar sentada esperando que alguém lhe ensinasse. Além disso, aprender requeria
paciência, era um processo que requeria o engajamento gradual da pessoa: “quem tem
pressa chega no cemitério cedo”, dizia Zé.
No entanto, Detinha vivia um drama espiritual que a colocava em um paradoxo,
pois seu orixá demandava cada vez mais sua iniciação, o que a ocasionava uma série de
infortúnios. Assim, ao mesmo tempo em que o único meio de adquirir conhecimento era
por meio de paciência e atenção, suas entidades cobravam cada vez mais que ela
trilhasse seu caminho, que era ser mãe de santo e cuidar de todas as entidades de sua
casa.
Apesar de ainda não ter sido feita, Detinha também era acompanhada por um
Boiadeiro, que já possuía certa popularidade na região. Ele realizava atendimentos
esporádicos, dando conselhos e passando rezas e limpezas. Pude acompanhar a
primeira festa que Detinha ofereceu a seu Boiadeiro. Nas semanas que antecederam a
festa, uma preocupação tomava conta de Zé Diabo, Detinha e seus familiares: o fato de
que Boiadeiro não saberia como proceder durante a festa. Ele precisaria, então, ser
educado, ou seja, aprender a se comportar minimamente conforme se era esperado
durante a festa. Isso incluía, dentre outras coisas, chegar e sair nos momentos
adequados, saber os gestos e danças, puxar sua salva – que é sua cantiga característica –
e, além disso, saber responder um eventual sotaque7.
Esses ensinamentos, segundo Zé, só poderiam ser passados pela entidade que o
havia batizado8 – neste caso, o próprio caboclo de Zé Diabo, Guarani. Foi então que, na
semana que antecedeu a festa, Guarani manifestou-se em Zé e, assim, chamou o
boiadeiro de Detinha. Observando a cena, imaginei que, chamando o boiadeiro, o
caboclo de Zé conversaria com ele sobre como proceder durante a festa. Logo, porém,
7 Sotaques são “indiretas” cantadas pelas entidades que visam provocar outra pessoa ou entidade. Para uma análise pormenorizada sobre o sotaque e suas potencialidades conceituais, ver Siqueira 2012. 8 Diferente dos Orixás, que são feitos, espíritos como Caboclos e Boiadeiros já “nascem prontos”; ou seja, não demandam iniciação. Apesar de não serem iniciados, eles podem possuir “padrinhos”, entidades que o auxiliam em sua “domesticação”, através do batismo.

9
vi que (novamente) estava equivocado. Tal qual a situação que ocorrera comigo no caso
dos atabaques, o caboclo de Zé, quando ‘chegou’, começou a cantar e dançar pela sala
da casa. O Boiadeiro, então, passou a acompanhá-lo, dançando com ele. Eles dançaram
por mais de duas horas, saudando os atabaques, assentamentos e a porta da casa, além
de cumprimentar todos os que estavam na casa no momento. Era como se a festa
estivesse sendo realizada naquele momento, mas sem o público e, consequentemente,
sem os perigos suscetíveis de toda festa de candomblé, como feitiços, mau-olhados etc.
O que mais me chamava a atenção nesta estória era o fato de que, com as
devidas proporções, ela guardava semelhanças com a estória vivenciada por mim
durante o trabalho para exu, narrada no início deste texto. Em ambos os casos, foi
através da mediação9 das entidades que se criou as condições de possibilidades para que
o conhecimento pudesse ser passado. Ou seja, elas exerciam, assim, o papel de
mediadores do conhecimento: ao transformar o contexto de aprendizagem, criavam as
condições de possibilidade para que a habilidade pudesse se desenvolver através de um
engajamento prático-corporal. Assim, se por um lado Zé Diabo não costumava passar
nada; por outro, os espíritos que o acompanham, como Pedro de Alencar ou Guarani,
eram conhecidos por criar esses contextos de “ensaio” narrados nesse texto, e ainda
eram eles, em geral, que passavam os ebós, limpezas e trabalhos considerados ‘secretos’
ou ‘pesados’.
No caso de Detinha, no entanto, era também a entidade quem ocupava a posição
de aprendiz. Era o próprio Boiadeiro quem deveria aprender a se “portar” minimamente
durante a festa – guardando e ressaltando, é claro, suas próprias especificidades. Como
lembra Miriam Rabelo (2014; Rabelo & Santos 2011), cada entidade pode ocupar essa
posição de aprendiz de modo distinto, aprendendo através de seu próprio modo de
existência – como orixás, erês, caboclos, exus ou padilhas. Assim, o aprendizado no
candomblé envolve não somente os humanos, mas toda uma cadeia de mediadores
responsáveis por transformar o engajamento prático em ‘conhecimento’.
Tanto no ‘ensaio’ do Boiadeiro, onde foi preciso que Guarani se manifestasse
para dançar e cantar com ele, quanto no meu improviso com os atabaques, o que estava
sendo passando ali não era tão somente um ‘conhecimento’, como se se tratasse de
alguma espécie de “substância” já formada que é transmitida de um ser para o outro; ao
contrário, tratava-se do desenvolvimento de uma habilidade, um experimento onde o
9 Utilizo o termo mediador – em oposição ao intermediário – no sentido empregado por Bruno Latour (2005), que fala sobre actantes que transformam aquilo que transportam.

10
engajamento prático é, ao mesmo tempo, uma maneira de aprender a aprender, onde, a
cada vez que ele era repetido, aprendia-se mais – um movimento que Bateson
(1972:169) chamaria de deutero-learning.
Assim, se havia alguma espécie de ‘saber’ sendo passado, esse saber era muito
mais da ordem do engajamento corporal com o ambiente do que da ‘explicação’ de
algum corpus ou regra de etiqueta. Poderíamos, como já sugerido por Rabelo & Santos
(2011), aproximar esse modo de aprendizagem ao que Tim Ingold (2010), inspirado no
psicólogo James Gibson, chamou de “educação da atenção”; ou seja, pensar o
conhecimento não enquanto uma combinação de capacidades inatas e competências
adquiridas (enculturação ou obtenção), mas enquanto um processo de desenvolvimento
de habilidades (enskilment). Nesse sentido, ‘ensinar’ não é ‘transmitir informações’,
mas orientar uma redescoberta, guiar o noviço num mundo de práticas, criando um
contexto onde, num misto de improviso e imitação, se possa cultivar uma habilidade
(Ingold 2010:21).
***
Ao comparar minha experiência com a experiência vivida por Detinha e seu
Boiadeiro, não pretendo, com isso, ‘igualar’ ambas experiências (como por vezes acaba
indicando Ingold10), mas, antes, ver nelas um modo de agenciamento em comum.
Igualá-las, aliás, não faria sequer sentido, pois cada pessoa (ou espírito), ao entrar em
relação com o mundo do candomblé, possui uma trajetória que lhe é específica, que se
conecta à religião de distintas maneiras (ver Rabelo 2014). Assim, cada uma percorre
um caminho único, trazendo distintas habilidades e sensibilidades – affordances, para
falarmos como Gibson (1979) –, que serão transformadas no decorrer do itinerário. No
entanto, tampouco faria sentido dizer que uma experiência é mais ‘plena’ do que a
outra. Isso porque não existe uma experiência única e homogênea do que seja
‘participar’ no candomblé; ao contrário, só se participa no fazer mesmo: tentando,
fazendo, improvisando...
10 Concordo, aqui, com a crítica elaborada por Sautchuk: “Creio, porém, ser necessário não tomar esse pressuposto fenomenológico como uma interação individual, ignorando o peso das diferenças, a começar pelas capacidades de percepção e ação, que são frutos de engajamentos não livremente agenciados – o antropólogo guarda inúmeras diferenças em relação ao nativo, mesmo se ambos podem pescar. Assim, creio que a interação prática tem seu valor etnográfico na medida em que as diferenças de estatuto, de intenção, de envolvimento, de sentido e inclusive de competência numa dada prática são levadas em consideração, inclusive como instrumentos heurísticos. (Sautchuk 2007, p.21)”.

11
Assim, não se trata de propor nem uma ‘identificação total’ com o outro11; nem,
tampouco, de advogar por uma suposta ‘neutralidade’ na minha experiência com ele.
Trata-se, antes, de pensar a experiência etnográfica enquanto uma forma de ser afetado,
como sugere o pequeno (e célebre) artigo de Favret-Saada (2005). “Ser afetado”, lembra
a autora, “não implica identificar-se com o ponto de vista nativo, nem aproveitar-se da
experiência de campo para exercitar seu narcisismo” (ibid.:160). Ser afetado é, em
suma, experimentar com o outro: abrir um canal de afecção mútua com ele, uma
comunicação involuntária e não-intencional – de certo modo vacilante e
incompreensível, pois não carrega a priori os “estoques de perguntas” – que a direciona
para uma variedade particular da experiência humana12; algo próximo ao conceito
deleuziano de devir, como sugere Goldman (2003:465) .
Se quiséssemos traçar algum tipo de “analogia”, no sentido wagneriano do
termo (Wagner 2010), entre o conceito de afecção apresentado por Favret-Saada e o
universo conceitual proposto por Zé Diabo, poderíamos aproximá-lo à ideia de
caminho. Como veremos, ter caminho é também ser capturado por esse “canal de
afecção mútua” de que fala Favret-Saada – um canal que te demanda e, principalmente,
exige trabalho, cuidado e prática.
É comum, dentre os praticantes do candomblé, se ouvir a frase: “ninguém está
aqui por acaso”, ou, ainda, “ninguém se inicia porque quer”. Essa frase indica que a
agência, no candomblé, está para muito além do humano, e que, portanto, a ‘vontade’ de
se estar ou não ali é, primeiramente, dos orixás. Clara Flaksman (2014), em uma
etnografia realizada no famoso terreiro do Gantois, evidenciou bem esse modo de
relação, explorando as potencialidades daquilo que, no candomblé, se chamaria de
“enredo”. Ter enredo, diz a autora, é ter uma relação; ou melhor, um complexo de
relações instituídas que independe da ‘vontade’ humana ou do ‘acaso’. Enredo, no
entanto, é distinto, embora complementar, da ideia de caminho. Pois, se entendi bem,
enquanto o enredo é este modo de relação que permeia o candomblé e suas múltiplas
multiplicidades, o caminho, por sua vez, é a necessidade de cultivar essa relação – de
11 Como diz Goldman (2003:458): “meu argumento básico aqui não é tanto que ‘virar nativo’ seja impossível ou ridículo, mas que, em todo caso, é uma ideia fútil e plena de inutilidade”. 12 Se os sentidos atribuídos à palavra afeto e suas apropriações foram muitos e variados, Favret-Saada (2005), no entanto, deixa claro que o sentido de afeto (ou afecção) do qual ela pretende conceder estatuto epistemológico é menos da ordem da “emoção” e da representação do que de um processo contínuo de afetação mútua – processo este necessário para estar num campo de relações específicas que de outro modo seriam inacessíveis. Assim, a ideia de afeto estaria aqui mais próxima à noção espinoziana de afecção – conceito que, nas palavras de Deleuze (2002), trata de um plano comum de imanência não subjetivada agenciado dinamicamente.

12
instituir, através da prática, uma conexão entre a pessoa e seu orixá. Ou seja, enquanto o
enredo parece ser uma relação ‘virtual’ (embora bem real) entre a pessoa e seu orixá, o
caminho aparece aqui enquanto a efetivação de seu próprio verbo, indicando a ação que
ele atualiza: ter caminho é, assim, enredar. Nesse sentido, como diz a autora (Flaksman
2014:8), “todo mundo tem enredo, mas nem todo mundo tem caminho”, ou seja, nem
todos são demandados para trabalhar o caminho do orixá.
Durante minha pesquisa, ainda que foram raras as vezes em que ouvi a palavra
“enredo”, a palavra caminho – e seu correlato, a parte – era mobilizada com frequência
entre Zé e sua rede de relações. Zé Diabo, embora sendo filho de Oxalá com Omolu, por
trabalhar com o ferro também tem de seguir pelo caminho de Ogum, realizando todos os
ritos demandados por esse orixá. Selma, ao sentir que não tinha aprendido o suficiente,
dizia que tinha perdido o seu caminho; Detinha, por sua vez, desde que entrou para o
candomblé, sabia, através das entidades que a acompanhavam, que o seu caminho era
tornar-se mãe de santo.
Através desses exemplos, podemos inferir que o caminho aparece como um
modo de relação entre pessoa e orixá que é ativado no momento mesmo da captura. Não
se trata somente de uma relação pré-estabelecida, que envolve duas entidades já
formadas, mas de um processo. Ter caminho só faz sentido na medida em que se
percorre ele (e é por ele atravessado). O caminho, então, torna-se um percurso que deve
ser seguido (como o caminho de Zé), uma demanda a ser trabalhada (como o caminho
de Detinha), uma exigência de cuidado (como a apreensão de Selma). No entanto, ter
caminho tampouco diz respeito à uma relação teleológica, pois o caminho, ao mesmo
tempo, não leva a lugar algum; antes, ele te indica percursos. Caminhar, nesse sentido,
é modificar o próprio caminho. Tornar-se mãe de santo, por exemplo, era o caminho de
Detinha mas, no entanto, ser mãe de santo não era seu fim último – era apenas um
percurso de seu caminho. Selma, por sua vez, também tinha o caminho de mãe de santo,
mas acabou perdendo-o ao não cultivar uma série de habilidades e relações necessárias
para efetivar seu caminho. Assim, trilhar um caminho é sempre um movimento
arriscado, pois nunca se sabe onde, de fato, se vai chegar ao caminhar. Tudo se passa
como numa célebre passagem do poeta espanhol Antonio Machado (1910), que diz:
caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

13
É portanto a partir e através do caminho que a aprendizagem é possível no
candomblé. Saber é, sobretudo, trilhar um caminho. Ao mesmo tempo, só se aprende
aquele que possui caminho, ou seja, aquele que, de uma forma ou de outra, foi
capturado pelas forças que habitam o mundo. É por isso que a aprendizagem, no
candomblé, envolve uma espécie de “dupla-captura”: para ‘capturar’ forças, é
necessário, antes, deixar-se ser capturado13. Tal como na etnografia da feitiçaria no
Bocage narrada por Favret-Saada (1977), não há neutralidade possível para aqueles que
acessam o conhecimento: quanto mais se sabe, mais envolvida a pessoa se encontra. É
por isso que, para saber, é preciso sobretudo assumir riscos: “você é forte o suficiente
para saber?”, perguntavam à autora (ibid.:29), sempre que ela tentava estabelecer uma
relação de informação com as pessoas com quem ela convivia no Bocage francês.
O processo de aprendizado no candomblé, como dito, exige a feitura lenta e
gradual da pessoa, onde habilidades e relações são desenvolvidas e cultivadas. Como já
observado por diversos autores (como Goldman 1987; Santos 1975; Rabelo 2014;
dentre outros), a pessoa, no candomblé, é uma criação contínua e uma composição
complexa de diferentes forças. Por exemplo: ao cumprir as obrigações rituais de sete
anos após a iniciação, a iaô torna-se egbome. Com isso, ela assume status de
senioridade e, para além disso, adquire maior controle sobre as forças que a permeiam,
recebendo o deká (a cuia que contém o axé), o que a autoriza, se os orixás assim
desejarem (ou seja, se seu caminho for esse), a abrir sua própria casa de candomblé. No
entanto, passar pelos ritos de sete anos e “poder ser mãe de santo”, não faz com que a
egbome passe, repentinamente, a dominar uma suposta totalidade do corpus de
conhecimento do candomblé – como se, a partir daquele momento, ela conseguisse
‘saber’ tudo ou dominar uma totalidade de forças. Isso porque essa totalidade, aqui,
sequer existe: conhecer é sempre um movimento contínuo de estabelecimento de
relações, que envolve risco, improviso e prática. Estabilizar essas forças não quer dizer
que a pessoa está completamente ‘pronta’, pois sempre haverá algo a aprender, alguma
força a ser passada, composta.
Ter caminho é, pois, exatamente isso: assumir a incerteza do saber,
compreendendo que sempre há mais a aprender, a ‘catar’, a capturar. O que se faz,
portanto, é sempre uma composição de diversos fragmentos de saberes, habilidades e 13 É interessante lembrar que, em um de seus textos, Deleuze caracteriza o devir justamente por essa ‘dupla-captura’: “Os devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, núpcias entre dois reinos” (Deleuze & Parnet 1998:10). Voltamos, pois, aos devires.

14
práticas. “Catar folhas”, para voltarmos à expressão utilizada por Goldman (2003,
2005), é reunir esses detalhes, fragmentos de saber, a fim de, quando necessário,
realizar uma “síntese plausível”, ou, como diria Rabelo (2014:99), “compor uma
totalidade”. Essa totalidade, no entanto, nunca é tão ‘total’ assim; trata-se, antes, da uma
totalidade possível, da totalidade composta a partir e através do seu próprio caminhar.
Assim, reunir esses fragmentos é compor uma espécie de “síntese sem totalidade” – ou,
melhor dizendo, um arranjo, que só é possível através da prática, da manipulação e
modulação de forças.
Essa arte de compor e modular forças está presente desde a produção de objetos
sagrados (como otás e ferramentas), até a composição do espaço, da pessoa e das
texturas ontológicas de cada entidade.
***
Quando comecei meu trabalho de campo na oficina de Zé Diabo, minha
ansiedade para ‘saber’ estava relacionada, sobretudo, à construção da minha própria
etnografia (afinal, eu tinha que ter alguma coisa para escrever sobre). Não conhecia
muita coisa sobre candomblé e, menos ainda, sobre ferramentaria de orixás14. Conheci
Zé meio ‘por um acaso’15: após sofrer um incidente durante o carnaval de Recife, em
2012, decidi ir para Salvador, a fim de visitar uns amigos e aproveitar para jogar búzios
em uma casa que eles tinham alguma ligação, com o intuito de descobrir o que poderia
ter me causado tal incidente. Foi durante esta curta visita que, aproveitando a sugestão
de um amigo de Brasília, resolvi conhecer a oficina de Zé Diabo. Meu primeiro
encontro com ele16, carregado de silêncios, me despertou o desejo de estudar mais à
fundo o tema das ferramentas de santo. Foi assim que, meses depois, consegui uma
bolsa de mobilidade acadêmica e voltei a Salvador, onde morei, primeiramente, por
mais de um ano.
Naquela época, ao chegar à cidade, demorei algum tempo até me ambientar e
poder visitar novamente a oficina. Quando finalmente o fiz, este segundo encontro me
deixou completamente afetado – e, de certo modo, fascinado com seu universo –, me
fazendo voltar ali por diversas vezes, até, de fato, começar meu trabalho de campo.
Depois de algumas visitas regulares, finalmente ‘criei coragem’ para contá-lo das 14 Embora já tivesse alguma afinidade com a temática afro-religiosa, através de uma pesquisa de iniciação científica sobre o tema da patrimonialização dos terreiros de matriz africana em Brasília, orientado pelo professor José Jorge de Carvalho e, sobretudo, através de um grande amigo, estudante de antropologia e iniciado na religião. 15 Lembrando que, no candomblé, os acasos nunca são tão casuais assim… 16 Narrado de forma mais pormenorizada em minha monografia de graduação (Marques 2014).

15
minhas intenções de escrever sobre sua vida e, principalmente, sobre seu ofício. Ao
contar-lhe a ideia, Zé Diabo ouviu de modo atento e, após me olhar demoradamente,
disse: - Então você quer escrever sobre mim? Você sabe que, pra isso, você vai ter que
falar sobre o caminho do ferro, o jabá de Ogum, porque é o meu caminho, e pra
escrever você vai ter que seguir o meu caminho...
Hoje, revivendo estas notas através da leitura do meu caderno de campo, percebi
que, ao seguir o seu caminho, eu estava também construindo o meu próprio caminho,
um percurso que passava necessariamente pelo aprendizado com os ferros, pelos
caminhos de Ogum. Ou, nas palavras de Zé, de algum modo o meu caminho havia se
cruzado com o dele, fazendo com que eu também participasse do seu caminho. Assim,
se todo caminho é menos um fim do que um percurso, a ideia de “ser ferreiro” ou “ser
pai de santo” era também um modo de dizer que – como nas palavras de Goldman –, de
alguma forma, o meu caminho passava um pouco por devir o caminho de Zé. E é claro
que, ao trilhar esse caminho, devir algo que não sou carrega sempre um risco em
potencial.
Aos poucos, fui então percebendo que a aprendizagem só seria possível dentro
de seus próprios termos. A única maneira de ‘aprender’ algo com ele seria, pois, realizar
o que, para mim, haveria de mais próprio à prática etnográfica, qual seja: deixar-se guiar
por suas práticas, levando à sério seus modos de conceber e agenciar mundos (Viveiros
de Castro 2002; Goldman 2003; 2014).
A etnografia, portanto, não poderia ser outra coisa senão esse próprio percurso.
Como a aprendizagem no candomblé, ela deveria ser escrita de modo também vacilante,
sem se preocupar em ‘reter uma totalidade’, mas, antes, compondo fragmentos,
“catando folhas” aqui e ali, a fim de produzir uma espécie de ‘arranjo’ que não busque
falar sobre ‘O Candomblé’, ou ‘As Ferramentas de Orixás’ (em maiúsculo),17 mas que
fale sobretudo sobre a experiência do encontro – sobre o meu caminho e o caminho de
Zé.
17 Abandonar essa pretensão é, acredito, abandonar a distância que mantém a etnografia apartada da experiência vivida, distância esta responsável pela objetificação do nativo, ou seja, pela manutenção das próprias “regras do jogo antropológico” (Viveiros de Castro 2002), na qual o antropólogo (o eu da relação) é aquele que detém o poder de discorrer sobre o discurso do nativo (o outro), enquanto este tem uma relação “natural”, “irreflexiva” sobre o sentido de seu próprio discurso. Como nos diz, novamente, Favret-Saada, ao definir o Outro, a etnografia acaba agindo como se nós já soubéssemos, de antemão, o que ele é, deixando de lado os próprios modos criativos sobre como as pessoas definem seu próprio universo conceitual. Ao fazer isso, diz ela (1977:37), a antropologia não faz mais do que ser um espelho dela mesma!

16
É claro que, ao realizar esse arranjo – o produto resultante da escrita dessa
etnografia – não se trata de pura e simplesmente ‘reproduzir’ o discurso de Zé Diabo
sobre seu caminho. Não estamos falando aqui de representação. Ao seguir os caminhos
de Zé, como vimos, construí o meu próprio caminho; ou melhor, cruzei o meu caminho
com o dele. Esse processo – devir-caminho – não se dá sem uma série de
transformações, num movimento contínuo de tradução – movimento permeado de
“equívocos produtivos” (Viveiros de Castro 2010). Como sintetiza Goldman em um
texto recente, a tradução antropológica “não tem nada a ver com representação,
explicação ou compreensão; tem a ver com agenciamentos. Fazer antropologia significa
a construção de um discurso indireto livre no qual se imbricam a palavra nativa e aquela
da antropologia” (Goldman 2014:22).
Esse arranjo é apenas um arranjo possível, a minha maneira de traduzir o
cruzamento desses caminhos. Trata-se daquilo que Malinowski (1935) muito
sabiamente chamou de “teoria etnográfica”, ou seja, nem tanto uma ‘teoria nativa’, nem,
tampouco, uma ‘teoria científica’ (ver Goldman 2003), mas uma teoria que é gerada
pelo encontro mesmo – pelo cruzamento de caminhos. Acredito que seguir esse
caminho é, também, uma maneira de sair da velha discussão presente nos estudos afro-
brasileiros entre uma visão ‘desde dentro’ e uma visão ‘desde fora’, debate que, como
nos lembra Serra (1995:9), pode ser resumido a “um eterno jogo de solteiros e casados –
já previamente empatado, de comum acordo”. A fim de fugir desse debate, pretendo
traçar uma escrita que esteja implicada no momento mesmo da experiência, do
encontro; uma maneira que, ao mesmo tempo em que busca elaborar um sistema
conceitual que faça jus às escolhas lexicais nativas, opere algumas transformações –
“simetrizações antropológicas”, como diria Goldman (2014) – nessas escolhas, de modo
a tratar as ideias e práticas de Zé Diabo como verdadeiros conceitos, capazes – acredito
eu – de desestabilizar os nossos próprios pensamentos.
Trata-se, em suma, de traçar uma cartografia de seus agenciamentos, no sentido
empregado por Deleuze e Guattari (1980). Cartografar não é ‘representar’ ou
‘significar’; é, antes, um ato transformativo que se faz na própria experiência. Trata-se,
como sugere Barbosa Neto (2012) de deixar que o sistema conceitual do outro funcione
como uma crítica (feiticeira) da própria etnografia: assim, se a feitiçaria busca, como
dizem, transformar as forças que compõem o mundo, colocando-as em movimento, esta
dissertação, intenta compor uma espécie de “escrita feiticeira”. Isso porque escrever –
ou compor um arranjo possível – não se dá sem uma série de transformações e afecções.

17
A escrita não é uma prática apartada da experiência vivida, não é, portanto, uma ‘mera
descrição’. Antes, escrever é também, potencialmente, vir a ser – assumir o risco de
colocar-se potencialmente num caminho outro, que passa a ser, também, o meu próprio
caminho. É como pegar o caminho de volta18, capturar novamente o que do seu
caminho ficou em mim. A etnografia, assim, é também uma forma de criar e agenciar
mundos, cruzar caminhos, estabelecer vias a partir do encontro. Caminhar.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBOSA NETO, E. O quem das coisas: etnografia e feitiçaria em Les mots, la mort, les sorts. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n.37, 2012, p.235-260. BATESON, G. [1972]. Steps to an Ecology of Mind. Chicago: The University of Chicago Press, 2000. CAPONE, S. A busca da África no Candomblé: Tradição e Poder no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2004. COSSARD, G. Contribution à l’Étude des Candomblés du Brésil. Le Rite Angola. Tese (Doutorado em Antropologia) - École des Hautes Études en Science Sociales, Paris, 1970. DELEUZE, G; PARNET, C. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998. DELEUZE, G; GUATTARI, F. [1980] Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. Vol.1. São Paulo: Ed. 34, 2011. DELEUZE, Gilles. Espinosa e nós. Espinosa – filosofia prática. São Paulo: Editora Escuta, 2002. FAVRET-SAADA, J. Les mots, la mort, les sorts. Paris: Gallimard, 1977. FAVRET-SAADA, J. Ser afetado. Cadernos de Campo, São Paulo, n.13, 2005, p.155-161. FLAKSMAN, C. Narrativas, Relações e Emaranhados: os Enredos do Candomblé no Terreiro do Gantois, Salvador, Bahia. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: PPGAS/MN/UFRJ, 2014. 18 Aquilo que Marilyn Strathern (2014:350) vai chamar de “momento etnográfico” – a afetação mútua do campo e a escrita.

18
GIBSON, J. The theory of affordances. The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin, 1979, p.127-143. GOLDMAN, M. A Possessão e a Construção Ritual da Pessoa no Candomblé. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 1987. GOLDMAN, M. Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e política em Ilhéus, Bahia. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, v. 46, n˚2, 2003. GOLDMAN, M. Formas do Saber e Modos do Ser: Observações Sobre Multiplicidade e Ontologia no Candomblé. Religião & Sociedade, Rio de Janeiro, v. 25, n.2, 2005, p.102-120. GOLDMAN, M. Da existência dos bruxos (ou como funciona a antropologia). Revista de Antropologia da UFSCAR – R@U, 6 (1), 2014, p.7-24. INGOLD, T. Da transmissão de representações à educação da atenção. Educação, Porto Alegre, v.33, n. 1, 2010, p.6-25. INGOLD, T. Making. Anthropology, archaeology, art and architecture. London: Routledge, 2013. LATOUR, B. Reassembling the social: an introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005. MACHADO, A. Proverbios y Cantares XXIX, 1910. MALINOWSKI, B. Coral Gardens and their magic. London: George Allen & Unwin LTD, 1935. MARQUES, L. Forjando orixás: técnicas e objetos na ferramentaria de santo da Bahia. Monografia de Graduação. Brasília: DAN/UnB, 2014. RABELO, M & SANTOS, R. Notas sobre o aprendizado no candomblé. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 20, n. 35, 2011, pp. 187-200. RABELO, Mi. Enredos, feituras e modos de cuidado. Salvador: EDUFBA, 2014. SANTOS, J. [1975] Os Nàgô e a morte: Padê, Àsèsè e o culto de Égun na Bahia. Petrópolis: Vozes, 2012. SAUTCHUK, C. O Arpão e o Anzol: técnica e pessoa no estuário do Amazonas. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília, 2006. SERRA, O. Águas do Rei. Petrópolis: Editora Vozes, 1995

19
SIQUEIRA, P. O Sotaque dos Santos: movimentos de captura e composição no candomblé do interior da Bahia. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: PPGAS/MN/UFRJ, 2012. STRATHERN, M. O efeito etnográfico. O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2014. VIVEIROS DE CASTRO, E. “O nativo relativo”. Mana 8 (1), p.113-148, 2002. VIVEIROS DE CASTRO,.E. Metafísicas caníbales: líneas de antropologia postestructural. Buenos Aires: Katz Editores, 2010. WAGNER. R. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2010.