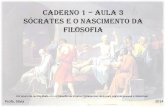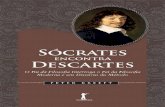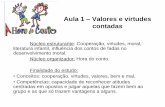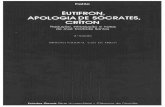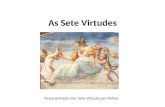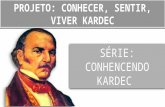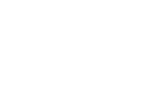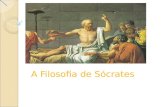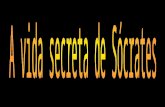Socrates e a Educacao Para as Virtudes
-
Upload
joao-vitor -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Socrates e a Educacao Para as Virtudes
-
Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo
Scrates e a educao para as virtudes
Julho de 2014
No presente ensaio, buscarei comentar um pouco sobre a viso de Scrates na
educao das virtudes para o povo grego, baseado em trabalhos como a defesa de Scrates
ou Protgoras de Plato.
Antes de tudo, importante elaborar minha viso sobre o conceito de virtude (aret),
e como tal virtude era encarada pelo povo grego e por Scrates. Para tal, importante definir
ainda outro conceito, o de eudaimonia.
Eudaimonia um termo de traduo difcil, sendo muitas vezes considerado como o
sinnimo de felicidade. Contudo, uma traduo melhor seria viver uma vida boa. Verifica-
se j nessa traduo uma contraposio interessante entre o conceito de felicidade que
temos hoje, de um sentimento interior, algo psicolgico, com o de eudaimonia, que envolve
uma prtica, atos e palavras.
Assim, diferentemente de uma felicidade como algo privado e interior, os gregos
valorizavam a boa vida como algo pblico, a ser visto e reconhecido pelos outros. Esse
posicionamento claro no prprio modo de vida ateniense. Os cidados davam grande valor
aos momentos em que passavam nas praas pblicas, interagindo com outras pessoas.
Dentro de uma sociedade heroica como a grega, o indivduo mais prximo da
eudaimonia seria aquele dotado de qualidades guerreiras, que o favorecessem em combate.
Assim, qualidades visveis como a fora e vigor fsico, a coragem e a sagacidade eram o que
distinguia um indivduo dos demais. Dizia-se que esses indivduos que possuam distino
possuam virtude, ou aret.
Franklin Leopoldo e Silva em seu trabalho Felicidade dos filsofos pr-Socrticos aos
contemporneos (2007) explora essa relao entre a eudaimonia e a tica do herosmo, e um
pouco da condio trgica do heri grego. Ele explica a vinculao entre a tica grega e uma
vida que vale a pena ser vivida. Para os gregos, o aret era providncia divina, os deuses
davam essas qualidades para indivduos que, ento, se distinguiam dos mortais comuns,
devendo esses escolhidos (os aristi) provarem seu valor constantemente para os deuses. E
seria nessas aes que ele justificaria sua prpria existncia.
A prtica heroica seria da ordem da prxis (ao), no sendo instrumental nem medida
pelos resultados. Estaria relacionada com a tica teleolgica grega, na qual h um
desprendimento, os gregos agiam eticamente pois esse era o seu dever, somente com a
finalidade de viver uma boa vida. Estaria tambm relacionada com a coragem, um equilbrio
entre a covardia e a temeridade.
Os gregos encaravam as virtudes como uma ddiva dos deuses para os aristi
escolhidos, e acreditavam que tais virtudes dependiam do sangue. Assim, a deteno de
virtudes seria encarada como um capricho divino, no sendo algo passvel de ser ensinado.
-
Scrates, um dos maiores filsofos gregos, viveu em um perodo no qual a sociedade
grega passava por uma crise em seus valores. Crise, na definio da filsofa Hannah Arendt,
o momento em que perdemos nossas respostas originais sem perceber que elas originalmente
constituam respostas. o momento em que precisamos parar, separar as coisas, tomar um
novo rumo definido em novos critrios e escolhas. Scrates viveu entre o perodo de transio
do auge da hegemonia ateniense e o seu declnio aps a derrota para Esparta na guerra do
Peloponeso.
O perodo da hegemonia ateniense foi caracterizado pelo surgimento e proeminncia
da poltica numa forma mais semelhante com a que conhecemos hoje, caracterizada pela
isonomia e isegoria. O advento da forma de vida nas plis teve como caractersticas a
transferncia do poder exclusivo aos aristi para todos os cidados. A partir dessa evoluo
complexa e sofisticada, que alguns gostam de chamar de nascimento da democracia, o dilogo
passa a assumir um papel extremamente importante, como ferramenta de poder poltico.
nesse contexto que se d o dilogo Protgoras de Plato, que narra o encontro
entre Scrates e Protgoras, este um sofista e considerado um dos homens mais sbios de sua
poca. O encontro entre os dois sbios, filsofo e sofista, representa um grande antagonismo
entre duas possveis formas de usar a palavra da o uso do termo pharmakon para
representar as palavras (pharmakon pode ser um remdio ou um veneno, filsofos usam as
palavras de forma parcimoniosa como um remdio para a alma, enquanto os sofistas seriam
acusados de usar as palavras e sua retrica como um veneno, como instrumentos para vencer
argumentos e suceder na poltica).
Werner Jaeger em seu livro Paidia A Formao do Homem Grego (1995, p. 620
647) faz uma leitura sobre o dilogo. Em Protgoras, Scrates compara a sabedoria como o
alimento para a alma e como o caminho para a eudaimonia. Essa postura pode ser vista
tambm em A Defesa de Scrates de Plato, quando justifica o fato de estar estudando,
mesmo condenado a morte (ora, mas estamos todos condenados a morte). O filsofo defende
ainda que o conhecimento deve servir para formar cidados pblicos. J Protgoras (que
representa a classe dos sofistas em geral) defende a importncia do conhecimento em si, que
a alma pode ser formada e que o conhecimento um instrumento que pode ser utilizado em
benefcio da vida privada de seu detentor, algo muito semelhante ao pensamento que temos
hoje na formao acadmica.
No dilogo, h um debate interessante sobre a possibilidade ou no de se ensinar a
virtude poltica. Scrates defende o ponto de vista da maioria ateniense, que a aret
dependeria do indivduo e de caprichos divinos, no podendo ser ensinada. Utiliza para
defender sua posio dois argumentos: que todos so iguais perante a poltica, de modo que
no faria sentido ensin-la; e que grandes polticos no tentavam passar suas virtudes polticas
para seus filhos, deixando que estes pastassem livremente e desenvolvessem suas
habilidades.
J Protgoras da opinio contrria, que a virtude pode ser ensinada, e utiliza
argumentos fortssimos para defender sua opinio. Seu principal argumento o de que h a
censura moral de opinies polticas, ora, se virtude poltica algo com o qual se nasce e
inerente ao indivduo, no se poderia fazer nenhum tipo de censura ou mrito, pois s se pode
avaliar moralmente aquilo que do controle do homem.
-
No dilogo Protgoras, como se pode ver, j se aponta um dos posicionamentos de
Scrates no ensino das virtudes. O filsofo defendia que a virtude no era algo que podia ser
ensinado. Contudo, para Scrates o desenvolvimento da virtude no indivduo no tem a ver
com passar informaes, mas com o domnio, o agir com a certeza de que o que se faz
correto. Nesse aspecto, um professor pode despertar tais valores em seus discpulos atravs
de reflexes e aes, ainda que seja impossvel passar os valores para ele. Scrates ainda
defende o ensino de virtudes como um bem pblico, para a melhoria e prosperidade da
cidade.
Enquanto Protgoras defende o aprendizado de virtudes como algo de fora para
dentro, ou seja, de um sofista para o seu discpulo, Scrates defende que o desenvolvimento
de virtudes algo de dentro para fora, com o discpulo no centro do desenvolvimento de tal
concepo.
Assim, Scrates defende que para desenvolver suas virtudes, um indivduo deve ser
capaz de questionar e interpretar o mundo no qual est inserido. Defende ainda que as
vontades da plis no se dissociam da vontade do indivduo, seu desenvolvimento de valores
representa o desenvolvimento de sua cidade. Scrates enxerga a o desenvolvimento das
virtudes da populao ateniense como seu dever moral.
nesse contexto que se d o julgamento do filsofo em A Defesa de Scrates.
Scrates julgado e condenado por corromper a moral da juventude, pois levantava
questionamentos sobre a moral da poca e criticava diversas noes coletivas comuns do
perodo. Acredita-se que por essas tentativas de melhorar o senso de justia dos atenienses,
no se mantendo passivo frente ao que acredita ser o desenvolvimento da imoralidade na
cidade, que Scrates condenado.
Define-se assim o posicionamento do filsofo frente ao ensino de virtudes. Ainda que
Scrates no acreditasse na virtude como algo que pudesse ser passado de um indivduo para
o outro, ele acreditava que um professor teria as condies de ajudar seu aluno a desenvolver
a virtude em seu interior, atravs do questionamento de suas aes e palavras. Scrates ainda
julgava que tinha o dever moral, como cidado ateniense que busca o desenvolvimento de sua
cidade, de auxiliar os jovens a se tornarem pessoas crticas e questionadoras.
-
Referncias bibliogrficas e leituras adicionais
Carvalho, Jos Srgio. Notas de aula da disciplina EDF0115 - Filosofia da Educao I.
2014.
Jaeger, Werner. Paidia A Formao do Homem Grego. So Paulo, Martins Fontes,
1995.
Plato. A defesa de Scrates. So Paulo, Abril Cultural, 1978.
Plato. Protgoras. Belm, EUFPA, 2002.
Silva, Franklin. Felicidade dos filsofos pr-socrticos aos contemporneos. So
Paulo, Claridade, 2007.