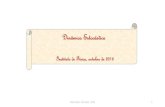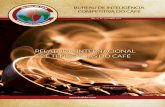SUAS BHOnline v.1, n.2
description
Transcript of SUAS BHOnline v.1, n.2
SUMÁRIO
Expediente ................................................................................................................................2
Artigos
Crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas de Belo Horizonte e as
potencialidades e desafios do acolhimento institucional: uma proposta de formação. ..............3
Família: questões contraditórias e ao mesmo tempo desafiantes para a assistência social ........9
A inclusão produtiva no âmbito da assistência social ..............................................................14
A inserção da estratégia territorial na Política Pública de Assistência Social..........................18
A metodologia de trabalho social com Famílias na proteção social especial...........................24
Expediente Conselho Editorial: • Fernando França – Assessor de Imprensa • Salime Cristina Hadad (GPES) • Eugênio de Freitas (GGPAS) • Maria de Fátima Queiroz Ribeiro (GEIMA) • Mário César Rocha Moreira (GGPAS) • Ronaldo José Sena Camargos (Gabinete) • Shirley Jacimar Pires (GPSO) Equipe de Edição: • Celsiane Aline Vieira Araújo – Serviço Interno de Informação – SMAAS • Vanuza Bedeti da Silva - Serviço Interno de Informação – SMAAS • Érika Tamborini – Estagiária do Serviço Interno de Informação – SMAAS • Rodrigo Furtini – Designer Gráfico – MOBS
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2008, 38 p. 3
Crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas de Belo Horizonte e as potencialidades e desafios do acolhimento institucional: uma proposta de formação.
O processo se deu através de parceria com a entidade “Inspetoria São João Bosco”, organizado por Clarissa Valadares Cunha, psicóloga e mestra em psicologia. ELABORAÇÃO Mônica de Cássia Barbosa Tófani*
APRESENTAÇÃO Com o presente artigo traçaremos uma análise acerca do processo formativo desenvolvido com os profissionais das unidades de abrigo conveniadas com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que atendem crianças e adolescentes sob medida de proteção especial, uma vez que houve uma reconfiguração do seu público-alvo, acrescendo aos mesmos o atendimento às crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas da cidade. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social / Gerência de Promoção e Proteção Especial / Gerência de Proteção Especial / Programa de Abrigo e Famílias Acolhedoras, mantém convênio com unidades de abrigo para crianças e adolescentes sob medida de proteção com capacidade para 400 atendimentos/mês. Uma das ações de reordenamento da política de Abrigo prevê o atendimento do público com trajetória de vida nas ruas em todas as unidades conveniadas. Para tanto, identificou-se a necessidade de um módulo de capacitação referente ao tema.
* Assistente Social, Especialista em Gerência de Assistência Social pela Fundação João Pinheiro – Escola de Governo , Gerente de Proteção Especial da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte.
As crianças e adolescentes com trajetória de
vida nas ruas trazem peculiaridades e um modus
vivendi muito próprio, bem marcado pelo contexto
da rua. Fazem das ruas ou de outros espaços
públicos seu local de moradia, sobrevivência e
convivência. Mais ainda, conforme Filomena
Gregori (2000), fazem dela [a rua] o lugar que
ordena seu cotidiano, suas relações e sua
identidade. Trata-se de jovens que apresentam
esgarçados seus vínculos familiares, sociais e
comunitários, estabelecendo uma outra socialização
na/da rua. Para viver, sobreviver e relacionar neste
contexto, constroem códigos, apreendem (ou
aprendem?) linguagens e ferramentas – o que
propicia-lhes comportamentos e relações singulares.
Toda esta vivência e aprendizado da rua são
transportados e revividos quando em situação de
acolhimento institucional. Sendo necessário, assim,
a maleabilidade dos profissionais destas
instituições, com vistas ao entendimento das
vivências de rua e da construção de metodologias
de trabalho que acolham e potencializem este
aprendizado, direcionando-o à emancipação destes
sujeitos.
Consideramos que a expressão “trajetória de
vida nas ruas” remete a um percurso construído
pelas crianças e adolescentes, a uma situação de
vida e não a uma essência, nem a uma identidade
rígida e fixa. Neste sentido, vale ressaltar as
possibilidades de novos traços identitários e de
referências mais autônomas que podem ser
construídas junto aos abrigos.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2008, 38 p. 4
O abrigo torna-se, assim, um espaço
privilegiado neste percurso, visto que permite ao
adolescente e à criança um distanciamento da
realidade da rua, fornece todos os provimentos
necessários a sua subsistência, bem como cria uma
rede com novos laços de sociabilidade, podendo
construir projetos alternativos de vida.
Diante da possibilidade e potencialidade do
acolhimento institucional às crianças e adolescentes
com trajetória de vida nas ruas, construímos uma
proposta de formação continuada dirigida aos
profissionais das unidades de abrigo parceiras do
município de Belo Horizonte.
Desenvolvemos um primeiro módulo contendo
temas primordiais recorrentes no cotidiano
profissional dos abrigos e também referentes à
trajetória de rua. Todo o processo formativo partiu
dos seguintes objetivos:
• Compreender a infância e adolescência
com trajetória de rua, bem como o perfil
destes jovens;
• refletir sobre as possibilidades de
atendimento e metodologias de trabalho ;
• promover o conhecimento dos serviços,
estrutura e fluxo de atendimento às
crianças e adolescentes com trajetória de
vida nas ruas desenvolvidos pela PBH.
Este primeiro módulo contou com sete (7)
encontros, nos quais foram abordados temas
específicos desenvolvidos por meio de aulas
expositivas, grupos de discussão, vivências e visitas
à unidade do Miguilim Cultural. Os temas foram
sugeridos previamente pela equipe do programa de
Abrigo da Secretaria Municipal Adjunta de
Assistência Social, desenhando um cronograma
flexível que contemplasse a inserção das novas
demandas apresentadas pelo grupo. Este
cronograma foi remodelado após o primeiro
encontro com os profissionais dos abrigos, no qual
houve sugestões de novas temáticas para o
desenvolvimento da capacitação. Os encontros
seguiram a seqüência abaixo:
1º. Encontro: Levantamento, junto aos profissionais
dos abrigos, das demandas, expectativas e
necessidades quanto à capacitação.
2º. Encontro: Criança e adolescente com trajetória
de vida na rua: conceitos, definições e panorama .
3º. Encontro: O trabalho em rede: possibilidades e
desafios
4º. Encontro: Serviços para criança e adolescente
com trajetória de vida nas ruas: metodologia e
fluxos.
5º. Encontro: O atendimento às adolescentes com
trajetória de rua: a questão de gênero
6º. Encontro: Drogadicção: concepções e
enfrentamento
7º. Encontro: Avaliação, fechamento e construção
de diretrizes metodológicas para o atendimento
criança / adolescente com trajetória de vida nas ruas
Delineamos uma reflexão sobre este primeiro
módulo do processo formativo, ressaltando o
primeiro encontro, tendo em vista que o mesmo nos
apontou as carências e potencialidades do grupo.
O primeiro encontro foi dividido em dois
momentos. Inicialmente, buscamos conhecer as
concepções, preconceitos, mitos e idealizações que
o grupo trazia acerca da adolescência e infância
com trajetória de vida nas ruas. Estabelecemos de
forma interativa, dialógica e livre de coerções, um
espaço para exposição de opiniões sobre
“meninos(as) de rua”.
Partindo de uma tempestade de idéias,
pedimos ao grupo que nos expressasse a primeira
palavra que lhe viesse acerca de “meninos de rua”.
As palavras ou expressões apresentadas foram:
abandono, medo, desamparo, desestrutura familiar,
ameaça, ajuda, drogas, violência, fragilidade,
moradia, insegurança, descaso, desemprego,
desigualdade social, política, acolhimento, risco,
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2008, 38 p. 5
desespero, frustração, indignação, impotência e
sujeira.
Este exercício nos direcionou para uma
primeira representação que o grupo desenha sobre
as crianças e adolescentes com trajetória de vida
nas ruas. As idéias apresentadas revelam duas
posições antagônicas: ora concebem o adolescente
com trajetória de rua como um algoz, que aterroriza
e violenta, que intimida e causa apreensão; ora
como vítima passiva, sujeita a um sistema desigual
e opressor. Nenhuma das expressões denota
possibilidades ou potencialidades ao se prenderem
ao estigma “trajetória de vida na rua”, filtram a
infância e a adolescência. Ao se enfatizar a
adjetivação, parece escorrer a potencialidade da
idade, tornando distante a correlação entre a
adolescência do próprio filho e a adolescência na
rua. Tal assertiva mostra o delineamento que o
grupo apresenta sobre os adolescentes e crianças
com trajetória de rua, no qual pendem em posições
que variam da piedade ao medo. Mais adiante,
trataremos de um conceito discutido no processo
formativo – a viração, que muito se relaciona com o
posicionamento dos profissionais dos abrigos, posto
que, os adolescentes, por meio da prática de “se
virar”, transitam pelas representações construídas
sobre os mesmos, agindo por vezes como algozes,
ou como meninos carentes, como trombadinhas ou
pobres famintos. Neste sentido, muito importa as
percepções traçadas sobre os adolescentes uma vez
que é partindo delas que os mesmos constroem sua
interação com a instituição ou o profissional.
No segundo momento, partimos de
expressões do senso comum, frases feitas ou
jargões que nos serviram como mote para uma
reflexão mais ampla. Dentre outras, algumas frases
que remetiam à vida na rua, à sexualidade do
adolescente, ao uso de drogas, à relação familiar e à
violência foram problematizadas. Estes temas nos
propiciaram conhecer os interesses do grupo, o
nível de argumentação e os temas que consideram
importante abordar no processo formativo. O grupo
se mostrou bastante envolvido com as proposições,
revelando muito interesse em sanar as fragilidades
da sua lida profissional.
O planejamento que havíamos proposto já
contemplava muitas destas demandas, como
sexualidade, relação grupal e o trabalho em rede .
No entanto, devido à urgência em que remetiam à
dificuldade em lidar com a drogadicção, optamos
por acrescentar esta temática como pauta deste
primeiro módulo.
Consideramos que todas as temáticas
sugeridas são de grande relevância e merecem
ampla reflexão. Algumas foram abordadas e
discutidas pelo grupo, porém avaliamos como uma
reflexão inicial que necessita de um
aprofundamento maior nas temáticas, mostrando
novas perspectivas e abordagens. Além da
necessidade de os próximos módulos tratarem das
demais temáticas sugeridas pelo grupo.
Todos os encontros foram ricos e com a
participação do grupo. Houve grande empenho e
zeloso cuidado da equipe de supervisão, bem como
de todos os profissionais da PBH que se
envolveram no trabalho, o que permitiu um
ambiente acolhedor e profissional.
Alguns fatores se mostram dificultadores de
um maior aprofundamento nas temáticas. O grupo
tem um perfil sócio-cultural muito heterogêneo,
com pessoas de escolaridade variada e categorias
profissionais diversas. Este fato enriquece de
sobremaneira o processo grupal, nos faz esbarrar
nas diferenças e promove um exercício de melhora
da comunicação, além na potencialidade de troca.
No entanto, como já dissemos, trata-se de um
processo e a heterogeneidade do grupo faz com que
o mesmo seja um pouco mais lento, exigindo dos
expositores uma linguagem ampla e clara, além de
uma percepção do alcance de sua fala, de forma que
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2008, 38 p. 6
seja compreendida por todos. Neste sentido, é que
avaliamos este primeiro momento como
introdutório, uma espécie de socialização, na qual
todo o grupo passa a compartilhar de
conhecimentos similares, o que propicia, a partir de
então, o aprofundamento das temáticas.
Os temas abordados foram relevantes e
tratados com propriedade pelos convidados. Trata-
se de alguns temas tabus (como sexualidade,
drogadicção, vida na rua) que exige maior
maleabilidade do expositor para não criar
resistência no grupo e alcançar seus objetivos. De
forma geral, os encontros alcançaram a meta de
problematizar a temática e iniciar uma reflexão
teórico-prática.
Retornando à concepção inicial que o grupo
apresentou sobre a adolescência com trajetória de
vida na rua, buscamos compreendê-la por meio de
dois conceitos importantes na elucidação de tal fato
social: a circulação e a viração.
A partir da experiência e interlocução com
adolescentes que têm uma trajetória de vida nas
ruas, bem como de uma revisão bibliográfica,
pudemos verificamos que o contexto da rua, com
suas dificuldades e prazeres, gera um modus vivendi
muito próprio. Para viver, sobreviver e relacionar
neste contexto, é necessário partilhar um código,
apreender(aprender?) uma linguagem, estabelecer
um diálogo com o espaço urbano e seus atores
sociais.
Trata-se de um fenômeno persistente nas
grandes cidades brasileiras, mas em cada momento
histórico reconhecido e nomeado de modo diferente
– menores abandonados, delinqüentes, meninos de
rua, pivetes, adolescentes em situação de rua,
adolescentes com trajetória de vida na rua, dentre
outros.
A expressão “meninos de rua” é amplamente
utilizada e compartilhada por todos os segmentos
sociais. Maria Filomena Gregori (2000) aponta a
primeira referência à expressão feita em publicação
nacional em 19791, sendo consolidada na década de
80, período de efervescente discussão e grande
notoriedade do tema. É uma expressão bastante
arraigada e difundida entre os diversos
interlocutores sociais, sendo unânime o
entendimento: designa um estrato social formado
por crianças e adolescentes pobres que
“perambulam” pelas ruas, fazendo destas seu
espaço de moradia.
Trata-se de jovens que apresentam
esgarçados os seus vínculos familiares, sociais e
comunitários, estabelecendo uma nova socialização
na rua. Esta pode ser caracterizada pelos muitos
indicadores como aparência, uso de drogas,
fragilidade dos vínculos familiares, etc. Mas a estes
acrescemos duas características fundamentais da
‘vida na rua’: a viração e a circulação, que dizem da
relação travada entre os adolescentes, a cidade e
seus personagens.
Viração e circulação são dois conceitos
desenvolvidos por Gregori (2000) a partir de uma
pesquisa etnográfica com “meninos de rua” em São
Paulo. A autora, por meio desses conceitos,
apresenta os meandros da ‘vida na rua’,
representando um grande salto teórico na
abordagem do fenômeno.
O termo viração foi retirado da linguagem
coloquial referente à prática de “se virar” para
sobreviver e, segundo Gregori, diz respeito:
“ao processo singular das experiências
travadas pelos meninos na rua: as diferentes
imagens produzidas sobre eles por discursos
e ações sociais variados são incorporadas e
atualizadas nas relações concretas que eles
estabelecem, sem que haja a escolha de
alguma em particular.” (2000, p.18)
1 Livro publicado por Rosa Maria Fisher Ferreira.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2008, 38 p. 7
Os (as) meninos (as) de rua transitam por
esta relação ambígua. A partir das representações
que se constroem sobre os mesmos, eles(as)
balizam seus comportamentos e ‘identificações’.
Seguindo as referências simbólicas e materiais que
lhes esbarram, sem estabelecer uma relação linear,
ora agem como aterrorizantes trombadinhas, ora
como delinqüentes, ora como pobres famintos e
carentes, etc. Para cada interlocutor ou contexto,
um comportamento que vai da vítima ao algoz.
Deste modo, o recurso da viração não se restringe à
sobrevivência, mas, como mostra Gregori (2000), é
também uma forma de diálogo e comunicação com
os demais atores sociais e com a cidade, onde se
posicionam de várias formas não excludentes.
Compreendemos que a viração é uma das
muitas práticas brasileiras de mediar e enfrentar a
opressão, a rigidez e inacessibilidade às leis.
Práticas compartilhadas pelos diversos atores
sociais, não sendo exclusivas da rua. Em cada
contexto encontramos uma variação deste estilo:
temos o “jeitinho brasileiro”, a malandragem, a
ironia, o “sabe com quem está falando?”, a
mandinga, a vadiação e a ginga. Segundo Roberto
Damatta (1986) são as contradições e
arbitrariedades que propiciam o aperfeiçoamento de
“um modo, um jeito, um estilo de navegação social
que passa nas entrelinhas desses peremptórios e
autoritários ‘não pode!’(1986, p.99)”.
Dessa forma, a viração não se constitui em
um cinismo, mas em um diálogo travado na rua,
com um caráter mediador capaz de conciliar
dicotomias (pessoal/impessoal, público/privado,
rico/pobre), e que parte de um léxico autorizado e
construído por seus interlocutores. É uma forma de
“conversar” e resistir, um arranjo que permite
operar um sistema contraditório e impessoal.
Junto à prática da Viração, outra
característica marcante da vida nas ruas é a
circulação. Os(as) meninos(as) estão sempre
circulando pela cidade, pelas instituições que
prestam assistência, pelos centros de internação,
delegacias especializadas, retornos para casa,
enfim, num constante movimento. Gregori salienta
que:
“(...) o padrão de suas vivências é pautado
por esta circulação constante: da mesma
maneira que a maioria deles não abandona
em definitivo suas famílias, não abandona
também as instituições e agrupamentos com
os quais convive. O “não abandonar”, no
entanto, não significa “se fixar”, implicando
uma substituição.”( 2000, p.72).
A circulação é observada, também, em
muitas histórias de vida e familiar destas crianças e
adolescentes. Trata-se de um processo anterior, a
“circulação de crianças”, que parece se atualizar nas
ruas. Uma espécie de “padrão urbano popular”,
muito comum entre famílias pobres, nas quais por
motivos diversos (desemprego, morte de um
familiar, novo casamento, etc), as crianças
circulam, ora ficam com amigos, parentes,
instituições, enfim, ainda no âmbito da “casa” já se
anuncia o esgarçamento de vínculos familiares e
comunitários próprios da “rua”. Assim, em grande
parte, tanto as vivências familiares quanto as da rua,
estão marcadas pela circulação.
A circulação pela cidade está muito
relacionada à própria dinâmica urbana, muitos
atores sociais estão diretamente envolvidos em tal
mobilidade. Como exemplo, crianças e adolescentes
‘ocupam’ algum ponto da cidade, até que este deixe
de ser próprio para “viver” e daí migram para outro
lugar. O ponto deixa de ser apropriado por motivos
vários como: vizinhança intransigente, presença de
policias, dificuldade de ganhos assistenciais,
descoberta de novo lugar, etc. Isto denota a forte
relação entre circulação e viração, pois é,
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2008, 38 p. 8
sobretudo, nas interlocuções com os diversos atores
urbanos (educadores, polícia, comerciantes,
religiosos, pedestres...) que a circulação se
estabelece. Como afirma Gregori, “eles ‘se viram’
circulando”.
Nesse sentido, é notória a constante
interlocução estabelecida entre crianças e
adolescentes com trajetória de rua, os demais atores
sociais e o espaço urbano.Este grupo estabelece,
assim, a partir de uma relação com a cidade, um
novo texto, compreendido por estratégias,
resistências, posturas e visões de mundo.E é neste
diálogo, com a gramática da rua, que se vive esta
“adolescência”.
Diante do tamanho espectro da viração e
circulação na vida das crianças e adolescentes com
trajetória de rua, torna-se necessário que as
instituições de atendimento apropriem destes
conceitos, observando este processo e avaliando sua
participação na manutenção ou transformação do
mesmo - uma vez que participam ativamente da
circulação e são coadjuvantes das práticas viradoras
crianças e adolescentes com trajetória de vida na
rua.
Dessa forma, fica notória a repetição de um
modus operandi por parte dos muitos segmentos
sociais que interagem com os adolescentes e
crianças com trajetória de rua, construindo um
roteiro circular de atuação, que pode ser manutentor
de um status ou propiciador de uma grande
transformação.
Percebemos uma trama ideológica muito
bem construída e sutil, tendo em vista que é
apoiada, justificada e reproduzida pelas grandes
instituições reguladoras (igreja, família, escola,
ciência, entidades, dentre outras). Tal concepção
nos remete a grande necessidade de reflexão e de
aprimoramento de uma prática educativa libertadora
e emancipatória, de forma a romper com os ciclos
viciosos dessa trajetória social. Nesse sentido, os
abrigos e seus profissionais se tornam importantes
sujeitos na construção de crianças e adolescentes
com trajetórias tecidas com novos laços e
vinculações sociais mais autônomas.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 9
Família: questões contraditórias e ao mesmo tempo desafiantes para a assistência social
ELABORAÇÃO Kátia Zacché2 Mara Rúbia de Souza Albano Felix3 Soraia Pereira de Souza4
2 Psicóloga, Especialista em Gerência de Assistência Social pela Fundação João Pinheiro – Escola de Governo. Supervisora do Programa Liberdade Assistida da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 3 Assistente Social formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Especialista em Gerência de Assistência Social pela Fundação João Pinheiro – Escola de Governo. Especialista em Análise Urbana pela Universidade Federal de Minas Gerais – Escola de Arquitetura. Atual Coordenadora da Equipe de Acompanhamento Técnico Metodológico dos Núcleos de Apoio à Família/Centros de Referência da Assistência Social – NAF/CRAS –SMAAS/PBH. 4 Socióloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Gerência de Assistência Social pela Fundação João Pinheiro – Escola de Governo. Atual Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS – Núlceo de Apoio à Família/NAF da região Norte/Conjunto Felicidade, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Na sociedade brasileira, são amplamente
reconhecidas as profundas mudanças que vêm
ocorrendo nas famílias, ainda que muitas vezes
idealizadas no modelo “família nuclear”, ou seja,
heterossexual, monogâmica e patriarcal, entre
outras. Essas alterações dizem respeito
principalmente à redução no número de filhos, ao
aumento de divórcios e uniões consensuais, ao
crescente aumento de chefia feminina e de famílias
monoparentais, promovendo alterações no
tradicional papel da mulher e do homem nesta
família.
A família enquanto uma construção social e
simbólica, remete-nos a tentar compreendê-la
também enquanto relações de parentescos que são,
por sua vez, estruturantes da vida social. Foi Lévi-
Strauss quem iniciou o processo de desnaturalização
do conceito de família. Este autor, no seu estudo
sobre “As estruturas elementares do parentesco”,
demonstrou que o fator biológico não poderia ser o
principal foco de análise da família. Sem dúvida o
parentesco é um fato social que ultrapassa os laços
de consanguinidade e de descendência. Unidades
familiares formam-se, também, através de laços de
aliança, confiança e afinidade entre grupos.
Independente da estrutura que se tem, é no
seio familiar que se articulam os papéis, estabelecem
as alianças, o princípio da troca e da reciprocidade,
dividem-se tarefas, recursos e articula-se a
sociabilidade, a convivência e os cuidados com as
crianças, com os idosos e o protagonismo dos
jovens.
O poder disciplinador da família perdeu força
na atualidade. As tarefas e responsabilidades antes
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 10
identificadas como próprias da famílias cabem agora
a um conjunto social ampliado de atores: Estado,
mercado e a própria família.
A família, pois, assume uma nova função
social com profundas mudanças sócio-culturais, que
produzem reflexos dentro e fora da família, e essas
mudanças nos instigam a questionar sobre a função
da família na construção de uma sociedade mais
organizada e equilibrada.
Tais mudanças, de um lado, acabaram por
alterar os tradicionais mecanismos de solidariedade
familiar, essenciais para a proteção e a socialização
dos indivíduos no nível primário. Por outro, são
associadas a novas condições de risco, onde se
identificam dificuldades cada vez maiores quanto ao
cuidado e orientação dos filhos, escolarização e
menor inserção no mercado de trabalho, aspectos
que colocam a família em situação de extrema
vulnerabilidade, especialmente as famílias
pauperizadas.
A partir desse redesenho da família, o tema
vem se tornando cada vez mais objeto e instrumento
para a formatação e gestão das políticas públicas
pela sua nova conformação e sem dúvida pelas
sucessivas crises que enfrentam os estados de bem-
estar, sejam elas de natureza fiscal, ideológica e de
legitimidade.
A relação entre estado de bem-estar social e
família contribui para uma maior visibilidade da
questão da família, que pode ser abordada a partir de
dois pontos. O primeiro aponta para uma reflexão
acerca de responsabilidades do estado na provisão
das famílias, ou seja, de que forma a regulação do
estado afeta o que na formação da família e ao
mesmo tempo? Provocar as transformações no
núcleo família passam a influenciar no instante em
que elabora-se políticas de intervenção?.??????
Parágrafo sem conclusão (Qual o segundo ponto)???
A família passa a se constituir numa
importante instituição para as sociedades
contemporâneas, uma vez que nem o mercado e nem
o Estado se encontra capaz de incorporar e trabalhar
igualmente as necessidades dos indivíduos
pertencentes a esse novo núcleo familiar. E,
fundamentalmente, porque existem necessidades que
vão para além daquelas oferecidas por esses dois
atores, ou seja, existem bens que podem ser
ofertados somente pela família dada a sua condição
de provedora de afeto, socialização e proteção.
Todavia, é sabido que a promoção do bem-
estar dos indivíduos depende da existência de
arranjos familiares mais estáveis. E é esta
contradição que nos desafia a pensar instrumentais
eficazes para atuação nos novos arranjos familiares.
Diante disso, devemos nos ater ao fato de que
ao mesmo tempo em que a família é vista como um
ator fundamental no combate a pobreza e à exclusão
social, essa mesma família está em risco e apresenta
uma gama de vulnerabilidade que a deixa frágil para
proteger os seus membros. A centralidade que a
família vem ocupando na discussão e formulação de
políticas públicas de inclusão e combate à pobreza
no Brasil coloca em pauta as implicações e
limitações advindas dessa centralidade.
A partir dessa constatação, formas de
intervenção e novos instrumentais começam a ser
fundamentais para operar no ciclo mutável da vida
familiar, uma vez que não se pode ignorar o fato de
que as famílias são diferentes entre si, tanto na sua
organização quanto na forma de resolver os
problemas da vida cotidiana. A família muda em
decorrência de pressões internas e externas,
promovem a competitividade dentro do seu seio
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 11
familiar e se reestrutura facilmente em decorrência
de vários fatores.
No tocante a política de assistência social, os
desafios estão postos, seja diante dessa
multiplicidade de fatores que compõe o núcleo
familiar, seja devido à necessidade de se criar um
elenco de técnicas e instrumentais que permitam,
primeiramente, nos debruçarmos no entendimento e
analise dessa nova família e, posteriormente,
trabalharmos na construção de procedimentos e
instrumentais eficazes para intervirmos nela e com
ela de maneira pouco invasiva e com eficiência.
Dentro da diversidade que é o trabalho com
famílias, perguntas se multiplicam: se a centralidade
é na família, onde acontecem situações
desagregadoras, fatores exógenos e multiplicidade
de elementos agregadores bem como trabalhar esse
turbilhão de questões utilizando o instrumental de
grupos e oficinas? Diante destas incertezas, um
ponto fundamental é estudar e intervir globalmente
junto aos membros da família de modo que a
responsabilização por todas as questões seja diluída
no próprio núcleo familiar, sem reforçar traços
negativos ou positivos de membros isolados.
Portanto, ao atendermos a família, teremos que
categorizar elementos que agregados nos permita,
acertivamente, acreditar que estamos atendendo a
família e não os seus membros isoladamente.
Há um descompasso entre o discurso e a
prática no atendimento e na priorização da família.
Takashima cita duas questões fundamentais que
precisam ser enfrentadas. Os parcos recursos
financeiros que são incapazes de atender as
necessidades básicas detectadas no grupo familiar
em situação de risco e vulnerabilidade social, o que
pode resultar em atendimentos residuais e
inconstantes; “[...] redução na convergência dos
programas e projetos de atendimento às famílias face
ao privilégio concedido à forma atomizada de ação”
(TAKASHIMA, 1998, p.82).
Os recursos humanos que, em sua maioria,
ainda se encontram pouco capacitados para atuarem
na diversidade e, não raro as vezes, introduzem nas
atividdes em que executam o próprio imaginário que
o sustenta empiricamente e suas ações passam a ser
derivadas de seu próprio existencial.
Retomemos pois à pergunta anterior, ou pelo
menos à pergunta base, não deixando de pensar nas
demais: os instrumentais utilizados estão sendo
eficazes, considerando a centralidade da família na
política? Eles possuem elementos que favorecem na
descoberta de potenciais, mesmo que de membros
isolados, mas que produzam resultados benéfícos
para todo o grupo familiar? Inovar onde?
Takashima (1998) nos aponta, ainda, que o
trabalho sócio-educativo através do atendimento às
necessidades básicas, articulado com a organização
comunitária, pode ser uma saída. A estratégia,
portanto, mesmo que as questões postas pelo núcleo
familiar sejam complexas é, inicialmente, o
esclarecimento, a informação sobre pontos básicos,
tais como direitos sociais, pertencimento ao local
onde moram, entre outros, o que irá favorecer a
aproximação interna do grupo e do núcleo familiar
propriamente dito, mesmo que a trajetória cultural e
o poder aquisitivo sejam diferentes.
Feita essa análise, através de uma
metodologia dialógica, aberta e não determinada,
que a inserção da família em grupos faz-se, agora,
importante. Presume-se que a partir de um trabalho
inicial voltado para a informação mais ampla e
conceitual, o público envolvido possa compreender
ao certo a importância e as possibilidades de
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 12
mudanças que poderão ocorrer no seu cotidiano
familiar.
Propõe-se, então, a elaboração de um
diagnóstico do núcleo familiar. A idéia, aqui
defendida, é a de que a partir de elementos
embasadores, retirados do próprio núcleo familiar,
possamos, aos poucos, inserí-los num processo de
enriquecimento mútuo, sem que isso venha inibir a
sua capacidade criativa e de conquista do seu espaço
dentro da multiplicidade da vida cotidiana.
A ação da assistência social em Belo
Horizonte, quando muda o seu foco para o trabalho
com famílias, acompanhando as diretrizes da
Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) e, mais recentemente, a
Política Naciobal de Assistência Social (PNAS) e o
Sistema Único da Assistência Social (SUAS), ao
mesmo tempo que propõe o seu fortalecimento
dentro das novas e antigas relações sociais, inova na
compreensão ampla sobre essa família, na sua
composição, bem como no papel que ocupa na tríade
da seguridade social. A partir de então, a política de
assistência passa a ser orientada para um conjunto de
ações dentro dessa nova ótica, discutindo uma nova
prática profissional com famílias.
A tendência em se discutir e conceituar a
família a partir da concepção particular de cada um
acerca do tema ainda é muito comum, mas
ressaltamos que as diretrizes da política nos levam a
pensar que estas não significam qualquer ação que
se inclua a família, ao contrário, exigem ações
específicas com instrumetais específicos para um
trabalho que ao mesmo tempo em que se especifica,
também se apresenta bastante abrangente.
A família ocupa, então, o lugar central nas
políticas públicas em especial na política social,
porque por ela perpassam questões que não é
possível atingir somente com o olhar técnico,
qualificado diante de uma só política setorial.
“(...) a família é uma instituição social
hierarquicamente condicionada e
dialeticamente articulada com a sociedade na
qual está inserida. Isto pressupõe compreender
as diferentes forma de famílias em diferentes
espaços de tempo, em diferentes lugares, além
de percebê-las como diferentes dentro de um
mesmo espaço social e num mesmo espaço de
tempo” (MIOTO, 1997, p.128).
A retomada da importância da família no
campo das políticas públicas e a constatação de que
esta pode atuar como instrumento de inclusão social
dos núcleos familiares socialmente críticos, tráz para
o cenário atual o resgate de questões antigas, mas
não superadas, ou seja, o núcleo familiar, por mais
desarranjado que possa parecer, ainda é o viés mais
adequado para iniciarmos qualquer intervenção
técnica no seu interior, ou seja, a família é o melhor
instrumental para o trabalho com família.
Para tanto, as políticas dirigidas às famílias,
comprometidas com a sua inclusão social, devem
facilitar-lhes o processo de tomada de decisões
quanto às suas vidas, mobilizando nelas a
recuperação da capacidade de agir. O grupo familiar
não deve ser apenas objeto de intervenção das
políticas, mas, também, sujeito ativo em sua
capacidade de provisão de bem-estar.
“Sem dúvida que uma nova configuração
institucional potencializando a intersetorialidade e
descentralização dos serviços básicos visa buscar
formas de programas sociais que facilitam a
participação popular e, nesse caso, a família, muitas
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 13
vezes, assume o papel de unidade de representação
de interesses dos indivíduos” (SOUZA, 2000, p.8).
Vale ressaltar que a mulher, ao assumir o
papel de provedora do núcleo familiar, dentre outros
tantos papéis, passa a influenciar diretamente no
formato das politicas sociais, bem como exigir
destas políticas, programas voltados para facilitar a
sua inserção no mercado de trabalho, além de
trabalhar para aumentar a cobertura na pré-escola,
aumento da jornada escolar, programas para
adolescentes entre outros. Estas coberturas afetam
não o indivíduo isoladamente, mas a todo o núcleo
familiar.
A proposta da Política de Assistência Social
de Belo Horizonte em fazer dos seus diversos
programas e projetos a porta de entrada para os seus
próprios serviços ilustra muito bem a preocupação
em trabalhar o núcleo familiar, criando nele o
impacto da inserção/inclusão, disponibilizando
instrumentos para que ele possa se prover de
recursos e sair do estágio inicial antes da intervenção
do estado. Nessa lógica, analisamos a família como
uma instituição que atua redistribuindo recursos
entre os seus membros, logo atingindo todos do seu
núcleo familiar mesmo que não beneficiário
diretamente.
Bibliografia
ARRIAGADA, Irma (2001). “Famílias Latinomaricanas. Diagnóstico y políticas públicas en los inicios del nuevo siglo”. CEPAL, Série Políticas Sociales, Nº 57. CARVALHO, Maria do Carmo Brant. O lugar da família na política social. In: Famílias: Aspectos conceituais e questões metodológicas em projetos.
ESPING-ANDERSEN, G. O futuro do Welfare State na nova ordem mundial. Lua Nova, n.35, 1995. ___________________. Fundamentos socialis de las economias postindustriales. Barcelona: Ariel, 2000. FARIA, Carlos Aurélio Pimenta (2001). Fundamentos para a Formulação e Análise de Políticas e Programas de Atenção à Família”. In. Stengel, Márcia et al. (Orgs ). Políticas Públicas de Apoio SócioFamiliar. Belo Horizonte, Ed. Da PUC-Minas, pp.43-70. MIOTO, Regina Célia Tamaso. Família e Serviço Social: contribuições para o debate. Revista Serviço Social e Sociedade , nº55, p.114-130. 1997. SARTI, Cynthia A. Família e individualidade: um problema moderno. In: ______. família contemporânea em debate. 3. ed.. São Paulo: Cortez .2000. SILVA, Luis A. Palma e; STANISCI, Sílvia Andrade; BACCHETTO, Sinésio – Brasília: Ministério da Previdência e Assistência Social, Secretaria da Assistência Social, Esplanada dos Ministérios – MPAS/SAS, pp. 31-38, 1989. SOUZA, Marcelo Medeiros Coelho de . A importância de se conhecer melhor as famílias para a elaboração de políticas sociais na América Latina.[S.L.]: IPEA, 2000. (Texto para Discussão, Nº. 699.) TAKASHIMA, Geney. O desafio da política de atendimento à família: dar vida às leis – uma nova questão de postura. In: KALOUSTIAN, Silvio (Org.). Família brasileira a base de tudo. 3ed. São Paulo: Cortez, Brasília, DF: Unicef, 1998.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 14
A inclusão produtiva no âmbito da assistência social ELABORAÇÃO Ana Maria Soares Wolbert 5 Ralise Cássia Macedo 6 APRESENTAÇÃO Este artigo tem por objetivo refletir sobre a interseção entre o Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda – SPETR e o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no que se refere a inclusão produtiva. O primeiro, com a diretriz da municipalização, estrutura a Política de Trabalho, Emprego e Renda sob o princípio da inclusão social. O segundo tem por objetivo legal a promoção da integração ao mercado de trabalho de seus usuários. Em Belo Horizonte, a Política de Assistência consolidou ações e investimentos em qualificação profissional, intermediação de mão de obra de pessoas com deficiência e apoio a grupos produtivos. Superar a duplicidade de investimentos e a fragmentação das ações na busca da eficiência na promoção da inclusão produtiva e a formulação de estratégias de integração com políticas setoriais, deve estar na pauta de debates do SUAS-BH.
5 Assistente Social, analista de políticas públicas, Gerente de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte. 6 Assistente Social, analista de políticas públicas da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte.
Desde 1993, a Política Municipal de Assistência
Social investe, em Belo Horizonte, nas ações de
qualificação profissional, em parceria com entidades
sociais, com vistas ao fortalecimento destas ações
voltadas para segmentos da população de baixa renda e
em situação de desemprego ou subemprego.
Estes investimentos foram reafirmados com a
promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social, Lei
Federal n.º 8742, de 07 de dezembro de 1993, que
atribuiu a esta política o objetivo da integração dos seus
usuários ao mercado de trabalho. Neste contexto, fez-se
necessário a formulação de uma proposta que organizasse
as ações de qualificação profissional com base no
conceito de inclusão produtiva no âmbito da assistência
social.
As ações de Inclusão Produtiva, na forma como
estão atualmente constituídas na Secretaria Adjunta de
Assistência Social, organizam-se a partir da reforma
administrativa da prefeitura, que define a criação e
competências da Gerência de Inclusão Produtiva, através
do Decreto Municipal 10554/2001. O mesmo define que
dentre as competências desta gerência está a atribuição de
estabelecer diretrizes e normas gerais para efetivar
projetos de combate à pobreza, assim como apoiar
tecnicamente e orientar as ações de geração de trabalho e
renda para os usuários da Política de Assistência Social.
A partir de 1998, a Política Municipal de
Assistência Social, com vistas à promoção do público
assistido pelos programas e serviços, passou a investir em
uma rede própria com a criação do Centro de
Qualificação - QUALIFICARTE, tendo como referência
um Projeto Político Pedagógico norteado pela formação
integral do sujeito, envolvendo as dimensões laboral,
social e cultural. Este investimento se justifica pela
ausência de iniciativas, na área da qualificação
profissional, que respondessem às necessidades de
formação de um público que, via de regra, apresenta-se
em condições de vulnerabilidade social e/ou pessoal que
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 15
limita as possibilidades de acesso digno ao
mercado de trabalho.
Ainda que as ações de qualificação
profissional não tenham passado, até o presente
momento, por um processo de monitoramento e
avaliação amplo e sistemático, que gerasse dados
precisos acerca de sua eficácia, é sabido que a
qualificação profissional por si não assegura a
inserção no mercado de trabalho.
A experiência com as ações de qualificação
profissional, apoio a formação de grupos de
produção e a observância no debate nacional,
principalmente no âmbito do Ministério do
Trabalho, em especial o II Congresso Nacional do
Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda,
leva a afirmar que promover a inclusão produtiva
requer a constituição de um Sistema Público que
estruture técnica, política, administrativa e
financeiramente, ações e serviços complementares
e articulados de:
• Qualificação Profissional voltada para o
emprego ou empreendedorismo, seja
individual ou coletivo;
• Intermediação de mão de obra – IMO;
• Micro crédito;
• Seguro Desemprego;
• Agências de desenvolvimento e pesquisa
( Ex. Observatório do Trabalho).
Segundo Todeschini (2005), o SPETR
deve se nortear pelo princípio do desenvolvimento
sustentável com vistas à erradicação da pobreza e
das desigualdades sociais, pelo fortalecimento dos
serviços de funções ativas, ou seja, aquelas que
promovem diretamente a inserção ou reinsersão
do trabalhador no mercado de trabalho como a
qualificação social e profissional, a intermediação
de mão de obra e o seguro desemprego; pela
integração das ações governamentais e não
governamentais, sobretudo aquelas financiadas
com recursos da seguridade social e pelo
fortalecimento das políticas de inclusão social por meio
do trabalho, emprego e renda com seletividade para os
segmentos populacionais mais vulneráveis. Afirma ainda
que, conforme preconiza a CF/1988 acerca da
descentralização das políticas públicas, a implantação do
SPTER capilar, descentralizado e integrado às demais
políticas setoriais, é necessário para a eqüidade e
eficiência das ações do Estado.
Neste sentido, o município de Belo Horizonte
iniciou sua reorganização político- administrativa
criando, em 2003, um serviço de orientação e
intermediação de mão para o público beneficiário das
políticas sociais. Em 2005, criou uma gerência de
coordenação das ações trabalho, emprego e renda, com
vistas a superar a superposição, a fragmentação e a
duplicidade das ações na área do trabalho, emprego e
renda, em especial na qualificação profissional. Em 2006,
foi criado um grupo técnico gerencial de Coordenação
Municipal de Qualificação Profissional com a
participação de todos os órgãos que realizam
investimentos na área. A Secretaria Municipal Adjunta de
Assistência Social passou a integrar este grupo em
conjunto com a Secretaria Municipal de Políticas Sociais
e suas adjuntas, além da Secretaria Municipal de
Educação. O referido grupo tem a atribuição de formular
e implementar o Programa Municipal de Qualificação –
PMQ, com o objetivo de estabelecer diretrizes políticas,
sociais e pedagógicas para as ações desenvolvidas pela
prefeitura.
O PMQ, integrado ao Sistema Público de
Trabalho Emprego e Renda, objetiva responder a
necessidade conjuntural de articular as ações de
qualificação profissional com ações de intermediação de
mão-de-obra e demais ações de promoção da integração
ao mercado de trabalho.
O PMQ contribui para a consolidação do Sistema
Público de Trabalho Emprego e Renda, na medida que
propõe novas bases políticas, pedagógicas e de gestão
para as ações de qualificação profissional, estabelecendo
novos padrões para a certificação, conteúdos, grades e
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 16
planos de cursos e, ainda, planejamento, execução
e avaliação. Deste modo, qualifica as ações,
amplia o seu alcance, otimiza esforços e recursos
e aproxima os segmentos vulnerabilizados
socialmente da possibilidade de acesso ao
trabalho, ao emprego e renda. Esta nova
organização político-administrativa se pauta no
princípio da inclusão social referendada na
Resolução n.º 333/2003, do CODEFAT, que inova
na qualidade pedagógica e na priorização dos
segmentos da população em situação de
vulnerabilidade, dentre estes: pessoas com
deficiência, mulheres chefes de família,
adolescentes autores de ato infracional, afro
descendentes além dos beneficiários de políticas
sociais.
Considerando que a Política Municipal de
Assistência Social consolidou ações e
investimentos em qualificação profissional e
geração de renda; que a efetivação da inclusão
produtiva no atual contexto sócio econômico
impõe como condição de sustentabilidade
integrar as Políticas Públicas de Trabalho,
Educação, Assistência Social e Desenvolvimento
e, a implantação do Programa Municipal de
Qualificação Profissional, na perspectiva da
consolidação do Sistema Público de Trabalho,
Emprego e Renda, faz-se necessário uma
redefinição do papel da Assistência Social na
formulação, implementação, financiamento e
execução de ações de INCLUSÃO PRODUTIVA.
Ainda que a Política Nacional de
Assistência Social define a inclusão produtiva
como ação de Proteção Social Básica e as ações
de trabalho protegido como Proteção Social
Especial, é importante ressaltar que a diretriz do
Ministério do Trabalho para o Sistema Público de
Trabalho, Emprego e Renda é a seletividade para
o público vulnerável, em especial aquele assistido
pelas políticas públicas financiadas pela
Seguridade Social. Portanto, para o cumprimento do
objetivo legal de integração ao mercado de trabalho, na
perspectiva da construção da autonomia emancipatória, é
imprescindível para o Sistema Único de Assistência
Social a definição do seu objeto na promoção da inclusão
produtiva e as interfaces com políticas setoriais que
visem a superação da vulnerabilidade dos indivíduos e
famílias assistidas pelas políticas de proteção social, por
meio de trabalho e renda.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos à Cirlene Inês Rocha e Ricardo Mário
Rodrigues pela valiosa contribuição na revisão deste
artigo.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 17
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRAGA, L. L. C; CAMARGOS, R. J. S. A
Inclusão Produtiva na Política de Assistência
Social. Inclusão Produtiva – Publicação da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Belo
Horizonte, v. 01, n.30, p. 4-7, jul. 2003.
BRASIL, Presidência da República. Lei Orgânica
da Assistência Social, n. 8.742 de 7 de
dezembro de 1993, publicada no DOU de 8 de
dezembro de 1993.
BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego.
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador. Resolução n. 333 de 10 de julho de
1993. Instituiu o Plano Nacional de Qualificação e
dá outras providências. Disponível em: < https
www.mte.gov.br/cofefat/leg_resolucoes_2003.asp
> Acesso em: 07 de maio de 2007.
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome. Conselho Nacional de Assistência
Social. Resolução n. 145 de 15 de outubro de 2004,
publicada no DOU em 28 de outubro de 2004, aprova a
Política Nacional de Assistência Social.
TODESCHINI, Remígio. Rumo ao Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda Integrado e Participativo. In:
Congresso Nacional: Sistema Público de Emprego
Trabalho e Renda, 2, São Paulo, 2005. II Congresso
Nacional: Sistema Público de Emprego Trabalho e
Renda, São Paulo: MTE, CODEFAT, FONSET, 2005.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 18
A inserção da estratégia territorial na Política Pública de Assistência Social
ELABORAÇÃO Renata Silva Daniel Caldeira*
* Assistente Social, Especialista em Gerência de Assistência Social pela Fundação João Pinheiro – Escola de Governo, Mestranda em Políticas Sociais pela Puc Minas, Analista de políticas públicas da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte.
O crescimento das cidades e da economia
urbana tem gerado desenvolvimento econômico,
progresso tecnológico, além de novas formas de
organização social e oportunidades culturais.
Entretanto, dado o padrão e a dinâmica do processo
de urbanização nos países em desenvolvimento, ao
promover o crescimento econômico, o
desenvolvimento urbano também tem gerado um
processo crescente de exclusão sócio-espacial.
Indivíduos, famílias, grupos sociais, têm sido cada
vez mais excluídos das oportunidades oferecidas
nas cidades, devido a múltiplas formas de
discriminação nos aspectos referentes à renda, raça,
gênero, religião, entre outros. Em decorrência deste
processo de exclusão social, tais indivíduos,
famílias ou grupos, não têm tido acesso pleno aos
serviços, infra-estrutura, equipamentos e vários
outros direitos que os tornariam pertencentes
efetivamente à economia e sociedade urbanas.
Este processo de exclusão vem mostrando-se
cada vez mais multifacetado, com múltiplas
variáveis, como a desigualdade, pobreza,
desemprego, ausência de cidadania, entre tantas
outras. Mas, para além destas variáveis, existe um
aspecto da exclusão social que é territorial, uma vez
que não se apresenta de forma homogênea nos
diversos espaços da cidade.
Sendo assim, a exclusão social pode ser
compreendida como um processo de exclusão
sócio-espacial. Desta forma, reconhecer este
processo, entendê-lo e identificá-lo é de grande
utilidade para o planejamento e gestão das ações
governamentais, uma vez que permite captar
diferenças, disparidades dentro da cidade que
podem orientar a tomada de decisões.
Normalmente, o que temos presenciado é que os
governos não estão preparados para os problemas
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 19
gerados pelo aumento da população residente nas
áreas periféricas, causando assim, um colapso nos
serviços públicos prestados aos moradores.
Os instrumentos tradicionais de
planejamento baseiam-se na idéia da definição de
um modelo de cidade ideal ou satisfatório,
traduzindo em índices como taxas de ocupação,
coeficientes de aproveitamento, tamanhos mínimos
de lotes, etc. A adoção de padrões exigentes e de
difícil compreensão e a alta complexidade de
Planos Diretores fazem parte de um quadro de
hegemonia de uma visão tecnocrática na legislação
urbanística. Isso significa o tratamento da cidade
como um objeto puramente técnico, no qual a
função da lei seria apenas o de estabelecer os
padrões satisfatórios de qualidade para seu
funcionamento. Ignora-se dessa forma qualquer
dimensão que reconheça conflitos, e muito menos a
realidade, da desigualdade das condições de renda e
sua influência. (Rolnik: 2000)
Uma das estratégias que atualmente começa
a ser discutida com maior ênfase dentro das
políticas públicas está assentada na chamada
territorialização das ações, com a elaboração de
diagnósticos específicos sobre cada região que
necessita ser atendida por serviços públicos, a fim
de buscar soluções para os problemas encontrados e
aumentar a eficácia e efetividade das políticas
desenvolvidas, uma vez que estarão próximas às
comunidades, contribuindo, assim, para que as
ações propostas sejam mais adequadas à realidade e
aos anseios da população local.
A tradicional visão genérica da pobreza alia-
se a um outro legado da sociedade brasileira
que pouco tem se importado na sua história
com a questão territorial, o chão das
relações entre os homens, onde se
concretizam as peculiaridades, as diferenças
e desigualdades sociais, políticas,
econômicas, culturais. No máximo, até hoje,
considera-se o âmbito das cidades e
raramente as parcelas internas destes
territórios. Aqui também prevalece o sentido
genérico, em que as cidades são conhecidas
pelas suas médias e não pelas suas
diferenças e desigualdades internas. (...) A
proposta é discutir a introdução da variável
território no exame da realidade para
produção de políticas públicas voltadas para
inclusão social, entendendo ser esta uma
condição favorável à refundação do social
na sociedade brasileira, ao construir o debate
sobre as condições de vida do território
como um dos instrumentos para concretizar
a redistribuição social no enfrentamento das
desigualdades sociais (KOGA, 2003:19).
Pode-se notar que nessa afirmação, o
território é considerado como um dos elementos
possíveis, para uma nova perspectiva de inclusão
social para orientar as políticas públicas. Parte-se
do princípio de que as políticas públicas, ao se
restringirem à definição prévia e aleatória de
públicos-alvos, ou demandas muito generalizadas,
apresentam graves limitações, no que se refere à
compreensão das desigualdades concretas
existentes nos diversos territórios que compõem
uma cidade, e, assim, permitir maior efetividade,
democratização e conquista da cidadania.
As desigualdades sociais tornam-se
evidentes entre os cidadãos no território onde as
condições de vida entre moradores de uma mesma
cidade mostram-se diferenciadas, onde a presença
ou a ausência dos serviços públicos se fazem sentir
e a qualidade destes mesmos serviços apresenta-se
diferente.
Nos últimos anos, as políticas sociais têm
sido tema constante de debates que envolvem
discussões de seus processos de revisão e
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 20
reconfigurações, envolvendo seus conteúdos e
formatos, o que conseqüentemente gera um outro
debate, que é a construção de seus instrumentos de
planejamento.
Nesses debates, têm-se sempre como pano
de fundo as questões do cenário brasileiro, onde
novos formatos de desigualdades sociais,
acumuladas com os históricos processos de
vulnerabilização da população, vêm rebatendo
fortemente nas condições de vida desta última,
atingindo seus diversos recortes setoriais e suas
múltiplas dimensões. É nesse contexto que surge,
com grande importância, a questão da qualificação
e o redirecionamento das políticas sociais e de seus
instrumentos. Trata-se de um debate em torno da
emergência de novas políticas, de sua
democratização, de novos arranjos institucionais e
políticos referentes à sua concepção e gestão,
ressaltando a ampliação do acesso dos atores sociais
nos espaços decisórios e aos bens e serviços
públicos. Nessa direção é que se insere a discussão
sobre a territorialidade dentro dos processos de
planejamento e gestão das políticas sociais
públicas. Segundo Brasil (2004) É neste debate,
relativo às possibilidades de avanço nas políticas
sociais e no desenho de seus instrumentos, que se
coloca a questão da territorialidade como uma
variável relevante a ser considerada sob a
perspectiva do enfrentamento das desigualdades e
da inclusão social. A possibilidade de conceber (e
de implementar) políticas públicas reconhecendo o
território como dimensão significativa pode ser
assinalada como um elemento potencialmente
inovador.
Ou seja, trata-se de apontar a relevância e o
diferencial da dimensão territorial para o
enfrentamento dos vários formatos das
desigualdades e da exclusão social por meio das
políticas públicas.
No histórico sobre o processo de
planejamento da política pública de assistência
social, é muito comum que a estratégia de analisar o
aspecto territorial no âmbito intra-municipal seja
desconsiderada em relação à questão da exclusão
social. Entretanto, faz-se uma defesa de que, para
que uma proposta de política pública torne-se
estratégica e efetiva, é necessário reconhecer esta
dinâmica territorial, uma vez que o processo de
exclusão social se manifesta territorialmente e
desconsiderar este aspecto significa ignorar a
dimensão territorial das desigualdades sociais.
A Assistência Social, enquanto uma política
social pública, não poderia ficar de fora deste
debate, até porque consolidá-la como uma política
pública e direito social ainda exige transpor muitos
desafios. Seguindo por esse caminho, a IV
Conferência Nacional de Assistência Social,
realizada no final do ano de 2003, trouxe como
principal deliberação a construção e implementação
do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.
Sendo assim, em 2004 foi aprovada a nova Política
Nacional de Assistência Social – PNAS, buscando
incorporar as demandas presentes na sociedade
brasileira referentes à efetivação da Assistência
Social como direito do cidadão e dever do Estado.
Traz como uma de suas inovações o
reconhecimento de que para além das demandas
setoriais e segmentadas, o chão onde se encontra a
população faz diferença no manejo da própria
política, significando considerar as desigualdades
socioterritoriais na sua configuração.
Sendo assim, o SUAS estabelece como base
para sua organização o território. A Assistência
Social como política pública de proteção social
exige a capacidade de maior aproximação possível
do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele que
riscos e vulnerabilidades se constituem. Nesse
sentido, é necessário relacionar as pessoas e seus
territórios, exigindo cada vez mais um
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 21
reconhecimento da dinâmica que se processa no
cotidiano das populações.
Considerando a alta densidade populacional
do País e, ao mesmo tempo, seu alto grau de
heterogeneidade e desigualdade
socioterritorial presentes entre os seus 5.561
municípios, a vertente territorial faz-se
urgente e necessária na Política Nacional de
Assistência Social. Ou seja, o princípio da
homogeneidade por segmentos na definição
de prioridades de serviços, programas e
projetos torna-se insuficiente frente às
demandas de uma realidade marcada pela
alta desigualdade social. Exige-se agregar ao
conhecimento da realidade a dinâmica
demográfica associada à dinâmica
socioterritorial em curso. (MDS/PNAS,
2004, p.37).
A significativa contribuição do território no
planejamento de políticas públicas e, aqui
especificamente, na política de assistência social,
está em possibilitar a compreensão dos problemas
sociais e urbanos na sua totalidade e nas suas
partes, embora muitas vezes, permaneça o hábito
em se realizar análises mais genéricas das questões
sociais e urbanas, fazendo com que as
especificidades territoriais das desigualdades
presentes nas cidades não sejam verificadas,
homogeneizando-se situações e as condições de
vida das populações e dos lugares. Nesse contexto,
é que a análise do território e suas diferentes
realidades são de grande relevância para auxiliar o
planejamento, a gestão e o direcionamento da
política de assistência social.
A Assistência Social, como política pública
de proteção social, exige a capacidade de maior
aproximação possível do cotidiano da vida das
pessoas. Nesse sentido, faz-se necessário relacionar
as pessoas e seus territórios de moradia.
Ou seja, supera-se o modelo baseado em
recortes setoriais, em que tradicionalmente se
fragmentou a política de assistência social, e
afirma-se um novo paradigma para a gestão que
tem como objetivo resolver os problemas concretos
que incidem sobre uma população em determinado
território.
Para cumprir tal objetivo, a PNAS/2004 e a
NOB/SUAS apontam como estratégia territorial
para a assistência social um modelo que prevê
recorte territorial que tenha um universo de até
5000 famílias em situação de vulnerabilidade e que
este território tenha presente uma rede
socioassistencial de serviços locais, definidos pela
PNAS como sendo de proteção social básica7, quais
sejam: Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS, Casa do Brincar, Socialização Infanto-
Juvenil, Programa para Jovens, Grupo de
Convivência para Idosos e ações para pessoas com
deficiência.
Esses serviços socioassistenciais da proteção
social básica devem ser ofertados próximos
da população, garantindo o acolhimento, a
convivência e a socialização de famílias e
indivíduos, considerando a situação de
vulnerabilidade social por eles apresentada.
(CAON E VILAÇA, 2006, p.48).
7 Por política de proteção social básica entende-se todas as ações, serviços, programas e projetos que tenham "como objetivo assegurar direitos e propiciar a construção da autonomia das famílias e de seus membros. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, privação (ausência de renda e acesso aos serviços públicos precário ou nulo, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social (discriminação etária, étnica, de gênero e por deficiência, dentre outros)" (MDS/PNAS, p. 50).
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 22
Vale ressaltar que a PNAS/2004, para
viabilizar esta proposta, prevê a criação de unidades
públicas municipais, que são os CRAS, competindo
a estes articular a rede de proteção social, bem
como ser a principal porta de entrada para o SUAS.
Sendo assim, cada territorialidade definida deverá
ter obrigatoriamente um CRAS, com um raio de
abrangência de até 5000 famílias, atuando nesta
localidade em conjunto com os outros serviços da
proteção social básica, de forma a prevenir
situações de risco social.
Pensar no planejamento da cidade a partir de
uma divisão territorial significa um importante
salto, uma vez que tradicionalmente lidamos com a
fragmentação das cidades brasileiras, muitas vezes
segundo a designação de cada departamento,
secretaria, gerência, entre outras formas de
organizações municipais. A divisão territorial
possui um processo que vai além do aspecto técnico
e administrativo, mas também possui um aspecto
humano e cultural. Quanto mais se conhece sobre o
território, maiores são as possibilidades de se
intervir no mesmo. Quanto menos dispersas as
informações, maiores são as chances de serem
comparadas e representarem uma visão de
totalidade da cidade.
Para finalizar, confirma-se aqui que a
motivação básica para os estudos sobre o Território
dentro da Política de Assistência Social, é
contribuir para a disseminação e amadurecimento
da discussão deste tema, proporcionando incentivos
e subsídios para estruturações de planejamentos
mais estratégicos e eficazes, reconhecer a
importância da caracterização do território para a
estruturação do Sistema Único de Assistência
Social, para seu planejamento e gestão, como
também destacar o Território como espaço de
expressão da cidadania e da conquista dos direitos
sociais, acreditando que qualquer política pública
que se disponha a combater as desigualdades
sociais deve levar em conta sua expressão
territorial.
BIBLIOGRAFIA
BELO HORIZONTE. Pra ninguém ficar de fora.
Belo Horizonte: Secretaria Municipal de
Assistência Social, 2001.
BRASIL, Flávia de Paula Duque. Território e
territorialidades nas políticas sociais.In:
CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira e COSTA,
Bruno Lazzaroti Diniz (org). Gestão social: o que
há de novo? Belo Horizonte: Fundação João
Pinheiro, v.1, 2004. 2v.:il.
BRASIL. MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
FOME. Norma Operacional Básica da
Assistência Social. Brasília: MDS, Secretaria de
Assistência Social, 2005.
BRASIL. MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
FOME. Política Nacional de Assistência Social.
Brasília: MDS, Secretaria de Assistência Social,
2005.
CALDEIRA, Renata Silva Daniel. Planejamento
da política pública de assistência social em Belo
Horizonte a partir do território. Belo Horizonte.
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro,
2004. (Monografia).
CAON, Ana Rogéria Vitório; VILAÇA, Darci
Maria de Sousa. A assistência social e a expansão
da proteção social básica em Belo Horizonte.
Revista Política Social, Belo Horizonte, nº 16,
Outubro/Dezembro de 2006.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 38 p. 23
KOGA, Dirce. Medidas de Cidades: entre
territórios de vida e territórios vividos. São
Paulo: Cortez, 2003.
LEMOS, Maurício Borges. Territorialidade e
política social. Revista Política Social, Belo
Horizonte, nº 0, Julho/Agosto de 2001.
MARQUES, Eduardo; TORRES, Haroldo (Org.).
São Paulo: segregação, pobreza e desigualdades
sociais. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005.
PINHEIRO, Márcia Maria Biondi; ROCHA,
Rosilene Cristina. Política de assistência social: o
momento atual de consolidação no Brasil. In:
CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira e COSTA,
Bruno Lazzaroti Diniz (org). Gestão social: o que
há de novo? Belo Horizonte: Fundação João
Pinheiro, v.1, 2004. 2v.:il.
ROLNIK, Raquel. Instrumentos Urbanísticos:
concepção e gestão. Belo Horizonte, Mimeo, 2000.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 28 p. 24
A metodologia de trabalho social com Famílias na proteção social especial
ELABORAÇÃO Lúcio Luiz Toletino* APRESENTAÇÃO o objetivo deste artigo é apontar algumas das principais idéias e conceitos que estruturam a metodologia do trabalho social com famílias na proteção social especial. As políticas públicas de proteção social especial têm sido planejadas e implementadas, ao longo da última década, com centralidade na família, conforme diretriz da Política Nacional de Assistência Social. Em Belo Horizonte, os serviços e programas destinados a crianças e adolescentes com direitos violados desenvolveram um “saber fazer”, ou seja, um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos, que se filiam ao campo de trabalho social com famílias. Este conhecimento sistematizado a partir da prática inaugural dos serviços, associado à contribuição do conhecimento acadêmico e de “militantes” do campo dos direitos da criança e do adolescente, configura-se na atualidade como uma proposta metodológica de profunda relevância para as políticas públicas de proteção especial no campo da assistência social
* Sociólogo pela UFMG, Coordenador do Serviço de Orientação Sócio Familiar - SOSF da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte.
O arcabouço teórico-metodológico das
políticas de proteção social especial, localizada
institucionalmente dentro do campo da assistência
social, se estruturou ao longo da última década8, em
um contexto de mudança de paradigmas nas
concepções de “atendimento” e de
“acompanhamento” de crianças e adolescentes
vítimas de violação de direitos. Em consonância
com o processo de constituição do Estado de
Direito no Brasil, o ECA se configurou como o
principal marco legal que possibilitou o
reconhecimento de crianças e adolescentes como
sujeitos de direito, dentre os quais o direito à
convivência familiar, à convivência comunitária e à
proteção. Antes dele, não havia um construto
jurídico voltado para este público que possibilitasse
a implementação de políticas públicas realmente
voltadas para a garantia de direitos. Pelo contrário,
baseado no antigo Código de Menores, o Estado e a
sociedade brasileira estigmatizavam crianças e
adolescentes, denominadas “menores” em “situação
irregular” e suas famílias de origem. As políticas
públicas se estruturavam através de procedimentos
individualizados, de práticas correcionais e através
da desqualificação da família, em intervenções
institucionais de cunho moral e repressivo. Em
geral, qualificavam a família de crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e/ou
social como grupo incapaz de cumprir sua função
de “educar” seus membros crianças e adolescentes.
Cabia ao Estado, então, assumir tais “menores”,
segregando-os de suas famílias. Com a mudança
8 A implantação do Programa de Famílias, do Miguilim-CEDAFAC e do Programa Crescer, em 1997, ilustra a adoção deste fundamento na estruturação de serviços da proteção social especial em Belo Horizonte. Em 2002, estes programas foram unificados na criação do SOSF- Serviço de orientação, apoio e proteção sociofamiliar.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 28 p. 25
paradigmática do início dos anos 80 e 90, o
contexto familiar, social, político e econômico
passou a ser considerado no planejamento e
implementação de políticas públicas de
acompanhamento sociofamiliar, nas quais o Estado,
a sociedade e a família são compreendidos como
agentes co-responsáveis em oferecer condições
adequadas para a garantia dos direitos de crianças e
dos adolescentes. O trabalho social com famílias se
torna central para tais políticas, passando o grupo
familiar a ser abordado como lugar primordial de
pertencimento, de identificação e de proteção.
Mas o que particulariza o trabalho social
com famílias na proteção social especial? Como
definido na Política Nacional da Assistência Social,
a proteção especial é
“a modalidade de atendimento assistencial
destinada a famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e
social, por ocorrência de abandono, maus
tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual,
uso de substâncias psicoativas, cumprimento
de medidas sócio-educativas, situação de rua,
situação de trabalho infantil, entre
outras”.(BRASIL P., 2005, p.37).
Diferentemente das políticas públicas de
proteção básica, a proteção especial lida com
situações de violação de direitos, em famílias nas
quais os vínculos se fragilizaram ou mesmo se
romperam, exigindo assim atendimento com maior
estruturação técnico-operacional e atenção
especializada e mais individualizada, bem como de
acompanhamento sistemático e monitorado
(PNAS;2004). Se a proteção social básica tem
como objetivo a prevenção de situações que possam
se instaurar em decorrência de vulnerabilidades
sociais, o trabalho social com famílias na proteção
especial se desenvolve a partir do momento em que
o risco deixa de ser potencial e se concretiza.
O planejamento das intervenções no trabalho
social com famílias nos serviços da proteção social
especial visam a reorganização do grupo familiar
para que este possa proteger seus membros mais
vulneráveis. Frente à complexidade decorrente da
infinidade de possíveis arranjos familiares, faz-se
necessário o planejamento das intervenções,
partindo de um referencial metodológico adequado.
Ou seja, a metodologia de trabalho social com
famílias deve permitir a compreensão dos arranjos
sempre sui generis das famílias, e, ao mesmo
tempo, possibilitar a organização do trabalho a ser
desenvolvido, constituindo-se como uma “caixa de
ferramentas” a ser utilizada de acordo com a
demanda. Sem a flexibilidade metodológica, as
intervenções podem violar a autonomia e a
independência da família; por outro lado, sem a
delimitação e sustentação das ações por uma
proposta metodológica, o trabalho tende a se
desorganizar ao longo do processo de
acompanhamento, como, também, a concorrer e se
confundir com as demais políticas sociais.
Destacamos, na seqüência, algumas idéias que
compõem a metodologia do trabalho social com
famílias na proteção social especial.
As concepções jurídicas de família, ao
enfatizarem os vínculos de filiação, de guarda legal
e de responsabilidades civis com crianças e
adolescentes, são importantes para a dimensão
normativa do trabalho social com famílias na
proteção especial. Porém, a ampliação dessas
acepções através de uma leitura sócio-antropológica
potencializa as possibilidades de intervenção junto
ao público alvo dos serviços: “a família é um grupo
de pessoas, vinculadas por laços consangüíneos, de
aliança e afinidade, onde os vínculos circunscrevem
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 28 p. 26
obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em
torno de relações de geração e de gênero”. 9
Destacam-se, seja na concepção jurídica, seja
na sócio-antropológica de família, a noção de
“vínculos familiares”. A família pode ser pensada
como “uma rede de vínculos que promove o
cuidado, a socialização, o afeto e a proteção de suas
crianças e adolescentes”.10 Uma vez que as
implicações afetivas e emocionais se compõem
como elementos centrais para a função protetiva
dos grupos familiares, a acepção de vínculo no
âmbito psicológico é fundamental para o trabalho
social com famílias na proteção especial. No
processo de acompanhamento sociofamiliar, deve-
se atentar para a maneira como as relações se
estabelecem, calcadas “sobre alguma forma de
apoio, identificação e/ou transferência”.11 O
fortalecimento destes vínculos internos ao grupo
familiar demanda a compreensão de que estes
influenciam e sofrem influências dos vínculos
externos ao grupo, ou seja, com a comunidade e, de
forma mais ampla, com a sociedade. Assim,
proposto, centrado no fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, o trabalho social com
famílias na proteção social especial pode ser lido
como um instrumento de garantia de direitos das
famílias e de seus membros, pois, se motivos
associados ao contexto econômico, social e político,
9 - MDS. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. Brasília, (mimeo), 2005. 10 - PBH. Proposta para metodologia de trabalho com famílias e grupos de família no eixo orientação – SOSF/PBH. Consultora Maria Lúcia M. Afonso Belo Horizonte, (mimeo.): 2005. 11 - Sobre o vínculo no âmbito psicológico, Afonso destaca que se deve analisar “os componentes do vínculo enquanto uma relação que implica escolhas conscientes e inconscientes, que pode ser de apoio e/ou de identificação, que delimita um apego e que requer investimento psíquico,e, por fim, que pode ser também entendida através do conceito de transferência”; In: PBH, Proposta para metodologia de trabalho com famílias e grupos de famílias no eixo orientação – SOSF/PBH. Consultora Maria Lúcia M. Afonso, Belo Horizonte, (mimeo): 2005.
nos quais estas se inserem, induzem a violações de
direitos, cabe ao Estado ofertar serviços que,
tratando a família como protagonista de um projeto
de mudança, possibilite a sua reorganização
enquanto grupo.
A metodologia de trabalho com famílias na
proteção especial deve contemplar os eixos apoio,
proteção e orientação ao grupo familiar. O eixo
apoio visa oferecer condições materiais para que a
função protetiva da família possa ser fortalecida.
Conforme premissa da Política Nacional da
Assistência Social, para que a família possa
“prevenir, proteger, promover e incluir seus
membros, é necessário, em primeiro lugar, garantir
condições de sustentabilidade para tal” (PNAS; p.
41). O eixo proteção visa garantir acesso das
famílias à rede de bens e serviços governamentais e
não-governamentais para potencializá-la e,
consequentemente, proteger-se enquanto grupo,
frente às vulnerabilidades sociais. Este eixo também
pressupõe a interlocução contínua com os
Conselhos Tutelares, com o Juizado da Infância e
da Juventude e Ministério Público para
intervenções em situações persistentes de risco que
exijam outras medidas protetivas. O eixo
orientação, por sua vez, diz respeito à dimensão
sócio-reparadora do trabalho social com famílias.
Neste eixo, para o planejamento das intervenções é
necessário compreender a dinâmica da família, seus
valores e crenças, sua organização cotidiana, suas
práticas relacionadas aos cuidados e à proteção de
seus membros mais vulneráveis. É também
fundamental analisar a forma como os vínculos
familiares e comunitários se constituem, para que as
intervenções possam sustentar os objetivos mais
específicos da proteção especial, a saber, a
superação das situações de risco e das violações de
direitos através do fortalecimento da função
protetiva do grupo familiar.
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 28 p. 27
A metodologia de trabalho social com
famílias se estrutura através da análise de três
dimensões que se interseccionam na dinâmica dos
grupos familiares: a sócio-estrutural, a funcional e a
relacional. Tais dimensões correspondem,
respectivamente, à dimensão sócio-econômica do
grupo e à inclusão de seus membros na rede de
atendimento socioassistencial; à organização do
cotidiano, ou seja, às atribuições dos membros e ao
exercício dos papéis e das funções destes na
dinâmica do grupo; e, ao conjunto de vínculos da
família, entendida como rede de relações.12 Trata-
se, portanto, de uma metodologia de intervenção
baseada na necessidade de construção mútua entre
sujeitos e sociedade, uma vez que a superação da
situação de risco pressupõe a consolidação de novas
práticas ao longo do acompanhamento na proteção
social especial. Ao considerar os diferentes
elementos de cada uma destas dimensões e
estruturar a intervenção em aspectos sócio-
culturais, relações interpessoais e, também, na
abordagem de sujeitos e grupos, o trabalho social
com famílias na proteção especial se configura
como intervenção psicossocial.
Mas, frente à complexidade da organização
de qualquer grupo familiar, e, em especial, daqueles
com os quais a proteção especial propõe um projeto
de transformação e adaptação de práticas
cotidianas, como planejar as intervenções do
trabalho social a ser desenvolvido? Um primeiro
passo é, certamente, o acolhimento institucional
cuidadoso. Este deve dar sustentação ao processo
transferencial, através do qual se tem acesso aos
elementos subjetivos e objetivos que nortearão o
trabalho a ser desenvolvido com a família.
Como proposta de planejamento das
intervenções, a dialética do “foco” e do “campo”
fundamenta a organização do acompanhamento
sistemático aos grupos familiares. Na proteção
12 AFONSO; 2005; p. 43.
especial, o “foco” diz respeito aos motivos que
levam as famílias aos serviços e aos objetivos das
intervenções. Assim, se uma criança é vítima de
violência física, o “foco” é a própria violação e os
fatores identificados como provocadores desta. O
“campo”, por sua vez, diz respeito ao conjunto das
relações familiares: no exemplo citado, a análise de
fatores como relações de gênero, sexualidade e
capital cultural podem ser fundamentais para a
compreensão da instauração da violência na
dinâmica familiar, bem como para o planejamento
das intervenções.
A metodologia de trabalho com famílias é
desenvolvida através de um conjunto de atividades,
às quais se deve recorrer de acordo com a demanda
do acompanhamento sociofamiliar. A Política
Nacional de Assistência Social parte do pressuposto
de que a proteção especial requer atendimentos
individualizados e flexibilidade nas soluções
protetivas. Os atendimentos individualizados visam
trabalhar as relações familiares em suas
singularidades, compreender como os membros se
afirmam como sujeitos na organização do grupo e
como interagem com o contexto social em que
vivem. Essa atividade face a face é fundamental
para a identificação de limites e potencialidades
individuais e grupais a serem trabalhadas ao longo
do acompanhamento.
A visita domiciliar é uma ação importante
para a compreensão do contexto comunitário, das
condições de moradia e da organização doméstica
do grupo familiar. Entretanto, devem ocorrer de
acordo com a demanda do acompanhamento,
através de pactuação com a família, seja com
marcação prévia seja sem esta previsibilidade, ao
que não corresponde dizer sem a autorização do
grupo familiar.
O trabalho com grupos e redes sociais, por
sua vez, “busca oferecer uma metodologia
participativa que promova os vínculos familiares e
SUAS BH Online, Belo Horizonte, n 1, v 2, 2007, 28 p. 28
comunitários, e a reflexão sobre a sua organização,
suas relações internas e externas, dentro de um
contexto sócio-cultural”. É uma das atividades que
permitem trabalhar as relações interpessoais. Como
abordagem psicossocial, equivale ao trabalho com
“valores, representações, práticas e identidades
sociais, propiciando uma reflexividade sobre a
experiência e a maneira de compreendê-la dentro e
a partir das relações de socialidade”13. Já as
atividades sócio-educativas são importantes para se
trabalhar os vínculos familiares a partir das
representações sociais, podendo-se, para isso,
recorrer a temas diversos, avaliados como
relevantes para o trabalho que se propõe.
Uma última questão importante se refere à
natureza eminentemente intersetorial e
interinstitucional do trabalho social com famílias na
proteção especial. Esta requer reuniões com a rede
socioassistencial e com as instituições de defesa dos
direitos da criança e do adolescente. As ações
articuladas com outras políticas sociais, como
Saúde e Educação, e com os órgãos
encaminhadores são fundamentais para
potencializar a superação da situação de risco, de
acordo com a demanda do acompanhamento
sociofamiliar. São importantes também para que o
grupo familiar não seja submetido a intervenções
antagônicas, o que pode comprometer os objetivos
das ações propostas.
III.
A metodologia de trabalho social com
famílias na proteção social especial, organizada em
torno da matricialidade familiar e dos conceitos e
idéias propostos acima, visa dar sustentabilidade às
intervenções junto aos grupos familiares. O
objetivo das intervenções, em termos gerais, pode
13 AFONSO, Maria Lúcia M. Proposta para metodologia de trabalho com famílias e grupos de família no eixo orientação – SOSF/PBH. Belo Horizonte, [ (mimeo.), 2005.
ser destacado como o fortalecimento da função
protetiva da família. Entretanto, para que o trabalho
atinja este objetivo, é necessário compreender as
particularidades da dinâmica familiar, organizada
em arranjos sempre sui generis, identificando e
analisando os elementos que compõem as
dimensões funcional, relacional e sócio-estrutural
destes.
As intervenções junto aos grupos familiares
exigem que o profissional tenha o máximo de
clareza possível quanto ao “foco” do trabalho a ser
desenvolvido, procurando compreender a interação
dialética deste com o “campo” das relações
familiares. O trabalho social com famílias encontra
nesta dialética, do “foco” e do “campo”, a
possibilidade de organização das percepções acerca
das especificidades dos vínculos, das
vulnerabilidades e dos riscos pessoais/sociais em
cada família, bem como permite estruturar as
intervenções através de pontos a serem sustentados
e, também, pontos que requerem articulação com
outras políticas sociais.
Por fim, destacamos que se, por um lado, o
planejamento das intervenções e a sustentação
destas por uma metodologia adequada à natureza
das ações propostas é imprescindível, por outro é
preciso estar atento ao imperativo de constante
construção e reconstrução das intervenções ao
longo do acompanhamento, pois a realidade
imposta pela natureza singular de cada caso exige
tanto das famílias quanto dos profissionais
envolvidos no processo de acompanhamento
sociofamiliar, flexibilizações e adaptações
fundamentais para que os objetivos das ações
propostas possam ser alcançados.
Referências Bibliográficas:
BRASIL.. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. Brasília: [MDS], 2005.