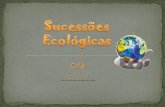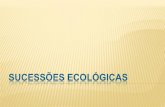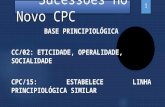Sucessões..
-
Upload
tereza-morgado -
Category
Documents
-
view
198 -
download
0
Transcript of Sucessões..
Sucesses. O livro V dedica-se ao direito das sucesses. Estuda o instituto da sucesso. Todos morrem: s resta saber quando. Ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi ius sucessionis. Sem um ramo que tutelasse a situao jurdica que surge com a morte de algum instalar-se-ia o caos. Compreende quatro ttulos: sucesses em geral; sucesso legtima; sucesso legitimria; testamentria. A contratual no tem autonomia. A sucesso contratual excepcional. No se encontram muitos exemplos no CC. O 1700-1707 tem o grosso dessa regulao. O 2024 d uma noo de sucesso. In ius omni definitio periculosa est. Diz-se que o chamamento de uma ou mais pessoas a preencher um vazio jurdico. No h no direito continental direitos sem sujeito. Os bens tm de ser atribudos a algum. No h perodo de vazio, porque a aceitao tem efeitos retroactivos. um ramo de direito que v a morte como um facto que gera problemas carecidos de soluo. Mas a pessoa pode continuar aps a sua morte, atravs da sucesso. O direito das sucesses d uma ideia de continuidade. Quando a pessoa morre, as suas situaes jurdicas no ficam sem titular. Fala-se de sucesso mortis causa. Aqui, a morte um facto principal, no se trata de uma situao com condio suspensiva (em que a morte seria acessria). Pode haver contratos como finalidade sucessria mas que, formalmente, no tm a morte como causa. Estes no so regulados pelo direito das sucesses. O direito das sucesses no regula a extino de pessoas colectivas, apenas a sucesso por morte de uma pessoa singular. As pessoas colectivas podem herdar (2033/1, que reconhece capacidade sucessria geral ao prprio Estado; 2033/2/b)). O conceito de sucesso traduzir-se-ia numa aquisio derivada translativa (Pamplona Corte Real). A situao jurdica no se origina com a morte. JDP afastou-se desta definio. A ideia no traduz tudo. Se A constituir por testamento usufruto a favor de B, esta situao constituir-se- no momento da morte: aquisio derivada constitutiva. Assim, define como uma aquisio por morte de uma liberdade ou vinculao (activo ou passivo) custa do patrimnio do falecido. H vrias figuras que tm finalidades sucessrias, mas que no se enquadram no conceito. O seguro de vida, p. ex., no custa do patrimnio do falecido. um contrato a favor de terceiro, mas o valor pago pela seguradora. A penso de sobrevivncia no paga pela herana, mas pelo Estado. mbito da sucesso. H situaes jurdicas que cessam com a morte. A lei parece definir sucesso com base em critrios patrimoniais (2024). As situaes jurdicas de carcter pessoal no se transmitiriam. Ora, e os direitos de personalidade? H vozes dizendo que se transmitem (Capelo de Sousa). De todo o modo, a distino no clara. O direito imagem, tendo vertente pessoal forte, tem tambm vertente patrimonial (veja-se o caso dos jogadores de futebol, actores, etc.). Na Alemanha, houve decises importantes sobre este problema. Apesar de, em geral, no se transmitirem situaes jurdicas pessoais, h casos de fronteira. Tambm fora do mbito sucessrio est o testamento vital (documento no qual se indica que no se quer ser reanimado), porque no traduz uma situao mortis causa, mas um acto inter vivos susceptvel de contribuir para a morte. Tambm as disposies em que se diz qual o destino a dar aos rgos: no diz respeito determinao e destino de uma coisa mortis causa, porque o cadver algo fora do comrcio jurdico. O 2024 diz que no so objecto do direito das sucesses situaes jurdicas patrimoniais que se extingam como a morte do seu titular: usufruto (1476/1/a)); direito de uso e habitao, pelo seu carcter; direito de alimentos, porque quem precisa dos alimentos uma pessoa viva; deveres conjugais ou paternofiliais de assistncia. Tambm as situaes jurdicas que se extinguem no por fora da sua natureza mas por fora da lei (aquelas por normas injuntivas; estas por normas supletivas). Tambm as situaes que foram tidas
como intransmissveis pelas partes (p. ex., sujeio do proponente em caso de proposta contratual). Ser que quando uma pessoa morre os familiares tm direito a indemnizao? Sim, pelo desgosto, p. ex. A prpria pessoa que quase morrer. Essa indemnizao at pode ser pela prpria morte. JDP aceita esta ideia. Mas a indemnizao no atribuda no momento da verificao do dano? JDP diz que, no fundo, a indemnizao no necessariamente atribuda nesse momento. Pode haver danos futuros. Em geral, quando uma pessoa perde familiar prximo, isso susceptvel de indemnizao. A prpria pessoa que percebe que vai morrer sofre. Essa indemnizao pode ser-lhe atribuda e transmitida por via sucessria. Menezes Cordeiro diz que isso se d pelas regras sucessrias normais. Outros dizem que se d atravs de regras especiais: sucesso anmala. Contrape-se comum. A anmala ser, p. ex., os direitos que o unido de facto sobrevivo tem, j que no herdeiro. A prpria morte (e no o sofrimento): poder ser indemnizada? JDP, como vimos, defende hoje que sim. Espcies de sucesso e sucessveis. A sucesso legtima supletiva. As pessoas podem dispor de parte do seu patrimnio em testamento. A parte que no regulada no fica sem destino: a lei diz o que acontece. Opera na ausncia de vontade expressa vlida e eficazmente pelo de cuius. Tem como beneficirios o cnjuge e ascendentes, descendentes, parentes mais prximos e Estado. H ligao bvia entre o direito da famlia e o direito das sucesses. Na dvida, vai para a famlia. A legitimria (2157) uma reserva de bens em que o de cuius no pode tocar. injuntiva. atribuda ao cnjuge, descendentes e ascendentes. Os pais tm importncia muito grande. Em Frana, porm, retirou-se a capacidade sucessria aos ascendentes. A voluntria (contratual ou testamentria). Porque s haver autonomia sucessria do testamento? O direito das sucesses continua agrilhoado ao direito romano. O pater nomeava o seu sucessor em testamento: era uma questo poltica. A importncia que tinha no direito romano a que ainda hoje se lhe d. Na idade mdia admitia-se os pactos sucessrios, dada a influncia germnica. Mas com o renascimento do direito romano, veio-se dizer que os pactos s eram vlidos em contratos matrimoniais. A justificao histrica. Mas h pases que vo permitindo contratos sobre sucesses, aumentando a autonomia contratual no direito das sucesses. H uma hierarquia: legitimria, contratual (pacta sunt servanda), testamento (porque unilateral); legtima (porque supletiva). Uns revogam os outros. Herdeiro e legatrio so coisas distintas. No direito romano, o herdeiro era o continuador pessoal do pater. Este tem de pagar dvidas. J o legatrio, porque s recebe um bem, no pagava. A lei distingue: herdeiro aquele que recebe uma quota ou totalidade do patrimnio (mesmo que seja 1/1 000 000 da herana). Quem recebe bem determinado legatrio. Isto vem da associao que se faz entre a pessoa (alma) e o seu patrimnio. Quem d quota, d um pedao da sua alma, dizia-se. Na sucesso voluntria pode haver herdeiro e legatrio; na legal pode haver legatrio, embora regra geral haja herdeiros. Sucesso pode ser comum ou anmala (regras especiais). Ao contrrio do direito da famlia, o direito das sucesses ficou imvel. Da surgem dificuldades: o direito das sucesses pensado em funo da riqueza imobiliria, embora hoje a riqueza mobiliria tneha tanta importncia como a outra (sobretudo desde a revoluo industrial). O direito das sucesses ignora certas figuras que tm funes sucessrias (seguro de vida, doao com reserva de usufruto, etc.). O direito das sucesses admite a autonomia privada de forma muito restrita: no admite largamente o pacto sucessrio e tem muitas regras injuntivas. A rigidez deste ramo jurdico a circunstncia de estar pensado como se a famlia fosse s a conjugal, de os filhos receberem todos a mesma coisa (ser justo?). JDP diz que a renovao j comeou, mas no no direito portugus.
Conexes entre o direito das sucesses e o da famlia so bvias. Diogo Leite de Campos defende uma reconduo deste quele. Mas se A fizer testamento, pode nomear quem quiser, no necessariamente os seus familiares. O direito das sucesses caracterizado por tradicionalismo tcnico (todo o direito das sucesses se reconduz ao confronto entre as ideias de proteco da famlia germnica e a legitimidade testamentria romana). Diz-se que o direito das sucesses o latim ou a matemtica do direito privado. A situao jurdica tpica do direito das sucesses o direito de suceder, direito subjectivo potestativo. Esgota-se no momento do seu exerccio. No aceita condies ou termos. Sucessvel quem tem ttulo designativo a seu favor. H ttulos negociais e no negociais. Algum chamado sucesso atravs desses ttulos. Os negociais so o testamento e o pacto sucessrio; os no negociais so circunstncias relevadas pela lei (relao de parentesco, cidadania, casamento, unio de facto, economia comum). Assentam em relaes jurdicas familiares ou para-familiares e no vnculo de cidadania. O ttulo designativo no negocial contemplado por lei. Quando a sucesso se funda na lei, legal. Esta pode ser legtima ou legitimria. Se tiver por base ttulo negocial, ser testamentria ou contratual. O 2026 diz que a sucesso definida por lei, testamento ou contrato. O 2027 concretiza a diferena entre sucesso legtima (supletiva s funciona se no operar outra) e legitimria. Uma pessoa pode ser herdeira ou legatria (critrio do objecto deixado). Se A deixa herana a B, este herdeiro; se deixar bem concreto, legatrio (2030). O 2030 fala das espcies de sucessores. Sucessor quem chamado sucesso e aceita (o sucessvel ainda no aceitou). O 2030/2 diz que herdeiro quem sucede numa quota ou totalidade do patrimnio do de cuius. A deixa a B 20/ da herana, institui herdeiro. Se deixa a casa de Lisboa, nomeia legatrio. bem concreto e determinado. O herdeiro tem vocao universal, ampla. O 2030/2 diz que havido como herdeiro quem for sucessor do remanescente do patrimnio do de cuius. A lgica a da vocao universal. O remanescente tudo o que o de cuius tem data do testamento e (vocao universal) tudo o que tiver adquirido entre esse momento e o da sua morte. A lei salvaguarda a hiptese de haver especificao do de cuius em contrrio. S se qualifica como herdeiro se se identificar a vocao universal. Se se disser deixo o remanescente, que o bem x, ainda h legado. O 2030/4 determina que o usufruturio sempre tido como legatrio. Deixo o usufruto de toda a minha herana a C - nomeao de legatrio. O direito de usufruto muito limitado. O 2030/5: no interessam os termos usados pelo de cuius, s a materialidade subjacente. No passa a ser herdeiro s porque o testador o qualifica assim. No vincula. H tendncia para achar que o herdeiro recebe muito e o legatrio pouco. No necessariamente assim. O legatrio pode receber mais. Tambm no pelo facto de o remanescente ser s um bem que passa a haver legado. O que interessa a inteno do de cuius: se h ou no vocao universal. O 2030/2 deve ser lido como dizendo determinveis. Pode ser uma coisa genrica: deixo a B as minhas coisas imveis. uma categoria que posso concretizar no momento da morte. deixada categoria abstracta de bens, mas concretizvel. H dois casos duvidosos. No caso de herana ex re certa, h deixas dicotomias ou categoriais ou legado por conta da quota. As deixas categoriais tm de esgotar a herana (no pode sobrar nada). Ex.: deixo a A os bens imveis, a B os mveis. A dvida que se coloca se A e B so herdeiros ou legatrios. G. Telles defendeu que se tratava de legatrios, porque esto em causa bens determinveis (2030/2, interpretando como vimos anteriormente). Quem defende que so herdeiros diz que ambas as categoriais funcionam como remanescente da outra (2030/3 herdeiros).
Corte Real e JDP defendem que so herdeiros. Recebem a totalidade da herana e ambos so remanescente do outro. Esto em causa quotas de bens. Outro exemplo: deixo a B os bens presentes e a C os bens futuros. Tambm neste caso JDP e Pamplona sustentam que so herdeiros. O. Ascenso entende que um legatrio (o contemplado com os bens presentes) e o outro herdeiro (o dos bens futuros). Os presentes so limitados (vocao limitada). Os futuros revelam vocao universal (todo e qualquer bem que venha a adquirir at ao momento da morte). A Prof. Paula Barbosa no entende que faa sentido falar em duas categorias diferentes neste caso. No indiferente ser herdeiro ou legatrio. H um conjunto de efeitos que so distintos. Tambm o legado por conta da quota: deixo 1/3 da minha herana e quero que ela seja preenchida com a casa de Lisboa. H uma quota e um legado. Aqui temos duas sub-hipteses. A quota pode valer 100 e a casa 50. O que recebe a pessoa? Qual a inteno do de cuius? Quer deixa 1/3, mas tambm quer destinar aquele bem quela pessoa. Contudo, no se trata de uma soma. O sucessor exige o bem (50) e 50 em dinheiro. Se a quota valer 50 e o legado 100, dada a dupla vontade do de cuius, a pessoa recebe o legado mas herdeiro at ao valor da quota e legatrio no valor em excesso. Tem sempre direito a receber a casa, j que era a vontade do de cuius. Mas se a quota s valia 50, o bem s pagamento da quota at esses 50. No restante considerado legatrio. O que deve prevalecer? Entende-se que prevalece a qualidade de herdeiro, que mais ampla. O ttulo de legatrio consumido pelo de herdeiro. O legado em substituio da quota outro caso problemtico (2163 - 2165). O 2163 um exemplo de legado por conta da quota no mbito da sucesso legitimria. Implica um acordo. O legado em substituio est no 2165. Enquanto que naquele se tem direito quota e ao bem (com aquelas variaes), neste tem de se optar obrigatoriamente. dada ao sucessvel a opo. Relevncia da qualificao. O s dois grandes efeitos-base so a responsabilidade pelo passivo perante credores e o direito de exigir a partilha. O direito de exigir a partilha (2101) cabe, regra geral, ao herdeiro. Os legatrio no o tm, em princpio. Se A deixa a casa x a B e C, eles so legatrios. S atravs de uma aco de diviso de coisa comum podem dividi-la (e no por processo de partilha). Excepes: no podem exigir a partilha o herdeiro universal e o herdeiro do remanescente. O universal recebe toda a herana (no h utilidade). No caso do herdeiro do remanescente tambm no haveria. Tambm na herana ex re certa no existe direito de exigir partilha, igualmente por uma questo de lgica. O usufruturio da quota ou da herana, pelo contrrio, sendo legatrio, pode exigir a partilha. Quer saber quais so os bens sobre que incide o seu usufruto. Responsabilidade externa cabe aos herdeiros (2068). A herana responde pelas despesas a referidas. A parte final refere o cumprimento dos legados. O legado tambm visto como um encargo da herana. O herdeiro ter de pagar aos legatrios. O 2071 tambm trata da responsabilidade pelo passivo. O 2097 e 2098 reforam a ideia. Mas s responde com a herana (at ao limite das fora das herana), no com patrimnio pessoal. Os legatrios no respondem, em regra. H, todavia, excepes (2072; 2276; 2277 e 2278). 2276. O de cuius pode deixar o cumprimento de um encargo ao legatrio. Mas este tem proteco (limites do legado). 2277: se a herana for toda ela distribuda em legado. Os legatrios respondero pelo potencial passivo, na proporo dos seus direitos. 2278: herana no chega para pagar os encargos. A h um certo sacrifcio imposto aos legatrios. Mais uma demonstrao do legado como encargo da herana. Para haver dinheiro suficiente para pagar o passivo, os legatrios so sacrificados na proporo dos
seus legados (recebendo menos do que o previsto). De forma indirecta, so sacrificados. 2072: responsabilidade do usufruturio, que legatrio. Tem de entregar aos herdeiros os meios suficientes para pagar o passivo. S no 2277 que os legatrios respondem externamente, porque no h mais ningum. Nos outros trs casos a responsabilidade interna, relao entre herdeiros e legatrios (direito de regresso). O herdeiro paga aos credores e faz contas com os legatrios. O direito de acrescer, em regra, tambm s cabe aos herdeiros (2137/2). Na sucesso testamentria est previsto nos 2131 e ss. Mas pode funcionar entre legatrios, excepcionalmente (2302). Termo inicial vale para a nomeao de legatrio e no para a instituio de herdeiro (2243). O direito de proteco da memria do falecido cabe aos herdeiros, j que so estes que continuam a vida e patrimnio do de cuius. O princpio da indivisibilidade da vocao tambm s funciona para herdeiros: ou diz que quer ou que no quer. Ou sim para tudo ou no para tudo. A mesma pessoa pode ter vrios ttulos designativos. Pode ser chamado como sucessvel porque casado (sucesso legal), como herdeiro, mas tambm como legatrio testamentrio, por exemplo. A regra que, na sucesso legal, as pessoas so institudas como herdeiras. Mas no caso de unio de facto h exemplo de sucesso legtima anmala (no legitimria porque no est no 2157; no h testamento; o direito atribudo sobre um bem concreto e determinado). O direito de arrendamento para o cnjuge por morte do outro caso de sucesso legitimria anmala. Carvalho Fernandes: resulta do 2154 que o Estado , entre os sucessores legtimos, o nico forado. No tem a faculdade de repudiar, reconhecida aos demais sucessveis. A aquisio hereditria do Estado d-se oper legis. O verdadeiro fundamento da vocao do Estado sucesso assegurar a realizao pela do fim que domina o fenmeno sucessrio: dar destino aos bens das pessoas falecidas sem outros sucessveis legais, evitando que eles fiquem ao abandono. Como se garante a injuntividade da sucesso legitimria? H mecanismos de proteco dos herdeiros legitimrios, como a reduo das liberalidades por inoficiosidade. Primeiro ataca-se o testamento e s depois as doaes. O 2171 no contempla os pactos sucessrios. Mas no quer dizer que eles no esto sujeitos a reduo. O 1705/3 prev a situao. A sucesso contratual prevalece sobre a testamentria, dada a fonte. Ali bilateral; aqui unilateral. Um testamento no prevalece sobre um contrato. Testamento posterior revoga testamento anterior, tambm. A base legal para a irrevogabilidade unilateral do pacto sucessrio vasta. Mas h uma situao prevista na sucesso contratual (que s aceite em conveno antenupcial) em que o pacto sucessrio pode ser revogado por testamento. O pacto sucessrio feito pelos esposados a favor de terceiro em que se reservou a faculdade de livre revogao. A sucesso legtima supletiva (2131), vindo em ltimo lugar. Legitimria. Tem um ttulo prprio no Cdigo Civil. No se confunde com a sucesso legtima. H remisso daquela para algumas regras desta. Mas os herdeiros legtimos no so os mesmos que os legitimrios (cnjuges, descendentes e ascendentes). Na sucesso legtimas ainda so chamados outros. H mais sucessveis legtimos do que legitimrios. A sucesso legitimria tem um conjunto de mecanismos de proteco dos herdeiros, nomeadamente a reduo. Ademais, quando se calcula a herana no se trata s das situaes jurdicas que pessoa tinha quando morreu, mas tambm das doaes que fez em vida. De outra forma, uma pessoa poderia desbaratar o seu patrimnio, esvaziando a herana. A sucesso legitimria a mais importante. Pelo menos os familiares mais prximos recebem grande fraco da herana. a coluna vertebral do sistema sucessrio.
Os legitimrios (2157) so o cnjuge, ascendentes e descendentes, pela ordem e segundo as regras da sucesso legtima (por remisso). H trs regras: princpio da diviso por cabea; princpio da preferncia de classe e preferncia do grau de parentesco. Preferncia de classe (2134). H vrias classes de sucessveis. No passamos para a alnea b) sem ver se existem as pessoas da alnea a) e se aceitam. Os parentes mais prximos so chamados em primeiro lugar (preferncia do grau de parentesco 2135). Esta preferncia opera dentro de cada uma das classes. O princpio da diviso por cabea (2136): a herana dividida por todas as pessoas que forem chamadas. Os sucessveis da primeira classe e de parentesco mais prximo so os sucessveis prioritrios. O 2156 fala da legtima (quota indisponvel ou herana legitimria). No sempre igual: varia entre 1/3 e 2/3. Ser de 1/3 quando os legitimrios chamados sejam ascendentes do 2 grau da linha recta ou mais afastados (2168) e parentes no 2 grau da linha colateral (2161). Ser de quando s sobrar um progenitor, s um descendente ou s o cnjuge. Ser de 2/3 quando sobrarem cnjuge e descendentes (situao mais comum). A proteco da famlia prevalece sobre a liberdade do de cujus. A quota disponvel a que o de cujus pode determinar por testamento ou pacto sucessrio. Na pgina 236 do Manual, JDP apresenta um esquema de resoluo de hipteses. A primeira coisa saber se h herdeiros legitimrios. Se no existirem, no se contam as doaes. Depois de calcular o valor total da herana, determinados a quota indisponvel. Sobre a quota disponvel. Depois de saber qual a quota indisponvel, dividimo-la por cabea. H excepes. O cnjuge considerado como o que mais precisa de proteco. o que tem mais idade, em mdia, que j no trabalha, etc. O cnjuge tem posio privilegiada. Tem de ter sempre da herana. Num caso em que h 4 filhos nota-se o privilgio. Da QI d-se ao cnjuge e o resto dividido pelos filhos. Quando concorre com ascendentes, recebe 2/5. beneficiado. Os direitos atribudos ao cnjuge na herana no tm a ver com o regime de bens. No est sujeita colao. Tem direito de ser encabeado na casa de morada de famlia e direito de uso do respectivo recheio. O Prof. Corte Real critica isto. O cnjuge sobrevivo , para todos os efeitos, o herdeiro legitimrio prioritrio. Quando se fez o Cdigo Civil partiu-se do princpio que se trataria de uma viva. Hoje j no faz sentido essa viso. Clculo da herana. O valor total da herana (VTH) igual aos bens que a pessoa tinha quando morreu, mais os bens que doou quando vivia, menos o passivo (2162/1): Relictum (R) + Donatum (D) + Passivo (P) = VTH. Os bens deixados em testamento e pacto sucessrio fazem parte do R. Nunca se lhe somam. Quando uma pessoa morre, sendo casada, poder ter bens comuns. O R o conjunto dos bens prprios mais a sua meao nos bens comuns, aps a partilha. O D engloba as doaes em vida e as despesas sujeitas a colao. O 2110 diz quais so. O 2109/1 diz que o valor dos bens doados o que tm na data da morte. O 2162/2 diz que no so contabilizados nas doaes os bens perecidos por causa no imputvel ao donatrio. O P (2068), com excepo dos legados (que esto no R), integra todas as despesas com o funeral, encargos com a testamentaria, administrao e liquidao de patrimnio, dvidas do falecido, etc. A primeira coisa a fazer um esquema do enunciado. A casado com B, tendo ambos C como filho. A morreu. A tinha doado inter vivos o bem x a T. Tinha feito um testamento em que deixou a M o bem y. O bem x valia 15 na data da doao, mas 10 no momento da morte. Interessa este valor. O y valia 10. O R era 90. O P era 10. O VTH igual a R (90) + D (10) P (10) = 90. Este clculo feito nos termos do 2162. Para saber quais os legitimrios, o 2132/a), 2134 para preferncia de classe, 2136 para diviso por cabea (tudo por remisso do 2157).
A QI resulta do 2159/1: a legtima dos cnjuges e descendentes, em caso de concurso, de 2/3. 90 * 2/3 = 60. A QD a diferena entre o VTH e a QI (30). A seguir faz-se o mapa da partilha (um quadro): Personagens QI (60) QD (30) B 30 10 C 30 10 T M 10 T e M no recebem na QI. A QI divide-se por cabea (60/2=30). No houve sucesso contratual. Houve testamento. M recebe 10. Sobra 20. Abrimos a sucesso legtima. Chamamos o cnjuge e os filhos, dividindo por cabea (20/2=10). Consoante as modalidades de sucesso, tambm se far um clculo diferente. Quando no h legitimria no se contam as doaes. A herana (2068) o R menos o P. Alteremos o caso. Em vez de ser o bem y para M, era 1/10 da herana. 1/10 9. mas aqui faz-se um clculo parte. VTH testamentria igual a R P (90-10). D 80. Um dcimo de 80 8. O M passava a receber 8. Era preciso saber qual a herana testamentria (2068). Isto assim mesmo que haja legitimria: um clculo sempre parte. H uma situao em que o cnjuge recebe mais do que os filhos: quando concorre com mais de 3. No novo caso o R 180; o D 20 e o P 20. C e D eram casados. Ficou o cnjuge mais 4 filhos (1, 2, 3 e 4). O VTH 180. 2/3 de 180 120 (QI). Personagens QI (120) QD (60) C 30 15 1 22,5 11,25 2 22,5 11,25 3 22,5 11,25 4 22,5 11,25 A lei (2139/1, 2 parte) diz que o cnjuge nunca pode receber menos do que da herana (legtima ou legitimria). O cnjuge ficava com 30 (1/4 de 120). Sobra 90, a dividir por 4 (22,5, diviso por cabea). Os filhos recebem menos do que o cnjuge. No h sucesso contratual nem testamentria. Abre-se a legtima. O 2139/1 aplica-se por remisso legitimria e directamente legtima. 60/4=15 para C. Os outros 45 dividiam-se por 4 (11,25). O cnjuge quem recebe mais. Imputao de liberalidades. Enquadramento de uma certa liberalidade na quota indisponvel ou disponvel, desconto. Tratando-se de um terceiro, imputada na quota disponvel, porque no tm direito a mais nada. Tratando-se de legitimrio prioritrio, j que tem direito na quota indisponvel e, possivelmente, na quota disponvel, podem ser imputadas na quota indisponvel ou na disponvel. Atende-se, para decidir, vontade do de cuius e ao tipo de liberalidades. Liberalidades feitas em via a legitimrios prioritrios (doaes) so vistas em regra como antecipao do quinho hereditrio, sendo descontadas na quota indisponvel. Se for liberalidade mortis causa (testamento, pacto sucessrio), a tendncia para enquadrar na quota disponvel. Intangibilidade da legtima. A intangibilidade da legtima tem dimenso qualitativa e quantitativa. A qualitativa consta dos artigos 2163, 2164 e 2165. A quantitativa (reduo por inoficiosidade, deserdao) consta do 2166 e ss. Qualitativa: o 2163 fala do legado por conta da legtima. O legitimrio tem direito a receber a sua legtima lquida. O de cuius no pode dizer quais os bens que a pagam:
intangibilidade qualitativa. No se pode especificar a legtima a priori. O 2165 fala do legado em substituio da legtima. outra manifestao. S com acordo pode haver. Quantitativa: o instituto da reduo s pode ser accionado depois da morte do de cuius, j que no se conhece o panorama efectivo da sucesso. 2168: quem tem o direito so, desde logo, os legitimrios. Podem reagir a um excesso do poder de disposio por parte do de cuius (excedeu a QI). A inoficiosidade d-se quando h excesso. Deve-se fazer desaparecer o valor da inoficiosidade. Na reduo (2170) h uma ordem: primeiro sacrifica-se os testamentos a ttulo de herana; depois, os legados testamentrios; por fim, liberalidades feitas em vida do de cuius. Ficam de fora os pactos sucessrios. O 2171 tem uma lacuna, j que no faz referncia aos pactos. Onde integrar? Os AA. apresentam uma soluo coerente com o sistema: deve-se reconduzir realidade mais prxima. O testamento tem eficcia mortis causa, tambm. Mas, o que h de prevalecer o prprio tipo de negcio jurdico em causa. O testamento unilateral. O pacto no implica aceitao posterior. A doao em vida, bilateral, assemelha-se mais. A lacuna preenchida dizendo que o pacto sucessrio ser tratado como se fosse doao feita em vida ( reduzido em ltimo lugar). A faleceu; B e C so os legitimrios. Fez uma deixa testamentria de instituio de herdeiro (40), um legado testamentrio (20), uma doao em vida a O (10). Imputamos na QD. D 70. Imaginemos que o valor da QD era 30. H inoficiosidade no valor de 40. Disps de mais do que podia. Deve-se reduzir (B e C podem reagir, aplicando o 2171). Comeamos pela herana testamentria. Diz-se que no se pode atribuir aquela liberalidade. A herana valia 40, pelo que a herana testamentria resolvia o problema. O legatrio pode receber os 20. O donatrio pode manter nas suas mos os 10, j que a doao tinha sido em vida (j havia recebido). Ex.: herana de 120. A QI de 60; a QD de 60 (o de cuius tinha apenas B como filho). B recebe os 60 da QI. H uma doao em vida a X, de 20; um legado testamentrio a Y que vale 20 tambm e outro a Z que vale 60. Imputamos tudo na QD: d 100. o valor total das liberalidades. H uma inoficiosidade de 40. Cabe reduzir. No existe herana testamentria. Passamos aos legados: h dois. O 2171 remete a resoluo para o 2172. Diz que, neste caso, se se vir que h para reduzir pelos legados, no preciso ir doao em vida. Neste caso bastava. A lei diz que se faz reduo proporcional (rateadamente), com regra de trs simples. O valor total das liberalidades a reduzir agora de 20+60 (80). A inoficiosidade , recordamos, 40. O raciocnio : 80 est para 40 assim como 60 est para x (se em 80 existe 40 de inoficiosidade, na liberalidade em concerto existe x). X= 60*40/80 = 30 (neste caso era metade). No legado que vale 60 retiramos 30. No legado que vale 20, retiramos 10. O 2173 fala da reduo das liberalidades feitas em vida. O 2173 diz qual a ordem da sua reduo. Apela-se parte final do 2171. Os pactos sucessrios so tratados como se fossem doaes feitas em vida. Comea-se pela doao mais recente (critrio cronolgico). Meios de tutela dos legitimrios. 2162: somamos as doaes em vida ao relictum. uma forma de proteger os legitimrios, j que se amplia a massa da herana. Se o de cuius fez negcio simulado (venda que simula uma doao em vida), a lei permite que os legitimrios arguam a nulidade desse negcio. A doao em vida seria o negcio dissimulado. A venda nula, sendo imputada na herana a doao em vida. forma de proteco. O 877 prev que para um pai vender um bem a um filho tem de pedir consentimento aos outros, sob pena de nulidade. Costuma haver compra e venda a fingir, meras doaes.
O 2029 diz que a partilha em ida tem de contar com a participao de todos os legitimrios, sob pena de ineficcia. Se aparecer um legitimrio supervenientemente, a partilha tem de ser rectificada. H tutela mesmo para quem ainda no era legitimrio. O 1699/2 diz que no se pode casar na comunho geral se houver filhos de um dos cnjuges. Excluem-se os filhos comuns. O cnjuge sobrevivo tem direito a metade dos bens, a ttulo de meao nos bens comuns. S os outros seriam patrimnio do defunto, para dividir segundo o direito das sucesses. O cnjuge seria novamente chamado e o filho teria muito menos. O 1699/2 protege os filhos no comuns para evitar isto. Garante que os filhos exclusivos preservam o direito ao patrimnio. Sucesso legitimria anmala. legal, baseada em factos designativos no negociais. legitimria no sentido de ser imperativa. anmala porque na legitimria se atribui quota da herana. Aqui, o que atribudo um bem concreto e determinado, um legado. Mas tambm em funo dos contemplados. No so s os clssicos do 2157. A transmisso do arrendamento por morte, no NRAU, um caso de sucesso legitimria anmala. a lei que o prev (1106). Atribui ao cnjuge mas tambm ao unido de facto, que no est no 2157. um legado (o arrendamento do bem concreto e determinado). imperativa: no pode ser afastada pelo de cuius ou pelo senhorio. Na Lei da Unio de Facto (2010), artigo 5, prev-se a proteco da casa de morada em caso de morte. Prev-se direito real de habitao. Antes era disposio supletiva, afastvel no testamento. Com a redaco de 2010, desapareceu a clusula que ressalvava disposio em sentido contrrio. Parece que esse direito hoje imperativo. legal; legitimria; mas anmala. O unido de facto no est no 2157 e h legado. Sucesso legtima (2131 e ss.). supletiva: s funciona se sobrar ou se no houver qualquer acto de disposio e no houver legitimrios. Regem os princpios da preferncia de classe, de grau e diviso por cabea. Classes de sucessveis. O 2133/1/a) fala em cnjuge e descendentes; o b) em cnjuge e ascendentes (s se passa a b) se no se preencher a a): os primeiros no sucedem porque no podem ou porque no querem). O 2133 no fala na adopo ou PMA. Mas no preciso. O adoptado pleno como se fosse filho. Onde se l ascendente, pode-se ler adoptante pleno, igualmente. A adopo restrita est no 1996 e 1999. O 1996 diz que nenhum herdeiro legitimrio do outro, ao contrrio do que acontece na plena. So s herdeiros legtimos (1996 e 1999/2 e 3). O adoptado restrito tem mais direitos do que o adoptante. O adoptado vem logo a seguir ao 2133/1/b), antes da alnea c) (irmos e seus descendentes). O adoptante restrito fica a seguir c), antes da d). O 1999/3 diz irmos e sobrinhos, ao contrrio da alnea c) do 2133/1. Assim, concorre depois dos irmos e sobrinhos, mas depois de outros colaterais. Est antes da d) e de alguns da c). A PMA no tem especificidade. O filo que nasce a filho. O dador numa PMA heterloga no tem qualquer relao sucessria com o nascido. Diviso por cabea (2136). A partilha feita em partes iguais. H excepes: quando o cnjuge concorre com mais do que trs filhos, recebe mais o que estes (tem de haver um mnimo de subsistncia para o cnjuge); 2142/1 aplica-se para a diviso da QI entre o cnjuge e ascendentes. Se a herana de 900 (600 de QI e 300 de QD), A filho de C e D e casado com B. A QD de 2/3 (600). O 2142/1 diz que no se faz diviso por cabea. O cnjuge recebe mais do que os ascendentes. Recebe 2/3 dos 600; os ascendentes 1/3. 400 para B; 200 para C e D. O tero dividido entre os ascendentes em partes iguais (2142/2). Tambm o 2146 excepo. Temos de estar no mbito do 2133/1/c) (irmos do falecido). Ex.: A o morto; tem B e E como irmos, tambm filhos de X e Y (so irmos germanos); tem C e D como irmos, filhos s de X. Quando A morre, s tem os irmos vivos: B, E, C e D. Os irmos B e E so germanos; C e D so unilaterais. O 2146 diz que
os germanos recebem o dobro dos outros. O B vale por 2 e o E vale por 2; C vale 1 e D vale 1. Tem de se dividir a massa da herana, neste caso, por 6. O relictum dividir-se- por 6. B: 2; E: 2; C: 1: D: 1. O cnjuge, quando concorre com ascendentes, tem direito a 2/3 (2142, ex vi 2157). Numa herana de 90, sendo a QI 60, o cnjuge recebe 40 e os ascendentes 10 cada um. Na sucesso legtima, o cnjuge tem direito a 2/3 da herana legtima. No caso ficara 20 (2/3 de 30) e 5 para cada ascendente. Na situao em que no h herdeiros legitimrios e os irmos so chamados herana, sendo dois irmos inteiros e dois unilaterais, com um relictum de 600, o 2146 diz que estes s recebem metade do que os outros recebem. Cada irmo germano vale por dois unilaterais. Ficaramos com 6 protagonistas. Dividia-se por seis o relictum, que daria 100. Cada um dos unilaterais recebe 100; os germanos recebem 2*100. Converte-se tudo em irmos unilaterais e divide-se a herana por esse nmero. Sucesso do Estado. Os bens no podem ficar no vazio. No havendo mais herdeiros, chamamos o Estado. um herdeiro legtimo especial: no pode repudiar nem tem de aceitar (2154). Primeiro tem de se declarar que h herana vaga. Sucesso legtima anmala. Exemplo disto o 496 (a pessoa pode ser indemnizada pela conscincia de que vai morrer). Considera-se que se trata de sucesso supletiva: a pessoa pode deixar testamento a dizer a quem caberia a indemnizao. Mas sem indicao expressa, rege o 496/2 e 3. um legado, porque h um direito determinado. Outro exemplo o da lei da convivncia em economia comum (5): atribuio de direitos reais sobre a casa de morada comum pessoa que viva com o defunto em economia c. O 2103-A e B tambm so casos. Nestes exemplos em que a pessoa adquire direito real, estamos a falar de direito constitudo ex novo, sucesso anmala de carcter constitutivo. A concepo de Galvo Telles, Pamplona, etc., de sucesso como aquisio translativa assim afastada. O 5/2 da LEC diz que s em caso de no haver disposio testamentria em contrrio que se aplica o 5/1. , pois, supletiva (legtima). Sucesso contratual. O 2028 prev trs modalidades de pactos sucessrios: renunciativos; designativos ou aquisitivos (dispe da sua herana); dispositivos (dispe de herana de terceiro), pactum de sucessionis terti. Os nicos pactos admitidos na lei portuguesa so os designativos, em sede de conveno antenupcial. So doaes mortis causa equiparadas a pactos sucessrios. A doao contrato; mortis causa. , pois, equiparada. Todos os demais sero nulos. A nulidade seria nos termos gerais do 285. Isto criticado e discutido h 200 anos, dado o valor da liberdade testamentria. Mas no direito romano tinha mais do que tem hoje. um argumento falvel hoje em dia, porque j h vrios pases que comeam a aceitar os pactos sucessrios. A proibio como regra geral muito discutida. O pacto sucessrio um acto mortis causa, s produz efeitos no momento da morte. Contudo, ao mesmo tempo no . Quando se faz pacto sucessrio fica-se limitado em vida quanto disposio das coisas l referidas. Acabam por ter natureza mista, entre o acto inter vivos e mortis causa. Tem alguns efeitos preliminares em vida, sobretudo de limitao. Quando uma pessoa renuncia a uma herana, diz-se, no sabe bem a que est a renunciar, dada a flutuao do patrimnio. Fala-se numa certa aleatoriedade nessa renncia. As doaes mortis causa so em geral nulas (946). Mas a prpria lei diz que convertvel em testamento se cumprir as formalidades de tal acto. Uma pessoa que faz doao no faz testamento; assim, como cumprir as formalidades? S tem aplicabilidade se fizermos interpretao restritiva: basta que se respeite a forma de escritura pblica. Pode haver revogao da doao mortis causa por testamento posterior, j que ela foi
convertida em acto unilateral, livremente revogvel pelo disponente. So admissveis em conveno antenupcial, dada a ideia de favorecimento matrimonial (1699/1/a), 1700, 1701, 1705 e 1710). Neles tm de figurar um dos esposados, que pode ser doador ou donatrio. O 946/2 ressalvado pelo 1756, porque quando falamos de doao mortis causa entre esposados vamos ver o regime das doaes para casamento. O 1755 prev as doaes mortis causa. O 1746/2 ressalva a situao do 946/2 (converso). Em conveno antenupcial pode haver clusula de fideicomissrio. H uma regra particular: a possibilidade de estas clusulas serem livremente revogveis, o que excepo ao regime geral do pacto (por ser bilateral). Os pactos designativos vlidos podem ser classificados quanto ao beneficirio: de esposado em favor de terceiro; de um esposado em favor do outro; de terceiro em favor de esposado. Quando so entre esposados so doaes para casamento (1753 - 1760). As doaes para casamento so irrevogveis, mesmo que haja mtuo consentimento. Quando so para terceiros dos esposados s podem ser revogados por mtuo consentimento. Quando so por terceiros a favor dos esposados, o facto de no poder revogar unilateralmente nem prejudicar o donatrio posterior e indirectamente (dispondo do bem) significa que no pode haver revogao directa nem indirecta. O pacto sucessrio tem efeitos mortis causa. Mas tem, como se v, efeitos limitativos j em vida. Se o esposado que faz disposio em favor de terceiro (nomeando legatrio ou instituindo herdeiro), 1705/2, o esposado por reservar-se a faculdade de livre revogao. uma figura estranha, que excepo hierarquia: um testamento no pode, normalmente, revogar pacto sucessrio. O donatrio tambm fica limitado. Aceita ser institudo herdeiro. No momento da morte j no pode recusar. Existe proximidade entre a sucesso do Estado, em que no existe repdio. Caducidade. Os pactos sucessrios so inseridos na conveno antenupcial. Se esta caduca, aqueles tambm caducam. O 1760 incompatvel com algumas das alteraes de 2008. A remisso para o 1760, operada pelo 1703/1, uma remisso para o 1761/a), j que o 1760 est revogado. Nos termos do 1791, quando h divrcio, independentemente da culpa, cada cnjuge perde os benefcios para casamento. Os pactos sucessrios designativos caducam tambm. outro caso de caducidade. O 1703/1 refere o caso de pr-morte do donatrio (em relao ao doador): caduca. O 1703/2 diz que no caduca quando ao donatrio sobreviverem descendentes (mas os que tenham resultado do casamento, h que a ideia de favor matrimonii). No se trata de distino entre filhos ilegtimos e legtimos. O regime em si no inconstitucional, j que a sua ratio aquela e no uma discriminao (discordo!). O 1706/1 determina que os esposados podem instituir como herdeiros terceiros e ficar estabelecido o carcter correspectivo da disposio. A nomeia sobrinho de B para que este nomeia um seu sobrinho. Se uma revogada, a outra tambm desaparece. A classificao tambm pode ser quanto ao objecto (herana ou legado). O regime diferente. Se for legado, no se pode dispor em vida do bem deixado. Se for herdeiro, j se pode alienar: o valor da herana s se determina no momento da morte. Neste caso, temos a mesma lgica que preside, na sucesso legitimria, soma do donatum ao relictum. Aqui, conta-se relictum mais donatum posterior menos passivo. A base legal o 1702. Faz-se um clculo parte e imputa-se na QD. Quando a instituio abarca a totalidade da herana, a lei diz que a pessoa pode sempre dispor de um tero. A frmula a mesma: (R + Dp P) * 1/3. O doador pode abdicar dessa reserva (1702/3). O 1701 refere-se aos pactos sucessrios a favor de esposados, mas tambm aplicvel aos que tenham terceiros como beneficirios. O legatrio no pode ser prejudicado por acto posterior relativo aos seus bens (1701). S pode ser alienado em caso de grave
necessidade. Se a alienao for indevida nula, aplicando-se a lgica da venda de bens alheios. Tudo isto resulta, desde logo, da determinao do bem. Quando aliena por grave necessidade, o legatrio tem ainda direito ao valor. Proteco do herdeiro contratual. Tem uma expectativa jurdica, que pode proteger contra alienaes indevidas. A sucesso contratual anmala est sujeito a regras especiais. JDP diz que ela no existe. A sucesso contratual anmala seria a resultande de pactos no previstos nos artigos 1700 e seguintes. Exemplo: a doao com reserva de usufruto, que pode ser usada com finalidades sucessrias. Mas um acto inter vivos. No seguro de vida, o capital no sai da herana. No situao de sucesso, porque no custa do patrimnio do falecido. Os prmios pagos so doaes e contam como donatum. O Prof. Daniel Morais entende que, apesar de no serem situaes de direito das sucesses, deveria haver neste ramo jurdico, tal como h relaes para-familiares no direito da famlia, relaes para-sucessrias. Sucesso testamentria (2179 e ss.). O testamento negcio jurdico unilateral. A aceitao do testamento s se faz na abertura da sucesso. O nico interveniente o testador. S conhecido quando for aberto, aps a morte do testador. um negcio com eficcia mortis causa. S com a morte do testador que os contemplados podem exigir a liberalidade. negcio no receptcio. Os beneficiados recebero os bens na altura da partilha. negcio gratuito (no h contrapartida; h inteno de liberalidade animus donandi). formal (tem forma especificada no CC). negcio livremente revogvel (2311 e ss. e 2179). O testamento pode ter clusulas por natureza irrevogveis. Ele tem carcter essencialmente patrimonial (h excepes: uma perfilhao, p. ex.). As clusulas de natureza pessoal so irrevogveis. Outro exemplo a deserdao (instituto que permite ao testador afastar sucessveis legitimrios da sucesso 2166). negcio singular. Esta singularidade decorre do 2181. A lei probe o testamento de mo comum. Tem de se testar sozinho. Pretende-se salvaguardar a liberdade de testar, impedir influncias. H trs excepes. 946/2: caso de converso em testamento do que seria pacto sucessrio. H dois intervenientes, testamento por converso legal. 1704: h converso do que seria pacto sucessrio em testamento. Algum faz deixa mortis causa em conveno antenupcial (diferentemente do que acontece no 946), mas o contemplado no participou como outorgante. Na conveno antenupcial participam os esposados. So dois. 1695/3/b): para o cnjuge poder dispor de bem comum por morte, o outro tem de autorizar. possvel que o terceiro exija a coisa se o cnjuge tiver autorizado a deixa. H, novamente, mais do que uma pessoa no acto de testamento. Carcter pessoal do testamento (2182). Tem de ser o prprio a faz-lo. O 2182/1 vem dizer que o poder no , em regra, delegvel. A lei exige que se diga quem contemplado, qual o objecto, etc. O 2182/2 tem as excepes: aspectos que podem ser terceiros a completar. O 2182/2 diz que o tribunal que resolve se os terceiros no cumprirem. O 2183 prev outro caso em que outra pessoa que no o testador. Formas. H formas comuns e especiais (2204 e ss.). A lei diz que so comuns o testamento pblico e o testamento cerrado (cabe acrescentar o testamento internacional). Os especiais so os dos 2210 e ss. Pblico (2205) o escrito por notrio no seu livro de notas. No admitido testamento verbal (s escrito e de forma especial). No escritura pblica: escrito no livro dos testamentos pblicos. negcio solene. Cerrado (2206) escrito e assinado pelo prprio; escrito e assinado por outra pessoa a pedido dele; escrito por outra pessoa e assinado pelo prprio (1). O 2206/2 diz que s pode deixar de assinar se no o puder ou souber fazer. A doutrina fala em interpretao
ab-rogante de uma parte do n 2. preciso que a pessoa sabia ler para que possa escrever ou controlar o que o outro escreve. S se justifica o n 2 para os casos em que no pode assinar. O 2206/4 diz que se tem de levar o documento ao cartrio notarial, para aprovao (essencial para a validade do testamento nulidade prevista no n 5). O 2207 considera como data do testamento cerrado (h dois momentos distintos, o da feitura e o da aprovao) a da aprovao. importante para avaliar a capacidade testamentria (2188 e ss.). Reporta-se ao dia da aprovao e no ao da feitura. O 2209 determina que o testamento cerrado pode ser conservado pelo testador, confiado a terceiro ou ao conservador notarial. No Cdigo do Notariado, regem os artigos 7 e 11 para o testamento pblico (67/1/a) para os testamentos) e o 107/1 para o cerrado. O notrio s l o testamento se o testador desejar. O testamento internacional (lei uniforme sobre forma do testamento internacional) no testamento feito no estrangeiro. O testamento internacional e o do 2223 so situaes distintas. Este pode ser feito no pas da pessoa; tem de ser escrito; assinado pelo testador; certificado (notrio, se feito em Portugal; sendo no estrangeiro, pelo agente consular que Estado portugus). O do 2223 feito por portugus em outro pas, seguindo as regras desse Estado. S vlido em Portugal se tiver sido observada a forma solene na sua feitura ou aprovao. Nunca se aceita testamento verbal. Especiais (2210 e ss.). Testamento de militares; testamento feito a bordo de navio; testamento feito em caso de calamidade pblico; feito a bordo de aeronave. O que os justifica o facto de a pessoa no poder recorrer s formas comuns: pressuposto do recurso a estes regimes. Qualquer das modalidades pode ter a forma pblica ou cerrada. O 2222 tem o prazo de eficcia para estes. limitado no tempo: fica sem efeitos 2 meses aps a cessao da causa que impedia o recurso forma comum. Testamento per relationem (2184). Tem de se ler o artigo a contrario. A expresso per relationem significa a existncia de remisso de um documento para outro. No , partida, vlido. Mas pode-se fazer remisso para outro documento se for autntico, escrito e assinado pelo testador e tenha data anterior ou contempornea da do testamento solene. L-se o artigo a contrario. H AA. que entendem que possvel fazer remisso, seja qual for a clusula que esteja no documento para que se remete. viso ampla. JDP faz interpretao restritiva. Tem de se fazer leitura a contrario; contudo, articula o 2184 com o 2182/1. Alm da remisso ser para documento autntico ou para documento escrito e assinado pelo testador, etc., h a limitao dos elementos essenciais do testamento. No se pode remeter para o documento a nomeao dos contemplados. Isso tem de estar sempre no testamento solene. S se pode remeter outros elementos que no os essenciais. uma questo de dignidade formal necessria. Requisitos materiais (2186 e ss.). O fim tem de ser lcito (no contrrio lei, ordem pblica ou ofensivo dos bons costumes). O objecto (280) tem de ser lcito (fsica e juridicamente possvel, bens que no estejam no domnio pblico, etc.). Tambm est prevista no 2188 e ss. a capacidade testamentria activa. Tm capacidade para testar todos os que a lei no exclua. S as pessoas singulares. Mas os referidos no 2189 (menores no emancipados e interditos por anomalia psquica) no podem, sob pena de (2190) nulidade. O 2191 diz que a capacidade de testar se determina pela data do testamento. Aqui, remisso para o 2207: a data do testamento cerrado a da aprovao. H ainda outra situao: inabilidade (2208) para fazer testamento cerrado. Os que no sabem ou no podem ler no podem fazer testamento cerrado. Podem fazer um pblico. A sano a nulidade (2190, por analogia). Forma do suprimento da incapacidade. Os incapacitados tm patrimnio. Surge a substituio pupilar e quase pupilar. Esto no2297 e ss. Pupilar para os menores;
quase pupilar para os interditos por anomalia psquica. No caso dos menores, o progenitor com responsabilidades parentais ou quem a tiver pode fazer o testamento em vez do menor, em seu nome. H algum a representar o filho, testando sobre os bens do filho (2300: os bens que o filho venha a adquirir do pai, que o substitudo venha a adquirir do testador). Faz testamento em nome do filho quanto aos bens que venha a receber de si, ainda que por via de sucesso legitimria. A lgica acautelar a possibilidade de o incapacitado morrer em situao de incapacidade testamentria (doente terminal, p. ex.). Acautela-se a hiptese, substituindo-se o incapacitado. preciso que ambos morram para que o testamento seja accionado (primeiro os pais, depois o filho). Acautela-se o destino do futuro. A substituio pupilar fica (2297/1) sem efeito logo que o incapaz faa 18 anos; se o filho falecer j deixar descendentes ou ascendentes (aqui entende-se que o pai tambm tem de morrer: se o pai sobrevive ao filho, a substituio pupilar caduca, porque os bens no ficam no vazio, continuam na esfera jurdica do pai). O 2298 tem a mesma lgica: o tutor pode fazer testamento em nome do interdito. Caduca se o interdito adquirir capacidade ou tiver filhos ou cnjuge, que tambm herdeiro legitimrio (a doutrina integra-o por analogia). O cnjuge s pode existir se casou antes de estar interdito. No 2297 no se fala em cnjuge porque menor no emancipado. Se for casado est emancipado. Discute-se face a quem os possveis contemplados tm de ser sucessoriamente capazes. JDP entende que tm de ser capazes face ao substitudo. Guilherme de Oliveira diz que tem de ser face ao testador, visto que os bens vm dele. Mas estamos a falar da sucesso do substitudo, entraram na sua esfera. Assim, face ao substitudo. Indisponibilidades relativas. No se pode receber, incapacidade passiva: uma questo de ilegitimidade, porque no se pode receber naqueles casos concretos. H pessoas que no podem ser contempladas no testamento de outros. Por exemplo, 2152, face ao ascendente psicolgico. O 2194 fala de mdicos, enfermeiros e sacerdotes em face da pessoa que trataram ou orientaram durante uma doena, dado o risco de influenciarem a vontade. Tambm o cmplice do adltero (lgica punitiva, sancionatria). A estes casos acrescenta-se o 1650/2: sanes patrimoniais por violao de impedimentos impedientes. So casos de indisponibilidades relativas inominadas. instituto que se aplica ao testamento e s doaes inter vivos (963) e mortis causa. muito importante nos casos prticos. As indisponibilidades relativas nominadas esto expressamente previstas na lei. As inominadas so previstas noutro ponto do CC. Esto relacionadas com as sanes em sede de impedimentos impedientes. O 1650/1 no constitui caso de indisponibilidade, porque se trata de caducidade. Indisponibilidade significa que algum no pode dispor a favor de outrem por testamento. ilegitimidade. As ilegitimidades esto ligadas ideia de proteco da liberdade testamentria (proteco face a possveis influncias por parte de pessoas em situao de privilgio: proco que confessa, notrio que lavra o testamento, etc.). Tambm h situao pontual, que diz respeito ao cmplice do testador adltero, que no pode beneficiar de deixa testamentria, por fora de regra sancionatria. O 1650/2 que prev as indisponibilidades inominadas. A lei determina a nulidade das disposies feitas a favor de tutor, curador, etc. (2192). So pessoa no isentas. O administrador dos bens tem uma certa influncia; interessado na administrao do patrimnio. O mdico ou enfermeiro que trataram do testador e o proco que o assistiu espiritualmente (2194) tambm no tm legitimidade para beneficiar de deixa. O STJ j decidiu que so normas de carcter excepcional, pelo que no poderia haver interpretao extensiva ou analogia (situao de curandeiros, familiares prximos que
trataram do testador, etc.). O 2196 prev que as pessoas que intervieram na feitura e aprovao do testamento tambm no podem ser beneficiadas. Se a pessoa no falecer da doena por que foi tratada, a deixa j ser vlida. Quanto ao cmplice do testador adltero, visa-se salvaguardar a instituio casamento. uma situao de oponibilidade erga omnes dos deveres conjugais (JDP: tutela forte). Se o tutor, medido, etc., forem familiares prximos do testador, quid juris? 2192/3 e 2195/b) prevem a situao: se forem descendentes, ascendentes, colaterais at ao terceiro grau ou cnjuge, a deixa ser vlida. O 2195 remete para o 2192/3. O 2195/a) determina que a nulidade no abrange os legados remuneratrios s pessoas citadas. Entende-se que esse pagamento moralmente devido. Se se tratar apenas de assegurar alimentos ao beneficirio, tambm ser vlida a deixa. O 2196/2 exceptua a regra se o casamento j estiver dissolvido (no h adultrio) ou se houver separao judicial de pessoas e bens ou separao de facto h mais de seis anos. preciso harmonizar com o 1781: aps um ano j se pode pedir divrcio. uma incompatibilidade: possivelmente revogao tcita ou interpretao ab-rogante. De acordo com a ratio, o que se pretende que a disposio possa ser vlida se o tempo da separao de facto j fundamentasse divrcio. As indisponibilidades do 1650/2 tambm esto relacionadas com a ideia de situao privilegiada para influenciar e consequente necessidade de evitar esse ascendente. As pessoas a previstas podem ter influncia ou serem beneficiadas apenas por presso de outros. A adopo plena no prevista porque h equiparao filiao biolgica. A consequncia de uma disposio que contrarie a regra da indisponibilidade a nulidade. Aplica-se a nulidade, por analogia, s inominadas. O 2198 fala da existncia de interpostas pessoas. Seria forma de contraria a lei. A pessoa beneficiada daria depois parte da deixa a quem no a podia receber. O 579 prev as interpostas pessoas: cnjuge; pessoa de quem este seja herdeiro presumido (o 2198 remete para o 579). No podem ser feitas, sob pena de nulidade. Isto no se aplica s indisponibilidades inominadas. As normas de carcter punitivo esto sujeitas ao princpio da legalidade, no cabendo analogia. Vontade no mbito do testamento. Deve ser esclarecida (2180). No testamento a pessoa deve estar colocada sozinha perante a morte. Assim, no pode haver influncia, h forma especial, no pode haver erro, coaco, etc. A forma serve para salvaguardar a idoneidade do contedo, das disposies da ltima vontade. A essencialidade do motivo do erro tem de resultar do prprio testamento. A vontade tem de ser demonstrada de forma declarada. Tudo serve para salvaguardar a liberdade testamentria. O consentimento de ser livre e esclarecido. H tambm disposies da parte geral (240 257) que se aplicam subsidiariamente. Mas a h preceitos que pressupem a existncia de um declaratrio. O testamento no recipiendo. Falta de vontade. A incapacidade acidental permite acorrer a situaes de falta de vontade temporria (alcoolismo, drogas, etc.). H limitaes que se reportam a anomalia psquica judicialmente declarada. Nos casos em que no seja, pode-se recorrer incapacidade acidental. Tem grande relevncia. Vem no 2199. Tem de ser articulado com o 2189 (menores no emancipados e interditos por anomalia psquica). Comparando com o 257, como no h declaratrio, basta a prova da incapacidade. O requisito da notoriedade da incapacidade ou do conhecimento pela outra parte caiem. H mais situaes de falta de vontade: declarao no sria; coaco fsica; falta de conscincia da declarao. Mas so casos pouco plausveis. Como no h declaratrio, os terceiros potencialmente prejudicados no podem pedir indemnizao. Divergncias entre a vontade e a declarao. A simulao est no 2208. As situaes de simulao absoluta so tambm vcio, resultante da parte geral. No pode haver
simulao que origine nulidade e outra que origine anulabilidade. Assim, o desvalor ser a anulabilidade. Ser que a disposio dissimulada pode valer? O principal instrumento em que nos baseamos para saber a vontade da pessoa o testamento. Em princpio no. Contudo, h um caso em que a lei admite que valha: legado para pagamento de dvida. No propriamente uma liberalidade. Mas pode acontecer que no haja dvida, havendo simulao. A (2259) a lei diz que pode valer, porque uma liberdade. Se houver interposio fictcia de outra pessoa, poder valer a favor do terceiro? No: tem de haver um mnimo de correspondncia no testamento, e neste caso no h. A reserva mental est prevista no 232: ser mais facilmente admissvel porque no h destinatrio. Mas isto acaba por ser limitado pela interpretao do testamento. No se pode fazer valer a vontade real do testador quando no h correspondncia com o texto. Erro na declarao (deixa a B quando queria deixar a A). Rege o 247. No se aplicam os requisitos que se destinam a salvaguardar o destinatrio. um erro de carcter menos grave do que o erro-vcio (foi s a declarao que foi mal feita). O 2203 diz que, se for possvel concluir pelo testamento a quem queria deixar o bem, pode valer a favor dessa pessoa. At se admite prova complementar (testemunhal, etc.). Vcios na formao da vontade (2201; 2202; 251 254). O erro-vcio (2202) s causa de anulao quando resulte do testamento que o testador no faria a deixa se conhecesse o erro. No se admite prova complementar. O regime da coaco moral no difere, aqui, consoante seja feita por terceiro ou pelo destinatrio. No necessrio que o mal seja grave e que seja justificado o receio da sua consumao (inexistncia de declaratrio). A explorao de estado de necessidade de outrem tambm fundamento. No se trata de coaco moral. Assim, recorre-se s regras gerais sobre a usura. Interpretao do testamento. H diferena em relao interpretao de negcios jurdicos bilaterais: no h que salvaguardar a posio do destinatrio. A interpretao feita de acordo com posio subjectivista: o testador a pea fundamental. O 2187 espelha essa orientao. Determina que se deve observar o que for mais ajustado vontade do testador, posto que tenha um mnimo de correspondncia verbal. admitida limitadamente a prova complementar. A vontade do testador real mas tambm conjectural, j que feita antes do momento da morte. feita no presente mas projecta-se no futuro. negcio solene, o que influencia a interpretao. O. Ascenso bastante liberal nesta matria. O testamento, mais do que a lei, tem de ser lido globalmente, no seu contexto total. A orientao subjectivista limitada por esse contexto. O 2228 trata do caso em que a deixa a uma pessoa e aos seus filhos, p. ex. A lei considera que, na falta de novos dados, se deve interpretar como sendo uma deixa que visa dividir o bem por todos. Integrao de lacunas. Havendo toda esta rigidez, ser arriscado integrar. O recurso vontade hipottica do testador (239) tem de ser feito em considerao da situao especfica do testador. O testamento um acto pessoal. Tudo o que diz respeito nomeao de legatrio e instituio de herdeiro no pode ser integrado. O. Ascenso fala em muitos casos de analogia, mas verdadeiramente so situaes de interpretao extensiva. A lei (2185) prev apenas um caso em que se pode integrar. o caso de deixa feita a pessoa incerta mas que pode ser determinada. Se no for possvel que a pessoa se torne certa, a disposio nula. No pode haver integrao de lacunas quanto aos elementos essenciais do testamento. No h uma norma prpria no sector do testamento quanto integrao. Recorremos ao 239. Mas o 2182 diz que os elementos essenciais tm sempre de constar. O art. 2185 tem excepo: por algum modo. Pode-se recorrer a meios de prova. Ex.: o testador deixa x pessoa que lhe salvar a vida. A identificao da pessoa elemento essencial. Mas a pessoa incerta pode-se tornar certa, integrando a lacuna, com meios de prova.
O CC tem vrias normas interpretativas que no so de integrao (2245; 2226 e 2271). O 2226 fala do caso em que se deixa a parentes. No toda a gente chamada. Assim, segue-se a ordem do 2133. Contedo do testamento. Tem incidncia patrimonial. O clssico fazer deixa de herana ou legado. Pode haver clusulas de cariz pessoal (perfilhao, p. ex.), que podem tambm ter efeitos patrimoniais. Tambm a designao de tutor opo; disposies sobre o funeral, missas, etc.; deserdao (instituto tpico de direito das sucesses); reabilitao tcita (2038/2): reabilitar perdoar o sucessvel por algo que fez no passado e que afectaria a sua capacidade sucessria. Permite-se que afinal seja chamado. As reabilitaes expressa e tcita podem ser feitas por testamento. A forma de clculo da herana testamentra (relictum menos passivo) a normal. Anormais so os clculos da legtima e da legitimria. A herana o patrimnio lquido. Somar o donatum que um desvio normalidade dos factos. Os legados podem ser de vrios tipos. H legados que atribuem direito de propriedade ou outro direito real e legados que atribuem direitos de crdito. Os legados dispositivos (a maioria) opem-se aos obrigacionais. Os dispositivos implicam uma diminuio do activo da herana. Se atribuir um direito de crdito a favor de terceiro tambm fao legado dispositivo, j que isso tambm activo. Os legados obrigacionais implicam um aumento do passivo da herana. Ex.: legado de coisa que pertence a terceiro, vlido em alguns casos. Implica a aquisio do bem ou atribuio do valor se no for possvel dar o bem. uma despesa. 2258. Pode-se atribuir o usufruto ( legado dispositivo). Cria-se ex novo sobre um bem da herana, custa da propriedade que se tem sobre o bem. Considera-se feito vitaliciamente. 2261. E o caso do legado de crdito (dispositivo, aqui). A lei tem regra: esclarece que s produz efeitos em relao parte do crdito que subsista data da morte do testador. 2273. o legado de prestao peridica. Tambm dispositivo. Trata-se, p. ex., do legado de alimentos. 2272: legado de bem onerado. Se a coisa legada estiver onerada, o legatrio fica com a coisa tal como est, tem de suportar o nus. 2251. Legado de coisa (total ou parcialmente) alheia: um exemplo de legado obrigacional. O 2251 um dos artigos que fala disto (2252 para coisas parcialmente alheias, 2251 para totalmente alheias). O 2254 e 2256 tambm so importantes neste ponto. A regra da nulidade destes legados. Mas h excepes. O encargo a atribuio do legado. O bem em causa no da propriedade do testador. Pode ser de um terceiro ou pode ser de um sucessvel. Este pode ter a qualidade de herdeiro: tem o encargo de entregar o legado ao beneficirio da deixa. Se a pessoa tiver a conscincia de que o bem no era seu, vlida a deixa. Tem, pelo menos, a inteno de atribuir algo quela pessoa. Tem o animus donandi. Pelo menos o valor. Se isto se verificar, o sucessor tem de transmitir o bem ao legatrio, nem que o tenha de ir comprar, ou, no sendo possvel, pagar-lhe o valor correspondente. Da o encargo. Tambm (3) se a coisa vier a pertencer ao testador coisa que, antes, era alheia. 2252: em parte , desde logo, vlida a deixa (a parte que no alheia). Se tinha conscincia de que o bem no lhe pertencia por inteiro, remete-se para o regime do artigo anterior. O n 2 tem conexo com o direito da famlia. O 1685/3/b) excepo proibio de testamento de mo comum. Se for respeitado esse preceito, dispe-se do bem que s seu em (a outra do cnjuge). O 2254 e 2255 mantm a lgica: nulidade a no ser que a conscincia da alienidade exista, caso em que vlido. Legado de coisa genrica e legado alternativo (2253 e 2267). O legado de coisa genrica est previsto tambm no 2266. D-se quando se deixa coisa indeterminada de um gnero (um barco, p. ex.). H o problema de saber qual a coisa. A lgica de validade, em regra. Identifica-se a coisa (2266): cabe a escolha a quem deve prest-la (os
herdeiros), excepto se o testamento no for silente. Quando nada dito, s se pode escolher de entre as espcies existentes. Quanto s alternativas (mota ou barco), como cumprir? Remisso para o regime das obrigaes alternativas (543 e ss.). Condies, termos e encargos. So clusulas que, em regra, podem ser aposta. So disposies acessrias (2229 e ss.). A condio livremente admissvel, quer na instituio de herdeiro, quer na nomeao de legatrio. Admite-se suspensiva e resolutiva. Autonomia da vontade, dentro dos limites da lei (2230). A condio impossvel no afecta a deixa. Considera-se no escrita. No tem efeitos jurdicos. No prejudica o beneficirio. Se for contrria lei, ordem pblica ou ofensiva dos bons costumes (2230/2), a deixa tem-se por no escrita, ainda que o testador haja declarado o contrrio, com a excepo do 2186 (fim contrrio lei, ordem pblica ou bons costumes). Se a condio for no sentido de fazer algo ilcito, a deixa no tem valor. H vrios casos de condies impossveis e possveis. A condio captatria (deixo o bem x se ele me deixar o bem y) nula (2232); condio de residir ou no residir em certo lugar, viver ou no viver com algum; condio de a pessoa entrar para um convento, de seguir uma dada profisso, casar ou no casar (2233). Britam com a liberdade pessoal. So nulas. O 2133/2 prev o caso de direitos atribudos: de usufruto, uso de habitao, etc. Os direitos acompanham as pessoas. H uma situao de necessidade que justifica aquelas vantagens. A lei admite a condio de manter o estado de necessidade. Se a pessoa sair desse estado, entende-se que deixe de receber. Regime. 2236/1 para condies resolutivas. A deixa tem logo efeitos. Tem eficcia, exequvel. Se o facto se verificar, a deixa resolve-se com eficcia retroactiva (2242/1, tambm para a suspensiva). como se nunca tivesse havido deixa. Com a ressalva do 277: h coisas que no se pode devolver. Tudo o que for possvel apagar, apaga-se. Suspensiva (2236/2): enquanto no se verificar, a deixa no produz efeitos. O bem est na herana ainda. A cauo uma garantia de que haver patrimnio para pagar aos legatrios. Se a condio for suspensiva, o tribunal pode impor a obrigao de pagar cauo ao herdeiro que deve satisfazer o legado. Se for resolutiva, ao beneficirio. A cauo no obrigatria. O testador pode dispensar. Se nada disser, o tribunal pode decidir ou no. O 2237 aplicado em regra. Pelo contrrio, o n 1 prev o caso de condio suspensiva. Tem de ser administrado o bem. Se o tribunal decidir que h necessidade de cauo, ou o testador a houver imposto, mas ela no tiver sido paga, h cautelas quanto preservao do patrimnio (2237/2). Termo (2243). No sempre possvel. A regra at de inadmissibilidade (2243). O que possvel termo inicial (s tem efeitos a partir do termo). O termo final (extingue, deixa de produzir efeitos) no. O termo inicial s admitido quando ao legatrio. O 2243/2 prev que termo inicial quanto a herdeiro e termo final para qualquer tem-se por no escrito. Excepto se estiver em causa um direito temporrio e um termo final (parte final do n 2). A possvel. H transitoriedade a prazo do direito. Encargos ou clusulas modais (2244). Tem as limitaes da lei, ordem pblica, bons costumes. A inteno atribuir a deixa a A, mas tambm que ele cumpra um encargo. Na condio, usa-se a deixa como meio para atingir um fim. O que realmente se quer a verificao (ou no verificao) da condio. No encargo quer-se atribuir o bem, mas aproveita-se para atingir um outro fim. O encargo pode ser incumprido, mas tem um regime diferente da no verificao da condio. 2248: o que fazer no incumprimento? O beneficirio do encargo aposto deixa pode pedir a resoluo (ex tunc) da deixa testamentria. Mas menos automtico do que a condio resolutiva. Aqui s h
resoluo se for lcito concluir do testamento que a deixa no se teria mantido se o encargo no fosse cumprido ou se o testador o tiver dito expressamente. Substituio directa (2281). O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro institudo caso este no queira aceitar (deixo x a B, se A no aceitar). Pode no poder aceitar ou morrer antes do de cuius. Se a pessoa s previr o caso de repdio, a lei diz que o caso de no poder tambm se considera abrangido. Substituio fideicomissria (2286). A deixa x ao cuidado de B, que o ter de transmitir a C quando A morrer. H proprietrio temporrio e temporrio definitivo. figura prxima do trust ingls. Fidutia quer dizer confiana em latim. O herdeiro gravado com a onerao o fiducirio. O que ser proprietrio definitivo o fideicomissrio. Substituio pupilar o caso em que h excepo ao princpio da pessoalidade do testamento. A quase pupilar para incapazes, a pupilar para menores. S pode ter por objecto bens que o testador deixa ao menor. Criou-se esta figura no direito romano, j que os legtimos tinham tendncia a matar os menores que sucederiam ao pater. Ineficcia lato sensu. Engloba caducidade, revogao, invalidade e inexistncia. inexistncia aplica-se o regime geral (o acto inexistente no produz efeitos). Invalidade. H causas especficas de invalidade do testamento que no constam da parte geral. s vezes a prpria invalidade diferente. No 2200 fala-se de simulao, mas a regra a anulabilidade (na parte geral a nulidade). O 2308 tem um regime prprio quanto caducidade da aco. No regime geral no h prazo. Aqui h: uma nulidade atpica. JDP entende que h prazo e que no pode ser conhecida oficiosamente. Aplicamse as regras da suspenso e interrupo da prescrio (3). Quanto anulabilidade tambm h prazo: 2 anos (2). Sero interessados em atacar o testamento, desde logo, os herdeiros legtimos. O 2309 fala na possibilidade de confirmao do testamento. Na parte geral, sana-se a invalidade, aqui no. A pessoa que confirmou no pode invocar a confirmao contra terceiros. A liberdade testamentria o que se pretende salvaguardar com a sano da invalidade. Revogao e caducidade. A revogao acto pelo qual se manifesta a vontade de extinguir negcio anterior. A caducidade opera por fora de um facto jurdico. Quando pensamos na sucesso testamentria estamos a falar de um dogma que vem do direito romano: a autonomia da vontade s se manifesta, quanto questo da morte, por testamento. Associada ao testamento sempre esteve a ideia de revogabilidade, sob pena de ser um contrato. O testamento , por excelncia, um acto jurdico revogvel (2179). O 2311 fala na revogao. O testador no pode renunciar faculdade de revogar, sob pena de a clusula se considerar no escrita. O testador pode revogar no todo ou em parte (total ou parcial, quanto ao mbito). Quanto ao modo de operar: real, expressa ou tcita. Os critrios cruzam-se (tcita parcial, expressa total, etc.). Se houver dois testamentos, no se podendo determinar qual anterior, as disposies contraditrias so tidas por no escritas (tcita). Pode ser expressa ( expressamente dito que fica revogado. O T1 data de 2000. revogado por T2 em 2008. O T2 revogado por T3 em 2010. Ser que ficam postos em causa os efeitos revogatrios de T2? No. T1 no repristina. Uma lei nova pode remeter para lei j revogada, apropriando-se do seu contedo. No testamento chama-se roborao (2314). A revogao expressa ou tcita produz o seu efeito mesmo que o testamento revogatrio seja revogado. Se a revogao for real, diferente. A real no implica a existncia de outro testamento. O testamento anterior recobra a sua fora se o testamento revogatrio do que o revogara o disser expressamente roborao. A revogao pode ser real (2315 - 2316). Se o testamento cerrado (escrito e assinado pelo prprio testador ou escrito por terceiro e assinado por si) aparecer dilacerado ou feito em pedaos, considera-se revogado, a no ser que se prova que foi feita por pessoa
diferente do testador ou que este no teve inteno de o revogar. Quando assim , caduca (2315/1). O n 2 diz que se presume que foi feita por pessoa diversa do testador se o testamento no se encontrar no esplio deste data da morte. O 2316 contempla outro caso de revogao real. A deixa x a B; passados dois anos vende o bem. Se o negcio fosse invlido, operaria mesma a inteno de revogao. Se entretanto readquirir o bem, como j manifestou vontade de revogar, o testamento no recobra valor. admissvel a prova de que o testador, ao alienar ou transmitir a coisa, no teve inteno de revogar: porque existe legado de coisa alheia. No se aplica ao testamento pblico porque neste caso no est na posse do testador. Quando se fala em alienao, h uma nuance. Quando h alienao mortis causa por testamento, no revogao real, mas tcita. Quando se trata de pacto sucessrio, JDP defende que real. Paula Barbosa no concorda com isto: qualquer disposio mortis causa incompatvel revogao tcita. Caducidade (2317). As causas a previstas so exemplificativas. A) morte do sucessvel testamentrio anterior ao testador (pr-morte). Anterior ou simultnea, bem entendido (dada a presuno de comorincia). A no ser que haja vocao indirecta. B) h condio suspensiva mas o herdeiro falece antes da sua verificao ( condio suspensiva tambm tem de se sobreviver). C) incapacidade sucessria do herdeiro. D) extino ou modificao do vnculo matrimonial entre o de cuius e o beneficirio. No direito italiano tambm caduca quando houver supervenientemente um filho. JDP d outros exemplos. Instituio testamentria de fundao que no chega a ser reconhecida; situao em que o testador faz deixa a favor do cnjuge que se voltou a casar com desrespeito do prazo internupcial (1650, perde os benefcios). H casos de caducidade da prpria conveno antenupcial, se tivesse deixas testamentrias. No caso do 1704, o pacto sucessrio que no tenha a participao de terceiro como outorgante adquire carcter testamentrio. Quando se altera uma de duas disposies correspectivas, a outra caduca. Tambm (2059) dez anos aps o conhecimento de se ter sido chamado herana. Qual a situao jurdica do sucessvel testamentrio em vida do de cuius? Tem a possibilidade de arguir a nulidade e anulabilidade do testamento. Mas no h proteco directa. So interesses reflexamente protegidos. Servem, prima facie, para salvaguardar outras situaes (no caso de arguio de invalidade, p. ex., serve para proteger a liberdade testamentria do testador). O testamento revogvel. A situao do herdeiro testamentrio precria. Tem um interesse reflexamente protegido, apenas. O legado por conta da legtima a excepo ao princpio de que qualquer acto mortis causa imputado na QD. Trata-se de deixa testamentria que imputada na QI. Nas doaes feitas a descendentes, h AA. que consideram que se deve imputar na QI (no uma doao verdadeiramente, mas antecipao da herana). Dinmica sucessria. O que acontece depois da morte do de cuius? Tem de se determinar quem o sucessor. A primeira fase, da abertura da sucesso, ocorre com a morte do de cuius. H uma lgica de chamamento e devoluo. Vocao e entrega dos bens. A primeira fase momento decisivo. Temos de nos colocar nesse momento. O 2031 diz que a sucesso se abre no momento e lugar da morte. A segunda fase a da vocao (2032). O n1 tem os pressupostos: existncia do chamado; titularidade do ttulo designativo prevalente; capacidade sucessria. Existncia do chamado: tem de sobreviver ao de cuius e de ter personalidade jurdica. So as duas vertentes. Titularidade da designao prevalente prioridade na hierarquia dos sucessveis. Quanto capacidade: as pessoas tm de ser capazes (os dois institutos que podem afastar so a indignidade e a deserdao).
O momento da morte importante porque a que se determina quem sobrevive. o diz que importa. Avaliam-se os bens, tambm, data da morte do de cuius. H excepes (2109), quanto avaliao dos bens doados em vida. nesse momento que se fixa o chamado mapa dos sucessveis. Tudo o resto ter efeitos retroactivos ao momento da morte (aceitao, repdio, partilha). Tudo se passa como se estivssemos naquele dia. Existncia do chamado. Existncia fsica (estar vivo data da morte do de cuius). As situaes que importam so a pr-morte ou predecesso e a situao de morte presumida data da morte do de cuius. Este regime est no 114 e ss. necessria declarao judicial, que retroage ao ltimo dia em que se teve notcias da pessoa. Mas (119) pode acontecer que a pessoa estivesse viva. A, a partilha de ser resolvida: fazer tudo de novo, j que h mais uma pessoa. E quando no se consegue destruir tudo? na situao em que os bens se encontram Tambm a presuno de comorincia (68): uma presuno legal. Quando h um acidente em que vrias pessoas morrem ao mesmo tempo e o momento da morte tem relevncia, presume-se que morreram ao mesmo tempo. Uma no sobrevive outra. Se se partilha a herana do pai, o filho no sobreviveu ao pai o que devemos entender. No ser herdeiro. Se for partilha da herana do filo, dizemos que o pai no lhe sobreviveu. No existe vocao do sucessvel. Resolve-se com as vocaes indrectas de algum que ocupe o seu lugar. Personalidade jurdica (2033). Na sucesso legal, o n 1; na sucesso voluntria, o n 2. Tm capacidade sucessria, para alm do Estado, todas as pessoas nascidas ou concebidas ao tempo da morte. A legal menos ampla. Na voluntria: alm do n 1, tambm podem concorrer herana nascidos no concebidos. O de cuius pode deixar bem x a filho que a minha irm venha a ter. Tm de ser filhos de pessoa determinada, viva ao tempo da morte do de cuius. Tambm por pacto sucessrio. Na sucesso legal j no pode ser. Se A deixa a pessoa que ainda no existe, como se faz? H indiferena: ele pode nunca aparecer. H 3 hipteses: h quem entenda que se pode avanar com a partilha, que ser resolvida se aparecer (Pereira Coelho, condio resolutiva). Pamplona diz que se tem de esperar pela certeza de que o filho j no vive. JDP entende que podemos avanar com a partilha mas sem condio resolutiva: se o herdeiro vier a nascer, tendo ttulo a seu favor, a parte dele ser composta em dinheiro. Os bens j foram transmitidos: salvaguardam-se os interesses de todos [menos os do de cuius]. As pessoas colectivas s tm capacidade sucessria na sucesso voluntria (2033/2/b)). A questo da PMA levanta problemas. A lei probe implantao post mortem de embrio. Se o embrio j estava concebido data da morte, ter de ser sucessvel (preenche os requisitos do 2033/1). Se ainda no estiver, at que ponto admissvel, sendo que a lei foi violada? Entende-se que, pelo princpio da no discriminao dos filhos, no se pode afast-lo da sucesso. S com outros princpios constitucionais se poderia argumentar contrariamente. Titularidade da designao prevalente. Tem de se ser prioritrio. Na sucesso legal fcil ver (2133, 2134 e 2135). H vrias classes, esto por ordem. Uma classe prefere outra; dentro de cada uma, h preferncia de grau. Na sucesso voluntria, quem tem testamento a seu favor ou pacto sucessrio tem ttulo designativo para concorrer. Capacidade sucessria. 2033, em termos gerais. Aqui falamos pela negativa: no ser declarado indigno nem ser deserdado. legitimidade passiva. Pode-se ser incapaz em relao a A mas no j em relao a B. Indignidade (2034 - 38). H vrias questes polmicas. As alneas a) e b) do 2034, quando comparadas com as do 2166 (deserdao), tm grandes semelhanas. So causas
comuns de deserdao e indignidade. As alneas c) e d) do 2034 so especficas da indignidade. A c) do 2166 especfica da deserdao. Para se ser indigno tem de se cair nas alneas do 2034. Ser tipicidade taxativa ou delimitativa? Pode-se ampliar as causas de indignidade (O. A.)? O. Ascenso entende que a tipicidade delimitativa: actos materialmente similares tambm serviriam. A alnea d): ter escondido o testamento. O. Ascenso e acrdo de 2009 da Relao de Guimares: se outra pessoa soubesse que aquele escondera, tambm dever cair ali. Pela ratio do artigo, deve ser includa. O crime de violao, igualmente. O pai que viola a filha no considerado indigno peo 2034. Mas O. Ascenso tenta encaixar na alnea b) (comportamento que ofenda a integridade moral e fsica da pessoa). Nas alneas a) e b) tem de haver condenao, sentena judicial. Todos os autores cabem aqui: autores morais e materiais. O homicida negligente no cabe na a), s o doloso. A mera tentativa (ainda que no consumado), condenao por tentativa de homicdio, chega. A alnea c) fala no dolo, coaco que perturbe a liberdade testamentria. Na alnea d) tambm est em causa o testamento. 2035: a condenao das alneas a) e b) pode ser depois da morte do de cuius. Fala de condio suspensiva. relevante o crime cometido at ao momento da verificao da condio (mesmo que depois da morte). O 2036 no fala da condenao das alneas a) e b) (penal). Fala, sim, da condenao (em processo civil) por indignidade. A polmica: a doutrina discute se a indignidade tem carcter automtico ou se necessria declarao judicial. O. Ascenso, Capelo de Sousa e Carvalho Fernandes defendem que automtica (no necessita de declarao judicial). Excepto no caso de sucessvel que est na posse dos bens. JDP e Pamplona entendem que sempre necessria declarao judicial. A aco de indignidade pode ser proposta em vida do de cuius. A primeira tese apresenta, desde logo, um argumento literal. O 2034 diz que carecem de capacidade sucessria. assertivo. A inteno inicial do legislador era que no houvesse aco. O 2036 s surge depois e s para aquele caso. O 2037, terceiro argumento, interpretado como apenas vindo esclarecer os efeitos no caso de o sucessvel ter a posse dos bens. Est tudo ligado. 4 argumento: 2038/1 (mesmo que esta j tenha sido judicialmente declarada): o que significa que no tem de ocorrer. S vem reconhecer algo que j existe. Contra: Pamplona e JDP. Rebatem um a um. Pamplona: segurana jurdica. A aco essencial para que se saiba claramente quem sucessvel. Para ter certeza dos factos. Se no h grande litigiosidade (a pessoa contestar a sua excluso automtica). O 2036 estabelece prazos. Tudo isso tem de ser cumprido. Ademais, o 2037 interpretado como sendo especfico para a posse. No significa que s quando h um possuidor que se declara. Tem funo explicativa. O 2038/1 interpretado como visando permitir a reabilitao: a ratio que o sucessvel seja reabilitado mesmo que j tenha sido declarado indigno. O 2038/1 permite a reabilitao expressa. O 2038/2 refere-se tcita. Tm efeitos distintos. Para haver reabilitao pelo testamento ou escrito pblico, necessrio ter a certeza de que o de cuius sabia da causa da indignidade. S se pode perdoar o que se conhece. A tcita menos ampla. A tem filho, condenado por tentativa de homicdio contra ele (2034/a)). H causa de indignidade. O pai, sabendo disso, deixa-lhe uma casa. reabilitao tcita. No est a perdoar tudo, mas parcialmente (dentro dos limites da deixa). No concorrer sucesso como legitimria, neste caso. S concorrer para aquela casa. A expresso dentro dos limites da disposio testamentria tem duas interpretaes possveis: a j referida ou a de Pamplona. A deixa metade da casa ao filho indigno e a outra a amigo. Para alguma
doutrina, o filho s recebe metade da casa. Para Pamplona, poder receber a outra metade se houver direito de acrescer, porque isso ainda est dentro do testamento (dentro dos limites). O 2041 tambm relevante. O 2037 diz que os descendentes do indigno ocupam o seu lugar na sucesso legal. O 2041 diz que na sucesso testamentria prejudica. J no h direito de representao. A indignidade de B impede, na sucesso testamentria, a representao do indigno pelos seus herdeiros. Deserdao (2166). A deserdao para os sucessveis legitimrios. situao de incapacidade sucessria. O legitimrio tambm pode, contudo, ser considerado indigno. Essa questo est ultrapassada. Houve quem falasse em relao de especialidade (P. Coelho, O. A. s nas causas especficas de indignidade). A tese que vigora hoje em dia de que os legitimrios podem ser deserdados ou indignos, aplicando-se-lhes todo o 2034. A deserdao condicional admitida: deserdo se for condenado pela tentativa de homicdio contra mim. O regime da indignidade aplicvel por remisso (2166/1) e fazse analogia com o 2035/1 para a condicional). A deserdao tem de ser feita pelo de cuius em testamento. Poder ser parcial? No, em princpio no possvel (princpio da indivisibilidade da vocao). No faria sentido que houvesse privao s de uma parte. O 2167 prev o prazo para aco de impugnao de deserdao. Se o testamento no indicar a causa de deserdao, a clusula nula (analogia com o 2308). Se a causa invocado no estiver de facto verificada, o regime j o da aco de impugnao da deserdao. Tem de se atacar a deserdao. Modalidades de vocao. A vocao tem os seus prprios contornos delimitados pela designao. Tambm a vocao pode ser legitimria, contratual, testamentria ou legtima. Tambm pode ser vocao de herdeiro ou de legatrio. A vocao pode ser originria ou subsequente. Originria quando se verifica na data da morte; subsequente quando se verifica em momento posterior (quando se chama o sucessvel subsequente, tendo sido a vocao do primeiro sucessvel a vocao originria). A vocao em momento posterior retroage ao momento da morte, mas subsequente. Tambm nos casos em que h deixa a favor de nascituro. Depende do nascituro nascer. A vocao verifica-se quando nascer. O regime da condio suspensiva est no 2229. Mas, quando existe uma, a pessoa beneficiria de deixa com condio tem de sobreviver ao momento da verificao da condio, sob pena de a disposio caducar. O sucessvel subsequente chamado quando o de primeiro linha no quer aceitar. Tambm a situao de substituio fideicomissria: um fiducirio investido na confiana de ficar com o bem; com a morte chamado um terceiro, o fideicomissrio. A sua vocao s se verifica quando morre o fiducirio. Se o fideicomissrio falecer antes deste, no recebe nada. Ver 2293 e 2294 quanto a esta questo. Algumas destas situaes retroagem ao momento da morte (chamamento de sucessvel subsequente e condio suspensiva), outras no (fideicomissrio: quando o fideicomissrio recebe o bem, a sua posio no retroage ao momento da morte do de cuius, porque isso apagaria a interveno do fiducirio; tambm o nascituro no retroage: nesse momento ele no tinha ainda personalidade). A vocao pode ser pura, modal, condicional ou a termo, consoante tem ou no clusula acessria. A normal a pura. O 2229 fala desta matria para a sucesso testamentria. Sucesso contratual. Os pactos sucessrios tambm podem ter condio, termos ou encargos. Aplica-se o regime geral do 270 a 279; quanto ao modo, os artigos gerais das doaes (963 - 67). A vocao pode ser una (a pessoa chamada a um nico ttulo) ou mltipla (a vrios ttulos). O princpio da indivisibilidade da vocao releva aqui. Na ideia de indivisibilidade, quando se trata de vocao una, a pessoa ou aceita tudo ou repudia tudo
(2054/2 e 2064/2; 2255/1 e 2 e 2250/1). Na vocao mltipla, significaria que a pessoa chamada a vrios ttulos e no poderia aceitar um e repudiar outro. Acontece que no assim to simples. H uma ideia de unidade da vocao legal: a sucesso legal incidvel. Mas isto no se reflecte apenas no mbito da aceitao, do exerccio do direito de suceder. Se a vocao legal uma unidade, se uma pessoa for deserdada (afastada da sucesso legitimria) tambm no pode suceder como herdeira legtima. Na indignidade passa-se o mesmo (aplica-se para a sucesso legtima mas tambm para a legitimria, para alm de valer para a testamentria). A pessoa no pode ser afastada da sucesso legal s parcialmente. H outra situao: o legado em substituio da legtima (a pessoa recebe um bem determinado em substituio da quota). O 2265 diz que no recebe a herana legitimria. JDP diz que como a sucesso legal unitria, perde tambm o legado. Pamplona diz que se perdesse os direitos como legitimrio e tambm como legtimo, ficaria demasiado prejudicado. S deveria, na sua viso, perder a legitimria. Mas h uma unidade na sucesso legal. No legado por substituio da legtima, perde a legtima e a legitimria. H, na realidade, mais excepes do que a prpria regra. O 2055 esclarece. Se algum chamado como testamentrio e legal, entende-se que se aceita o testamento tambm aceito o ttulo legal, e o mesmo se repudiar. Mas surge logo uma excepo: pode aceitar ou repudiar o testamento, tendo repudiado ou aceitado a sucesso legal, se quando fez isto desconhecesse a existncia do testamento. No se pode presumir que a pessoa repudiou o testamento quando nem sabia que ele existia. E justo que possa vir a aceit-lo. O 2055/2 tambm traz excepo: pode repudiar a QD da sucesso legitimria e s aceitar quanto QI, quando seja simultaneamente legitimrio e testamentrio. Sucesso legal e sucesso testamentria no formam, sempre, uma unidade. O princpio da indivisibilidade no se aplica na sucesso contratual. Quando h pacto sucessrio ele tem de ser aceite, se no vale como testamento. O problema que se coloca o de querer repudiar uma e aceitar outra. O contrato j foi aceite. Independentemente do que faa na sucesso contratual, pode-se fazer o que se quiser quanto aos outros ttulos. Pode-se suceder contratualmente e repudiar o ttulo legal ou testamentrio. H certas situaes que so anmalas, correspondentes s situaes de sucesso anmala. A sucesso anmala tambm no est sujeita ao princpio da indivisibilidade. Pode-se aceitar a sucesso anmala e repudiar outras. O cnjuge tem direito a que, no momento da partilha, lhe seja atribuda com preferncia a casa de morada de famlia. Pode aceitar a herana mas repudiar essa atribuio patrimonial. O 2250/1 diz que o legatrio no pode aceitar o legado em parte e repudiar a outra. Mas pode aceitar ou repudiar outro, se este no for onerado por encargos impostos pelo testador. Considera-se razovel que, se no houver encargos, possa repudiar. A situao em que algum v a sua parte alargada por via do direito de acrescer. O de cuius deixa a herana a dois sobrinhos. Se um deles repudiar, o outro pode ser chamado a acrescer. Mas pode, tambm, dizer que no quer a outra metade. Mas s quando na parte que caberia ao outro herdeiro recarem encargos. Se no houver encargos, recebe tudo. O testador tinha planeado que o encargo ficasse na esfera do outro. Assim, razovel que o outro possa repudiar (2306). O direito de acrescer funciona quando no h direito de representao: como no h descendentes, vai para o lado. A vocao pode ser directa ou indirecta. Tem a ver com o critrio da pessoa que o ponto de referncia (JDP). Na directa, o chamado tem relao com o de cuius; na indirecta, tem uma vocao que resulta de relao que tem com terceiro. A tem filho B e este tem filho C. Se o B j tinha morrido, chamamos C a suceder a A. O neto nunca chamado directamente. sempre cha