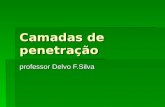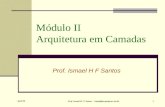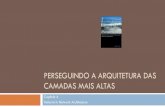TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS E AS CAMADAS … - DANNIEL... · Em primeiro lugar agradeço a Deus e a...
Transcript of TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS E AS CAMADAS … - DANNIEL... · Em primeiro lugar agradeço a Deus e a...
DANNIEL FERREIRA COELHO
TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS E AS CAMADAS POPULARES:
UMA ANÁLISE DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE MONTES CLAROS
DA DÉCADA DE 1980
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
MONTES CLAROS/MG
JULHO/2014
DANNIEL FERREIRA COELHO
TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS E AS CAMADAS POPULARES:
UMA ANÁLISE DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE MONTES CLAROS
(MG) DA DÉCADA DE 1980
Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-
graduação em História, da Universidade Estadual de
Montes Claros, como parte dos requisitos para a obtenção
do título de Mestre em História.
Área de concentração: História Social
Linha de Pesquisa: Poder, Trabalho e Identidades
Orientadora: Drª Ilva Ruas de Abreu
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
JULHO/2014
C672t
Coelho, Danniel Ferreira.
Transformações políticas e as camadas populares [manuscrito] : uma
análise das eleições municipais de Montes Claros da década de 1980 / Danniel
Ferreira Coelho. – 2014.
148 f. : il.
Bibliografia: f. 141-148.
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes, Programa de Pós-Graduação em História/PPGH, 2014.
Orientadora: Profa. Dra. Ilva Ruas de Abreu.
1. Política – Montes Claros (MG). 2. Movimentos populares. 3. Hegemonia.
4. Coronelismo. 5. Populismo. I. Abreu, Ilva Ruas de. II. Universidade Estadual
de Montes Claros. III. Título. IV. Título: Uma análise das eleições municipais
de Montes Claros da década de 1980.
Catalogação Biblioteca Central Professor Antônio Jorge
DANNIEL FERREIRA COELHO
TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS E AS CAMADAS POPULARES:
UMA ANÁLISE DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE MONTES CLAROS
DA DÉCADA DE 1980
BANCA EXAMINADORA
___________________________________________________________
Professora Drª Ilva Ruas de Abreu -Orientadora (UNIMONTES)
___________________________________________________________
Professora Dr Marcos Fábio Martins de Oliveira (UNIMONTES)
___________________________________________________________
Professora Drª Aparecida Maciel da Silva Shikida (Faculdades Santo Agostinho)
Data: ____/____/____
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
MONTES CLAROS – MG
JULHO 2014
AGRADECIMENTOS
Agradeço a todos que me ajudaram a tornar essa empreitada menos árdua,
principalmente, àqueles que estiveram ao meu lado.
Em primeiro lugar agradeço a Deus e a Nossa Senhora, por intervirem, por mim, em
todos os momentos em que mais precisei (e foram vários).
A minha esposa, Fabíola, pela imensa paciência e companheirismo, nos momentos
mais difíceis.
Aos meus pais, que são à base de minha formação, em especial ao meu pai, Tarciso,
pelos infinitos debates políticos e pela revisão que sempre se dispõe a fazer dos meus
trabalhos.
A todos os professores e colegas, que me acompanharam, nessa longa caminhada no
programa de pós-graduação em História.
Ao servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em Belo Horizonte, Luiz
Carlos Dutra de Moura, que muito gentilmente me atendeu.
Ao professor Marcelo Walmor Ferreira, pela sua dissertação e, principalmente, pelas
conversas que muito me ajudaram nas minhas reflexões.
E, por fim, à minha querida orientadora e amiga, Profa. Dra. Ilva Ruas de Abreu, que
com extrema paciência me acompanhou em absolutamente todas as etapas deste trabalho,
certamente sem ela nada disso teria sido possível. Todos os acertos que porventura esta obra
tiver foram oriundos de sua orientação; já os equívocos, que ocasionalmente podem ter
ocorrido, aconteceram apesar dela.
RESUMO
A política, como objeto de estudo acadêmico das Ciências Sociais, é um tema absolutamente
controverso, cujo papel na vida societária é constantemente alvo de inúmeros questionamentos e,
devido a estes, sua relevância ora se impõe enquanto prioritária, ora se coloca como obsoleta.
Diferentes perspectivas que entendem a política como centro da visão social coabitam no meio
acadêmico e defendem posicionamentos teóricos que a entendem como, exclusivamente, um
epifenômeno de outros fatores, especialmente de viés econômico. Neste ínterim, o presente trabalho
almeja o equilíbrio entre tais perspectivas, buscando demonstrar como os grandes fazendeiros
hegemonizaram o processo político em Montes Claros durante 150 anos, desde sua elevação à
condição de vila até o pleito de 1982, quando as camadas populares se articularam e conseguiram
ampliar sua representatividade, com a eleição de vereadores oriundos dos movimentos populares e de
um prefeito a elas relacionado. Contudo tal representatividade não se manteria no pleito seguinte, em
1988, quando os parlamentares de origem popular não obtiveram êxito em suas reeleições e o
executivo voltou a ser chefiado por um fazendeiro. Este resultado ocorre devido a ação populista da
prefeitura durante legislatura 1983-1989, que amparado por vultuosos recursos federais cria
mecanismos de diálogo direto com a população o que desarticula a atuação daqueles vereadores
enquanto intermediários bem como de outras organizações representativas.
PALAVRAS-CHAVE: Política, movimentos populares, hegemonia, coronelismo, populismo.
ABSTRACT
Politics as an object of academic study of social sciences is an absolutely controversial topic,
whose role in society life is constantly the target of numerous inquiries, and due to this its
relevance now imposes itself as a priority, now stands as obsolete. Visions who understand
politics as social vision center cohabit in academia with prospects who understand it as
exclusively an epiphenomenon of other factors especially economic bias. This paper will seek
a balance between these perspectives to demonstrate how the large rural capital had control
the political process in Montes Claros for 150 years, since its elevation to the status of village
until the 1982 election, when the lower classes got together and managed to enlarge their
representation in the election of city councils that came of popular movements and a mayor
related to them. However such a representation would not hold the next election in 1988,
when lawmakers of popular origin have failed in their reelection and the executive was again
headed by a farmer. This result occurs because of populist action Prefecture during 1983-1989
legislature, that any significance supported by federal funds creates mechanisms for direct
dialogue with the population which dismantles those councilors acting as intermediaries and
other representative organizations.
KEYWORDS: Politics, Popular Movements, Hegemony, Coronelism, Populism.
LISTA DE SIGLAS
ACI – Associação Comercial e Industrial de Montes Claros
ALN – Ação Libertadora Nacional
ARENA – Aliança Renovadora Nacional
COOPAGRO – Cooperativa Agropecuária de Montes Claros
CUT – Central Única dos Trabalhadores
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
MDB – Movimento Democrático Brasileiro
MR8 – Movimento Revolucionário Oito de Outubro
PCB – Partido Comunista Brasileiro
PCdoB – Partido Comunista do Brasil
PCPM – Programa Cidade de Porte Médio
PDS – Partido Democrático Social
PDT – Partido Democrático Trabalhista
PFL – Partido da Frente Liberal
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PSD – Partido Social Democrático
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
PT – Partido dos Trabalhadores
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
Lista de tabelas
Tabela 1: Vereadores eleitos em 1982 ............................................................................ 67
Tabela 2: Vereadores eleitos em 1988 ...........................................................................135
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 10
CAPÍTULO I
MUDANÇAS E CONTINUIDADES – CAPITAL RURAL, ORGANIZAÇÕES
POPULARES E AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1982 EM MONTES CLAROS (MG)
................................................................................................................................................ 20
1.1 - O capital rural enquanto organizador do poder político local ...................................... 21
1.2 - O Regime Civil-Militar suas consequências em Montes Claros e o capital rural
................................................................................................................................................ 36
1.3 - O MDB, as camadas populares e as eleições municipais de 1976 e 1982 .................... 49
CAPÍTULO II
O INÍCIO DO MANDATO – A DISPUTA DA HEGEMONIA, AS NOVAS PRIORIDADES
E O PROGRAMA CIDADES DE PORTE MÉDIO ........................................................... 70
2.1 – O início da legislatura 1983/1988 – o executivo, o legislativo e a hegemonia (ainda) em
disputa .................................................................................................................................. 71
2.2 – As relações com o governo Federal, o Programa Cidade de Porte Médio e as novas
prioridades ............................................................................................................................ 82
CAPÍTULO III
O FINAL DO MANDATO E AS ELEIÇÕES DE 1988 – POPULISMO, A NOVA
REPÚBLICA E O NOVO PMDB ..................................................................................... 95
3.1 – A Nova República e o novo PMDB – o Governo Sarney e o fim de uma “Frente” .... 98
3.2 – O conceito “populismo” e sua utilização para a análise de Montes Claros na década de
1980 ..................................................................................................................................... 109
3.3 – As eleições de 1988 e o retorno ao antigo perfil dos representantes institucionais ... 120
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 137
REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 141
10
INTRODUÇÃO
A política, enquanto objeto de estudo das Ciências Sociais, é um tema absolutamente
controverso, cujo papel na vida societária é constantemente alvo de inúmeros
questionamentos e, devido a estes, sua relevância ora se impõe enquanto prioritária, ora se
coloca como obsoleta. Visões que entendem a política enquanto centro da visão social
coabitam no meio acadêmico a partir de perspectivas que a entendem como, exclusivamente,
um epifenômeno de outros fatores especialmente de viés econômico. O presente trabalho
buscará o equilíbrio entre estas perspectivas.
Antes, porém, destacamos o debate que empreendemos, nas próximas páginas,
inspirado nos apontamentos do historiador francês Pierre Rosanvallon, quando este
determinou um “retorno do político”, do ponto de vista da produção historiográfica (2010,
p.39). Mais adiante, aprofundaremos sobre as razões que o levaram a esse retorno, por ora,
interessa-nos apresentar os motivos que o levaram primeiramente ao abandono do político.
Neste quadro, a política é compreendida enquanto mecanismo de acesso à gestão do
Estado, ponto de vista defendido desde a Idade Moderna, aludindo a Maquiavel e a Hobbes,
passando ainda por Locke e Montesquieu, sendo primeiramente criticada a partir de Marx. É
ainda no jovem Marx que se encontrará o cerne fundamental que o norteará (além dos
marxistas, daí em diante) em torno da questão da política e do Estado.
Tal perspectiva despontou no sentido de se contrapor a definição hegeliana que estava
em voga na época. O ponto central dessas obras parte da construção da representação,
personificada no Estado, como neutra e coletiva, isto é, de toda a sociedade. Tal abordagem
partia da visão de que o Estado era a representação inequívoca de toda a sociedade, e,
portanto, agiria na busca do bem comum. (BRANDÃO, 2002)
Para compreender melhor essa questão, Hegel (1770-1831) dividirá o conjunto da
sociedade em dois âmbitos, o da sociedade civil e o do Estado Político, sendo que a primeira
esfera (a da sociedade civil) seria a representação dos interesses privados antagônicos entre si,
e a segunda (do Estado) seria a representante do interesse público. A sociedade civil seria a
fragmentação e o Estado seria a unidade (BRANDÃO, 2002).
11
Já Marx, que em suas origens se identificara enquanto um “Hegeliano de esquerda”,
rompe com tal perspectiva, e demonstra esse rompimento, especialmente a partir de seu
panfletário “Manifesto Comunista”, de 1848. Nesse “Manifesto”, Marx expressa claramente
sua divergência com qualquer ideia de ser o Estado representante da coletividade e do bem
comum, ao afirmar que “o executivo do Estado moderno nada mais é do que um comitê para
administrar os assuntos comuns de toda burguesia”. (MARX e ENGELS, 1999, p.12)
Como vimos, o Estado tem, para Marx (e para os marxistas), um caráter classista, o
que representou uma ruptura com a visão liberal que propunha a existência de um Estado que
representasse o conjunto da sociedade, que se colocasse acima dos interesses particulares e
fosse o representante-mor do bem comum. Para Marx, o Estado era em essência o agente
reprodutor das relações sociais vigentes, e com tal função reproduzia também as relações de
dominação intrínseca do sistema capitalista de produção. (MARX, ENGELS, 1999)
Nesta direção, o Estado seria visto pelo marxismo apenas como “instrumental”, ou
seja, instrumento de dominação de classe, “repressivo” e “reflexivo”. (BOBBIO, 1980, p.154)
Sendo, pois, o Estado um reprodutor das relações sociais, fazia-se mais importante estudá-las,
do que o Estado em si. Dentro dessa concepção, a política seria um epifenômeno das demais
relações.
Cabe ressaltar, entretanto, que, apesar de não ser nem a política nem o Estado os
aspectos principais da teoria marxista, não é correto afirmar que esses temas não foram
tratados por Marx, haja vista a obra “O 18 Brumário de Louis Bonaparte”.(1852)
Somente no decurso do século XX é que autores marxistas se dedicaram, de forma
mais aprofundada, a questão do Estado, em especial o italiano Antônio Gramsci (1897-1937),
cuja contribuição se tornará referencial obrigatório para os marxistas que se engajarão no
tema que, possivelmente, constitui a principal lacuna do pensamento de Karl Marx.
(BOBBIO, 1979)
Em que pese Gramsci partir do mesmo norte que unifica o pensamento marxista em
relação à questão do Estado, isto é, considerado enquanto um elemento vinculado às classes
dominantes, o intelectual italiano avança ao não considerá-lo apenas sob a ótica de aparelho
repressivo, mas sim como um “aparato jurídico-político, cuja organização e intervenção
variam de acordo com a organização social, política, econômica e cultural da sociedade
mediada pelas correlações de força entre as frações de classes vigentes”. (SILVA, 2005)
Para Gramsci, o Estado é constituído através da organização da própria sociedade,
sendo esta constituída de instituições complexas (públicas e privadas) que se articulam entre
12
elas, e cujo papel histórico varia de acordo com as lutas em busca da garantia da hegemonia
de seus interesses. (SILVA, 2005) Hegemonia, nesse contexto, deve ser entendida como a
direção moral e intelectual de uma classe, ou fração de classe, sobre as outras.
(PEREIRA,2012)
Essa hegemonia se dá no âmbito do que o autor chama de “sociedade civil” que,
segundo Gramsci, é o conjunto das “organizações coletivas às quais se aderia
espontaneamente, e que desempenhavam papel decisivo na formação e difusão de ideias e
valores” características de Estados ocidentais. É sob essa lógica da sociedade civil que surge o
elemento central da perspectiva gramsciana de Estado ampliado, que distingue sociedades
ocidentais das orientais. (PEREIRA, 2012, p. 9)
As sociedades orientais, de acordo com o esquema de Gramsci, seriam aquelas em que
a sociedade civil é frágil, ou até mesmo não existe. Neste caso, Gramsci afirma que ocorre o
“Estado-Coerção”, que seria a existência apenas de uma “sociedade política”, e, portanto, a
classe que dirige tal Estado faria através da dominação, da coerção, e não da hegemonia.
(PEREIRA, 2012, p. 9) Já nas sociedades ocidentais, o Estado, além da presença da sociedade
política, se acresceria a sociedade civil, o que consequentemente faz com que o poder em si
não só se localize no Estado, mas também no seio da sociedade civil, onde se localiza a
hegemonia. (PEREIRA, 2012)
Neste contexto, faz-se imperativo destacar ainda que a distinção de Gramsci não foi
feita de acordo com os cânones geográficos que dividem o Ocidente do Oriente pelo
meridiano de Greenwich (até porque se assim o fosse, a própria Itália, seu país natal, seria
oriental), isto é, tal “distinção não é meramente espacial, mas sim temporal e diacrônica”, pois
sob a ótica gramsciana, é possível afirmar que “todas as sociedades teriam sido orientais em
tempos mais afastados, e aquelas que ainda o eram poderiam se ocidentalizar”. (PEREIRA,
2012, p.9) Esse conceito de Estado ampliado se tornou um marco no arcabouço marxista,
possibilitando, assim que essa vertente se tornasse mais apropriada ao estudo da política.
Além do marxismo, outros autores clássicos, tais como Emile Durkheim (1858-1917)
e Max Weber (1864-1920) também abordaram esse tema, embora a partir de outras
perspectivas. Assim como em Marx, tanto em Weber quanto em Durkheim o tema “Política”,
apesar de não ser o elemento fundamental, foi abordado. (QUINTANEIRO, BARBOSA e
OLIVEIRA, 2002)
A esse respeito, vejamos a posição de Weber, o conceito de dominação, essencial em
Marx, também aparece em Weber, porém, de outra forma. A dominação é fundamental em
13
Weber, tanto para se compreender o Estado, quanto à sociedade como um todo. O Estado é
oriundo de um exercício de dominação, que possui o monopólio legítimo do uso da força.
Portanto, o Estado, e consequentemente a política, também se encontra sob a lógica da
dominação, todavia diferentemente de Marx, que o via sob a ótica de que esta era exercida por
uma classe sobre outra. Weber, entretanto, não vê dessa forma, pois a dominação para ele é do
homem sobre o homem, forjando assim a situação em que este é a única fonte de uso da
violência. (WEBER, 1991)
Nessa relação de dominação tem de haver dois elementos que, segundo Weber,
constituem o Estado, que são a autoridade e a legitimidade. A partir desses dois elementos, o
autor cria o seu mecanismo analítico, chamado de “tipos ideais puros de dominação legítima”,
que, por sua vez, geram outros “tipos” de autoridade. Vale ressaltar que esses “tipos puros”
criados por Weber são abstrações que somente se apresentam no interior de sua teoria, já que
na realidade concreta o que ocorre são combinações de cada um desses. (WEBER, 1991, p.
33)
Assim, o primeiro tipo de dominação proposto por Weber é denominada tradicional.
Para o autor, a dominação tradicional é aquela em que a obediência dos indivíduos ao agente
público ocorre oriunda do seu enraizamento cultural. Em sociedades com tal situação as
pessoas não são cidadãos, mas sim súditos, e não obedecem a um estatuto instituído, e sim a
uma pessoa cuja autoridade foi instituída pela tradição, sendo, portanto, todos os seus atos
legítimos por natureza, pois é sua prerrogativa exclusiva determinar essa legitimidade
(WEBER, 1991).
O segundo tipo de dominação é a carismática. Esse tipo de dominação se assenta no
fato de aqueles que se subordinam acreditarem na superioridade daquele que os lidera, que
pode ser fruto de algo sobrenatural ou de características inigualáveis, tais como coragem ou
inteligência. Assim como na dominação tradicional, na carismática também não há a
constituição de um ordenamento jurídico racional e estável – a ordem está inserida
exclusivamente nas afirmativas propostas pelo tal chefe carismático. (WEBER, 1991)
E, por fim, apresenta o tipo de dominação legal, também chamada de racional ou
burocrática. Nesse tipo ocorre, a priori, a definição de um conjunto de normas legais que
regem a gestão da coletividade, e em que repousa a autoridade estatal sobre todo o conjunto
de pessoas inseridas nesse contexto. Neste caso, a legitimidade se assenta na premissa de que
o ordenamento jurídico vigente fora criado apenas sob a lógica da racionalidade. O cidadão,
nesse caso, não é dominado pelo soberano, seja ele um monarca ou um presidente, mas sim
14
pela lei. O exercício desta autoridade racional se vincula a um corpo administrativo
hierarquizado do Estado, composto por profissionais que Weber designa como burocracia.
(WEBER, 1991)
Weber afirma ser este último tipo o mais adequado para a gestão do Estado moderno,
além também de ser o melhor modo de se gerir empreendimentos empresariais privados.
Diferentemente de Marx, para Weber a dominação não necessariamente é algo negativo, pois
o tipo racional-burocrático pode atuar enquanto mecanismo de integração social. (1991)
Já Durkheim, assim como Weber e Marx, parte de um pressuposto valorativo de
Estado, isto é, em sua produção ele aponta características que fazem com que este seja mais
ou menos adequado. Contudo, devemos assinalar que para Durkheim, assim como para Marx
e ao contrário de Weber, o Estado se subordinava à sociedade. (QUINTANEIRO, BARBOSA
e OLIVEIRA, 2002)
Dentro dessa lógica, Durkheim acreditava ser o Estado, na sociedade moderna, o
substituto da Igreja, enquanto agente responsável pela disciplina e pela organização moral dos
membros de determinada sociedade. Para o autor, inclusive a individualidade moral é fruto do
Estado, pois este “tende a assegurar a individuação mais completa que o estado social
permite. Longe de ser o tirano do indivíduo, é ele quem o resgata da sociedade”.
(DURKHEIM, 2002, pg. 96) A visão durkheimiana, em suma, propõe que a própria existência
do indivíduo, portanto, é fruto da atuação estatal porque é dele, e de seus conflitos, que
nascem “as liberdades individuais”. A partir desta ótica, o exercício da política será então
fundamental para a busca da liberdade. (DURKHEIM, 2002, pg. 88) E é na crítica a essa
perspectiva que superlativa o papel do Estado, e consequentemente o da política, que ocorre o
“abandono” ao qual nos referimos nas primeiras linhas desta introdução.
De acordo com Pereira (2012), as críticas que geraram esse abandono são fruto do que
ele denomina “inventário de erros”, exposto por Jaques Julliard.
A história política é psicológica e ignora os condicionantes; é elitista, talvez
biográfica, e ignora a sociedade global e as massas que a compõem; é qualitativa e
ignora as séries; o seu objetivo é o particular e, portanto, ignora a comparação; é
narrativa, e ignora a análise; é idealista e ignora o material; é ideológica e não tem
consciência de sê-lo; é parcial e não o sabe; prende-se ao consciente e ignora o
inconsciente; visa os fatos precisos, e ignora o longo prazo; em uma palavra, uma
vez que essa palavra tudo resume na linguagem dos historiadores, é uma história
factual. (JULLIARD, 1976, pp. 180-181)
15
Ainda em relação a essa questão, outro a apontar os principais motivos para o
abandono do político é o intelectual francês François Dosse. Ele atesta que é a ascensão da
chamada “Escola dos Annales”, como corrente historiográfica preponderante, a partir da
década de 30, tornou-se o fator fundamental para tal virada, pois os “pais fundadores”, Lucien
Febvre e Marc Bloch, ao iniciarem seu periódico em 1929, elegem novas prioridades para o
conhecimento científico. (DOSSE, 2003)
Essa virada é um dos traços mais marcantes dos Annales. Essa escola historiográfica
nasce ao criticar a produção anterior, de caráter positivista, influenciada pela metodologia
durkheimiana, que se centrava em uma história eminentemente biográfica, política e factual.
Em outros termos, a vertente anterior se ligava aos grandes feitos, dos grandes líderes,
acreditando serem esses aspectos os pontos fundamentais. O ponto de fixação dos Annales é a
oposição sistemática a essa historiografia positivista. Bloch e Febvre destroem esses “três
ídolos” (DOSSE, 2003, pg.372) e traçam seu percurso “centrado nos aspectos econômicos e
sociais, abandonando completamente o campo político, que para eles se torna supérfluo,
anexo, ponto morto”. (DOSSE, 2003, p.39) Ao abandonarem o político, consequentemente,
rejeitaram o Estado e suas esferas, o “jogo político, a vida parlamentar, em suma, os partidos
políticos são postos de lado por esses intelectuais”. (DOSSE, 2003, p.38) Dosse prossegue e
conclui esse raciocínio afirmando que o Estado, para os Annales, é rejeitado como sendo algo
exterior à sociedade, “como corpo alógeno”. (DOSSE, 2003, pg.38)
Essa característica de recusa do político é uma das principais continuidades entre as
chamadas “gerações” dos Annales. Na segunda geração dos Annales, liderada por Fernand
Braudel, essa característica se torna mais evidente. (DOSSE, 2003)
A constatação de que os ideários são transmitidos através de gerações alarga uma
importante concepção histórica, conforme nos ensina braudeliana, o conceito de tempo.
Segundo Braudel, história seria a principal ciência social, por ser a única capaz de dialogar
com os três tipos de duração; o curto, do evento; o médio, da conjuntura; e o longo, da
estrutura. A história seria a “ciência humana mais completa e complexa”, pois é a única que
considera a “interação entre estrutura, conjuntura e evento”. (BARROS, 2010, p.15)
Por esta visão, Braudel fortalece a perspectiva da importância da história se focar na
longa duração, isto é, em uma história que seja estrutural. Por esta razão, o evento de curta
duração, local onde se encontram os acontecimentos da esfera do político, é cada vez mais
desvalorizado. Em Braudel, potencializa-se a ambição de construção de uma história total, já
apregoada pela primeira geração. E, nessa lógica braudeliana, o tempo curto da política seria
16
apenas “vagalumes que se encaixam no tempo médio da estrutura”, que, por sua vez, se
apoiam no tempo longo das estruturas articuladas”. (BARROS, 2010, p.16)
Mais tarde, a partir 1969, ascende uma nova geração à frente dos Annales (a 3ª), que
se autointitula “Nova História” e propõe novas abordagens na construção da produção
historiográfica. Essa “Nova História” rompe com diversos pressupostos defendidos pelas
gerações anteriores, rompendo inclusive, de acordo com Cardoso (1997), com o paradigma
moderno que norteava a produção dos Annales. A 3ª geração produz uma história,
denominada por Cardoso (1997) de pós-moderna, que se caracteriza pelo rompimento com o
pressuposto fundamental que havia marcado o grupo desde 1929, denotando a ambição, já
citada, de uma história total. Esta “Nova História” abandona o “analítico, o estrutural, a
macroanálise e a explicação”, em favor da “micro-história, das interações e da história como a
narrativa literária”. (CARDOSO, 1997, p.17)
Em síntese, a 3ª geração intensifica ainda mais a negação do político, presente nas
gerações anteriores. A nova geração “analista” desloca suas preocupações historiográficas
cada vez mais para o campo da cultura, passando de uma “história geoeconômica” para uma
“história das mentalidades” ou “antropologia histórica”, cada vez mais voltada aos fragmentos
do que para a totalidade. Em outras palavras, eles abandonaram a perspectiva de uma história
do todo, para uma história de tudo. (DOSSE, 2003, p. 370)
Todavia, concomitantemente a essa nova abordagem dos novos diretores dos
“Annales”, ocorre o movimento que Rosanvallon chamou de “retorno ao político”. De acordo
com Pereira (2012), esse retorno se inscreve em uma transformação que é um processo maior,
pelo qual toda história esteve envolvida.
Dentre os aspectos que levaram a essa concepção, destacamos o “alargamento das
categorias: política e poder”, que teve como um dos principais artífices o francês Michel
Foucault, que concebe o poder como algo que circula e que funciona em cadeia. (PEREIRA,
2012) Apesar do argumento de Foucault, Rosanvallon deixa claro que o entendimento desse
acerca do político ainda é “bastante limitado”, já que Foucault seria “prisioneiro de uma
abordagem ainda muito estrita”, que pensa o político somente relacionado à questão do poder.
(2010, pp. 60- 61)
Em contrapartida, Rosanvallon, por sua vez, é partidário de uma visão amplificada
que percebe a política, a filosofia e a história de maneiras interligadas, para assim promover o
que ele entende como “história filosófica do político”, cujo objetivo seria propiciar o
entendimento em torno do modo pelo qual são projetados e se desenvolvem os sistemas
17
representativos, que permitem conceber não só a instância estatal e de poder, mas também
toda a vida comunitária, de forma que se identifiquem as “constelações históricas em torno
das quais novas racionalidades políticas e sociais se organizam”. (2010, p.44)
Nesse sentido, por mais paradoxal que pareça, o autor acredita que essa proposta da
história filosófica do político representa “uma tentativa de dar um novo significado ao projeto
de Fernand Braudel de uma história total”, de forma que se construa o sentido do político em
toda a sua complexidade. (ROSANVALLON, 2010, p. 47) Na mesma linha de raciocínio,
René Remond afirma que “o político não é um setor separado: é uma modalidade da prática
social”. (2003, p.35)
E foi recorrendo a essa vertente teórica, que compreende a política como elemento
articulado da vida social, que desenvolvemos o tema desta dissertação.
Em outras palavras, nosso intuito foi analisar as eleições municipais de Montes Claros
(MG) da década de 1980, considerando o contexto em que estas ocorreram, e entendendo-as
não como evento central da vida do povo da cidade, ou ainda apenas como um reflexo do
momento econômico e social vivido, pelo contrário, buscamos analisar e evidenciar os
aspectos que possibilitaram a ocorrência das eleições da forma como ocorreram, destacando,
especialmente, sua ação nas camadas populares, organizadas ou não, mediante o
protagonismo efetivo, por diversas vezes, reivindicado pelas lideranças estabelecidas.
Para atender o objetivo apresentado, a primeira etapa da produção desta dissertação se
constituirá de uma profunda pesquisa bibliográfica que se caracteriza “pela utilização de
informações, conhecimentos e dados que já foram coletados por outras pessoas em pesquisas
anteriores, e demonstrados de diversas formas” (MATTOS, ROSSETTO JÚNIOR,
BLECHER, 2003), com o propósito de delinear de maneira mais precisa os questionamentos
presentes. Foram objeto dessa revisão, obras relacionadas aos seguintes temas: elites políticas,
representação política, movimentos sociais e populares, populismo, coronelismo,
clientelismo, regime militar no Brasil, lideranças carismáticas. A fim de sistematizar melhor o
que estamos tratando, organizamos este trabalho em três capítulos, a saber:
No primeiro capítulo, buscamos construir uma análise das eleições de 1982 a partir de
fontes documentais, tais como jornais, atas, tanto de instâncias governamentais (por exemplo,
a Câmara Municipal), como de documentos oficiais, como leis e dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas (IBGE). Dessa forma, chega-se àquela fase que Bloch designa
como uma das mais difíceis do trabalho do historiador, que é a da definição dos documentos
necessários para a sua pesquisa. (BLOCH, 2001) É ainda nessa fase que também ocorrem os
18
maiores riscos do fazer histórico, que embasam as teses que defendem a incapacidade da
história de produzir algo verdadeiro. José Carlos Reis (2006), admitindo o caráter “muito
problemático epistemologicamente” do conhecimento histórico, apresenta os principais
argumentos para tais problemas.
Primeiramente, Reis (2006) observa que o conhecimento histórico é produzido
exclusivamente através de vestígios do passado, sempre precários e lacunares, e, às vezes,
também estrategicamente colocados. Logo, o passado se torna uma “abstração”, pois é um
“conhecimento indireto do passado”, e, portanto, a “linguagem da história” não é em nada
distinta da “linguagem do mentiroso”. O conhecimento histórico é, sem dúvida, apenas uma
“retrodicção pouco rigorosa”, pois é fruto apenas da escolha do historiador na hierarquização
das causas e escolha dos eventos. (REIS, 2006, p.99).
Da mesma forma é fundamental não incorrer na ingenuidade de acreditar na
veracidade dos documentos, pois bem afirma Le Goff (2003) que todo documento é também
um monumento fruto de fatores intrínsecos ao poder vigente. Porém, apesar de tais riscos,
essa metodologia se justifica na medida em que a “análise documental favorece a observação
do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos,
comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros”. (CELLARD, 2008, p.59)
Além do devido levantamento documental, caberá uma profícua interpretação destes,
pois, segundo May (2004), os “documentos não existem isoladamente, mas precisam ser
situados em uma estrutura teórica, para que o seu conteúdo seja entendido”.
Esses mesmos cuidados serão também tomados no decurso do segundo e do terceiro
capítulos, que debaterão respectivamente a organização dos movimentos populares e a disputa
pela hegemonia no decurso da legislatura 1983-1988 e as eleições de 1988. Com vistas a
atender este intento, as fontes consultadas auxiliaram a determinar as condições em que tais
momentos ocorreram.
Assim, ao longo do primeiro capítulo, primeiro, apresentaremos um levantamento
histórico de Montes Claros, após discutiremos o caráter conceitual da ação das lideranças
políticas da cidade, confrontando-a com a ação dos movimentos populares, buscando
explicitar de que forma estes atuaram com o propósito de resistir à dominação local. Nesse
capítulo demonstraremos que, em que pese à ausência de candidaturas de sucesso eleitoral de
caráter popular anteriormente a 1982, já havia traços de resistência. O fenômeno de ruptura
com as lideranças tradicionais, ocorrido em 1982, somente acontece devido a um acúmulo
19
histórico, demonstrado a partir da “crise de hegemonia da classe dominante”, cuja expressão
mais evidente foi a do pleito, mas que certamente não foi a única. Demonstrar esse acúmulo e
as formas de atuação das lideranças intelectuais populares que culminaram na vitória eleitoral
em 1982 é o objetivo principal desse capítulo. (GRAMSCI, 1976)
Já, o segundo capítulo, almejamos a dois objetivos, no primeiro, demonstraremos os
aspectos dessa legislatura, atípica tanto pelo perfil socioeconômico dos eleitos quanto pela
extensão de seis anos em que se mantiveram no poder, denotando a ação dos movimentos
populares diante de uma conjuntura política em que vários agentes políticos eram oriundos
destes. No segundo, analisaremos a participação dos setores, em crise de hegemonia,
derrotados no pleito de 1982 na vida pública da cidade, seja em palanques oposicionistas, seja
nas esferas governamentais. Como isso, mostraremos, afinal, quem cooptou quem, indicando
que a questão da hegemonia ainda estava em disputa em Montes Claros a partir de 1983, além
de reconhecer a importância de recursos oriundos do governo federal, ainda sob o regime
militar, na gestão local.
Na sequência, o terceiro capítulo, por sua vez, buscará sintetizar esses momentos e
compreender se o pleito seguinte, apesar de ocorrer uma continuidade partidária no executivo
municipal, representa uma continuidade de poder daqueles grupos populares que ascenderam
às esferas públicas seis anos antes. E também demonstrar de que forma tais movimentos se
organizaram, ou não, visando às eleições, e entender se a ação das lideranças legislativas
atuou no sentido de que estas perdessem a legitimidade obtida eleitoralmente no pleito
anterior, ou se as camadas extirpadas dos cargos públicos pela via eleitoral se reagruparam de
forma a retomar a hegemonia, entendida na perspectiva da liderança intelectual que exercia
espontaneamente sobre o restante da sociedade, outrora perdida. (GRAMSCI, 1976)
Por fim, nas considerações finais demonstraremos que a eleição de 1982 representou
um marco no processo político local em Montes Claros (MG), a partir da eleição de vários
elementos estranhos à elite local para os cargos representativos, todavia esses não
permaneceram no pleito seguinte, em 1988, quando há um retorno ao perfil socioeconômico
tradicional dos representantes tanto no poder legislativo quanto no executivo, apesar da
continuidade política da sigla partidária na chefia do executivo e da condição de possuidora
da maior bancada na Câmara Municipal.
20
CAPÍTULO I
MUDANÇAS E CONTINUIDADES – CAPITAL RURAL, ORGANIZAÇÕES
POPULARES E AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1982 EM MONTES CLAROS (MG)
Com o propósito de compreender o fenômeno político ocorrido em Montes Claros, em
1982, torna-se fundamental contextualizá-lo em relação aos eventos políticos que ocorriam
concomitantemente no restante do país, com a intensificação do movimento de distensão pelo
qual a sociedade brasileira vivia, que teria como resultado concreto o fim do Regime Militar
em 1985, que vigorava desde 1964.
A década de 1980 foi um momento de profundas transformações em todo o globo,
com a aproximação não apenas do fim de um “conflito internacional”, a Guerra Fria, mas com
o “fim de uma era” (HOBSBAWN, 1999, p.252). Os primeiros sinais do colapso do regime
soviético e de seus países satélites emergem logo na aurora desta década, como, por exemplo,
com a ascensão política de Lech Walesa e a formação de seu comitê sindical “Solidariedade”,
na Polônia, após a primeira greve operária naquele país, que fora motivada pela decisão do
Partido Comunista local de aumentar o preço da carne. (KLEIN, 2008)
Essas mudanças provocam seus reflexos mundo afora e, em especial, em países
periféricos, alinhados com uma das duas potências, como era o caso do Brasil, que, engajado
com o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos da América, assim como outros países
latino-americanos, vivia sob a égide de um regime de exceção conduzido pelos militares, mas
que, desde o final da década anterior, já vinha tendo demonstrações concretas de
distensionamento político, com a extinção dos atos institucionais, a extinção do
bipartidarismo e, principalmente, com a anistia aos opositores do Regime.
21
Entretanto, antes de compreender o cenário político em que Montes Claros estava
envolto, é fundamental que se apresente um levantamento histórico da cidade até este
momento, de modo que se aprofunde sobre as raízes do poder local, entendendo-o
conceitualmente, a fim de responder a questões como, por exemplo, se o poder dos
representantes do capital rural pode ser definido como coronelista e, politicamente, se estes
eram defensores de plataformas políticas mais ou menos avançadas, além de buscar integrá-
los sob a ótica das elites nacional e estadual.
1.1 O capital rural enquanto organizador do poder político local
O desenvolvimento de Montes Claros e do restante do Norte de Minas Gerais
aconteceu de maneira diferente do padrão estabelecido no restante da província mineira. A
primeira atividade econômica que prolifera na região é a da pecuária, motivo inclusive,
conforme nos ensina Reis (1997), do povoamento inicial. Contudo, a integração do Norte com
o restante da província ocorreu devido à produção de gado, cuja finalidade era atender às
necessidades das regiões mineradoras. (REIS, 1997)
O povoamento da região em que se localiza Montes Claros ocorreu da mesma
maneira, com a constituição da grande fazenda de gado, visando a produção especialmente do
charque, de modo a atender às antigas vilas mineradoras, tais como Diamantina, Ouro Preto e
Sabará. (COSTA, 1997)
Além da produção do gado, destaca-se também a cultura do algodão, empreendida
desde o final do sec. XVIII. É a partir do desenvolvimento destas duas modalidades que a
localidade começa a se consolidar como núcleo populacional, em decorrência da ampliação da
mão de obra escrava que posteriormente se tornou agregada dessas fazendas. Esses
trabalhadores residiam no entorno das propriedades rurais, formando os primeiros grupos de
camponeses sem vínculo empregatício, mas que sobreviviam das relações de troca que
mantinham com elas. (COSTA, 1997)
É, portanto, nesse contexto que as relações no Arraial das Formigas, nome do vilarejo
que, mais tarde, se tornará Montes Claros, se organizam, a partir da figura do representante do
22
capital rural no centro. A grande fazenda não se encontra apenas no centro das relações
econômicas, mas também no das ações políticas que se institucionalizarão a partir da primeira
Câmara Municipal, instituída em 1831 pelo decreto da Regência, em nome do imperador Dom
Pedro II, que também eleva o Arraial à condição de Vila, e o rebatiza como Montes Claros
das Formigas. (BRITO, 2006)
Apesar de instituída em 1831, é apenas no ano seguinte que a Câmara Municipal é
efetivamente formada e, de acordo com Brito (2006), é nesse momento que se consolida a
formação da elite local.
Essa visão vai de encontro à perspectiva de autores clássicos do tema “Elite”, dentre
eles o italiano Gaetano Mosca, que afirma que esta é fruto de um agrupamento formado para
gerir os interesses da coletividade. Este agrupamento instituído é formado por uma minoria
que recebe um mandato para esta gestão, de uma maioria de mandantes desprovida de outros
recursos no decurso desta, o que faz com que esta minoria goze efetivamente do poder
político e dos privilégios a ele inerentes, impondo sua vontade àqueles que outrora se
encontravam na condição de mandantes. (MOSCA, 1968)
Esta posição, obviamente, gerou efetiva controvérsia no meio acadêmico, com efeito,
a partir de então se debruçou com maior ênfase sobre o tema “Elite”. Em relação a essa
questão, podemos atestar que autores das mais variadas matrizes discutiram sobre a validade
teórica de tal abordagem. Dentre eles, destaca-se o francês Michel Foucault que aborda o
assunto sob outra perspectiva, em que afirma que não existem aqueles que, a priori, possuem
e aqueles que, a priori, se encontram alijados do poder, mas sim que este se exerce a partir de
relações.
Não existem de um lado os que têm poder e de outro aqueles que dele se
encontram alijados. Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim
práticas ou relações de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se
exerce, que se efetua, que funciona. E que funciona como uma maquinaria,
como uma máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou
exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social. Não é um objeto, ou
uma coisa, mas uma relação. E esse caráter relacional do poder implica que
as próprias lutas contra seu exercício não possam ser feitas de fora, de outro
lugar, do exterior, pois nada está isento de poder. (FOUCAULT, 1984, p.14)
23
Da mesma forma, contudo, o intelectual marxista Antonio Gramsci também analisa o
poder enquanto relacional, isto é, exercido de acordo com as circunstancias históricas postas.
Na perspectiva gramsciana, o debate acerca do poder é feito de modo a compreender que este
é relacional, isto é, não existem aqueles que detêm e os que são alijados, mas sim os que
exercem de forma dominante ou hegemônica, isto é, de forma coercitiva ou de forma
consentida. (GRAMSCI, 1976)
Tal definição seria submetida à existência e ação do que o autor determina sociedade
civil, que seriam organizações das quais as pessoas participariam de maneira espontânea, a
fim de atuarem no sentido de difundir valores para o conjunto da sociedade, na busca pela
hegemonia, compreendida, aqui, como a capacidade de subordinar intelectualmente o restante
da sociedade, e de se apresentar como o segmento que representa e atende ao interesse
coletivo obtendo, portanto, o consentimento e a adesão espontânea. (GRAMSCI, 1976)
Dessa forma Pereira (2012) afirma que Gramsci:
localiza o poder não apenas no Estado estrito – aparelho coercitivo – mas
também em todas as “associações na vida civil”, onde se constrói e se
disputa a hegemonia. A sociedade civil é uma arena de conflitos não
armados. É onde classes e frações de classe disputam a direção moral e
intelectual de uma sobre as outras. E a hegemonia é precisamente essa
direção. Embora relacionadas como visto antes, sociedade política e
sociedade civil têm materialidade própria. O poder está presente nas duas e a
sua conquista e exercício significam, portanto, um trabalho processual e não
um golpe de força em um momento específico. (PEREIRA, 2012, p.10)
É sob esta ótica que o presente trabalho analisará as relações de poder constituídas em
Montes Claros, que terão como figura central, desde o momento de institucionalização da
política em 1832, o grande proprietário rural. Certamente, Montes Claros desde o segundo
quarto do século XIX se enquadrava na situação exposta por Gramsci. Em outros termos,
tratava-se de uma coletividade com uma sociedade civil inexistente, em que o poder se
exercia de maneira dominante, nos moldes como este autor conceitua as sociedades orientais.
Essa denominação não tinha conotação geográfica, mas sim política e temporal, pois
conforme nos ensina Pereira (2012), a respeito da obra gramsciana: “A rigor, todas as
24
sociedades teriam sido orientais em tempos mais afastados e aquelas que ainda o eram
poderiam se ocidentalizar”. (PEREIRA, 2012, p.9)
Tal constatação se aplica e reflete o grupo que constituía a elite da localidade, formada
pela presença de religiosos, comerciantes, advogados, médicos, farmacêuticos e mestres da
instrução pública. Todavia, todos esses vinculados à figura do fazendeiro, que exerceria o
papel de protagonista nas complexas relações de poder de então.
A ação do grande fazendeiro, que receberá a alcunha de “coronel” a partir da criação
da Guarda Nacional em 1831, é descrita por LEAL (1978) como executora de um poder, umas
vezes dominante, outras hegemônico, sobre as camadas populares, que substituía o Estado, e
cujo centro estava nas trocas de favores que buscavam solucionar uma gama de necessidades
pessoais ou de parentela, e, em decorrência, a figura do coronel se constituía como mediador
entre o Estado, o camponês e seu agregado e, ao mesmo tempo, era o “próprio” Estado na
localidade que estava sob seu jugo. (LEAL, 1978).
Corroborando com a manutenção do poderio do coronel, foi criada a Guarda Nacional,
que de acordo com Costa (1999), surgiu com o propósito de impedir insurreições e rebeliões,
“colocando à disposição da classe proprietária uma força policial que seria usada na
manutenção do poder local”. (COSTA, 1999, p.8). Os seus propósitos eram claramente
expostos já no primeiro artigo da lei que instaurava essa nova instituição, afirmando que os
objetivos da Guarda Nacional eram a defesa da “Constituição, da liberdade e da integridade
do Império”. Além disso, era sua atribuição “manter a obediência às leis, conservar, ou
reestabelecer a ordem”. (FAUSTO, 2008)
A Guarda se organizava nos municípios e se subordinava aos juízes de paz, aos juízes
criminais, aos presidentes de províncias e, em última instância, ao Ministro da Justiça. O seu
processo de alistamento era o mais amplo possível: ocorria dentre todos os cidadãos de 18 a
60 anos, que tinham direito ao voto nas eleições primárias. O alistamento era obrigatório e
não remunerado. (CASTRO, 1977)
Tal organização era o que possibilitava à liderança local da Guarda Nacional, sempre
ligada a um grande proprietário de terra, o controle do processo político local, transformando
essa instituição, desde seu surgimento, em instrumento de exercício da autoridade local, sendo
também um mecanismo de barganha em relação ao poder central. (CASTRO, 1977)
25
Em relação a essa questão, há de se destacar que o domínio político desse segmento
em Montes Claros se apresenta desde a primeira eleição para a presidência da Câmara
Municipal, em que se elege o fazendeiro Francisco Pinheiro Neves, que logo depois também
assumiria o posto como membro da Guarda Nacional, adotando daí em diante o título de
“coronel”. (BRITO, 2006)
O domínio que o grande ruralista exercia na política também se demonstraria em
outras frentes, como, por exemplo, na religião, com a nomeação de Antônio Gonçalves
Chaves como primeiro vigário em 1835, quando Montes Claros se eleva à condição de
paróquia. (BRITO, 2006) O cônego Chaves, possivelmente, é um dos melhores exemplos de
como o grande fazendeiro atuava, articulando as instituições em torno dos seus interesses
classistas. Além de chefe da igreja local, também se tornou um prestigioso chefe político,
vinculado ao Partido Liberal. Assumiu o cargo de vereador e foi eleito presidente da Câmara,
se tornando também o chefe dos poderes legislativo e executivo local, já que na época o
presidente da Câmara se tornava agente executivo, o equivalente ao atual cargo de prefeito
municipal. Com passar do tempo, o cônego alça voos maiores, sendo eleito deputado
provincial. (BRITO, 2006)
É fato que a formação desse cenário fora favorável aos embates políticos que, na
época, eram intraclassista, com a aglutinação em torno dos principais fazendeiros, que
chefiavam os dois partidos políticos em atuação. O já citado Partido Liberal possuía, além de
Chaves e seu clã, os representantes das famílias Sá e Prates, também chefiadas por
fazendeiros. Já o seu concorrente, o Partido Conservador, era composto por representantes das
famílias Versiane, Veloso e Alves. Neste contexto, os dois partidos se revezariam na gestão
municipal, com certa preponderância do grupo liberal. (BRITO, 2006)
Esse antagonismo perdura até o fim do Segundo Reinado, pois, com o início da
República, os antigos partidos se desfazem, e novas legendas irão abrigar as velhas disputas.
Todavia, destaca-se que, tanto antes quanto durante a Primeira República, as disputas políticas
serão feitas por grupos que não possuíam nenhuma distinção ideológica visível. (BRITO,
2006)
Antes de iniciar a abordagem em torno da ação política das duas facções rivais em
Montes Claros, torna-se imperativo apresentar uma breve contextualização acerca do
ambiente político em que essas estavam inseridas. O final do século XIX, no país, foi um
26
momento de intensas modificações sociopolíticas, com o fim da escravidão em 1888 e o início
da República em 1889, e com a deposição de Dom Pedro II. Tais transformações foram
objetos de diversos estudos nas áreas da história e das demais ciências sociais, e culminaram
com a formação de novos preceitos e conceitos, dentre eles o tão conhecido “coronelismo”,
conceito criado inicialmente por Vitor Nunes Leal, como já expusemos aqui. Deve-se a Nunes
Leal a realização de uma ampla análise sobre o período compreendido de 1889 a 1930,
chamado de “Primeira República”, em que aparece pela primeira vez a categoria coronelismo.
Após a publicação de sua obra é que a academia dispõe de referencial que lhe permite
debruçar mais atentamente sobre a figura do “coronel” e sua participação na vida política
brasileira.
De acordo com Leal, com a mudança do regime, surge uma nova categoria sistêmica:
o coronelismo, que é, nessa perspectiva, o real sistema em vigência. Trata-se de uma
“complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da República”. (LEAL,
1978) Esse sistema surge a partir da junção de dois fatores: a instauração do federalismo e a
decadência econômica dos fazendeiros. (CARVALHO, 2005)
O federalismo republicano nasce a partir da premissa da existência de entes federados
autônomos, os Estados, que substituem as antigas províncias e criam uma estrutura política
descentralizada do poder nacional. Com a instauração desse modelo, surge a figura do
governador do Estado, que goza constitucionalmente de amplos poderes dentro de suas
fronteiras, em contraposição aos antigos presidentes das províncias, que eram indicados pelo
imperador e tinham seus poderes limitados por ele, se tornando efetivamente o chefe político
do Estado, em torno de quem os oligarcas locais, isto é, os coronéis, deveriam se aglutinar, de
modo a ter acesso aos recursos do poder. (CARVALHO, 2005)
Do mesmo modo que os governadores se tornam a figura-chave da política local,
também passam a exercer papel destacado no cenário nacional, especialmente a partir de
1898, com o início do governo do presidente Campos Sales, em que se consolida
nacionalmente a denominada “política dos governadores”. (CARVALHO, 2005)
A premissa básica dessa política consistia em uma ampla articulação que se inicia a
partir da Presidência da República, que, de maneira recíproca, se sustentava e dava
sustentação às elites estaduais que chefiavam o Executivo local, que, da mesma maneira, se
relacionava com os coronéis, que eram as principais lideranças regionais. Em retribuição, ao
27
apoio político, os coronéis davam como garantia os votos a esses mandatários, além de
assegurar a eleição de parlamentares dóceis ao governo, tanto no plano federal quanto no
estadual. O governador, por sua vez, além de garantir a chegada de escassos recursos
públicos, também ofertava aos coronéis a indicação dos cargos públicos locais, “desde o
delegado de polícia até a professora primária”. O coronelismo, portanto, seria essa política de
compromissos existentes entre o poder público e o poder privado. (CARVALHO, 2005, p.
132)
Em decorrência dessa relação, Montes Claros terá as suas especificidades
demonstradas, a partir das características intrínsecas às ações das duas correntes antagônicas.
Antes, porém, é importante ressaltar que ambas as facções estavam vinculadas às elites
estaduais que se organizavam com o Partido Republicano Mineiro (PRM). Essa vinculação
ocorre devido a uma clara relação de dependência do município para com o governo do
Estado de Minas Gerais, e o da União, reflexo da política dos governadores, criando o que
Oliveira (2000) denomina de “política de compromissos”, que em Montes Claros sobreviverá
a essa característica conjuntural nacional, entre a elite local e a estadual, demonstrando uma
aliança existente entre os fazendeiros locais com o capital rural das instâncias superiores, o
que nos possibilita afirmar que as rusgas provenientes das disputas eventuais são sobrepostas
pela clara convergência dos interesses classistas.
Todavia, apesar das semelhanças programáticas, essas disputas geraram momentos de
intenso embate, em que fica claro o caráter dominante do poder principalmente pelo uso de
mecanismos como a violência, e até mesmo o rompimento da ordem institucional. Nesse
cenário, a violência tornou-se protagonista, conforme atestam dois exemplos marcantes
ocorridos durante as disputas políticas. Vejamos:
O primeiro data de 1918 e se deu após a vitória de Honorato Alves, herdeiro do antigo
grupo “Conservador”, sobre Camilo Prates, líder dos remanescentes e descendentes dos
“Liberais”. Nessa ocasião, ocorre uma batalha campal na porta da residência de Prates,
envolvendo as duas facções. Deste confronto resultaram 4 mortos e 7 feridos (OLIVEIRA,
2000).
Outro evento, que exemplifica a violência como recurso, ocorreu em razão da disputa
presidencial de 1930, quando o grupo dos Alves, no poder em Montes Claros, em acordo com
o presidente do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos, apoiava a candidatura de Getúlio
28
Vargas. Já os opositores se organizaram em torno da chamada “Concentração Conservadora”,
que dava respaldo à candidatura de Júlio Prestes. Quando da ocasião da realização de um
congresso de produtores de algodão no decurso da campanha eleitoral, este se torna motivo
para a visita do então candidato a vice-presidente de Prestes, Fernando de Melo Viana, a
Montes Claros, o que culmina em uma nova batalha a partir da reação do grupo dos Alves,
que inicia um intenso tiroteio contra os partidários conservadores. Do confronto resultam
alguns mortos, e dentre os feridos estava o próprio Melo Viana. (OLIVEIRA, 2000)
Já o principal momento de rompimento da ordem institucional ocorre em 1915, logo
após o pleito estadual em que o grupo dos Alves sai vitorioso nas eleições para a Assembleia
Estadual, através da candidatura de Antônio Augusto Spyer, ao mesmo tempo em que o grupo
rival controlava a presidência da Câmara, com o coronel Joaquim Costa, aliado de Camilo
Prates, e este buscava retaliar, demitindo dois funcionários ligados a Honorato Alves, chefe da
facção primeiramente citada. (OLIVEIRA, 2000)
A partir desses episódios, formam-se duas Câmaras Municipais, que funcionavam no
mesmo prédio, mas em salas diferentes, cada uma ligada a um dos grupos em conflito. A
divergência somente é solucionada através da intervenção do governo estadual, que prorroga
por mais um ano o mandato do Coronel Joaquim Costa, e define que a escolha do próximo
presidente ocorreria por sorteio. Quando este é realizado, o nome que sai é o do Dr. João
Alves, filho de Honorato. (OLIVEIRA, 2000)
O antagonismo entre esses grupos, e a sua consequente alternância no domínio do
poder local, dura de maneira estável até 1930, quando o movimento liderado por Getúlio
Vargas alcança o poder nacional e realiza uma grande transformação institucional, o que trará
consequências diretas ao poder do “coronel” em todo o país, inclusive em Montes Claros.
(OLIVEIRA, 2000)
De acordo com a abordagem de Leal, essas mudanças representaram o fim do
coronelismo no Brasil. De acordo com Carvalho (2005), que compactua com a visão de Leal,
o coronel só existe devido à vigência de um sistema que permite com que esse ator exerça de
maneira privada a dominação sobre determinada população, através de atribuições que
deveriam ser ligadas ao poder público. As transformações que ocorreram a partir do
movimento de 1930 implodem esse sistema, o que permite, nessa perspectiva, afirmar que o
29
coronelismo é uma característica exclusiva da Primeira República e, portanto, “o coronelismo
não existiu antes dessa fase, e não existe depois dela”. (CARVALHO, 2005, p. 132)
Nesta acepção, podemos afirmar que qualquer traço de semelhança entre o
coronelismo e os momentos anteriores à Primeira República seriam, de acordo com Carvalho
(2005), exemplos do conceito de mandonismo, que, diferentemente do conceito anterior, não
é um sistema, mas sim “uma característica da política tradicional”. (CARVALHO, 2005,
p.133) O mandonismo, para esse autor, já vigorava anteriormente ao período republicano. Ele
ainda vai além, identificando a perspectiva mandonista como característica da política
brasileira desde o “período colonial”. (CARVALHO, 2005, p. 133) Da mesma maneira, o que
ocorre após o término do primeiro período de Getúlio Vargas, em 1945, também não seria
coronelismo e, na maioria das vezes, tampouco mandonismo, mas clientelismo.
(CARVALHO, 2005)
Para Carvalho, clientelismo “indica um tipo de relação entre atores políticos, que
envolve a concessão de benefícios públicos (...) em troca de apoio político”. Portanto, da
mesma forma que o mandonismo, o clientelismo não é um sistema, mas uma característica
deste. Carvalho vaticina que o clientelismo é “o mandonismo do ponto de vista bilateral”, e
difere deste porque, enquanto ele “tende a diminuir e até mesmo a desaparecer” com o
decurso do tempo e a ampliação da cidadania, o clientelismo não possui uma trajetória tão
linear, e a sua incidência pode variar ao longo do tempo. (CARVALHO, 2005, p. 134) De
acordo com essa perspectiva, qualquer análise que busque identificar o coronelismo após
1930, em áreas urbanas, estaria cometendo um equívoco conceitual, pois estaria tratando de
clientelismo. (CARVALHO, 2005)
E esse autor ainda vai além, ao afirmar que o fim do coronelismo possibilitou o
aumento do clientelismo, pois a partir do momento em que os líderes locais perdem o controle
do voto “eles deixam de ser parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com os
eleitores, transferindo a estes a relação clientelista”. (CARVALHO 2005, p. 135)
Essa abordagem gerou uma intensa polêmica no interior da academia, com diversos
autores buscando refutar tal visão. Para Pereira (2002), é plenamente possível tratar de
coronelismo após 1930, e ele o faz ao analisar as relações políticas em Montes Claros das
décadas de 1940 e 1950. Na sua perspectiva, o conceito de coronelismo serviria perfeitamente
para denominar as relações existentes entre povo, lideranças locais e lideranças estaduais e
30
nacionais, que estavam inseridas em um contexto de relações recíprocas de dependência e
dominação. (PEREIRA, 2002)
A análise de Pereira (2002) foi embasada em autores como Queiroz (1969), Janotti
(1997), Souza (1995) e Gualberto (1995), que compartilham a opinião de que, apesar de ser
correta a afirmativa de que a Revolução de 1930 promoveu diversas transformações no
cenário social, político e jurídico brasileiro, é um equívoco imaginar que tais transformações
acabaram de vez com os coronéis locais.
Para Queiroz, há uma clara linha de continuidade nas características das práticas
políticas pós-30, com a continuação do controle político em áreas rurais através das formas de
organização do trabalho que possibilita o voto de cabresto e os currais eleitorais, e a
ampliação da atuação do Estado, que ocorre com a criação e propagação de políticas públicas,
somente terá um papel de mediação dessas relações. Além disso, tal continuidade é o que
possibilita, inclusive, a perspectiva de mutações no coronelismo, que acompanha as
transformações sociais, como, por exemplo, a expansão da urbanização, que permite a
vigência de um “coronelismo urbano”. (QUEIROZ, 1969, p.29). Compartilha dessa mesma
opinião, Janotti (1997), ao defender a ideia de que o coronelismo nunca deixou de existir,
porque ele possui uma grande capacidade de se adaptar às novas realidades políticas.
(JANOTTI, 1997)
Souza (1995) também defende a permanência do coronelismo na política brasileira,
afirmando que ele se encontra em “mutação”, pois especialmente no Nordeste brasileiro ainda
existe uma política assistencialista, paternalista e clientelista no âmbito do exercício do poder
municipal, o que impossibilita uma “distribuição impessoal dos recursos de competência
burocrática da máquina administrativa”. (SOUZA, 1995, p. 325)
O motivo pelo qual o coronelismo permanece, de acordo com Gualberto (1995), é
porque, em que pese Getúlio Vargas ter de fato atentado contra o poder dos coronéis,
inclusive com a prisão dos coronéis baianos, que é, segundo Carvalho, o momento do fim
simbólico do coronelismo, ele não atentou contra os “elementos centrais da instituição
imaginária do coronelismo”, e o presidente então se torna nada menos que “o grande coronel
nacional”. (GUALBERTO, 1995, p.192)
31
Os elementos acima descritos, que ainda permanecem, seriam o uso da violência como
elemento de coerção política em consonância com o paternalismo, que gerariam a exclusão
política e de cidadania da população. (GUALBERTO, 1995)
É a partir dessa constatação que o presente trabalho buscará compreender as relações
políticas que vigoraram em Montes Claros, destacando as práticas coronelistas, inclusive a
partir de 1930 e reconhecendo que o coronelismo fora profundamente alterado, contudo não
excluído. A esse respeito, vale mencionar que a diminuição do poder dos coronéis será
inclusive refletida a partir do novo arcabouço jurídico que reordenará as relações entre as
elites da cidade e os entes federados. (OLIVEIRA, 2000)
A partir da nova legislação, surgirá a figura do Interventor Federal que dirigirá os
estados, e dentre suas prerrogativas estará a indicação dos prefeitos municipais, destituindo a
população, e os seus líderes, do poder de escolha de seus dirigentes. Fruto dessa legislação, os
prefeitos indicados nos primeiros anos da década de 30, para Montes Claros, não possuíam
maiores vínculos com as elites locais, fato que motiva uma aliança oligárquica para fazer
frente ao chefe do Executivo municipal, alheia aos interesses destas elites. A formação dessa
Aliança contava com as lideranças, principalmente, do Dr. João Alves, filho de Honorato
Alves, e do coronel Filomeno Ribeiro, antigos rivais políticos, demonstrando mais uma vez a
convergência pragmática entre as facções locais. (OLIVEIRA, 2000)
A aliança fora bem sucedida, de modo que em 1936, o Interventor cede às pressões
locais e nomeia o então presidente do legislativo municipal, Dr. Santos, médico e fazendeiro,
ao posto de prefeito de Montes Claros. Ele será sucedido em 1937 pelo também médico e
fazendeiro Dr. Alpheu de Quadros, que possuía em seu currículo o importante posto de genro
de Camilo Prates e permanecerá no cargo até o final do período varguista, em 1945.
(PEREIRA, 2002)
Cabe também destacar que, oriunda dessa nova relação entre as elites locais e as
esferas públicas, entre 1930 e 1945, tornou-se imperativo o desenvolvimento de novos
mecanismos de atuação e defesa dos interesses classistas. Como fruto disso, é fundada em
1944 a Sociedade Agropecuária (posteriormente chamada Sociedade Rural), que atuará como
entidade máxima da defesa dos interesses da elite agrária. A Sociedade Rural agirá
efetivamente em todos os pleitos que ocorrerão a partir de sua fundação, garantindo a
representação das oligarquias agrárias em todas as esferas de poder, seja a nível nacional, seja
32
estadual e principalmente municipal. O mesmo não ocorreu com as classes alijadas do poder,
pois apesar de terem surgido entidades para representar os trabalhadores entre 1030 e1950,
essas apenas ocorreram por força de determinação legal, introduzida pela legislação
trabalhista varguista, entretanto, não se consolidaram como “espaços de representação dos
interesses populares”. (OLIVEIRA, 2000, p.50)
Essa nova lógica de ação se aprofunda, sem, contudo, alterar a lógica de dominação
patrimonial clientelista e coronelista, a partir do final do primeiro momento varguista, com a
inauguração do chamado período pluralista a partir da nova Constituição de 1946, que
reorganiza o arcabouço jurídico do país, inclusive das relações políticas, refinando os métodos
de atuação das elites. (OLIVEIRA, 2000)
Dentre as mudanças mais profundas advindas da nova Constituição destaca-se a nova
legislação, ampliando a representação política com a instauração de novos partidos. Entre as
agremiações criadas nacionalmente, instalam-se, em Montes Claros, os diretórios municipais dos
seguintes partidos: Partido Social Democrático (PSD), organizado por figuras influentes do antigo
momento, incluindo os antigos interventores estaduais e os novos industriais de São Paulo, além da
maioria dos chefes oligárquicos de todo o país; a União Democrática Nacional (UDN), herdeira dos
setores oposicionistas, sendo a facção mais vinculada ao ideário liberal; o Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), criado por Getúlio Vargas, organizado a partir de uma base ligada aos sindicatos de
trabalhadores e o Partido Republicano (PR), partido conservador herdeiro direto do antigo Partido
Republicano existente desde os tempos da Primeira República, que, nas esferas nacional e estadual,
não figurava como uma organização que possuísse maiores possibilidades de ascensão à chefia do
Poder Executivo. (PEREIRA, 2002).
Apesar de esta última agremiação, o PR, não se caracterizar como alternativa factível
para a chefia dos executivos estadual e nacional, ela se tornou a organização mais influente de
Montes Claros, elegendo um número significativo de prefeitos e vereadores na cidade, sendo
principalmente confrontada pelo PSD na busca do domínio político do município, que, por
sua vez, era divido em duas alas: a ortodoxa e a liberal. (PEREIRA, 2002) Contudo,
novamente cabe destacar as palavras de Pereira (2002), quando defende que é “praticamente
impossível detectar diferenças programáticas entre os mesmos. Na realidade, suas
divergências remontavam a velhos conflitos familiares”. (p.25).
Neste cenário, a primeira eleição municipal em Montes Claros, sob a égide da nova
legislação, é disputada por pessoas ligadas familiarmente aos antigos coronéis que
33
dominavam a cidade desde o período imperial, confirmando a tese de Pereira, que observa
que a origem das disputas eleitorais vem de antigas disputas familiares, demonstrando a
ausência de mudanças significativas nos projetos de poder opostos. (PEREIRA, 2002)
É inclusive a partir dessa constatação que este autor é contundente ao identificar a
manutenção do coronelismo nesse momento histórico pós-Vargas, contrariando a tese clássica
de Leal (1948), e afirmando que, nesse momento, as pequenas distinções nas práticas dos
chefes políticos não representavam a ausência de coronéis, mas a existência de dois tipos
diferentes. Pereira afirma ainda, através do que ele denomina de “esforço de esquematização
não rígido”, que havia em Montes Claros dois tipos de coronéis que dominavam a política
local e que estavam presentes em todos os partidos constituídos; os “Tradicionais” e os
“Modernos”. (p.114)
O primeiro tipo era o fazendeiro e o grande comerciante. Em suas práticas,
estariam mais acentuados elementos como a violência, a fraude e o menor
recurso à oratória. O segundo tipo, o moderno, era o advogado, o
engenheiro, o médico e as lideranças “populares” (construtores e pequenos
comerciantes). Suas práticas políticas ressaltavam mais o conhecimento
técnico, a capacidade administrativa, a utilização mais efetiva do recurso à
oratória, a importância de se modernizar a cidade e a valorização das
atividades e obras “culturais” (biblioteca, banda de música, desfiles).
(PEREIRA, 2002, pp.113-114)
Nesse sentido, de acordo com o esquema de Pereira, as eleições de 1947 opõem dois
coronéis modernos: o então prefeito Dr. Alpheu de Quadros (PR) e o engenheiro Simeão
Ribeiro (PSD), sobrinho do Coronel, tradicional, Filomeno Ribeiro. Quem venceu o pleito foi
Quadros. (GUIMARAES, 1997)
Já no pleito seguinte, em 1950, a disputa se dará entre o médico e fazendeiro Hermes
de Paula, um coronel moderno, que contava com o apoio de Quadros e seu grupo político,
contra o paraibano Enéas Mineiro, empreendedor nordestino que se transfere para o Norte de
Minas Gerais, atraído por oportunidades de negócios, instalando-se inicialmente na cidade
vizinha Francisco Sá. Lá é eleito prefeito municipal e, tempos depois, se transfere para
Montes Claros em busca do mesmo cargo, contando com o apoio de Filomeno Ribeiro.
(PEREIRA, 2002)
34
Enéas, ou Capitão Enéas, como era popularmente conhecido, foi um típico exemplar
do que Pereira denominou de “coronel tradicional”, pois, além de grande fazendeiro, a sua
campanha se destacou pelo uso constante da violência e da coação, como recursos de
dominação, fatores que foram fundamentais para o seu êxito naquela eleição, tornando-se
então o segundo prefeito de Montes Claros no período pós-redemocratização. (FERREIRA,
2002) Cabe destacar que, além da eleição do prefeito, esse pleito elegeu 14 grandes
fazendeiros ou comerciantes “fortemente ligados ao setor agropecuário”, para 15 vagas de
vereadores. (FERREIRA, 2002, p.27) Essa foi a primeira vez que a chefia do executivo
municipal se encontrara nas mãos de alguém de fora dos arranjos tradicionais locais, criados
visando à manutenção do poder político.
A eleição seguinte, por sua vez, será um importante exemplar de como esses arranjos
ocorriam. A eleição do paraibano para a prefeitura de Montes Claros fez com que se tornasse
imperativa a reorganização da elite, em busca da retomada do domínio político. Essa
reorganização contará inclusive com a intervenção de instâncias superiores, de modo a
garantir a manutenção da chamada “política de compromissos”, assim caracterizada por
Oliveira. (2000) Para o pleito seguinte, o então governador de Minas Gerais, Juscelino
Kubitschek intervém pessoalmente, condicionando qualquer ação estadual à unificação dos
dois grupos antagônicos do diretório municipal do seu partido, o PSD. (PEREIRA, 2002)
Dessa forma, os dois grupos, o ortodoxo e o liberal, se viram obrigados a se unirem
para o pleito de 1954. Outra mudança que também ocorreu nas hostes pessedistas foi a saída
de Simeão Ribeiro, que se candidataria nessa eleição pelo PR. A saída de Ribeiro ocorre após
o falecimento de seu tio, em 1952, o antigo Coronel Filomeno Ribeiro, fato que fez com que o
sobrinho perdesse o controle da legenda. A saída de Ribeiro também dá espaço à entrada de
Alpheu de Quadros ao partido de Kubitschek, demonstrando mais uma vez a ausência de
projetos políticos e ideológicos distintos entre os grupos antagônicos das disputas locais.
(PEREIRA, 2002)
Dentro dessa conjuntura, Quadros será parte fundamental do arranjo criado pelos
grupos organizados dentro do PSD, para o retorno ao controle da municipalidade. Visando a
vitória na eleição de 1954, que seria obtida, Quadros empresta seu nome ao PSD para a
disputa pela prefeitura, de forma a ser um candidato de consenso entre ortodoxos e liberais.
Contudo, nos primeiros momentos de seu novo mandato, se afastará da chefia do executivo
almejando que seu vice-prefeito, o engenheiro, e também grande fazendeiro, João Ferreira
35
Pimenta, da ala ortodoxa pessedista, seja de fato o prefeito municipal. O acordo ainda previa
que Pimenta chefiaria o município apenas por metade do mandato, sendo que deveria se
afastar para dar lugar ao então presidente do legislativo local, o líder ruralista e ex-presidente
fundador da Sociedade Rural, o “liberal” pessedista Geraldo Athayde, que governaria a cidade
pelo restante do período para o qual Alpheu de Quadros havia efetivamente sido escolhido
pela população. Quadros apenas retornaria ao cargo de prefeito por um breve momento, para
possibilitar que Athayde fosse candidato a sua sucessão em 1958. (PEREIRA, 2002)
Athayde disputa o cargo de prefeito pelo PSD, contra o veterano candidato Simeão
Ribeiro, que convida para vice, na sua chapa, também uma figura estranha às disputas
seculares do município, o médico e fazendeiro Pedro Santos, que era oriundo da cidade
vizinha de São João da Ponte, e havia se mudado durante a juventude para o Rio de Janeiro,
onde estudou medicina. Essa chapa garante a Ribeiro a tão esperada vitória e o eleva à
condição de prefeito municipal, após duas derrotas nas eleições de 1947 e 1954.
(GUIMARÃES, 1997)
Esta união, porém, não se manteria na eleição seguinte, a última sob o período
inaugurado em 1946, e desse rompimento também se elegerá o primeiro prefeito de fora da
alternância PR/PSD. O PR de Simeão Ribeiro indicará para a sua sucessão o médico e
vereador João Valle Mauricio. Já o PSD buscará retomar ao executivo através da candidatura
do ex-prefeito Enéas Mineiro, e ambos serão derrotados pelo então vice-prefeito Dr. Pedro
Santos, que se candidatará avulsamente pelo inexpressivo Partido Social Progressista, cujo
diretório municipal lhe havia sido concedido pessoalmente pelo então governador Adhemar
de Barros, do Estado de São Paulo, na época o principal líder nacional dessa agremiação.
Pedro Santos se elege, mas não consegue garantir uma maioria na Câmara de Vereadores.
Pelo contrário, de sua coligação apenas um candidato é eleito, fato que o motiva a buscar um
amplo pacto com os setores alijados do poder, garantindo o retorno desses à gestão da
municipalidade. (GUIMARAES, 1997)
A atitude de Santos demonstrou, mais uma vez, o caráter homogêneo das lideranças
políticas locais do ponto de vista de projetos políticos ideológicos. O caráter de tal
homogeneidade denota que os interesses classistas se sobrepunham às rugas advindas das
disputas políticas pelo exercício do domínio do poder local, com isso, fica claro que as
facções antagônicas, na verdade, eram faces da mesma moeda e, em outros termos,
representantes dos mesmos propósitos e agentes da mesma classe.
36
1.2 O Regime civil-militar suas consequências em Montes Claros e o capital rural
É importante destacar que, apesar da organização do poder em Montes Claros inibir,
de acordo com Oliveira (2000, p.127), “pelo autoritarismo oligárquico, pela política de
coronéis e ainda através de lideranças populistas” a real “expressão de interesses populares”,
havia sim algumas iniciativas de resistência à dominação, desde a chamada política do favor,
assim denominada por Pereira (2002), em que as pessoas agiam e se submetiam de maneira
racional em busca de seus interesses, até a instituição de entidades representativas como o
Diretório Estudantil de Montes Claros (DEMC), que realiza um trabalho assistencialista em
vários bairros da cidade. (OLIVEIRA, 2000) Porém, mesmo com essas ações de resistência
não tendo um caráter revolucionário, elas já eram objeto de repressão da classe dominante, o
que foi intensificado a partir do Regime Militar, implantado em 1964.
As razões para a eclosão do movimento civil-militar que tomou de assalto o governo
central brasileiro não são de maneira alguma analisadas de forma consensual, dentro do
debate historiográfico nacional. Autores como Delgado (2004) chamam a atenção para as
condições excepcionais que em que o líder trabalhista João Goulart assume a presidência da
República, tornando-se depositário da tradição política varguista e, consequentemente,
herdando os seus adversários. Além disso, destaca-se que essa posse ocorre em momento de
crise política advinda da renúncia de seu antecessor, e também com a instalação de regime
parlamentarista, casuísmo que ocorre estritamente para limitar seus poderes presidenciais.
(DELGADO, 2004)
Essa mesma autora, em artigo anterior, destaca também a existência de pelo menos
quatro vertentes de discussão em torno das efetivas razões para a sua deposição. A primeira
corrente seria aquela que observa a preponderância do caráter econômico como motivação
para a ação dos revoltosos, compreendendo que as intervenções do presidente João Goulart
eram divergentes com as aspirações econômicas de setores da sociedade. (DELGADO, 2004)
A segunda preconiza a existência de motivações preventivas daqueles que
organizaram a retirada de Goulart, entendendo que aquelas lideranças acreditavam que era
37
realmente necessária a derrocada do regime, a fim de impedir alterações bruscas na ordem
social nacional. (DELGADO, 2004)
Já a terceira vertente busca, em um viés explicitamente conspiratório, as razões para a
queda de Goulart, com destaque especial para a participação de agentes externos no seio do
movimento que depôs o presidente. Essa perspectiva entende que, em que pese o caráter
reformista do governo de Jango, setores contrariados com suas ações buscaram se organizar
de forma a desestabilizar a presidência. Dentre eles, destaca-se a União Democrática Nacional
(UDN), como representante institucional desses grupos oposicionistas, apoiada por setores
das Forças Armadas, da ala conservadora da Igreja Católica, de entidades classistas do
empresariado, e também dos grandes proprietários rurais, além, é claro, de financistas
internacionais. (DELGADO, 2004)
E, por fim, a autora apresenta aquela que ela entende como a quarta vertente. Ela
defende que a ocorrência do golpe se deu devido a um momento de intensa radicalização
política, em que tanto grupos de esquerda quanto os de direita atuavam sem nenhum
compromisso com os preceitos democráticos, e em decorrência de tal radicalização se criaram
as condições objetivas, que possibilitaram a instauração do Regime Militar, que governaria o
Brasil pelos próximos vinte anos. (DELGADO, 2004)
Todas essas vertentes certamente se diferenciam pela maior ênfase que dão a
determinados aspectos que estiveram presentes no DNA do golpe de 1964. Fato é que não se
pode negar que o golpe foi oriundo desse conjunto de fatores – tanto os militares entendiam
que estavam dando um golpe preventivo, quanto esse entendimento foi fruto da atividade
conspiratória da qual participavam agentes externos – e isso só foi possível devido à
radicalização política do momento. Não é uma questão de definir qual corrente está correta e
qual está equivocada, mas sim de destacar qual a ênfase que o pesquisador quer dar ao seu
trabalho. Entendemos o golpe como resultado direto de todos esses fatores, por essa razão,
torna-se imperativo buscar compreender as consequências desse momento em Montes Claros.
Oliveira (2000) defende que, a partir da década de 1960, Montes Claros começa a
“mudar de feição”: “seus novos traços dizem respeito ao desenvolvimento socioeconômico e
à urbanização, que refletem em toda a região do Norte de Minas”. (p.72) A autora também
afirma que, do ponto de vista político, as transformações que ocorrem nessa década em todo o
país significaram um aprofundamento da política de compromissos e “das relações de
38
dependência entre o município e os governos estadual e central”, e, da mesma forma, as
instâncias superiores atuaram no sentido de fortalecer as lideranças locais, estabelecendo o
caráter recíproco destas, e inserindo-as no contexto de uma “política de clientela”.
(OLIVEIRA, 2000, p.72) Nessa mesma direção, ela preconiza que a ação estatal, desse
momento, é norteada por um “duplo caráter do estado brasileiro, autoritário e paternalista”, e
essas duas características são fundamentais na legitimação do processo recíproco aqui
exposto. (p. 72)
Portanto, é no contexto deste Estado (autoritário, paternalista e clientelista) que
ocorreram profundas transformações nas estruturas econômicas decorrentes de um processo
de modernização que, por sua vez, também trará consequências na política. Entretanto, não
ocorrerão “modificações expressivas em relação à composição do grupo de poder local”, pelo
menos até o início da década de 1980. (OLIVEIRA, 2000, p. 104)
O Regime Militar, nesse momento, atuava de modo a intensificar a influência e a
dominação dos grandes proprietários rurais, que não só se restringiam ao controle dos seus
empregados, mas também ao controle daqueles trabalhadores que se encontravam no entorno
de suas propriedades, como, por exemplo, “trabalhadores sem terras que ficam à espera de
serviços esporádicos” e também “pequenos e médios produtores que dependem do mercado
monopolizado pelos grandes proprietários”. (OLIVEIRA, 2000, p. 103) Esse apoio estava
vinculado à lógica da modernização econômica levada a cabo pelo Regime Militar, que em
Montes Claros se expressará de duas formas: a primeira, a modernização conservadora do
campo e a segunda, a industrialização da cidade. (OLIVEIRA, 2000)
A modernização conservadora do campo se dá com a transformação da grande fazenda
em complexo agroindustrial. O termo modernização conservadora, de acordo com Pires e
Ramos (2008), foi utilizado pela primeira vez por Moore Junior, para designar um processo
de desenvolvimento da atividade econômica industrial na Alemanha e no Japão durante suas
revoluções burguesas, “como um pacto político tecido entre as elites dominantes
condicionando o desenvolvimento capitalista nestes países, conduzindo-os para regimes
políticos autocráticos e totalitários”. (p. 412) A ideia central era afirmar que as revoluções
burguesas, nesses países, não haviam sido acompanhadas de transformações nas estruturas
políticas e sociais, mantendo o status quo do antigo regime. Portanto, a ascensão da nova
burguesia à condição de classe dominante se deu a partir de uma aliança em que se manteria a
39
participação daqueles que teoricamente deveriam ser alijados, isto é, a classe dos produtores
rurais. (PIRES e RAMOS, 2009)
Essa análise de Moore Junior será corroborada por diversos outros pesquisadores,
dentre eles Poulantzas (1986) e Bendix (1996), que também concordam que esse processo de
modernização é conservador, pois retiraram completamente trabalhadores e camponeses da
estrutura do poder político e, em decorrência, essas nações se consolidaram como sociedades
com um complexo industrial moderno, todavia com política excludente, “fato que as conduziu
ao nazi-fascismo”. (PIRES e RAMOS, 2009, p. 415)
Essa perspectiva foi aplicada analogamente por pesquisadores, para explicar o
processo de transformação da atividade agrária no Brasil. Florestan Fernandes (1991) foi um
daqueles que apresentou semelhanças entre o caso brasileiro e o prussiano. De acordo com
esse autor, o processo de transformação econômica liderado pela burguesia, a partir de 1930,
também foi alicerçado por um pacto com as classes agrárias, constituindo as bases para a
consolidação de um capitalismo dependente no Brasil. Isto resultou em um processo de
industrialização que inclusive norteou o desenvolvimento da atividade agrícola no país, com
a busca do incremento de técnicas que aumentaram a produtividade, de modo a ampliar a
produção agropecuária, demonstrando que o projeto burguês não foi antagônico aos interesses
dos grandes produtores rurais. (PIRES e RAMOS, 2009)
Além disso, cabe destacar que, como fruto da implementação dessas técnicas que
incrementaram a produtividade, ocorreu uma ampla liberação de mão de obra do campo,
levando consequentemente à ampliação da concentração fundiária no país e à conclusão de
que “a chamada modernização conservadora da agricultura nasceu com a derrota do
movimento de reforma agrária”. (DELGADO, 2005, p. 34) Todo esse processo irá refletir
efetivamente em todo o Norte de Minas Gerais, e especialmente em sua cidade mais
importante.
As transformações econômicas em Montes Claros, que começam no final da década de
1960 e se expandem durante toda a década de 1970, produziram mudanças profundas na
organização do capital rural e nas suas ações políticas. De acordo com Oliveira (2000), em
relação à agropecuária, dois movimentos acontecem decorrentes da modernização da
economia. O primeiro é a “implantação de projetos que refletem a capitalização deste setor”, e
o segundo é a manutenção apenas das “médias e grandes fazendas criadoras de gado”. (p.74)
40
Para comprovar esse pensamento, Oliveira apresenta uma tabela em que demonstra a
queda do número de estabelecimentos e de pessoal ocupado na agropecuária local. Em 1960,
existia, de acordo com os dados coletados pela autora nos Censos de 1960, 1970 e 1980, além
de documentos do Incra, 6.284 estabelecimentos, que empregavam 26.393 trabalhadores e
trabalhadoras. Já em 1970, o número de estabelecimentos havia caído para 3528, e o número
de pessoas trabalhando era de 17.993, e em 1980 ainda existia 2424 estabelecimentos que
empregavam 13.087 funcionários. (OLIVEIRA, 2000)
Um dos principais fatores que incidem para a ocorrência dessa diminuição é a ação
sobre o pequeno proprietário de terras, que é destituído do direito de posse e expulso do
campo. A ação contra esses pequenos agricultores somente é possível devido ao já citado
duplo caráter do estado brasileiro que não ocorre de forma pacífica. Além disso, esses
agricultores não dispunham de nenhuma rede coesa para articulá-los, pois o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do município somente os auxiliavam com assistência jurídica, enquanto
o aparato repressivo do Estado já havia atuado de forma a impedir que se organizassem.
(OLIVEIRA, 2000) Por esse motivo, naquele momento, desprovidos de sua atividade
econômica, eles rumaram para a área urbana, onde foram incluídos no processo de
industrialização pelo qual passava a cidade e, em alguma medida, todo o Norte de Minas,
através da implantação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), a
partir da instituição do órgão em 1959. (OLIVEIRA, 2000)
De acordo com Oliveira (2000), a instituição da Sudene ocorre devido à existência de
dois fatores principais de preocupação do governo central para com o Nordeste brasileiro: o
crescimento dos movimentos populares e a necessidade de expansão capitalista. (OLIVEIRA,
2000) E, dentro dessa lógica desenvolvimentista em que a Sudene se inseriu, o ponto central
que garantiria a sua eficácia, segundo Marcos Fábio de Oliveira (1996), tornou-se a
industrialização. Conforme o autor, a política de desenvolvimento não se restringiria à
industrialização, “que por sinal deveria ser altamente de mão de obra intensiva e absorvedora
de matéria-prima e insumos regionais, para ampliar os seus efeitos multiplicadores”. Contudo,
fica claro a prioridade da industrialização do Nordeste como “elemento capaz de conciliar
uma economia com alta produtividade a ser construída, ao mesmo tempo, em uma região
densamente povoada”. (OLIVEIRA, 1996, p. 15)
Nesse contexto, o Norte de Minas Gerais foi incluso na área de abrangência da Sudene
desde sua origem, através da Lei 3692, de 1959, que entendia como Nordeste, além dos
41
respectivos estados dessa região, os estados da Bahia e Sergipe (estados que na divisão
regional oficial brasileira de 1938 faziam parte da antiga região Leste, assim como Minas
Gerais, fato somente alterado em 1969, portanto, já sob a atuação desse órgão), além do
chamado Polígono da Seca, criado em 1936 pela Lei 175/36, que não citava a área mineira,
depois revisto pelo Decreto-Lei 9857 de 1946, que pela primeira vez incluía Minas Gerais,
situação que se consolidou em 1951 através da Lei 1348, que estabelecia os limites deste
estado que se iniciam desde a cidade de Barras na Bahia até as cidades de Pirapora, Bocaiuva,
Salinas e Rio Pardo. (OLIVEIRA, 1996)
Essa lei foi levada a êxito em razão de compreender essa região como “conceito de
Nordeste”, devido à vigência de “objetivos específicos em termos de planejamento econômico
e relativa homogeneidade”. Portanto, essa região foi vinculada, a partir deste momento, “num
programa de combate à seca (...) e em uma situação de subdesenvolvimento agravado pelo
fenômeno da seca”. (OLIVEIRA, 1996, p. 101) Dessa forma, Montes Claros passará por um
processo de transformações de acordo com a lógica imposta pela Sudene em todo o Nordeste,
decorrente dos incentivos e principalmente da industrialização.
Prosseguindo, Oliveira (1996) ainda chama a atenção, dizendo que esse processo teve
duas fases distintas de orientação, no sentido de localização dos investimentos, sendo que na
primeira fase, de 1960 a 1970, “predominou a recuperação e diversificação industrial” com a
prevalência de indústrias de pequeno e médio porte, já entre 1970 e 1980 predominaram as
grandes indústrias “voltadas para insumos básicos”. (OLIVEIRA, 1996, pp. 21-22) Contudo,
a industrialização não representou desenvolvimento, se este for entendido sob a ótica de
transformações mais profundas nas estruturas sociais, e este fato é inclusive relatado por
documentos governamentais, como “Sudene vinte anos, 1959-1979”, publicado já sob a égide
do Regime Militar, conforme demonstra Oliveira (1996), destacando que a própria Sudene
afirmava que este processo não tinha beneficiado a população, apenas uma parcela “pouco
significativa”. (OLIVEIRA, 1996, p. 22)
Apesar dessa constatação, novos documentos oficiais, ainda sob o governo dos
militares, afirmavam que era “natural” que os benefícios do crescimento econômico
demorassem a ser difundidos. (OLIVEIRA, 1996, p.22) Mesmo com esses apontamentos, a
Sudene compreendeu que estava liderando um exitoso processo de transformação do
Nordeste, o que permite concluir que os indicativos sociais não eram fundamentais para esse
organismo. (OLIVEIRA, 1996) Essa opção clara de privilegiar os aspectos puramente
42
econômicos em detrimento dos indicativos sociais também se reproduz na atuação dessa
superintendência em Montes Claros, e em toda a área mineira.
Uma das principais modificações na cidade, em decorrência do processo intensificado
pela Sudene, abrangendo a resolução dos problemas sociais oriundos dessa nova realidade,
diz respeito à questão demográfica e sua transição que menosprezaram as atividades ligadas
ao campo em favor da consolidação da urbanização. Em virtude dessa situação em conjunto
com a já citada modernização conservadora do campo foram expulsos os trabalhadores e
pequenos produtores rurais, não somente de Montes Claros, mas também de toda a região,
devido ao fato de se ter ampliado a relevância da cidade como importante centro comercial
regional. Como consequência, os trabalhadores mudaram para as periferias da cidade, criando
uma nova realidade, o que traria também consequências para as relações políticas locais.
Vejamos o efeito dessa nova realidade, como exemplo, citamos o crescimento
demográfico que se destaca na década de 1970, apresentando um crescimento populacional de
52,21%, e uma taxa de urbanização que salta de 40,66% em 1960 para 73,10% em 1970, e se
consolida em 87,60% em 1980. (OLIVEIRA, 1996) Outro dado que comprova a
transformação em Montes Claros surge em relação às estatísticas que comprovam que o setor
agrário, que em 1960 era o maior empregador, com 66,8% da população economicamente
ativa (PEA) atuando, se torna gradativamente minoritário quando, em 1970, esse setor
empregava já próximo da metade do percentual de outrora, com 33,74%, e em 1980 o nível de
emprego no setor rural já era de apenas 14,44% da PEA. (OLIVEIRA, 1996)
Portanto, a situação em que Montes Claros enfrenta ao longo das décadas de 1960 e
1970, com o crescimento demográfico e a urbanização, criaria novos agentes e novas
demandas populares que contribuíram para transformações políticas e o aparecimento de
novos atores políticos, que atuaram em conflito com os representantes políticos ligados às
elites tradicionais agrárias que conduziam a municipalidade desde sua institucionalização em
1832.
Entretanto, até esse processo de transformação ocorrer, o que se viu no início do
período militar em Montes Claros, politicamente, foi a ampliação do poder das elites locais. A
partir da instauração do Regime Militar em 1964, as principais transformações nas estruturas
políticas do país irão ocorrer através dos chamados atos institucionais, que serão
43
imperativamente impostos pelo poder executivo central, aos demais poderes e ao conjunto da
sociedade.
O Ato Institucional II realizou as principais modificações no sistema político
brasileiro. Através dele, o poder executivo dissolve todos os partidos políticos brasileiros e
estabelece as regras para a criação de novos partidos, o que culminará na criação do
bipartidarismo, com a existência apenas da governista Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) e do oposicionista Movimento Democrático Brasileiro (MDB). (DELGADO,
2006)
Em Montes Claros, seguindo uma tendência nacional, as lideranças políticas ligadas
aos antigos partidos se enquadram na nova norma, aderindo maciçamente ao regime e
consequentemente ao seu partido de apoio, a ARENA. Todas as lideranças ligadas ao antigo
PR, a maioria do PSD e da UDN, além do prefeito Pedro Santos, eleito pelo PSP, irão
organizar a nova agremiação governista na cidade. Já o MDB será formado inicialmente por
políticos veteranos ligados ao antigo PTB, além de novos atores ligados a setores menos
tradicionais da política local. (OLIVEIRA, 2000) Dentre desse novo quadro político ocorre
o pleito em 1966, o primeiro durante o Regime Militar, que demonstra claramente o quanto o
golpe reforçou o domínio das elites tradicionais locais, com o amplo domínio da ARENA, o
que é cristalinamente exemplificado através da candidatura única a prefeito do fazendeiro
Antonio Lafetá Rebello, apoiado inclusive pelo MDB. (FERREIRA, 2002)
Além da eleição do novo prefeito, a ARENA também elege 11 dos 15 vereadores, o
que representou 73,5% dos novos legisladores. Ainda cabe destacar que a ARENA teria em
seus quadros o candidato a deputado estadual mais votado da cidade1, além dos três
candidatos majoritários a deputado federal2. Já o MDB teria como resultado mais expressivo
deste pleito a eleição do vereador mais votado da cidade3. (OLIVEIRA, 2000)
Os resultados do primeiro pleito do Regime civil-militar em Montes Claros apontam
para uma absorção desse novo contingente populacional pelos grupos tradicionais da política
1 Humberto Guimarães Souto, ARENA, foi o deputado estadual mais votado da cidade com 5.039 votos
(OLIVEIRA, 2000)
2 Os três deputados federais mais votados de Montes Claros nesta eleição foram respectivamente; Luiz de Paula
Ferreira (3.677 votos), Edgar Martins Pereira (3.334 votos) e Teofilo Pires (2.010 votos) (OLIVEIRA, 2000)
3 O vereador mais votado deste pleito foi José da Conceição Santos (851 votos)
44
local. O novo regime atua no sentido de ampliar a concentração de poder e recursos nas mãos
daqueles que já os detinham, “facilitando sua penetração no conjunto da sociedade civil”.
(OLIVEIRA, 2000, p.135)
Seria essa penetração que possibilitaria inclusive o lançamento de figuras populares,
“pequenos produtores rurais e pessoas ligadas à Igreja e à assistência social” para a Câmara
Municipal, através da ARENA nas eleições seguintes. (OLIVEIRA, 2000, p.136)
Essa adesão de setores populares ao projeto das elites tradicionais, através da sigla
governista, era uma consequência da ausência de um projeto alternativo capitaneado pelos
oposicionistas. Um dos fatos mais marcantes que corroboram essa vertente era o chamado
“Plano Diretor” apresentado pelo prefeito Antônio Rebello, no último ano de seu mandato, em
1970, como o projeto da Montes Claros do futuro. Tal plano buscava reorganizar
prioritariamente a região central da cidade, preparando-a para o fluxo de uma população
prevista pelo poder executivo de 500 mil pessoas em “meados dos anos noventa”. O MDB
não somente apoiou como contribuiu para a construção desse projeto, inclusive com a
ascensão de um suplente de vereador ao exercício do mandato, pelo simples fato de ele
possuir formação acadêmica na área de engenharia, o que o possibilitaria contribuir de
maneira mais adequada às discussões em torno desse projeto4. (GUIMARÃES, 1997, p.163)
A principal crítica feita a esse plano de Rebello consistia efetivamente no fato de
priorizar ações na região central, em detrimento das áreas periféricas em que se concentrava a
imensa maioria daqueles que se mudaram para a zona urbana, seja vinda da zona rural de
Montes Claros ou de alguma cidade da região, em consequência do processo de modernização
conservadora do campo e da industrialização a partir da SUDENE, que gradativamente se
tornavam a porção numérica majoritária da cidade. (GUIMARAES, 1997)
Tal crítica foi encampada junto aos moradores das áreas periféricas por lideranças
ligadas a grupos dissidentes arenistas liderados pelos ex-prefeitos Pedro Santos e Simeão
Ribeiro, e este último atuava como vereador nessa legislatura. O discurso de ambos defendia a
ideia de que os escassos recursos do município deveriam priorizar os bairros periféricos,
porque assim beneficiariam a maioria da população. (GUIMARÃES, 1997)
4 Sobre essa questão Guimarães(1997) afirma que “O MDB, partido da oposição, tal qual os correligionários do
Prefeito, abraçou também o plano diretor, fazendo parte do bloco de discussão do mesmo, substituindo inclusive,
alguns dos vereadores titulares pelos suplentes com formação acadêmica na área, como foi o caso de João Carlos
Sobreira, que assumiu o cargo para estudar, com detalhes, o projeto de lei.” (p. 163)
45
Como consequência da atuação desses juntamente aos setores periféricos, Santos
consegue retornar à chefia do executivo municipal nas eleições no final do ano de 1970, e
Ribeiro reelege-se como o segundo parlamentar mais votado da cidade. Já o MDB vê a sua já
reduzida bancada de vereadores diminuir ainda mais, caindo de 4 vereadores eleitos em 1966,
para apenas 3 em 19705. (GUIMARAES, 1997)
Outra demonstração da busca de Ribeiro em se credenciar como porta-voz desses
grupos marginalizados da política local se encontra em um requerimento de sua autoria,
datado de 05 de maio de 1971, em que dá entrada a uma proposição encaminhando
requerimento a um ministro de estado, com o seguinte teor:
como pólo de convergência que é Montes Claros, na sofrida região norte
mineira, e como um dos pontos geográficos das comunicações do norte para
o sul do país.
Desde longos anos, tem-se preocupado esta edilidade com levas de
milhares de retirantes da região e do nordeste que, atingindo nossa cidade,
minguados de recursos, se amontoam famintos na plataforma da estação da
Central do Brasil, em busca de passes.
As cenas de miséria, o número de pedintes com crianças, e todos
famintos, têm levado o povo de nossa cidade a dar a ajuda de que pode
dispor (...) acreditamos, se os retirantes que vêm constituindo um problema
social para a nossa coletividade, todos eles corridos de uma lavoura
queimada pelo sol, estão a merecer, do fundo rural ou órgãos equivalentes
uma atenção especial, solicitamos de V. Exa. providências no sentido de
determinar a quem de direito a construção de uma hospedaria ou albergue-
triagem para o devido encaminhamento para onde se fizer necessário.
V. Exa. com a clara visão nacional que possui dos nossos problemas,
não há de ficar indiferente à gravidade da situação de miséria e fome a que
assistimos.6
5 Em 1966 o MDB elegeu os seguintes vereadores: José da Conceição Santos (851 votos), Aroldo Costa
Tourinho (727 votos), Pedro Narciso (518 votos) e Manoel Messias Machado (351 votos); em 1970 José da
Conceição Santos (561 votos) e Pedro Narciso (550 votos) foram reeleitos e acompanhados de José Maria de
Oliveira (494 votos) compunham a bancada do MDB no parlamento municipal. (OLIVEIRA, 2000)
6 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara municipal, 05/05/1971
46
Já em relação a Pedro Santos, em que pese ter sido eleito fora dos arranjos dos grupos
tradicionais, não se pode considerar que durante os seus mandatos houve qualquer ruptura
com os interesses dos grandes fazendeiros, primeiro por ser ele também um fazendeiro, e
segundo pela amplitude, em seus dois mandatos, da presença de lideranças tradicionais na
Câmara dos Vereadores. No primeiro mandato, elas estavam ligadas aos hegemônicos PR e
PSD, e no segundo eram oriundas das hostes arenistas. Esse eleitorado, localizado nas zonas
periféricas da zona urbana, eleva Santos novamente ao paço municipal, mas não se organiza a
ponto de garantir a eleição de nenhum vereador oriundo de situações econômicas e sociais
semelhantes às suas. (OLIVEIRA, 2000)
O segundo mandato de Santos ficou marcado por dois aspectos: a sua curta duração,
pois foi de apenas dois anos, por determinação do governo militar, e a intensa oposição que
recebeu daqueles setores que no mandato anterior buscavam a aprovação do plano diretor. E,
além disso, durante todo esse curto período, ele teve que conviver com a oposição sistemática
da maioria da Câmara dos Vereadores, ancorando-se principalmente em sua base de apoio nas
periferias da cidade, a que atendia gratuitamente como médico. (OLIVEIRA, 2000) Tal
oposição dos setores vinculados aos grupos tradicionais da política local inclusive, tentou
criar condições para a destituição de Santos do cargo de prefeito, o que teria acontecido se
“não fosse o pulso firme de notáveis vereadores, seus companheiros”. (GUIMARAES, 2000,
p.274)
No pleito seguinte, em 1972, os grupos tradicionais, umbilicalmente ligados à
propriedade rural, retornam o protagonismo da eleição do médico e fazendeiro Moacir Lopes.
O MDB, por sua vez, mantém sua bancada de três vereadores apenas, sendo que inclusive
foram reeleitos os mesmos parlamentares que já compunham o legislativo7, demonstrando que
mais uma vez a agremiação oposicionista não conseguiu ampliar sua representatividade e se
apresentar como porta-voz dessa nova periferia urbana, ampliada pelo processo de
industrialização. (GUIMARÃES, 1997)
Paradoxalmente ao fato da vinculação de Lopes ao campo, é em seu mandato que
ocorre uma intensificação do processo de industrialização, beneficiada pelo aprofundamento
da política de compromissos, citada por Oliveira (2000), feita com os representantes
estaduais. Decorrente das relações entre o município e o Estado, durante esse período, ocorre 7 Em 1972 Pedro Narciso foi o vereador mais votado da cidade com 2.160 votos, José da Conceição obteve 1.050
votos e José Maria de Oliveira foi reeleito com 633 votos. (OLIVEIRA, 2000)
47
a “implantação da Companhia de Distritos Industriais e a aprovação de um grande número de
projetos pela Sudene”. (OLIVEIRA, 2000, p. 169) Isso ocorre de maneira integrada ao
processo nacional pelo qual a Sudene passava, com a implantação de uma nova orientação
que estimulava a criação de grandes unidades industriais, a partir de 1974. (OLIVEIRA,
1996)
Inclusive, é durante essa legislatura que, pela primeira vez, ocorre em Montes Claros
uma reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, instância máxima desse órgão, que reúne
os governadores dos estados membros, ministros federais e também a Presidência da
República. (GUIMARÃES, 1997) É nesse momento que começa a intensificar a presença
de uma nova classe média, vinculada à burocracia estatal e ao comércio que emerge devido às
demandas impostas pela indústria. Essa classe média “atua na economia de forma secundária,
mas no plano político ambiciona espaços maiores”. (FERREIRA, 2002, p. 41)
Já os setores populares se tornam ainda mais alvo dos políticos ligados à
municipalidade. Durante o seu mandato, Lopes busca intensificar o domínio às camadas
populares, através de ações de cooptação, tanto na área rural como na crescente zona urbana.
(OLIVEIRA, 2000) Nesse momento, por iniciativa da municipalidade, é criado o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais com o objetivo de ecoar o trabalho do poder público no campo,
como a criação de escolas e melhorias das estradas. Já na área urbana, compreendendo a sua
amplitude, buscou-se atrelar as nascentes reivindicações dessas novas massas, através da
criação de uma Federação de Associações de Bairros. (OLIVEIRA, 2000) Essas iniciativas
estavam subordinadas ao projeto de poder da elite, e não à busca de inclusão dessas pessoas,
devido ao fato de Lopes ser, de acordo com o esquema de Pereira, (2002) mencionado acima,
um típico exemplo de um coronel tradicional.
Dessa forma, um bom exemplo para caracterizar Lopes é recorrer ao recurso da
violência como instrumento de dominação. Durante o seu mandato, ele sofreu uma tentativa
frustrada de assassinato e, depois do ocorrido, o autor do ato aparece “morto nas águas do Rio
São Francisco”. (GUIMARÃES, 1997, p. 167) Além desse fato, vale destacar que, durante o
mandato, o executivo municipal, instrumento de dominação dos grupos tradicionais, busca
ampliar sua “margem de controle social e político, através do empreguismo público”, com o
crescimento da estrutura administrativa “através de uma excessiva contratação de
funcionários”. (FERREIRA, 2002, p. 43)
48
Todo esse quadro em transformação desde o início da década de 1960 começará a
refletir na transformação do perfil dos representantes políticos apenas no pleito seguinte, em
1976, quando se intensificará a ação reivindicatória e de resistência da população. Os grupos
tradicionais, que se consolidavam enquanto gestores da coletividade, atuavam
ininterruptamente na condução da municipalidade, desde 1832. É na década de 1970 que essa
dominação alcança o seu ápice, através do processo de industrialização conjuntamente com a
modernização conservadora do campo. Oliveira (1996) afirma que neste momento,
A ação do Estado (autoritário), apesar do papel positivo como promotor do
desenvolvimento (crescimento), privilegiou as classes dominantes,
beneficiárias das políticas adotadas. O Estado agia como promotor da
acumulação privada de capital. Esse mesmo Estado pouco fez em termos de
programas sociais e, quando o fez, agiu mais no sentido de beneficiar grupos
privilegiados. Simultaneamente, através da repressão política, desorganiza os
trabalhadores e prejudica o seu poder reivindicatório. (OLIVEIRA, 1996, p.
24)
É importante destacar que, apesar de o próprio Estado reconhecer em diversos
documentos oficiais as insuficiências deste modelo, especialmente sob a perspectiva social,
ele acreditava que a resolução desses problemas se encontrava na “intensificação do modelo
em vigor, como podemos constatar no (documento) Sudene 20 ANOS”. (OLIVEIRA, 1996,
p.31)
Contudo, esse processo de transformação econômica começará a entrar em crise, com
a falência e o fechamento de diversos empreendimentos. E a conclusão é de que embora esse
processo gerasse desenvolvimento econômico, ele possuía sérias limitações do ponto de vista
de desenvolvimento social, iniciado a partir da perspectiva de geração de empregos. Até
mesmo documentos oficiais preconizavam que este possuía uma capacidade limitada, nesse
aspecto. Além disso, esses mesmos documentos oficiais concluíram que houve “exclusão
política da maioria da população”, o que incentivou a ação de movimentos reivindicatórios
que buscavam a inclusão de demasiados setores populares às condições básicas de cidadania,
iniciando a disputa pelos rumos da cidade. (OLIVEIRA, 1996)
Essa disputa permeará o cenário político local pela próxima década e também auxiliará
na existência de um distensionamento por parte do Regime Militar então em vigor.
49
1.3 O MDB, as camadas populares e as eleições municipais de 1976 e 1982
O final da primeira metade da década de 1970 foi um momento de transformações em
todo o país, com a derrota dos movimentos guerrilheiros de resistência armada, seja na área
urbana seja na rural. Acrescenta-se a isso, a consequente aglutinação de novos setores
oposicionistas nas hostes do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), até então chamada
pejorativamente de consentida.
Dentre as diversas organizações de oposição que se formaram em todo o país após
1964, dois movimentos de guerrilha se destacam como exemplos das estratégias diferenciadas
que permeavam no seio dos inúmeros grupos de resistência ao Regime, demonstrando que a
esfera institucional fora abdicada por inúmeros setores, especialmente no período de 1968 até
meados da década de 70: a Ação Libertadora Nacional (ALN); e a guerrilha do Araguaia,
organizada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Ambas as organizações surgiram a
partir de dissidências do Partido Comunista Brasileiro (PCB), liderado por Luis Carlos Prestes
desde a década de 1930. (CARONE, 1984)
Com o fim das guerrilhas, tanto da área urbana quanto da rural, as lideranças iniciaram
um processo de rediscutir suas estratégias. No caso do PCdoB, por exemplo, com o fim da
guerrilha do Araguaia, fato inclusive que o partido demora a admitir, é iniciado um processo
de discussão que culminará na definição de novas linhas de atuação, que serão exemplares e
nortearam o final da década de 1970. Neste contexto, O PCdoB buscará retomar uma
atividade na esfera institucional, e o mesmo ocorrerá com outras instituições e militantes. A
partir de 1975, o partido destacará como centro de suas reivindicações as chamadas “três
bandeiras”, que eram a luta por “assembléia constituinte livremente eleita, abolição de todos
os atos e leis de exceção, e anistia geral”. (RODRIGUES SALES, 2007, p. 6)
Como se pode observar, a partir dessas bandeiras, o PCdoB direciona seus esforços
para ações que focam a esfera institucional. Entretanto, o partido ainda iria além e, a partir de
1975, começa a organizar a participação de seus militantes nas hostes do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), inclusive, orientando o lançamento de suas candidaturas a
cargos eletivos por essa legenda, e onde não fosse possível o lançamento de candidaturas,
ainda assim o partido orientava seus militantes a votarem e apoiarem os candidatos
50
emedebistas. (RODRIGUES SALES, 2007) Esse movimento feito pelo PCdoB, além de
outras organizações e também de outras personalidades, auxiliará o crescimento do MDB.
Com o fim da luta armada, a esfera institucional se tornará o principal front de todos
aqueles que se propunham a atuar contra o Regime Militar, e como o MDB era o único
partido de oposição legalizado no país, ele será extremamente impulsionado com a entrada
desses novos militantes, que resultará em números expressivos que essa agremiação teve nas
eleições de 1974, 1976 e 1978 – a última que ocorrerá sob a égide do bipartidarismo no
Brasil. E esse crescimento do MDB no país também terá seus reflexos em Montes Claros.
Em relação ao êxito que obteve o Movimento Democrático Brasileiro, o resultado
das eleições gerais de 1974, demonstra uma expressiva vitória com a eleição de 16 senadores,
num pleito que teve vinte duas cadeiras em disputa, ampliando sua presença na Câmara dos
Deputados, saltando de 87 deputados eleitos em 1970 para 161. Já a ARENA, apesar de ainda
ser a maior bancada na Câmara, elegeu apenas seis senadores e 203 deputados, 30 a menos
que nas eleições de quatro anos antes. (LAMOUNIER, 1980)
Cabe destacar ainda que as eleições de 1970 ocorreram em um momento de
intensificação da repressão por parte do Governo Militar. Além disso, Wanderley Guilherme
dos Santos aponta que esse pleito foi também atípico, devido às altas taxas de abstenção, e de
votos brancos e nulos, consideradas, por ele, como as maiores de todos os pleitos até então.
Este autor estima que aproximadamente metade da população não votou em nenhum
candidato em 1970. (SANTOS, 1978)
O cientista político Bolivar Lamounier considera que esse resultado, em 1974, deve-se
a uma intensificação da crise econômica oriunda da escassez de petróleo de 1973 e do
crescimento dos problemas financeiros de parte da população. Esses fatos auxiliaram o
partido de oposição, e fez com que este conseguisse aumentar sua identificação com as
camadas trabalhadoras e assalariadas da população, fazendo com que sua vitória se tornasse
uma demonstração classista. (LAMOUNIER, 1980) Contudo, essa visão de Lamounier é
duramente contestada por um conjunto de outros acadêmicos que também analisaram esse
período.
Desta forma, compreende-se que a principal motivação apontada como fundamental
para o bom resultado do MDB no pleito de 1974 esbarra em aspectos que são entendidos
como mais profundos do que simplesmente a crise econômica.
51
Para Maria Helena Alvez (1985), o motivo da catalisação do MDB, em 1974, não foi
apenas a oposição que fazia ao governo, mas o questionamento que fazia do regime como um
todo, e isso era muito mais abrangente do que a representação de um segmento, ou classe da
sociedade. Seria esse o motivo que possibilitou que o MDB congregasse lideranças que, no
espectro ideológico, ia dos comunistas até lideres empresariais liberais e democratas. Essa
visão de Alvez é compartilhada por outros estudiosos que veem na resistência ao regime a
principal razão que dá capilaridade aos emedebistas em 1974.
Corroborando com Alvez, Eliézer Rizzo de Oliveira (1994) defende que as eleições
de 1974 significaram muito mais um voto de protesto contra o regime militar, do que um voto
de identificação com o MDB. O MDB estaria capitalizando, portanto, em cima dessa
insatisfação, e inclusive de forma não planejada, isto é, estes resultados foram surpreendentes
aos oposicionistas, bem como aos membros da ARENA. (OLIVEIRA, 1994)
Já em Montes Claros o MDB obterá resultados expressivos, contudo não suplantará a
ARENA enquanto principal partido do município. A esse respeito, Oliveira (2000) afirma
que,
O MDB, que pretendeu ser para todo o país alternativa de poder durante o
regime militar, em Montes Claros mantém baixos percentuais de votação
entre 1966 e 1978, com fortes traços conservadores, seus deputados mais
votados não mantêm vínculos com o movimento popular e sua prática
política, com honrosas exceções, não se distingue daquela desenvolvida pelo
partido da situação. (OLIVEIRA, 2000, p.133)
A autora ainda alude à evolução do percentual de votação dos dois partidos em Montes
Claros, para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) e para a Câmara
dos Deputados (CD). Em 1970, a vitória arrasadora da ARENA também se reproduz na
cidade, tendo esse partido obtido impressionantes 96,3% do total de votos para a ALMG,
contra 3,7% de votos aos oposicionistas, e para a CD, os arenistas obtêm 85,7% dos votos,
contra 14,2% de votos ao MDB. (OLIVEIRA, 2000)
Já em 1974, há uma elevação do percentual de votos do MDB em Montes Claros, mas
que ainda não acompanha a média nacional. Para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o
52
MDB recebe 34,2% dos votos montesclarense, percentual próximo da quantidade recebida
para a Câmara dos Deputados, que foi de 31,7%. (OLIVEIRA, 2000)
Além disso, o MDB alcança a façanha de eleger pela primeira vez o então vereador
Pedro Narciso para o cargo de deputado estadual, e Mário Genival Tourinho para deputado
federal. (OLIVEIRA, 2000) Contudo, Oliveira (2000) faz questão de frisar que esses dois
“além de representarem famílias tradicionais, não têm vínculos imediatos com a
industrialização”. Apesar desse depoimento, a autora afirma que “as origens petebistas de
Genival Tourinho lhe asseguram ascendência sobre a classe trabalhadora”, todavia “suas
bases eleitorais não se concentram em Montes Claros”. (OLIVEIRA, 2000, p 139)
Cabe destacar ainda que Itamar Franco, candidato a senador pelo MDB, que fora
eleito, também foi o mais votado em Montes Claros. (OLIVEIRA, 2000) Portanto, apesar de
as eleições de 1974 não terem representado a vitória do MDB na cidade, elas demonstram que
as bases para o crescimento oposicionista já estava se consolidando.
Verificamos assim que as mudanças no perfil sócio-econômico da cidade e a
estrutura político-partidária criaram formas de fortalecer o grupo de poder
local, mas, ao mesmo tempo, propiciaram tanto o crescimento do chamado
movimento popular (termo difuso, mas que aqui pretende chamar a atenção
para várias iniciativas como sindicatos, democratização dos serviços
públicos, movimentos de mulheres, etc) quanto confirmam lideranças
partidárias não majoritárias em relação à elite local, como Narciso e
Tourinho. Esta posição secundária irá, progressivamente se modificando, do
ponto de vista local, atraídos pelas direções que seus partidos vão tomando,
não só em Minas, mas em todo o país. (OLIVEIRA, 2000, p. 139)
Adiante, as eleições de 1976 iriam demonstrar ainda mais essa movimentação, com a
eleição de um jovem de 23 anos para o cargo de vereador, obtendo a maior votação da história
de Montes Claros. A esse respeito, Ferreira (2002) esclarece que
É na década de 1970 que Luiz Tadeu Leite, notadamente a partir de 1974,
inicia um programa de rádio no qual as críticas aos descasos da
administração municipal com os bairros da cidade serão feitas, configurando
um caminho que o conduzirá ao cargo de vereador mais votado da cidade de
Montes Claros até então. (FERREIRA, 2002, p. 18)
53
Portanto, é durante o mandato de Moacir Lopes que o jovem radialista Luiz Tadeu
Leite, de origem pobre, filho de um “pequeno sitiante” e “órfão aos 12 anos” que ainda fora
“porteiro da faculdade” para poder custear a graduação em Direito, inicia um programa de
rádio que obterá muita audiência, o que o credenciará à disputa de uma cadeira no legislativo
municipal. (FERREIRA, 2002, p. 46)
Esse programa se pautará em buscar expor os anseios dos setores marginais da
sociedade, “quando fustiga os grupos dirigentes com reiteradas denúncias de empreguismo e
descaso com a população carente”, o que englobará essa grande leva atraída a Montes Claros
pelos empregos gerados através dos empreendimentos incentivados pela SUDENE, “pelas
secas de 1970, 1973 e 1975, e por fim, a alta concentração fundiária verificada na região”
fenômeno que foi “fortalecido a partir do golpe militar de 1964”. (FERREIRA, 1964, p. 33)
Essa grande quantidade de migrantes ocupa as áreas periféricas da cidade, que não são
priorizadas pelos gestores municipais, e, portanto, têm escassez de serviços públicos de
qualidade. É a consequência já apontada inclusive pelos documentos oficiais da Sudene, que
atentam para o déficit dos indicadores sociais, conforme afirma Marcos Fábio Martins de
Oliveira. (1996)
Ainda sobre a ocupação dos bairros periféricos, Braga (1985) esclarece que a
população alocada nesses bairros em Montes Claros, em 1960, era de 5020 habitantes; já em
1970, esse número já chegava a 25127, e em 1980, esse grupo seria de 79.496. Essa autora
corrobora a tese do grande número de migrantes, e vai além ao afirmar que, em 1980, os
migrantes já representavam mais da metade da população. (BRAGA, 1985)
Portanto, o programa “Boca no Trombone” dialoga com essa massa desarticulada dos
demais setores da sociedade, inclusive desvinculada das elites dirigentes. A eficácia do
programa de rádio de Tadeu, como instrumento de mobilização política, é apontada também
por Evelina Antunes F. de Oliveira, quando afirma que
o MDB local, como partido mais afinado às demandas populares naquele
momento, é também um partido de lideranças conservadoras (obedecendo a
lógica nacional), que consegue uma razoável resposta do eleitorado. Em
termos de penetração popular, este partido se torna um pouco mais eficiente
quando seu vereador eleito em 1976, Luiz Tadeu Leite, advogado e
54
radialista, inicia um programa de rádio de muita audiência, Boca no
Trombone. (OLIVEIRA, 2000, p.140)
Luiz Tadeu Leite constrói um discurso, nesse momento, que se intensificará no
decurso de sua carreira política, especialmente na década de 1980, em torno de sua figura,
assemelhando à construção feita por Raoul Girardet (1987), acerca da criação da mitologia na
política, em sua obra clássica “Mito e mitologias políticas”. Girardet deixa claro que o mito,
em sua perspectiva, nada tem a ver com fábula ou falseamento da realidade, tampouco como
algo inerente a sociedades menos desenvolvidas ou tidas enquanto primitivas. Pelo contrário,
esse autor defende a construção inclusive de uma lógica por dentro do discurso mítico.
É em um código que se tem o direito de considerar como imutável em seu
conjunto que ela transcreve e transmite sua mensagem. Ao olhar do analista,
o fato não pode deixar de ganhar particular importância, já que fica claro no
mesmo lance que é também em função de uma mesma chave que essa
mensagem será suscetível de ser decifrada. Sem dúvida, convém levar em
conta o caráter muito singular dessa “sintaxe” associativa, como convém
levar em conta a originalidade do complexo psíquico no qual ela se insere.
No entanto, do mesmo modo que Freud fundamenta sua interpretação do
sonho nas “engrenagens particulares” que descobre em seu desenrolar, nas
“relações íntimas” que consegue estabelecer entre os elementos
aparentemente incoerentes de que ele se compõe, assim também a existência
reconhecida de uma lógica do imaginário representa a oportunidade de um
primeiro ponto de apoio oferecido à inteligência crítica, de uma primeira
possibilidade de leitura proposta à vontade de compreensão objetiva. Nesse
desconcertante labirinto que constitui a realidade mítica, para aquele que
teve a audácia de nele penetrar, ela fornece pelo menos a promessa de um fio
condutor. (GIRARDET, 1987, p. 18)
Dentro dessa perspectiva, Girardet deixa claro que a construção do mito ocorre pela
repetição e reelaboração, e afirma que “quanto mais o mito ganha amplitude, mais se estende
por um largo espaço cronológico e se prolonga na memória coletiva”. Dessa forma, o fato de
Tadeu Leite possuir um programa de rádio popular contribui sobremaneira na difusão desse
mito. (GIRARDET, 1987, p.82) O mito criado em torno de Tadeu Leite é o do homem
simples, do povo, e que se propõe a representá-lo, percepção essa que será constantemente
repetida por ele, e que vai de encontro à visão de Girardet, pois “o mito não pode deixar de
55
conservar a marca da personagem em torno da qual ele se constrói”. (GIRARDET, 1987, p.
82) Além disso, Girardet aponta que o mito se consolida especialmente em momentos de
crise, em que as certezas dão lugar às agitações e angústias, o que ocorria, naquele momento,
em todo o país e que tinha consequências também em Montes Claros. (GIRARDET, 1987)
Dessa forma, Tadeu Leite consegue se eleger no pleito de 1976, com 3051 votos, no
mesmo pleito que consagra Antônio Lafetá Rebello, da ARENA, como prefeito pela segunda
vez. A ARENA mantém-se enquanto maior bancada do legislativo municipal, com a eleição
de 11 vereadores.8 Já o MDB, além de Leite, elege outros três parlamentares para a legislatura
iniciada em 19779. (OLIVEIRA, 2000)
Contudo, cabe frisar que, apesar de Tadeu de fato vir de uma família de baixo poder
aquisitivo, ele se agrupa com determinadas figuras de grande poder econômico que não eram
vinculadas às elites dirigentes, como o médico Mário Ribeiro, constantemente investigado
pelas forças policiais do regime, pelo fato de atuar politicamente contrário ao regime militar e
por ser irmão do antigo ministro da Casa Civil de João Goulart, o antropólogo Darcy Ribeiro,
e ainda por ter ligações com o empresário Elias Siufi, mato-grossense radicado em Montes
Claros, dono da Rádio Sociedade, onde Leite apresentava o “Boca no Trombone”. Este será
inclusive citado no discurso em que Tadeu profere, na primeira reunião ordinária da nova
legislatura, em 02 de fevereiro de 1977, conforme consta em ata, as palavras de
agradecimento “pelo apoio e incentivo que dele recebera quando da campanha eleitoral”.
Tadeu conduz seu mandato sempre buscando reforçar a sua imagem de homem do
povo, como se pode constatar em seu discurso na Câmara, na reunião ordinária de 04 de abril
de 1978, quando afirma que não traz “títulos de doutorado (...) ou honrarias que possam me
qualificar (...) trago apenas uma orfandade de pai e mãe e a vontade de trabalhar pelo povo”.10
O mandato do vereador Luiz Tadeu Leite se torna uma extensão do programa de rádio em que
busca articular esses segmentos excluídos, impulsionando o crescimento do MDB nessa
8 Os vereadores eleitos pela ARENA neste pleito foram: Juarez Antunes dos Santos (1480 votos); Domingos
Hamilton Lopes (1325 votos); Aristóteles Mendes Ruas (1289 votos); Geraldo Correa Machado (1255 votos);
Deosvaldo Santos Pena (1.169 votos); Alberto Walter de Oliveira (1.167 votos); Carlos Pimenta (929 votos);
Ivany Martins Pereira (924 votos); Ronald de Carvalho Freire (883 votos); Arnaldo Benicio Ataide Dias (876
votos); e Vivaldo Macedo (871 votos). (OLIVEIRA, 2000)
9 Os vereadores eleitos pelo MDB foram; Luis Tadeu Leite (3.051 votos); José Adão Machado (743 votos);
Marcelino Mota (620 votos); e José Gonçalves de Freitas (544 votos). (OLIVEIRA, 2000)
10 Ata da Reunião da Câmara Municipal, 04/04/1978
56
parcela da população. Guimarães (1997) afirma que, nesse momento, em Montes Claros “as
forças que mais cresciam dentro do partido vinham das lideranças comunitárias, dos
estudantes e da representatividade popular”. (p.168) O primeiro ano do mandato de Leite
possuiu algumas características, que perduraram até o inicio dos anos 80.
Um dos fatos que se pode extrair da leitura dessas atas diz respeito à atuação da
Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais (COPASA), então recém instalada no
município, iniciando suas operações em novembro de 1976. (GUIMARÃES, 1997)
Leite elege a autarquia estadual como seu principal alvo. A primeira referência de
criticas à atuação da COPASA é encontrada na ata da reunião ordinária do dia 16 de maio de
1977, quando o vereador aponta deficiências na oferta de água ao bairro periférico Vila
Mauricéia11. Já na reunião do dia 30 de abril, o edil cita que os mesmos problemas estão
ocorrendo também nos bairros Santo Antonio e Jardim Palmeiras.12 Cabe destacar que todos
esses três bairros são localizados em áreas periféricas, com a prevalência de moradores de
baixo poder aquisitivo.
O nível das críticas à atuação da companhia se elevará nas reuniões de 1º e 08 de
junho. Na primeira reunião de junho de 1977, o vereador “taxou a (tarifa) de verdadeira
extorsão” e afirmou que “o procedimento daquela companhia parece até mesmo uma
brincadeira de mau gosto”13. Já na reunião de 08 de junho, Leite novamente critica o “preço
da tarifa” e a “total falta de investimentos em rede de esgotos”14.
As críticas à autarquia ainda aparecem nas Arquivo da Câmara Municipal de Montes
Claros - Atas das Reuniões dos dias 13 de abril, 29 de junho, 19 de outubro e 03 de
novembro, com colocações de teor semelhante às feitas no início de junho, com a utilização
recorrente de termos fortes como “extorsão”.15
11 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 16/05/1977
12 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 30/04/1977
13 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 01/06/1977
14 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 08/06/1977
15 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Atas das Reuniões da Câmara Municipal, 13/04/1977,
29/06/1977, 19/10/1977, 03/11/1977
57
As criticas à COPASA perdurarão pelo restante do período em que ele exerceu o seu
mandato parlamentar.
Do ponto de vista de demandas populares, ainda se destacam as críticas à atuação da
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB), especialmente à falta da
liberação de residências já prontas no Bairro das Lages.
Além desses dois pontos, também é possível encontrar referências de falas de Tadeu
em relação a direitos trabalhistas, em especial o dos comerciários. Leite, em três reuniões
consecutivas, aborda o assunto com críticas a uma lei aprovada, que permitia o fechamento de
supermercados nos domingos. Segundo o vereador, “a lei é boa para os patrões e ruim para os
empregados”, pois a partir desta ocorreram várias demissões justificadas pela nova medida.16
Tal afirmação ocorreu na reunião do dia 27 de abril. Na reunião seguinte, em 04 de maio,
novamente o edil abordou o tema, com as mesmas críticas da reunião anterior17. Contudo, em
11 de maio, Leite aborda novamente o tema para afirmar que “na semana em curso não se
verificou caso de demissão nos supermercados”18. Após essa reunião, o tema não mais foi
abordado.
Ainda é possível encontrar algumas referências a falas do vereador acerca da situação
nacional, com críticas à SUDENE e ao regime civil-militar. Sobre esta autarquia a principal
constatação do vereador era em relação ao norte de Minas Gerais, que, na sua opinião, não
recebia a mesma quantidade de recursos que outras regiões. Tadeu aborda essa questão nas
reuniões de 11 e 25 de maio.
Sobre o Regime civil-militar como um todo, o parlamentar expõe sua opinião nas
reuniões de 08 de junho e em 23 de novembro. Na reunião de junho, ele critica a repressão do
regime a movimentos estudantis em Belo Horizonte, e afirma que “é preciso redemocratizar
esse país”19. Em 23 de novembro, o parlamentar faz um discurso defendendo “a posição do
MDB em favor de uma nova constituinte”, e ainda ponderou que,
16 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 27/04/1977
17 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 04/05/1977
18 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 11/05/1977
19 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 08/06/1977
58
a Constituição de 67 não foi feita pelo povo, mas outorgada por uma junta
militar, deixando por isso mesmo de ser a lei das leis. Acrescentou que a
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, com a histórica
missão de elaborar uma Constituição soberana é uma solução global,
imposta pela lógica da política, pela coerência, pela integração dos ideais das
varias seções do corpo social brasileiro. Finalizou dizendo que a proposição
de uma constituinte é a proposição da paz, com fulcro na lei, com liberdade,
é a paz com justiça social.20
Em face do exposto, embora a atuação do vereador tenha sido marcada em 1977 por
críticas a diversos segmentos, dois fatos chamam a atenção na leitura das atas: primeiro, a
defesa de interesses do setor agropecuário, e segundo a relativa ausência de críticas mais
contundentes à administração municipal, da qual ele se apresentava como opositor, sendo
inclusive o líder da bancada do MDB.
Em relação aos interesses dos setores ruralistas, os apontamentos do vereador eram
ligados à falta de investimentos do governo federal em ações de prevenção aos efeitos da
seca, tanto por parte da SUDENE, quanto de outros órgãos governamentais.
Além disso, fazia críticas, na reunião do dia 08 de junho, ao Exército, pela falta de
pagamento de terras que haviam sido expropriadas para serem integradas à sua unidade local,
e ao governador do Estado que havia “demagogicamente” afirmado que assumiria tais
dívidas.21
Sobre a administração do prefeito Antonio Rebello, o que há são diversas menções
genéricas solicitando melhorias em bairros e ruas, mas sem nenhuma crítica mais
contundente.
Pelo contrário, há inclusive elogios ao prefeito, como ocorreu na reunião do dia 24 de
agosto, quando o edil elogia a abertura que o prefeito tem com a bancada do MDB, e na
reunião de 15 de setembro, quando Luiz Tadeu Leite “manifestou confiança que doravante os
20 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 23/11/1977
21 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 08/06/1977
59
problemas dos bairros serão tratados com maior dedicação e interesse por parte da
administração”22.
Ainda há menções elogiosas na reunião de 03 de novembro, quando felicita a
administração pelas “melhorias no cemitério”23, além de frisar, em 09 de novembro, que a
“oposição do MDB não vem sendo feita de forma sistemática, mas sim de forma
independente”.24
A principal polêmica envolvendo o vereador e a administração municipal se deu no
debate acerca do contrato de concessão da Rodoviária Municipal. Na reunião do dia 26 de
outubro, ele critica o modelo proposto pelo município, mas em 09 de novembro demonstra
concordância com a nova proposta, apresentada pelo prefeito municipal através da imprensa.25
Essa relação amistosa de Leite com a administração municipal ainda se manterá
durante o ano de 1978.
Um dos principais projetos colocado em pauta na Câmara Municipal no primeiro
semestre desse ano diz respeito à criação pelo executivo municipal de um Conselho Municipal
de Política Administrativa. Tal conselho, submetido à Câmara através de projeto de lei de 11
de fevereiro de 197826, visava, de acordo com o executivo municipal, dar dinamismo à
administração pública, garantindo inclusive à minoria parlamentar o direito de participar das
decisões, conforme exposto pelo porta-voz do governo, vereador Augusto Vieira27.
Contudo, tal projeto se torna objeto de intensa discussão, inclusive na base governista.
Alguns vereadores governistas discordam do mérito do projeto, afirmando que ele poderia
retirar atribuições do poder legislativo.
22 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 15/09/1977
23 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 03/11/1977
24 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 09/11/1977
25 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Atas das Reuniões da Câmara Municipal,26/10/1977,
09/11/1977
26 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara Municipal, 11/02/1978
27 Montes Claros, Jornal de Montes Claros, 21/02/1978, p. 03
60
Matéria da época afirmava em sua manchete que a “Bancada da Arena quer afastar
porta-voz do prefeito”28. No decorrer dela há relato de “bate-boca” entre o porta-voz e o
vereador arenista Aristóteles Mendes Ruas, sobre o conteúdo do projeto de criação do referido
conselho.
O projeto será objeto de críticas por vários vereadores governistas, dentre eles
Aristóteles Mendes Ruas, Carlos Pimenta, Hamilton Lopes e Geraldo Machado. Além dos
governistas, a bancada do MDB também será contrária, à exceção de Luiz Tadeu Leite, que
afirma na matéria citada que “não poderia votar contra, pois assim estaria se recusando ao
diálogo, (pois) ele seria um dos integrantes do novo órgão”29.
Tal debate demonstra de maneira clara que, mesmo Leite sendo um vereador de
oposição, ele fazia questão de ter um “diálogo” aberto com a administração, o que explica de
alguma forma a relativa ausência de críticas desse parlamentar ao governo municipal nos
primeiros anos da legislatura, fato que iria se modificar nos anos finais daquela administração.
A partir de 1978, contudo, duas situações irão fortalecer ainda mais o vínculo desse
vereador com os setores desprovidos da população: a falência de diversos empreendimentos
ligados à SUDENE, o que o aproximará dos movimentos de trabalhadores, e a sua atuação na
criação de associações de bairro.
Sobre a questão das empresas falidas, Ferreira (2002) afirma que essa situação “é
lenha que será queimada até 1982”, quando ocorrerão novas eleições municipais.
José Paulo Ferreira Gomes, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos à época, em sua
monografia de conclusão do curso de Ciências Sociais em 2003, afirma que o parque
industrial de Montes Claros se torna um “cemitério de indústrias”, a partir de 1978.
Matéria de 20 de agosto de 1978, do Diário de Montes Claros, destaca que “o
desemprego contrasta com a industrialização”30.
Gomes (2003) afirma, portanto, que devido a essa situação ocorre o crescimento do
movimento sindical em Montes Claros, a partir de 1978.
28 Montes Claros, Jornal de Montes Claros, 25/02/1978, p. 01
29 Montes Claros, Jornal de Montes Claros, 25/02/1978, p. 01
30 Montes Claros, Diário de Montes Claros, 20/08/1978, p. 01
61
De acordo com esse autor, até 1978 existiam apenas quatro entidades de trabalhadores
no município, e elas se dedicavam apenas ao “ao assistencialismo e festividades, não podendo
esboçar qualquer reação mais crítica em favor dos membros de suas categorias profissionais”.
(GOMES, 2003, p. 24)
É, portanto, devido a essa nova realidade local, conjugada com a eclosão de novos
movimentos de trabalhadores pelo Brasil afora, que os trabalhadores começam a se organizar,
visando a criação de entidades classistas.(GOMES, 2003)
Oliveira (2000) é outra autora a apontar o início desse fenômeno em Montes Claros, a
partir do final da década de 1970.
O novo sindicalismo que surge no final da década de setenta se caracteriza
pela não dependência exclusiva das entidades patronais e busca uma maior
participação de seus filiados. Depois do Sindicato dos Metalúrgicos e dos
Comerciários, surge o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários, e dos Trabalhadores na Construção Civil. (OLIVEIRA, 2000,
p. 158)
Contudo, tal organização não ocorreu sem a resistência dos patrões. Gomes (2003)
aponta que a demissão em massa daqueles que se envolviam com a atividade sindical era
recorrente dentre todas as categorias em Montes Claros.
Então, o desemprego, que já era crescente devido à quebra de empresas, ainda será
ampliado devido à reação patronal à movimentação sindical.
O vereador Luiz Tadeu Leite atuará tanto com suporte político através de seu mandato
parlamentar, como com apoio jurídico, através de sua formação acadêmica como advogado.
O professor Irineu Ribeiro Lopes (2012) aponta a atuação de Leite como advogado de
uma série de trabalhadoras da empresa de confecção TOK, que era uma das principais
empregadoras de mão de obra feminina na cidade, e que viria a fechar as portas no início da
década de 80.
O caso da TOK é exemplar, pois, além de Tadeu atuar como advogado trabalhista
dessas antigas funcionárias, ele também denunciará politicamente, através de seu mandato
parlamentar, as situações vividas por essas trabalhadoras. (LOPES, 2012)
62
O caso das associações de moradores é uma outra questão também apontada por
Tadeu Leite, desde 1978. A primeira menção de Leite acerca desse tema data da reunião
ordinária de 28 de março de 1978, quando ele pleiteia “a possibilidade de se reativar as
associações dos amigos dos bairros dessa cidade”31 que, segundo ele, poderiam atuar de forma
a auxiliar na solução de vários problemas e que poderiam “até mesmo facilitar o trabalho da
prefeitura”.
O trecho acima demonstra claramente que neste primeiro momento o discurso do
vereador não era de reestruturação das associações como instrumento de oposição ao prefeito.
Pelo contrário, o tom conciliatório fica claro nessa passagem, e é intensificado em declaração
ao noticiário local. Nessa matéria o vereador afirma que no mandato anterior de Rebello ele
próprio fora um incentivador de tal medida, pois “ele próprio (Rebello) incentivou a
organização de modelo bastante eficiente aqui em Montes Claros”32.
A partir de então, Tadeu utiliza o seu mandato para construir diversas associações de
bairro nas principais regiões da cidade, em especial nas áreas mais populosas, como os bairros
Santos Reis e Maracanã, cujas entidades serão lideradas respectivamente por Conrado Pereira
dos Santos, um pequeno comerciante, e Osmar Pereira da Silva, um sapateiro. (FERREIRA,
2002)
Osmar Pereira da Silva, em entrevista a José Paulo Gomes, exposta na monografia
deste último, afirma que “Tadeu Leite era um vereador muito atuante e que representava o
sentimento dos moradores de bairros de periferia.(...) A eleição de Tadeu foi muito
importante, e Tadeu se transformou no intérprete dos anseios do povo naquela época”
Além desses movimentos, registra-se também a adesão de setores ligados às classes
médias ao projeto oposicionista que terá Leite como um dos principais protagonistas, como,
por exemplo, movimentos progressistas da Igreja Católica e profissionais da área da saúde.
Esses setores auxiliaram o MDB, e consequentemente também auxiliaram Leite a
garantir capilaridade em setores em que ele não entraria de outra forma, e também ajudam a
intensificar a sua presença nas camadas populares.
31 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara municipal, 28/03/1978
32 Montes Claros, Jornal de Montes Claros, 30/03/1978, p. 03
63
Oliveira (2000) aponta que tanto os religiosos quantos os profissionais da saúde
tinham uma atuação prioritária nas áreas mais populares. Sobre os grupos católicos, ela afirma
que formaram “núcleos nos bairros periféricos na área urbana da cidade, onde grupos de
jovens atuavam em associações de bairros” e, além disso, “mantinham um serviço de
denúncia de arbitrariedades contra trabalhadores rurais e urbanos”. (OLIVEIRA, 2000, p.
159)
Já sobre os profissionais da saúde essa autora afirma que
em 1978 chega um grupo de médicos e enfermeiros, contratados pela
Gerencia Regional de Saúde, para desenvolver trabalho comunitário nos
postos de saúde espalhados pela região,(foi uma das experiências pioneiras
do sistema integrado de saúde com participação popular).A proposta era
envolver, de forma crítica, os usuários dos serviços numa perspectiva de
conscientização política. Além deste trabalho, de certa forma fragmentário,
porque disperso por vários municípios, atuam de maneira mais intensa junto
às CEB´s (Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica), mas já se
articulam partidariamente.(OLIVEIRA, 2000, p. 159)
Concluindo, é com a força de todo esse conjunto: movimentos sindicais, movimentos
comunitários, e setores médios, notadamente religiosos e ligados à saúde, é que o MDB e
Luiz Tadeu Leite chegaram à década de 1980, com o intuito de disputar a hegemonia em
Montes Claros. Retrocedendo, ainda na década de 1970 haveria mais uma mudança no
processo político do Brasil, que produziria efeitos em Montes Claros.
Já no final da década de 1970, mais precisamente em 1979, o regime civil-militar,
fragilizado com a ascenção de movimentos reivindicatórios e o sucessivo crescimento do
MDB nos pleitos de 1974 e 1978, promove ações de distensionamento com a extinção dos
atos institucionais, como a extinção do bipartidarismo através da Lei 6767/79 e,
principalmente, com a anistia aos opositores do regime. Além dessas mudanças, e em
decorrência delas, adia as eleições de 1980 para 1982. (DELGADO, 2006)
Sobre a extinção do bipartidarismo cabe destacar que ela deve ser vista sob a ótica de
distensionamento do regime, já que possibilitou inclusive a formação do Partido dos
Trabalhadores, de Luis Inácio Lula da Silva, que havia liderado as greves dos metalúrgicos do
ABCD paulista. Porém, não se deve deixar de compreendê-la também como uma ação que
64
visava à desarticulação do MDB, a principal força política institucionalizada de oposição aos
militares. (DELGADO, 2006)
É sob esse contexto que as eleições brasileiras, para a Câmara Federal, Senado,
Governos Estaduais, Assembléias Estaduais, Prefeituras e Câmaras Municipais, são
transferidas de 1980 para 1982.
A partir da sanção da Lei 6767/79 surgirá um novo quadro partidário no país,
rompendo o antagonismo ARENA X MDB, que daria lugar a seus herdeiros diretos, o Partido
Democrático Social (PDS) e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), além
de novas legendas, como o Partido Trabalhista Brasileiro (sob a liderança de Ivete Vargas,
sobrinha-neta de Getúlio Vargas, que havia ganhado de Leonel Brizola o direito à legenda, na
justiça); o Partido Democrático Trabalhista (fundado por Brizola, após a derrota judicial); o
Partido dos Trabalhadores (liderado pelo líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva); e o Partido
Progressista, fundado pelo mineiro Tancredo Neves. (DELGADO, 2006)
Essas mudanças no quadro partidário também refletirão em Montes Claros. As
principais lideranças da antiga ARENA migrarão em quase a sua totalidade para o novo PDS.
Já no antigo MDB ocorreram mudanças mais expressivas. Além de Tadeu, as principais
lideranças do partido naquele momento eram os deputados Genival Tourinho e Pedro Narciso.
Com a mudança na legislação, Tourinho filia-se ao PDT de Leonel Brizola, e Narciso
acompanha Tancredo Neves no seu Partido Progressista. Além de Narciso, o PP filia outra
liderança importante do município, o ex-prefeito e então deputado federal Moacir Lopes,
oriundo das hostes arenistas. (OLIVEIRA, 2000)
Com essas mudanças Tadeu Leite se consolida como a principal figura do novo
PMDB na cidade.
É nesse novo cenário que ele, juntamente com esse grupo citado, inicia uma nova
estratégia, cujo diferencial é um discurso mais agressivo contra o poder executivo municipal.
Essa nova tática de Tadeu Leite pode ser observada já nas primeiras reuniões da
Câmara na década de 1980, como se pode constatar na ata da reunião ordinária do legislativo
de 05 de fevereiro de 1980, quando ele afirmava que “os bairros Vila Guilhermina, Santa
Rita, Ipiranga, Renascença e Vera Cruz estão em estado caótico”33. Da mesma forma ocorreu
33 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara municipal, 05/02/1980
65
em 1981, quando na reunião da Câmara de 05 de março, ele afirmava que “a prefeitura nada
tem feito para os bairros da cidade”34.
Este novo tom irá marcar os próximos anos do mandato legislativo de Tadeu Leite,
bem como será utilizado pelos instrumentos midiáticos que estão a seu serviço, notadamente o
programa de rádio “Boca no Trombone” e o Jornal do Norte, impresso utilizado para
amplificar as denúncias e críticas do vereador.
O Jornal do Norte será uma espécie de porta-voz do grupo oposicionista, suas matérias
e editoriais serão absolutamente críticos ao prefeito e a seu grupo político. O editorial deste
jornal do dia 08 de agosto de 1982, portanto já no calor do processo eleitoral, é um bom
exemplo da postura deste impresso. Nesse editorial, o jornal afirmava que “A grande maioria
dos habitantes de Montes Claros tributa ao prefeito a péssima administração essencialmente
voltada para obras elitistas, megalomaníacas, faraônicas”35.
É nesse contexto que PMDB chega às eleições de 1982, em Montes Claros, que
elegeriam todos os novos representantes do povo, desde o vereador e o prefeito, até os
senadores e governadores estaduais.
Luiz Tadeu Leite, que ainda não tinha 30 anos, candidata-se a chefe do executivo
municipal, tendo como seu vice o médico Mário Ribeiro, e o PMDB apresenta uma lista de
candidatos a vereadores basicamente composta de lideranças oriundas daqueles segmentos já
citados, que aderem, desde o final da década de 1970, à sigla oposicionista.
A candidatura de Luiz Tadeu Leite para prefeito, em uma disputa com sete
candidaturas, ocorria sob a vigência do mecanismo da sublegenda, que possibilitava a um
partido lançar mais de um candidato aos cargos executivos, o que era outro casuísmo que
visava enfraquecer o PMDB, pois se acreditava que essa medida iria expor os antagonismos
ideológicos presentes na legenda. Sob a égide dessa regra, não utilizada em Montes Claros
pelo PT e PDT, que apresentaram apenas uma candidatura (Ruy Muniz e José Wilson), PDS e
PMDB (herdeiros diretos do bipartidarismo anterior) lançam três (Crisantino Borém,
Hamilton Lopes e Pedro Santos) e duas candidaturas (Tadeu Leite e Moacir Lopes),
respectivamente.(OLIVEIRA, 2000)
34 Arquivo da Câmara Municipal de Montes Claros - Ata da Reunião da Câmara municipal, 05/03/1981
35 Montes Claros, Jornal do Norte, 08/08/1982, pg.2
66
Todos os candidatos do PDS eram lideranças tradicionais da cidade, vinculadas aos
grupos políticos que se revezavam no comando do município exercendo a hegemonia, que é
entendida no sentido de que possuíam a capacidade de subordinar intelectualmente o restante
da sociedade, pois se apresentavam como o segmento que representava e atendia ao interesse
coletivo obtendo, portanto, o consentimento e a adesão espontânea. (GRAMSCI, 1978).
Eram eles: Pedro Santos, ex-prefeito por dois mandatos, e ex-vereador também por
dois mandatos; Domingos Hamilton Lopes, ex-presidente da Câmara Municipal, então
vereador no exercício do terceiro mandato e genro do ex-prefeito Alpheu de Quadros; e
Crisantino Borém, então vice-prefeito, que contava com o apoio da administração municipal
chefiada por Antonio Lafetá Rebello, que exercia seu segundo mandato à frente da prefeitura.
(GUIMARÃES, 1997)
Já no PMDB havia, além de Tadeu Leite, como concorrente, o ex-prefeito e ex-
deputado Moacir Lopes, que havia conquistado todos os seus mandatos sob a legenda
ARENA, que dava sustentação ao regime civil-militar. (OLIVEIRA, 1994).
Lopes adere ao PMDB juntamente com Narciso, após a decisão de Tancredo Neves de
fundir o seu PP com este.
E, mesmo com diversas ações governamentais que visavam o enfraquecimento das
oposições (como a proibição de coligações, a vinculação do voto e a vigência da Lei Falcão,
que proibia o debate entre candidatos na televisão), nada impediu importantes vitórias dos
adversários do regime, que se sagraram vencedores em 10 estados, com a eleição de nove
governadores do PMDB, e um do PDT. Dentre esses estados estavam dois maiores colégios
eleitorais do país: São Paulo, com Franco Montoro, e Minas Gerais, com Tancredo Neves.
(DELGADO, 2006)
A vitória de Tancredo Neves para governador de Minas é também um dos fatores que
influenciarão para a vitória do PMDB em Montes Claros, com a eleição de Luiz Tadeu Leite
para o cargo executivo, com mais votos do que todos os outros candidatos somados, e também
a eleição de 10 vereadores em uma Câmara composta então por 17 cadeiras. Além disso, cabe
lembrar ainda que todos os 10 vereadores eleitos eram ligados à sublegenda liderada por
Tadeu Leite. (OLIVEIRA, 2000)
67
Nesse contexto, cabe destacar que outra questão marcante deste pleito foi a renovação
de quase que a totalidade da Câmara de Vereadores (somente um vereador da legislatura
eleita em 1976 foi reeleito no pleito de 1982).36 (GUIMARÃES,1997).
TABELA 1 – Vereadores Eleitos em 1982
Vereador Partido Votação Profissão
José Nardel PMDB 2559 votos Radialista
Milton Cruz PMDB 2553 votos Funcionário Publico
Geraldo Honorato PMDB 2205 votos Professor
José Paulo Gomes PMDB 1660 votos Mecânico
Conrado Pereira PMDB 1432 votos Comerciante
Maria Aparecida Bispo PMDB 1419 votos Professora
Osmar Pereira PMDB 1354 votos Sapateiro
José Maria Oliveira PMDB 914 votos Comerciante
Marco Antônio Pimentel PMDB 894 votos Comerciante
Sérgio Rocha. PMDB 875 votos Médico
Claudio Pereira PDS 1467 votos Médico/Fazendeiro
Carlos Pimenta PDS 1373 votos Médico
Manoel Soares PDS 1155 votos Cartorário
Joel Guimarães PDS 974 votos Contabilista
Alvimar Guimarães PDS 939 votos Médico/Fazendeiro
Afonso Brandão PDS 799 votos Advogado/Fazendeiro
Fabricio Juliano PDS 778 votos Dentista Prático
FONTES: TRE-MG, seção de estatística in: Oliveira 2000, p. 174
Essa vitória do PMDB em Montes Claros é explicada, segundo Oliveira (2000), por
três fatores: a campanha estadual do candidato a governador Tancredo Neves, a desarticulação
36 O único vereador reeleito foi Carlos Pimenta (PDS).
68
local do PDS (partido oficial do regime, que substituiu a ARENA) e a ascensão do
movimento popular. Esse último fator é de fundamental importância, principalmente quando
se analisa a composição do conjunto de vereadores eleitos, pois diversos deles são oriundos
do que Oliveira (1994, p.171) classifica enquanto “extração mais popular”.
Quando se analisa o perfil dos vereadores eleitos, tendo como base a sua ocupação
pretérita, se observa mais claramente essa representação “mais popular”, pois se encontravam
entre os parlamentares, por exemplo, um metalúrgico (José Paulo Ferreira Gomes), um
sapateiro líder comunitário (Osmar Pereira da Silva), um pequeno comerciante líder
comunitário (Conrado Pereira dos Santos) e pela primeira vez uma legislatura contará com a
presença feminina, através de uma professora negra (Maria Aparecida Bispo). (OLIVEIRA,
1994, p.174)
Apesar de já termos ressaltado, conforme atesta Ferreira (2002), a efetiva participação
de alguns setores da elite municipal na eleição de Tadeu Leite, que não eram devidamente
articulados com as tradicionais lideranças agrárias, devemos destacar, de modo especial, a
importância do seu vice-prefeito, o médico Mário Ribeiro da Silveira, irmão de Darcy
Ribeiro, o qual retornava à vida pública e se elegia como vice-governador do Rio de Janeiro,
em 1982, na chapa de Leonel Brizola.
Retornando novamente a análise sobre a eleição de Montes Claros, não podemos
deixar de mencionar, aqui, que o principal amparo do PMDB, conforme aponta Oliveira, foi o
“movimento popular local”, isto é, “as associações de bairros, alguns setores da igreja,
sindicatos de profissionais liberais e de funcionários públicos”. São esses segmentos,
principalmente, que garantem a maior derrota das elites tradicionais na disputa pela
Prefeitura, em toda a história do município. Esse apoio conjunto fez com que a candidatura
vitoriosa de Leite obtivesse 30.325 dos votos em um pleito cujo comparecimento às urnas fora
de 66.071 eleitores e contou com sete candidaturas, sendo cinco delas ligadas às elites
tradicionais. (OLIVEIRA, 2000)
Entretanto, é imperativo que se faça outra discussão, que diz respeito a que grupo de
fato participou da gestão da municipalidade na legislatura iniciada em 1983. Até que ponto
essas lideranças populares, e principalmente seus respectivos movimentos, tiveram efetiva
participação na definição dos rumos da cidade, e de que forma puderam garantir que os
recursos do município fossem utilizados prioritariamente para a solução dos problemas que
69
afligiam os setores marginalizados da sociedade montesclarense, que construíram essa vitória
eleitoral. O segundo capítulo deste trabalho buscará essas respostas.
70
CAPÍTULO II
O INÍCIO DO MANDATO – A DISPUTA DA HEGEMONIA, AS NOVAS
PRIORIDADES E O PROGRAMA CIDADES DE PORTE MÉDIO
As eleições gerais brasileiras de 1982 apresentaram uma mudança política em
diversos estados com a vitória vigorosa da oposição ao regime militar, com o êxito do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) em nove unidades da federação, incluindo os
dois maiores colégios eleitorais do país – São Paulo, com Franco Montoro, e Minas Gerais,
com Tancredo Neves – além da eleição de Leonel Brizola, tendo como vice o montesclarense
Darcy Ribeiro, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Rio de Janeiro. (DELGADO,
2006).
Essas eleições amplificaram institucionalmente as atuações antirregime militar, que já
vinham crescendo em todo o país, desde as eleições legislativas de 1974, e seriam
fundamentais no processo de transição, com a eleição indireta no Colégio Eleitoral, em 1985,
do primeiro presidente civil desde 1964. Foram, em grande parte, os representantes eleitos em
1982 que votaram no Colégio Eleitoral, quase três anos depois, e alçaram Tancredo Neves ao
cargo (que ele não exerceria) de Presidente da República. (DELGADO, 2006)
Essas vitórias oposicionistas se replicaram em várias das principais cidades desses
estados, devido à vigência do elemento casuístico do voto vinculado, que obrigava o eleitor a
votar em candidatos do mesmo partido, desde o governador estadual ao senador da República,
até o vereador municipal. (DELGADO, 2006)
Em Minas Gerais, especificamente, o PMDB se torna a principal força política com a
eleição de Tancredo para governador, e de Itamar Franco para o Senado, além de se sagrar
vitorioso nas principais cidades mineiras, pois, além da já citada vitória em Montes Claros, o
partido elege os prefeito de cidades como Uberlândia (Zaire Resende), Juiz de Fora (Tarciso
Delgado) e Governador Valadares (Ronaldo Perim). (DELGADO, 2006)
Apesar de a ARENA ter vencido na maioria dos estados, as vitórias pemedebistas
ocorrem em centros de grande repercussão nacional, e representaram mais um importante
71
passo no desenvolvimento da sigla oposicionista, assim como ocorrera em 1974 e 1978, nas
eleições legislativas. (DELGADO, 2006) Porém, se em 1974 e 1978, os resultados eleitorais
do PMDB lhe permitiam intensificar e aumentar o tom oposicionista pelo incremento de sua
bancada nas esferas legislativas, que de um modo geral permanecia minoritária, a grande
novidade, desse momento, é que a partir de 1983, o PMDB seria o partido do poder em todos
esses municípios, e principalmente nos estados em que ele foi bem sucedido, o que implicaria
uma nova relação com as forças governistas. (DELGADO, 2006)
É nesse cenário, inclusive, que o perfil moderado e conciliador de Tancredo Neves iria
se sobrepor ao do firme e incisivo Ulisses Guimarães, dando um novo realce à atuação do
partido, o que possibilitará alianças incomuns até então, no pleito presidencial indireto de
1985. (DELGADO, 2006) A tônica impressa também iria se refletir nas práticas e ações do
Diretório Municipal do PMDB em Montes Claros, bem como nas ações de seus
representantes nos poderes executivo e legislativo locais.
As relações entre os representantes do PMDB local e os representantes do governo
federal pedessista seriam afetadas sobremaneira e iriam atuar de modo decisivo nas práticas
levadas a cabo pelos peemedebistas. Um bom exemplo disso foi a implantação do Programa
Cidades de Porte Médio, em Montes Claros, pela prefeitura municipal, financiado
principalmente com recursos federais.
Pelo exposto, o presente capítulo demonstrará como atuaram os elementos locais que
disputavam a hegemonia e ainda como estabeleceram as novas prioridades, e analisará, ainda,
o comportamento e as ações do prefeito e dos vereadores oriundos dos movimentos populares,
a fim de buscar entender como estes se posicionaram diante dessa disputa e as quais interesses
serviram.
2.1 O início da legislatura 1983/1988 – o executivo, o legislativo e a hegemonia (ainda)
em disputa
72
Ninguém pode contra o povo organizado. (Mário Ribeiro, médico, vice-
prefeito eleito em 1982, em declaração ao Jornal do Norte de 19 de
novembro de 1982)37
Com a manchete “Tadeu Leite, uma vitória esmagadora”, o Jornal do Norte abria sua
edição de 20 e 21 de novembro de 1982. E basta apenas continuar folheando essa edição do
periódico, para compreender a movimentação dos setores ligados às elites, nessa nova
configuração que se apresentou após o pleito.38 Na matéria intitulada “ACI acredita no
prefeito”, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, entidade de
classe ligada aos interesses patronais locais, Valdir Veloso Figueiredo afirmava que Tadeu
“será um bom administrador, pois já mostrou capacidade para isto”. E até o colunista social
Theodomiro Paulino, tradicional voz das elites locais, estampava a manchete: “Tadeu, vitória
da vontade popular”.39
A primeira matéria, referente à atuação da ACI, contrasta sobremaneira com outra,
acerca do ex-prefeito Antônio Lafetá Rebello, datada de agosto de 1978, que afirmava:
... Houve um trabalho muito grande no sentido de reviver o mito, já que uma
parcela considerável dos eleitores jovens era ainda criança quando da
primeira administração Toninho e não tinha conhecimento do que ele era
capaz. Outra grande parcela do eleitorado era constituída de gente de fora,
que havia migrado para Montes Claros há pouco tempo, e que não tinha tido
oportunidade de conhecer a administração que havia colocado o município
como o maior pólo de desenvolvimento do Norte de Minas. Para reviver o
mito, foi preciso um esforço considerável de conscientização de massa,
comandado pela Associação Comercial e Industrial com o apoio
indispensável da Imprensa. (grifo nosso)40
Tais manchetes, além de demonstrarem uma deferência habitual, apresentam também
as estratégias dos setores organizados, na busca por se aglutinarem de modo a interferir no
37 Montes Claros, Jornal do Norte, 19/11/1982
38 Montes Claros, Jornal do Norte, 20 e 21/11/1982, p.01
39 Montes Claros, Jornal do Norte, 20 e 21/11/ 1982 p.01
40 Montes Claros, Diário do Norte, 20/08/1978, p.05
73
processo decisório. Não é por acaso que a mesma ACI, que anos antes havia “comandado” um
esforço de “conscientização” das massas em torno do “mito” Antônio Rebello, já antes
mesmo do novo prefeito (que fora eleito com uma plataforma oposicionista a Toninho) tomar
posse, afirmava acreditar nele e em sua já demonstrada “capacidade”.
Nesse sentido Ferreira (2002) demonstra que a Associação Comercial e Industrial fora,
desde a campanha de 1976, uma das principais base de sustentação do então líder arenista, ao
afirmar que “capitaneada pela Associação Comercial e Industrial de Montes Claros e pela
imprensa local, sua candidatura (Rebello) é apresentada como uma promessa de dias
melhores”.
Na acepção gramsciana estas ações fazem parte da organização de segmentos da
sociedade civil na disputa pela hegemonia, entendida anteriormente como a dominação
consentida do conjunto da sociedade. (GRAMSCI, 1976) Na leitura desse autor, as análises
das relações sociais são levadas a uma nova perspectiva que foge de uma avaliação rasa do
materialismo, vigente especialmente em sua época dominada pelo stalinismo, que meramente
estabelecia que a infraestrutura determinava a superestrutura. Gramsci eleva o papel da
superestrutura e dá uma nova centralidade ao conceito de sociedade civil, bem como à
ideologia como norteadora desta. (GRAMSCI, 1976)
Na visão anterior, a questão da hegemonia e da dominação era observada apenas pela
ótica da coerção, isto é, o dominador se impõe exclusivamente pelo uso da força sobre os
dominados. Tal visão é oriunda especialmente da leitura feita por Lenin acerca do tema, e
aborda a luta da classe operária pela hegemonia, como a luta pela tomada de assalto do poder
e a instalação da chamada ditadura do proletariado. O Estado burguês seria, portanto,
coercitivo em relação aos trabalhadores, da mesma forma que o do proletariado também o
seria, em relação aos burgueses. (GRUPPI, 1978)
A leitura gramsciana avança e, sem contrariar explicitamente Lenin, busca determinar
que existem sociedades em que de fato o poder é exercido de forma exclusivamente
coercitiva. A estas, ele chamava de cidades orientais. Esse seria o caso da Rússia pré-
revolucionária, onde Lenin atuou e sobre a qual orientou seus maiores esforços, como teórico
marxista. (GRUPPI, 1978) Porém, existem também sociedades onde o exercício do poder e
da liderança é consentido e exercido por uma classe dirigente, que impõe os seus padrões
morais, intelectuais e filosóficos ao restante da coletividade. Tal exercício do poder e de
74
liderança é denominado como política, e tais padrões morais e filosóficos nada mais são do
que a ideologia. (GRUPPI, 1978)
Dessa forma, fica clara a diferença entre Gramsci e Lenin, conforme demonstra
Porteli:
o problema essencial para ele [Lênin] é a derrubada, pela violência, do
aparelho de Estado: a sociedade política é o objetivo e, para atingi-lo, uma
prévia hegemonia política é necessária: hegemonia política porque a
sociedade política é mais importante, em suas preocupações estratégicas, do
que a civil [...] Gramsci, ao contrário, situa o terreno essencial da luta contra
a classe dirigente na sociedade civil: o grupo que a controla é hegemônico e
a conquista da sociedade política coroa essa hegemonia, estendendo-a ao
conjunto do Estado (sociedade civil mais sociedade política). A hegemonia
gramscista é a primazia da sociedade civil sobre a sociedade política.
(PORTELLI, 1977, p.65)
E essa política, portanto, não é exercida apenas por representantes eleitos que ocupam
cargos públicos. Pelo contrário, ela é exercida essencialmente por intelectuais em
organizações da sociedade civil, que atuam na disputa cotidiana pela hegemonização de sua
ideologia, o que consequentemente submete o restante da sociedade aos seus preceitos e
interesses. (GRUPPI, 1978) Dessa forma, o conceito de Hegemonia se torna fundamental na
leitura gramsciana e amplia as possibilidades dessa categoria analítica, bem como a do
marxismo como corrente de pensamento. Luciano Gruppi, intelectual italiano marxista, em
sua leitura de Gramsci afirma que,
O conceito de hegemonia apresentado por Gramsci em toda sua amplitude,
isto é, como algo que opera não apenas sobre a estrutura econômica e sobre a
organização política da sociedade, mas também sobre o modo de pensar,
sobre as orientações ideológicas e inclusive sobre o modo de conhecer.
(GRUPPI, 1978, p.3)
Entretanto, devemos destacar que sendo a hegemonia a capacidade de se constituir
alianças entre classes ou frações desta, que são as organizações da sociedade civil, de modo a
guiar consentidamente o restante da sociedade, ela se torna suscetível a variações e a
alterações em sua correlação de forças. Isto posto, identifica-se que hegemonia é algo instável
75
e que os grupos que a exercem podem ser substituídos, de acordo com a dinâmica da política.
(GRUPPI, 1978) O próprio Gramsci aborda diretamente a questão da
crise de hegemonia da classe dirigente, que ocorre ou porque a classe
dirigente faliu em determinado grande empreendimento político pelo qual
pediu ou impôs pela força o consentimento das grandes massas (...) ou
porque amplas massas (...) passaram de repente da passividade a certa
atividade e apresentaram reivindicações. (GRAMSCI, 1976, p.55)
Assim sendo, Gramsci atualiza a teoria marxista e amplia sua aplicação prática, indo
para além de uma visão que hipertrofia o econômico, em detrimento dos demais aspectos da
sociedade. Esse conceito alargado deste autor italiano auxilia inclusive, sobremodo, nas
análises que se seguirão, pois em uma perspectiva marxista vulgar, que discuta as relações de
classe apenas no antagonismo proletariado x burguesia, e a disputa intrínseca entre esses, não
haveria categorias suficientes para dar conta da realidade montesclarense da década de 1980.
Isto porque é possível constatar, a partir do que já foi exposto, que as elites rurais de
Montes Claros possuíram o controle dominante e hegemônico da municipalidade (tanto no
poder executivo quanto no legislativo) ininterruptamente, por aproximadamente 150 anos,
desde a elevação do Arraial das Formigas à condição de vila, com a formação da primeira
Câmara Municipal, entretanto elas foram alijadas do poder em 1982 com a eleição de figuras
estranhas aos arranjos tradicionais, quando ocorre a tal “crise de hegemonia da classe
dirigente”. (GRAMSCI, 1976, p.55)
Apesar disso, mesmo reconhecendo a imensa vitória do grupo pemedebista em 1982,
que era liderado por um jovem, oriundo das camadas populares e que participava de
movimentos estudantis e de comunidades de base da Igreja Católica, além, é claro, da
participação de líderes classistas, como o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, na chapa
de vereadores, não se pode, de modo algum, caracterizar essa agremiação como proletária,
revolucionária ou qualquer coisa do gênero, até porque o próprio candidato a vice-prefeito era
ligado às classes proprietárias. (GUIMARAES, 1997)
A esse respeito, vejamos como José Paulo Gomes, mencionado neste texto, e na
ocasião presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, tendo sido um dos vereadores eleitos nessa
chapa, refere-se a essa questão:
76
As eleições municipais de 1982, em Montes Claros, diante da posição
reacionária das elites locais, longe de ser uma revolução política, cultural e
social, foi um rearranjo político-institucional, reflexo da superposição de
relações sociais conflituosas, numa sociedade que se caracteriza desde a sua
formação pela acumulação de riquezas por uma elite que se deleita as custas
da exploração impiedosa de uma classe extremamente pobre.
Não foi uma luta de classes e nem uma luta contra o estado ou contra as
instituições, mas a tentativa dos novos atores de ocupação e ampliação de
espaços nas arenas públicas, e para isso era preciso descartar os antigos
mandatários. (GOMES, 2003, p. 49)
Este grupo político apresentava, portanto, uma heterogeneidade, conforme expusemos
no capítulo anterior, que certamente influenciava efetivamente na dinâmica interna, desde
antes da eleição, e que se intensificaria após a vitória eleitoral. Todavia, de acordo com
citação acima, do trabalho do então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, pode se aferir
que o projeto político do PMDB, naquele momento, era algo difuso, e representava
principalmente “a tentativa dos novos atores de ocupação e ampliação de espaços”. (GOMES,
2003, p. 49)
Logo, essa afirmativa vinda da liderança que atuava no segmento que estaria mais à
esquerda no espectro político, isto é, de um movimento tipicamente classista, que é o sindical,
no momento em que se deu, ainda sob a vigência do regime militar, que atuava no sentido de
coercitivamente impedir a organização de trabalhadores, dá mais uma sinalização que os
vitoriosos de 1982 ascenderam ao poder local com uma crítica muito maior à facção de classe
que ocupava a chefia da municipalidade anterior, do que ao projeto por ela capitaneado.
Havia, pois, uma ansiedade, por parte desses novos atores que compunham o grupo
político, que ascendeu ao poder nas eleições de 1982, em participar efetivamente do processo
decisório. Estudantes, sindicalistas, lideranças comunitárias, profissionais da saúde, além de
todo um contingente de migrantes que se mudaram pra Montes Claros, devido às políticas da
Sudene, almejavam participar do processo decisório. A análise de Ferreira (2002) reporta-se a
mesma questão, ao visualizar a vitória do PMDB em 1982 como uma reposta à falta de
atenção que o poder público dava a vastos setores populares: “ele (Tadeu) é, antes de tudo,
uma resposta dos setores sociais ao descaso dos poderes públicos”. (p. 15)
Novamente, as categorias desenvolvidas por Gramsci, já expostas acima, nos ajudam a
compreender de maneira mais clara esse momento. Retomando o conceito gramsciano de
77
“crise de hegemonia da classe dirigente”, é interessante observar como este autor nos
demonstra que ela advém da ocorrência de uma entre duas situações. Ele afirma que a crise de
hegemonia ocorre “ou porque a classe dirigente faliu em determinado grande empreendimento
político”, ou porque “amplas massas passaram de repente da passividade (...) e apresentaram
suas reivindicações”. (GRAMSCI, 1976, p.55)
Dessa forma, fica evidente que, no caso de Montes Claros em 1982, a segunda
hipótese é bem mais provável, fazendo com que o “grande empreendimento político” da
classe dirigente em crise passasse incólume naquele momento. É evidente que as massas
passivas exigem que suas reivindicações sejam priorizadas, mas isso não impede a
rearticulação dos setores derrotados, não mais nos representantes da facção por ora deposta,
mas em torno do projeto político, isto é, a retomada da liderança moral e intelectual da
sociedade, pois as bases ideológicas do projeto anterior não foram devidamente derrubadas
pelos novos atores.
Novamente, podemos buscar indícios dessa questão nos noticiários da época, que
demonstravam o tom conciliatório do novo com o antigo governante, bem como a constatação
pelo novo alcaide de que a derrota do anterior fora por não dialogar com o “Zé Povão”.41 Tal
afirmativa foi feita pelo próprio Tadeu Leite, em seu discurso, na solenidade de transmissão
do cargo, quando recebia de Antônio Rebello a chefia do município. Na sua fala, nessa
ocasião, o novo executivo não questiona a capacidade administrativa ou o projeto
implementado pelo seu antecessor. Pelo contrário, ele afirma que “reconhecia em Rebello um
homem e um administrador que raramente Montes Claros irá ter”, e a crítica que fez a
Rebello, foi que a de havia cometido uma “falha, ao não levar, ao povo dos bairros, os seus
projetos embaixo dos braços, para mostrar o que realmente estava sendo feito na cidade”.42
(grifo nosso)
Quando o novo prefeito afirma que o erro de seu antecessor foi o de não mostrar ao
“povo dos bairros” o que “realmente estava sendo feito na cidade”, fica evidente que os
questionamentos do líder empossado possuíam um viés mais acentuado no método do que no
mérito, o que consolida a ideia que o “grande empreendimento político” da classe dirigente
41 Montes Claros, Jornal do Norte, 02/02/1983, p.03
42 Montes Claros, Jornal do Norte, 02/02/1983, p.03
78
em crise, ainda não havia falido, pois não tinha sido o foco da oposição, que naquele
momento assumia o poder.
Outro aspecto que demonstra a ausência de uma proposta plenamente antagônica é a
predisposição do novo prefeito à conciliação com o antigo. Nesse mesmo evento, o prefeito
empossado afirmava que
Confirmo perante a todos os presentes que realmente eu com meus 29 anos
de idade, dos quais me orgulho bastante, vou necessitar do auxílio e dos
ensinamentos do professor em prefeitura municipal – Antônio Lafetá
Rebello. Não será uma nem duas vezes se necessário for, telefonarei para o
senhor prefeito Toninho ou mesmo pedirei a sua vinda aqui na prefeitura
para me dar umas aulinhas. Falo isto de coração, sério, pois o momento é
realmente de seriedade. E com meus 29 anos, repito, em muitos momentos
vou me sentir inexperiente e necessitado e não me envergonho disso, da
experiência administrativa do senhor. (grifo nosso)43
A essência do discurso do prefeito também é reproduzida por seus auxiliares diretos,
demonstrando uma coerência entre demais representantes do poder executivo. Os recém-
empossados secretários de serviços urbanos, Jorge Tadeu Guimarães, e de educação,
Hamilton Trindade, também vieram a público para, em seus primeiros pronunciamentos,
elogiar os seus antecessores e declarar que “eles contribuíram muito com a comunidade
montesclarense”.44
A tônica conciliatória que se observa na fala do novo chefe do executivo e de seus
assessores é também exposta na nova composição da Câmara Municipal, que seria, nesse
momento, o espaço mais propício para a difusão de um discurso mais voltado àquelas
camadas populares que atuaram no sentido da vitória do PMDB e, consequentemente, na
crítica à gestão anterior (e às gestões anteriores), que havia sido derrotada sob o argumento de
não atender os interesses desses atores.
Confirmando essa intenção, o noticiário da época destaca que na primeira reunião da
Câmara a “tônica principal foi a de trabalhar sem radicalismos, esquecendo as divergências
43 Montes Claros, Jornal do Norte, 02/02/1983, p.3
44 Montes Claros, Jornal do Norte, 06/02/1983, p.03
79
ocorridas”.45 Além disso, é interessante observar que os assuntos que estiveram em pauta
também não priorizavam nenhuma demanda de setores populares. Essa reunião, além de
concluir um rito obrigatório que era a eleição das comissões internas setoriais, aprovou apenas
requerimentos congratulatórios aos representantes eleitos a outras esferas de poder (prefeito e
deputados estaduais e federais), e houve, ainda, a solicitação ao executivo de realização de um
“estudo de viabilidade” para a transferência da sede do poder legislativo para a “antiga
rodoviária”.46
Este fato é sintomático do que viria a partir de então, pois se verifica a ascensão das
novas lideranças com o perfil socioeconômico bem diferente daqueles que se encontravam
nas legislaturas anteriores. A partir desse momento, os líderes comunitários Osmar Pereira e
Conrado Pereira, o sindicalista José Paulo Gomes e a professora Maria Aparecida Bispo,
dentre outros, deixaram de ser elementos da luta reivindicatória popular, para se tornarem
representantes do poder público, agentes políticos no usufruto de mandato eletivo, conferido
por segmentos da população que desejavam que eles atuassem em defesa de seus interesses,
que, na maioria das vezes, eram antagônicos aos de outras camadas da população.
Para se entender a disputa pela hegemonia e a atuação dos principais atores, nesse
contexto, torna-se imperativa a análise acerca dos conceitos de representação e dominação,
para se aferir a relação entre os mandantes (eleitores) e os mandatários (eleitos), pois é a partir
daí que se poderá compreender melhor o desenvolvimento desses representantes “populares”.
Neste momento cabe, inclusive, um diálogo amplo entre matrizes teóricas diferentes,
já que a perspectiva do marxismo tradicional remete principalmente aos fundamentos
econômicos dessa relação e, como já se observou, Gramsci amplia essa visão e a analisa em
termos que vão além. Entretanto, a análise grasmisciana busca entender as questões macros
desse ponto, e não se atém a minúcias deste debate.
Outros autores de diferentes linhas das Ciências Sociais apresentam opiniões que em
muito podem enriquecer essa discussão, sem confrontar alguns conceitos de acordo com as
perspectivas aqui expostas.
45 Montes Claros, Jornal do Norte, 03/02/1983, p.03
46 Ata da reunião da Câmara Municipal de 02/02/1983
80
Um dos principais autores que realizam esse debate sobre a relação entre eleitores e
eleitos, num viés inclusive didático, é Pierre Bourdieu. O sociólogo francês utilizando-se em
boa medida da metodologia weberiana tipológica constrói uma forte e realista argumentação,
acerca da representação política. Esse autor parte do pressuposto da divisão da sociedade,
entre aqueles que são politicamente ativos e aqueles politicamente passivos, e acima deles
paira o que Bourdieu denomina “campo político”, que é o espaço de lutas, onde programas e
projetos, denominados por “produtos políticos”, são apresentados aos cidadãos comuns,
agentes passivos, “reduzidos à condição de consumidores” que devem fazer suas escolhas,
instaurando assim o estatuto da representação política. (BOURDIEU, 2010, p.164)
E essa representação seria, por sua vez, exercida por “profissionais” dotados de
“tempo livre” e “capital cultural”, que atuam em “organizações-permanentes” que se orientam
exclusivamente para a conquista da representação, entendida, nesse contexto, como “poder”.
(BOURDIEU, 2010, p.164-167) Em tal visão, o poder político é fruto de “atos subjetivos (...)
que só existem na representação e pela representação”. (BOURDIEU, 2010, p.188)
A partir da atuação dessa organização, a sociedade se divide em mandantes e
mandatários, isto é, entre aqueles que instituem a representação e aqueles que exercem a
representação, que se relaciona em uma dinâmica simbólica que muito se assemelha a um
teatro. Quando Bourdieu faz tal afirmativa, ele demonstra que, em sua perspectiva, a política,
como campo que institui a representação, não é de forma alguma um epifenômeno das
relações econômicas, mas constitui sim um campo autônomo da vida societária.
(BOURDIEU, 2010)
E é tal existência autônoma que permite que, nesse campo, os interesses que se
sobreponham seja os daqueles que exercem a representação, e não o contrário, rompendo com
determinadas visões que buscavam atribuir características de neutralidade ao Estado,
enquanto personificação da representação. (BOURDIEU, 2010). E Bourdieu vai além, ao
afirmar que os representantes “servem aos interesses de seus clientes na medida em que (e só
nessa medida) se servem ao servi-los”. (BOURDIEU, 2010, p.177)
Não obstante, essa relação deve ser bem medida, pois há regular renovação da
representação, em que os representados opinam sobre a eficácia da ação dos seus
representantes na defesa dos seus interesses. Há uma relação de credibilidade que não pode
ser quebrada, pois o representante, além de receber um poder político, recebe também um
81
poder que é simbólico. A representação, portanto, além de ser política, ela é também
simbólica, o que no caso do legislativo municipal de Montes Claros, na legislatura eleita, em
1982, fora bastante evidente, e também fora fundamental para o entendimento do resultado do
pleito de 1988. (BOURDIEU, 2010)
Nesse cenário, a atuação dos atores do executivo e, principalmente, do legislativo, fora
analisada também a partir desta ótica. A disputa pela hegemonia terá seu caráter concreto,
mas também seu caráter simbólico. Obviamente que sobre a atuação deles não se encontrará
estática ao longo do período de 1982 e 1986. Haverá momentos de conciliação com as facções
tradicionais, mas também ocorrerão enfrentamentos. A atuação destes atores fora em diversos
momentos contraditória e incoerente. Apesar do tom conciliatório, esses vereadores também
iniciaram seus mandatos com iniciativas voltadas aos seus representados.
O vereador José Paulo Gomes, que ainda exercia a presidência do Sindicato dos
Metalúrgicos, propõe, já no início da legislatura, a criação de uma “comissão especial para
atuar junto aos órgãos responsáveis pela colocação de mão de obra no Norte de Minas”. Tal
comissão tinha a finalidade de pressionar as autoridades estaduais e federais a rever as
políticas da Sudene. O edil afirmou que tais empresas ficavam na cidade apenas durante o
período em que tinham os incentivos, e depois poderiam livremente ir embora, o que gerava o
crescimento do desemprego.47
Além disso, José Paulo retoma ações em defesa dos antigos trabalhadores da fábrica
de confecções TOK, que já havia sido uma bandeira levantada pelo mandato do então
vereador Luiz Tadeu Leite.48
Já a vereadora Maria Aparecida Bispo, que também era professora, gera uma crise
com o seu próprio partido, devido a sua discordância em relação à indicação da direção de
uma escola pública. Nessa crise, a acompanham os também vereadores pemedebistas José
Maria de Oliveira e Milton Cruz. A argumentação desta era que a comunidade escolar não
aceitava a diretora indicada que seria uma “desequilibrada” segundo a parlamentar.49
47 Montes Claros, Jornal do Norte, 24/02/1983, p 3
48 Montes Claros, Jornal do Norte, 10/08/1983, p.01
49 Montes Claros, Jornal do Norte, 10/08/1983, p.01
82
Também o poder executivo alterna entre a conciliação e o enfrentamento com os seus
antecessores e aliados. Apesar das trocas de gentilezas iniciais, o chefe do executivo
municipal também demonstra ações que visavam descontruir o tal “mito Toninho”, que havia
sido criado desde a década anterior. Ao instituir uma “comissão especial” incumbida de
produzir um relatório, que antes mesmo de ficar pronto já era denominado pelo prefeito de
“bomba”, pois visava, a priori, demonstrar as “aberrações” recebidas da gestão anterior. Tal
relatório, alardeava o prefeito à imprensa, apresentaria denúncias, como contratações
irregulares, e aumento desproporcional dos funcionários públicos antes da transição, dentre
outras. O noticiário da época afirmava que
o principal objetivo do relatório bomba, segundo assessores (...) é o de
exatamente desfazer a imagem de que o prefeito atual tenha recebido a
municipalidade em condições consideradas excepcionais. 50
Apesar do alarde feito, o referido relatório, se produzido, não foi divulgado pela
imprensa, nem foi objeto de avaliação da Câmara Municipal. Mesmo assim, cumpriu
principalmente o efeito de ajudar a desconstruir a facção política que estava na direção da
municipalidade, especialmente em relação a seus principais atributos simbólicos,
demonstrando que a condução consentida da sociedade montesclarense ainda estava em
disputa.
2.2 - As relações com o governo federal, o Programa Cidade de Porte Médio e as novas
prioridades
Conforme já destacado anteriormente, a vitória da oposição nas eleições municipais de
Montes Claros, em 1982, aconteceu amparada em uma proposta difusa de atendimento às
demandas das camadas periféricas e, embora os vitoriosos estivessem, naquela ocasião,
50 Montes Claros, Jornal do Norte, 24/02/1983, p.3
83
organizados em diversas entidades da sociedade civil, não possuíam um programa claro e
articulado de como resolver tais problemas, bem como não visavam romper com as estruturas
coronelistas e autoritárias que se encontravam vigentes, tanto no âmbito municipal quanto
federal. Prova disso, era o discurso, ora combativo ora conciliador, com as lideranças e
associações tradicionais que evidenciava a falta de maior substância em relação ao projeto
peemedebista montesclarense.
Se na esfera estadual e nacional o PMDB se consolidava como a principal oposição
(especialmente no novo cenário pluripartidário) ao governo federal, chefiado por
representantes das Forças Armadas, em aliança com a elite civil e empresarial, norteando-se
por um discurso crítico, em maior ou menor medida, em Montes Claros, a gestão municipal
possuía estreitos laços com Brasília, e inclusive seria de lá que prioritariamente viriam os
recursos que possibilitariam criar bases concretas e atender as necessidades de redistribuição
dos recursos públicos. Vale destacar que a liderança maior do PMDB mineiro, o então
governador Tancredo Neves, representava uma voz moderada, em contraposição à
contundente oposição peemedebista, no Congresso Nacional, liderada por Ulisses Guimarães.
(DELGADO, 2006)
Tal situação do PMDB mineiro possibilitou que lideranças locais, como o prefeito
Luiz Tadeu Leite, empregassem um diálogo mais ameno com o governo federal. O teor
desses diálogos pode ser observado desde os primeiros momentos da sua gestão municipal na
cidade.
Em junho de 1983, o noticiário local aponta que “Tadeu destaca os méritos de
Andreazza”51, o que significou algo sintomático para se compreender a relação entre o
executivo municipal e o federal, especialmente, tendo em vista que o ministro do Interior,
Mario Andreazza, era uma das mais eminentes de todas as lideranças dos sucessivos governos
militares, tendo sido auxiliar do presidente da República, desde o golpe de 1964, quando,
primeiramente, fora chefe de gabinete do presidente Costa e Silva, e depois ministro dos
Transportes, cargo que ocupou também no governo do presidente Médici. Andreazza,
inclusive, esteve presente também na reunião do Conselho de Segurança Nacional que
aprovou a instituição do Ato Institucional de nº 5, em 1968, o qual intensificou a repressão,
durante o regime militar. (DELGADO, 2006)
51 Montes Claros, Jornal do Norte, 29/05/1983, p. 01
84
Andreazza também disputou a convenção nacional do PDS, buscando se lançar como
candidato a presidente da República nas eleições presidenciais indiretas de 1985, contando até
mesmo com o apoio explícito do então presidente da República, general João Batista
Figueiredo, porém, foi derrotado pelo deputado paulista Paulo Maluf, por 493 a 350 votos.
(DELGADO, 2006)
Retornando ao ano de 1983, o prestígio de Andreazza era a razão de tamanha
deferência mas, certamente, não era despropositada, pois se encontrava vinculada ao ministro
a principal fonte de recursos que o prefeito de Montes Claros disporia para executar seus
objetivos que era o atendimento às demandas dos bairros da cidade, dentro das ações do
Programa Cidades de Porte Médio (PCPM). (FERREIRA, 2002) De acordo com Ferreira
(2002), o Programa Cidades de Porte Médio foi estabelecido “através de um contrato entre o
governo federal e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento”, e estava
vinculado ao Ministério do Interior, que possuía um “Programa de Apoio às cidades de porte
médio”, vinculado à sua Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano. (FERREIRA, 2002, p.
138)
O principal objetivo do Programa Cidades de Porte Médio era o apoio às cidades
selecionadas, de modo a garantir o seu fortalecimento “através da maior dotação de
investimentos”, a fim de “possibilitar a coordenação das diversas ações setoriais que nelas se
realizariam”. (FERREIRA, 2002, p. 139) As ações setoriais, desse programa, atuariam
basicamente em três vertentes: 1ª) Geração de emprego e renda; 2ª) Infraestrutura urbana e
comunitária; 3ª) Administração municipal. (FERREIRA, 2002)
Dessa forma, o Programa Cidades de Porte Médio se estabelecia como o maior aporte
de recursos da história do município, e tinha o ousado objetivo de criar uma “nova ordenação
urbana”, com a “modernização administrativa da prefeitura” e a “intervenção através de
políticas públicas geradoras de emprego e renda para as classes populares”. (FERREIRA,
2002, p. 143) Para cumprir esse propósito, o programa foi criado pela administração central
do país, a partir de sua concepção sociológica que acreditava que a “urbanização do país se
deu de forma concentrada, aliada a uma industrialização ineficiente quanto à oferta de
empregos”. (OLIVEIRA, 2000, p.110)
Conforme Rochefort (1998), a lógica nacional implantada pelo governo federal para o
desenvolvimento das cidades de médio porte era
85
(...) desenvolver, prioritariamente, algumas cidades médias para refrear o
crescimento das metrópoles e, à medida que as cidades são escolhidas no
interior do território, levar para esses espaços subdesenvolvidos atividades e
homens que permitam um desenvolvimento da economia regional.
(ROCHEFORT, 1998, p. 93).
Portanto, a partir dessa ótica “seria necessário provocar o melhor desempenho dos
centros urbanos médios, para não concentrar a população nos grandes centros”. (OLIVEIRA,
2000, p.110) Ainda amparado por esse argumento, as cidades médias passariam a
“desempenhar novos papéis na rede urbana, crescendo em ritmo mais acelerado que as
metrópoles”. (STEINBERGER e BRUNA, 2001, p. 37) Em relação a essa questão, França e
Soares (2007) afirmam que
a definição ou o conceito de cidade média remete aos estudos de
pesquisadores, órgãos governamentais e planejadores urbanos. Do ponto de
vista do nível hierárquico das cidades, uma cidade média é aquela que se
localiza entre a grande cidade e a pequena cidade tendo, dessa forma, uma
posição intermediária. (FRANÇA e SOARES, 2007, p.03)
Dessa forma, a política nacional de intervenção possuiria quatro tipos de áreas de
intervenção, visando o desenvolvimento urbano nacional nas áreas de contenção (São Paulo e
Rio de Janeiro); nas áreas de disciplinamento e controle (Porto Alegre, Belo Horizonte,
Curitiba, Campinas, Brasília, Recife, Salvador, Fortaleza e Belém); nas áreas de dinamização
(polos de desenvolvimento); e nas áreas de promoção. (STEINBERGER e BRUNA, 2001)
Nesse modelo de organização foi dada uma importância estratégica a chamada área de
dinamização, englobando as cidades de porte médio das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul
do país, devido ao seu potencial de se tornarem “metrópoles regionais interiorizadas”.
(STEINBERGER e BRUNA, 2001, p. 42)
Os centros de porte médio foram entendidos como uma escala funcional
urbana indispensável para apoiar a desconcentração e a interiorização, razão
pela qual se mostrou que deveriam ser escolhidos centros específicos para
cumprir a função de desconcentração, e outros a função de dinamização.
Tais centros desempenhariam papel de relevo na política de ordenamento
territorial, contribuindo para: propiciar a criação de novos pontos de
desenvolvimento do território nacional, estimular a desconcentração de
atividades econômicas e de população, criar novas oportunidades de
86
emprego e reduzir as disparidades inter-regionais e interpessoais de renda.
(STEINBERGER e BRUNA, 2001, p. 48)
Nesse sentido, Montes Claros atenderia perfeitamente a esses critérios, por ser “uma
verdadeira capital regional”, devido a seu processo histórico de crescimento urbano e
econômico, “de modo que passou a assumir uma posição de centralidade intra e inter-urbana,
consolidando-se como núcleo mais expressivo da região em que se insere”. (FRANÇA e
SOARES, 2007, p.03)
Cumpre frisar, todavia, que essas novas diretrizes para a política urbana nacional, além
de obedecerem a critérios técnicos, também serviam aos interesses políticos do regime militar.
O espaço urbano aparecia como palco de problemas e as ações da política
urbana deveriam corrigir os efeitos nocivos do modelo de crescimento
econômico adotado, com características centralizadoras, concentradoras e
excludentes. Portanto, a política urbana tinha função compensatória e
corretiva. Surgiu como uma política de atendimento a carências, isto é,
antidéficit de serviços coletivos. Essa postura também visava responder a um
começo de perda de poder do partido do governo da ditadura (Arena) em
relação à oposição (MDB), especialmente em alguns dos maiores
aglomerados urbanos do país, as regiões metropolitanas. (STEINBERGER e
BRUNA, 2001, p. 46)
Nesse ponto, torna-se imperativo destacar que, apesar de a execução desse programa
se tornar o carro-chefe da administração de Luiz Tadeu Leite, ele fora efetivamente captado
na administração anterior, de Antonio Lafetá Rebello, sob a vigência da lógica do cálculo
político já citado. (FERREIRA, 2002) Tanto isso é fato que no próprio “relatório bomba”, que
o prefeito havia prometido divulgar, uma das “denúncias” apresentadas era a de que havia
sido apurado que o município seria contemplado com somente “2 bilhões e 700 milhões de
cruzeiros” pelo Programa, e não com “5 bilhões”, como tinha sido anunciado pelo seu
antecessor.52
O Programa Especial Cidades de Porte Médio foi criado em 1978 e Montes Claros foi
contemplada desde o primeiro momento, na chamada Fase I do projeto, juntamente com Natal
(PB), Petrolina (PE), Campina Grande (PB), Campo Grande (MS), Pelotas (RS), São José do
52 Montes Claros, Jornal do Norte, 24/02/1983, p.01
87
Rio Preto (SP), Florianópolis (SC), Teresina (PI) Juiz de Fora (MG), portanto, na época da
primeira metade do mandato de Rebello. (STEINBERGER e BRUNA, 2001)
O tempo de execução do Programa foi até o ano de 1986, quando oficialmente foi
encerrado pelo Banco Mundial, que era um de seus principais financiadores.
(STEINBERGER e BRUNA, 2001) Como comprova a própria assinatura do convênio entre a
Prefeitura Municipal de Montes Claros e o governo federal que, investiria essa imensa
quantidade de recursos “a fundo perdido”, ocorrera ainda naquele mesmo ano. (OLIVEIRA,
2000, p. 108)
Durante o decurso de vigência do programa, devemos ressaltar também que um
documento oficial do governo federal apontava que a gestão anterior “opunha resistências” às
suas diretrizes, o que impediu sua implantação. O documento, em questão, era o “Relatório de
Avaliação Institucional: Subprojeto Montes Claros”, de 1983. Nele, estava escrito que
segundo informações colhidas recentemente na prefeitura parece que a
administração municipal de então opunha certas resistências a algumas
intervenções previstas no subprojeto Montes Claros53
O documento ainda relatava que “a administração empossada em 31 de janeiro
de 1983 imprimiu ritmo mais dinâmico ao subprojeto”.54Objetivamente, identifica-se a
sintonia entre as diretrizes do programa e as da nova administração municipal, fato inclusive
destacado pelo “Relatório” do ano seguinte:
O subprojeto Montes Claros - Cidades Porte Médio(CPM) - passou a
constituir o plano de governo da atual administração para a área urbana.
Assim, as características do modelo de planejamento para o município são as
mesmas do subprojeto, destacando-se o atendimento prioritário à população
carente, a integração das obras físicas e a participação da comunidade.
(grifos nossos) 55
Dessa maneira, quando se aponta que a administração municipal vinculou o Programa
ao “atendimento prioritário à população carente” e à “participação da comunidade”. Nota-se
que o prefeito nada mais fez que conectar esse imenso aporte de recursos vindos do governo
53 Relatório de Avaliação Institucional: subprojeto Montes Claros, 1983, p. 10
54 Relatório de Avaliação Institucional: Subprojeto Montes Claros, 1983, p. 39
55 Relatório de Avaliação Institucional: Subprojeto Montes Claros, 1984, p. 24
88
federal militar ao seu projeto de campanha, teoricamente oposicionista, ao inserir os setores
excluídos na vida política e no processo decisório da cidade.
Ficava evidente que o principal suporte concedido ao governo municipal peemedebista
e, consequentemente, a seu projeto de poder, fora oriundo do governo federal, liderado pelo
PDS, o que inclusive geraria uma crise no diretório local desse partido, com a saída de
diversos membros, além da ameaça de desfiliação do próprio presidente, o ex-prefeito Pedro
Santos, que afirmou “que se continuar assim vai mesmo desestruturar-se (o PDS), pois eu
mesmo estou insatisfeito (...) e caso o governo federal não dê mais apoio (...) eu também
abandonarei o partido”.56
O ex-prefeito Pedro Santos vai além e intensifica suas críticas, afirmando ainda que “o
governo federal em nada está contribuindo para manter e soerguer o partido, que está
propenso a acabar, caso não sejam tomadas medidas urgentes”.57 O raciocínio de Santos se
apresentava correto do ponto de vista do cálculo político, pois os recursos advindos do
governo federal possibilitavam que a administração municipal intensificasse o seu projeto
político difuso de redistribuição dos recursos e priorização dos setores excluídos da
participação política em Montes Claros.
Apenas para o ano de 1984, o segundo de nova administração municipal, estava
previsto o montante de “10 bilhões de cruzeiros” para as obras da gestão peemedebistas.58 E,
objetivamente, se estava ocorrendo uma redistribuição e o estabelecimento de novas
prioridades, isso não só representava um golpe nos interesses políticos das facções que
outrora dominavam a cidade, mas também foi um golpe em seus interesses econômicos, o que
aumentavam as insatisfações.
Um bom exemplo disso foi a reforma no Código Tributário, proposta e aprovada pela
administração municipal. O município de Montes Claros era absolutamente deficiente, do
ponto de vista da arrecadação de tributos. Os empreendimentos que se instalaram no
município dispunham de uma série de incentivos e renúncias fiscais, oriundos das diretrizes
da Sudene. (FERREIRA, 2002)
56 Montes Claros, Jornal do Norte, 03/01/1984, p.01
57 Montes Claros, Jornal do Norte, 03/01/1984, p. 01
58 Montes Claros, Jornal do Norte, 07/09/1983, p. 01
89
A aprovação do novo código reverteu essa situação, colocando em êxito seu objetivo
central que era a ampliação da arrecadação do município, com a implantação de uma lógica
de aumentos progressivos, em especial para terrenos não edificados. (FERREIRA, 2002) O
projeto, portanto, atingia sobremaneira aqueles que possuíam lotes que estavam destinados à
especulação imobiliária, prática desenvolvida obviamente pelos que dispunham de maiores
recursos e eram ligados aos setores tradicionais da política local. (FERREIRA, 2002)
Para atestar a veracidade desta prática, o Relatório de Avaliação Institucional:
Subprojeto Montes Claros, apresenta dados que demonstram que mais da metade dos imóveis
de Montes Claros não estavam edificados, e que a maioria estava ligada a pratica especulativa
de um número bem restrito de pessoas. O Relatório de Avaliação Institucional de 1984 ainda
afirma que “das 95000 unidades lançadas pelo IPTU, 55000 constituem lotes vagos, dos quais
80% pertencem a apenas 137 contribuintes”.
Impressiona saber que dos 95 mil imóveis regulares em Montes Claros, no ano de
1983, aproximadamente 44 mil eram lotes vagos de propriedade do restrito contingente de
137 pessoas. Vale mencionar que a proposta do Novo Código Tributário foi duramente
criticada pelas entidades ligadas às elites tradicionais, em especial pela Associação Comercial
e Industrial e o Sindicato Rural. (FERREIRA, 2002)
O tensionamento político chegava também à Câmara Municipal, e as disputas entre os
aliados e os adversários da administração tiveram, a partir desse episódio, uma elevação
considerável de tom, com posicionamentos mais críticos, dos vereadores do PDS. Na reunião
do legislativo do dia 8 de setembro de 1983, o vereador Claudio Pereira (PDS) afirmava que o
prefeito estava “esquecendo-se dos problemas mais sérios da cidade, para de seu gabinete
articular manobras políticas dentro da Câmara Municipal” e que o presidente do poder
legislativo, vereador José Nardel (PMDB), tinha se tornado “uma marionete ou mesmo um
garoto de propaganda a atender a manobras e interesses”.59
Em resposta à agressividade do colega de legislativo, e em defesa dos representantes
de seu grupo político, o vereador Geraldo Honorato, líder da bancada peemedebista, afirmou,
ironicamente, estar “acostumado com as viúvas do PDS de Montes Claros”.60 Desse ponto em
diante, a agressividade se tornou ponto constante nas relações entre os opositores e a 59 Ata da reunião da câmara municipal, 08/09/1983.
60 Montes Claros, Jornal Do Norte, 09/09/1983, p. 03
90
administração. A partir de uma discussão sobre o terreno que serviria para a construção da
nova prefeitura, o vereador Joel Guimarães (PDS) afirmava que tal medida ocorreria para
atender interesses particulares do prefeito, que estaria “construindo duas mansões bem ao lado
do terreno que ele quer desapropriar”, e concluía dizendo que “o prefeito fala em ajudar o
povo, mas é ele que vem se ajudando”.61
Apesar dos tensionamentos e da resistência, o Projeto do Código Tributário foi
aprovado em 15 de dezembro de 1983, por 12 votos a favor e 4 votos contrários.
(FERREIRA, 2002) Essa resistência, certamente, foi prevista pela administração municipal,
pois antes mesmo de a proposta estar pronta, o prefeito afirmou que “Os impostos serão
mesmo aumentados e teremos que encontrar um mecanismo legal para isto”, e ainda disse que
“os nossos adversários podem reclamar e protestar” e, por fim, “vai haver gritos, protestos e
muito descontentamento, mas é bom que isso aconteça agora do que depois”.62
A administração municipal expunha, inclusive, que esse era um “risco calculado”, pois
“antes assumir um risco agora, do que daqui a dois, três anos, quando não surgir nenhuma
obra, e o povo passar a reclamar”.63 Isto evidencia a predisposição consciente da
redistribuição de recursos e do estabelecimento de novas prioridades, indo de acordo com o
programa político que elegeu o novo prefeito e vários dos novos vereadores em 1982.
O Programa Cidades de Porte Médio seria, portanto, o principal instrumento para
alcançar esse objetivo, evidenciando o paradoxo político exposto por Pedro Santos, de que o
governo federal do PDS estava atuando no sentido de “acabar”, segundo suas próprias
palavras, com o diretório local desta agremiação.64
Paradoxo que é amplificado pelo fato de também o programa ter sido captado
inicialmente pela administração anterior, do também pedessista Antônio Rebello, o que fez,
inclusive, com que as obras de 1983 fossem reivindicadas por vereadores oposicionistas como
realizações deles, conforme relata a fala do parlamentar Claudio Pereira, quando diz que tudo
que “Tadeu Leite realizou em 1983 foi a conclusão de obras (...) (cujos) recursos (foram)
61 Ata da reunião da câmara municipal, 13/09/1983.
62 Montes Claros, Jornal Do Norte, 09/09/1983, p. 01
63 Montes Claros, Jornal Do Norte, 09/09/1983, p.01
64 Montes Claros, Jornal do Norte, 03/01/1984, p. 01
91
alocados pelo prefeito anterior” e que em 1984 o prefeito não faria nada, pois “dependerá
exclusivamente dele para conseguir as verbas do Programa Cidade de Porte Médio –
PCMP”.65 A previsão de Pereira, contudo, não se concretizou. Em 1984, o aporte de recursos
oriundos do programa ampliou, possibilitando a realização de obras nas áreas periféricas.
Diversas obras foram realizadas ao longo do ano de 1984, como a construção de
creches, centros sociais, lavanderias comunitárias, pontos de estacionamentos para carroças,
calçamentos de vias secundárias, viadutos e, principalmente, a “canalização e retificação
incompleta do Córrego do Cintra”. (OLIVEIRA, 2000, p. 109) Somente para as obras
(incompletas, segundo Oliveira, 2000) do Córrego do Cintra, o Programa Cidades de Porte
Médio liberou “582 milhões de cruzeiros”.66
Com a realização dessas obras, a administração municipal intensificou seus
mecanismos de diálogo com a população, estabelecendo inclusive a relação direta da
população com o prefeito, através do programa “converse com o prefeito, que prestava
assistência aos moradores todas as terças e quintas-feiras, atendendo em média 200 a 300
pessoas por dia”. (FERREIRA, 2002, p. 133)
O que ocorria a partir de 1984, ao nível do executivo local, era uma tentativa
de aproximação do prefeito municipal com a população dos bairros, vilas e
favelas, através do atendimento pessoal de suas reivindicações. Ao procurar
estabelecer um contato direto com a população carente, a prefeitura
municipal imaginava estar solucionando um dos problemas que travava a
administração local; a definição de obras prioritárias a partir das reclamações
diretamente levadas pelos moradores dos bairros àquele que, efetivamente,
as resolveria. (FERREIRA, 2002, p. 132)
Além do “converse com o prefeito”, o executivo local desenvolveu a prática de
realizar diversas reuniões, no modelo de assembleias nos bairros, para a definição das ações
prioritárias nesses locais. As propostas, previamente definidas, eram levadas às comunidades,
que elegiam a sua ordem de prioridade, num modelo bastante parecido com o que depois se
convencionou denominar de “Orçamento Participativo”. (GUIMARÃES, 1997, p. 172)
A participação da população, nesse complexo de obras realizadas, se dava desde o
momento da reivindicação até a sua efetiva execução. A administração municipal
65 Montes Claros, Jornal do Norte, 18/01/1984, p. 01
66 Montes Claros, Jornal do Norte, 05/07/1984, p.01
92
desenvolveu o chamado “Programa Mutirão”, que consistia em mobilizar a população
beneficiada, por tais obras, na sua feitura. Neste programa, “as pessoas se disponibilizavam
em determinados dias para efetuar serviços que a rigor eram de competência da Prefeitura
Municipal”. (FERREIRA, 2002, p. 145)
A convocação da população ocorria previamente, com a indicação das ações que
ocorreriam com a sua participação, conforme atesta o noticiário da época.
Começarão nesta quinta-feira as obras do XI Mutirão da Prefeitura,
beneficiando os bairros Francisco Peres, Clarindo Lopes e Santa Rita II. No
domingo será desenvolvido um maior número de realizações, devendo
ocorrer ainda solenidades comemorativas ao mutirão, contando com a
presença do prefeito Luiz Tadeu Leite, seus assessores e vereadores do
PMDB. (...) Dentre as obras que serão executadas pela prefeitura, junto com
os moradores dos bairros beneficiados, destacam-se: a implantação de horta
comunitária na escola estadual Felício Araujo, construção de uma praça
pública, instalação de um telefone público no final da rua Padre Feijó, no
bairro Clarindo Lopes, cobertura de dois pontos de ônibus, vacinação de
crianças, coleta de lixos, limpeza de lotes vagos, patrolamento e abertura de
ruas, instalações de água e serviços hidráulicos e diversas outras pequenas
obras.67
Apesar da participação popular na realização dessas obras, as ações da administração
municipal não significaram descentralização e organização da comunidade, nem através de
associações, nem através dos representantes eleitos para a esfera legislativa, pois o processo
do modo como ocorreu não significou um maior envolvimento desses “atores políticos”, e
nem isso se deu a partir de “regras claramente estabelecidas”. (FERREIRA, 2002, p. 147)
O que de fato esses mutirões significaram ao poder executivo municipal, que este
“passa a ser visto como a salvação, a única fonte de recursos”. (OLIVEIRA, 2000, p. 114)
Dessa forma, tanto as associações comunitárias quanto os vereadores, mesmo os aliados,
perdem sua força enquanto agentes mediadores no processo de gestão dos recursos.
Acrescenta-se a isso que a percepção da população em relação a essas benesses foi distorcida,
pois o povo analisa estas obras “enquanto doadas e não conseguidas, dificultando a definição
de regras adequadas ao processo democrático, e sugerindo possibilidades limitadas de
participação nos negócios públicos”. (FERREIRA, 2002, p.148)
67 Montes Claros, Jornal do Norte, 02/09/1984, p. 03
93
À vista disso, o programa Cidades de Porte Médio apresenta, portanto, características
inerentes ao regime militar que o idealizou. Ele é em sua essência, apesar de apregoar o
contrário, autoritário e centralizador, e incentiva participação popular apenas “dentro de
determinados limites”. (FERREIRA, 2002, p. 148) Os próprios vereadores peemedebistas
percebem isso e se rebelam em diversos momentos, no sentido de buscar “dividir a
responsabilidade da administração de Montes Claros”, conforme exposto por José Paulo
Ferreira Gomes.68
Entretanto, apesar das reivindicações, tais práticas permanecem e inclusive se
intensificam, perpetuando-se pelo restante do mandato, e indo além do Programa Cidades de
Porte Médio, que se encerra juntamente com o regime militar, em 1985.
Desde 1985, com o advento da Nova República, deixou de existir um
discurso oficial de política urbana nacional. Propostas subsidiárias para tal
foram elaboradas antes e depois da instalação do novo governo. Algumas até
incluídas nos sucessivos planos nacionais desse período. Mas o fato é que
nenhuma delas foi assumida como norteadora da ação do Poder Executivo da
União sobre o espaço urbano. (...)
A gestão do CPM/Bird, a partir de 1985, quando se iniciou o governo da
Nova República, coube ao então criado Ministério de Habitação e
Desenvolvimento Urbano (MHU), que deu continuidade ao projeto, nos
moldes antes estabelecidos, até o seu encerramento em fins de 1986. Em
1987, a despeito da decisão de não dar continuidade ao CPM/Bird, o MHU
beneficiou, com um pequeno volume de recursos, 11 cidades
médias/aglomerações urbanas com obras de infra-estrutura e melhoria
institucional. Embora o Programa de Cidades de Porte Médio tenha sido
incluído no I PND da Nova República e no Programa de Ação
Governamental 1987/91,40 sob a forma de um projeto denominado.
Fortalecimento de Núcleos Urbanos Intermediários, que selecionou 50
núcleos a serem objeto de intervenção, nenhuma atuação sistemática foi
efetivada sobre as cidades de porte médio, no final dos anos 80 e nos anos
90. (Steinberger e Bruna, 2001, pp. 49 e 57)
Com o fim do programa Cidades de Porte Médio fica claro que a gestão peemedebista
mantém a essência das práticas que ao invés de reforçar as instâncias de representação
popular, sejam elas ligadas às demais esferas do poder publico, sejam ligadas às associações
coletivas não governamentais, desarticula-as, impossibilitando a intensificação do processo de
tomada de consciência e de disputa da hegemonia, o que paradoxalmente prejudica essa
mesma população beneficiada pelas ações públicas.
68 Montes Claros, Jornal do Norte, 21/09/1984, p.03
94
O modelo de participação implantado em Montes Claros “atende a lógica da exclusão,
o que acaba reforçando aspectos autoritários da administração publica” e demonstra “desprezo
pelas instâncias institucionais de participação popular (...) em detrimento do fortalecimento do
executivo”. (FERREIRA, 2002, p. 146) Dessa forma, o Programa Cidades de Porte Médio
atua de modo a desarticular o processo político iniciado no pleito de 1982, com a eleição de
diversos representantes das camadas populares.
A chamada participação popular, portanto, apresenta um duplo aspecto de
uma mesma face. A eleição de representantes para a Câmara Municipal,
saídos diretamente dos bairros da cidade, para, num segundo momento, a
completa dependência desses mesmos representantes, face ao aspecto
centralizador e autoritário imposto pelo Programa Cidades de Porte Médio e
as diretrizes estabelecidas pela administração pública de então. (FERREIRA,
2002, p. 145)
Tornou-se evidente que o Programa Cidades de Porte Médio, além de representar o
maior contingente de recursos que a administração municipal dispôs, representou também,
mesmo que inconscientemente, as diretrizes do modus operandi que foi implantado pela
gestão local.
Nesse caso, aspectos do regime militar se transpuseram para a gestão peemedebista
local e permaneceram mesmo após o estabelecimento da Nova República, em 1985. Inclusive,
a própria Nova República manteve em boa medida essas diretrizes. Obviamente, não se pode
deixar de reconhecer que houve efetivamente o estabelecimento de novas prioridades, porém,
isso aconteceu obedecendo à lógica de “legitimidade para a administração municipal através
de investimentos feitos em serviços de natureza social”. (FERREIRA, 2002, p. 134)
O entendimento de tais diretrizes será de fundamental importância para a compreensão
dos acontecimentos que se seguirão, em especial com relação aos resultados do pleito
seguinte, em 1988, objeto de discussão do próximo capítulo.
95
CAPÍTULO III
O FINAL DO MANDATO E AS ELEIÇÕES DE 1988 – POPULISMO, A
NOVA REPÚBLICA E O NOVO PMDB
O ano de 1985 marca o fim do regime civil-militar instaurado em 1964 e o retorno do
poder aos setores civis da política brasileira, mais precisamente com a ascensão do Partido do
Movimento Democrático à chefia do poder executivo nacional.
Ainda sob a vigência das eleições indiretas, que se mantiveram após a frustração da
emenda Dante de Oliveira69 que previa o pleito direto, o PMDB lança o mineiro Tancredo
Neves em aliança com a chamada Frente Liberal, dissidência pedessista que não concordou
com a definição da convenção do PDS em torno do deputado paulista Paulo Maluf como
candidato governista à presidência da República, apresentando o nome do maranhense José
Sarney, ex-presidente da ARENA e do PDS, para ser o companheiro de chapa. O pleito de
1985 ainda possui o ineditismo de ter sido a primeira disputa à presidência da República a
possuir uma campanha de rua mais ativa, desde a eclosão do golpe militar. (MENDONÇA,
2005)
Apesar de ter sido definido uma eleição indireta, Tancredo peregrinou boa parte do
Brasil, levando sua mensagem e ampliando o apoio popular à sua candidatura, construindo
uma ligação clara com a campanha de massa que fora as “Diretas Já!” no ano anterior.
(MENDONÇA, 2005) Essa ligação fora fundamental para garantir o apoio popular a um
futuro mandato presidencial, e em especial para apropriar-se do “legado oposicionista anti-
69 A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 05/1983, que propunha o reestabelecimento das eleições
diretas para a escolha do Presidente da Republica, ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira em
referência ao seu autor, o então deputado federal do PMDB pelo Estado do Mato Grosso, e teve grande
repercussão nacional devido a campanha popular que houve pela sua aprovação conhecida como “Diretas Já!”.
Para ser aprovada, e seguir para o Senado, a emenda necessitava do voto favorável de no mínimo dois terços da
Câmara dos Deputados (320) porém na votação que ocorreu em 25 de abril de 1984 somente 298 votaram “sim”,
outros 65 votaram “não” e 3 se abstiveram. Cabe ressaltar ainda que 112 deputados não compareceram a essa
votação. (DELGADO, 2006)
96
regime autoritário”, e fortalecê-lo como o líder político que realizou a transição, assumindo
assim o posto de chefe máximo do PMDB, que até então era ocupado por Ulisses Guimarães.
(MENDONÇA, 2005, p. 164)
A Aliança Democrática, modo como se designou a parceria entre o PMDB e a Frente
Liberal, vence as eleições realizadas pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985, com a
ruidosa diferença de 300 votos, sendo 480 a favor de Tancredo, contra 180 dados ao candidato
do PDS, Paulo Maluf, além de 26 abstenções. (DELGADO, 2006) A ampla vantagem obtida
por Tancredo era uma demonstração cabal de que o regime militar tinha caducado e perdera o
amparo na sociedade e no Congresso Nacional. (DELGADO, 2006)
Contudo, se por um lado fica evidente que o PMDB se tornara a principal força
política do país, por outro também é óbvio que a chegada ao poder não seria possível sem a
clara aliança com setores profundamente ligados ao regime inaugurado em 1964. Essa
constatação advém da própria definição do ex-presidente arenista como companheiro de
chapa, e fica mais clara quando se observa que, da votação obtida no colégio eleitoral, 166
votos foram de deputados do PDS, fato que permite conjeturar que sem o apoio da Frente
Liberal, Tancredo não seria eleito. (DELGADO, 2006)
Essa aliança possuía também a sua forma mais concreta, que se expressava em
compromissos efetivos, e em muito pouco lembrava o tal “legado” que Tancredo assumiu.
Figuras exponenciais do regime militar, como Antônio Carlos Magalhães e Aureliano Chaves
(que além de vice-presidente de Figueiredo era um dos principais adversários do PMDB na
política mineira), foram designadas pelo presidente eleito para a composição do ministério da
Nova República. (DELGADO, 2006) Essa transição pactuada com membros do antigo regime
ficará mais clara a partir do falecimento de Tancredo Neves, antes mesmo de sua posse, e a
consequente chegada de José Sarney ao cargo de presidente da República.
Sarney, buscando o apoio político necessário a sua gestão, adere ao PMDB, fato que
influenciará sobremaneira nas práticas e no modo desse partido governar a nação e as demais
instâncias da federação. Acrescenta-se a isso que, com a transição do PMDB ao governismo,
o espaço político oposicionista se encontrará aberto a novas agremiações, em especial ao
Partido dos Trabalhadores, que levará essa disputa também ao campo das organizações da
sociedade civil.
97
Esse novo cenário produzirá seus reflexos em Montes Claros e suas consequências
serão sentidas no pleito de 1988, que renovará a representação local. Como já foi apresentado,
o mandato peemedebista iniciado em 1982 inverte as prioridades administrativas e engloba
amplas camadas populares no processo decisório do município.
De posse dos amplos recursos advindos do Programa Cidades de Porte Médio, a
administração realiza uma série de benfeitorias em regiões antes relegadas ao segundo plano
pelo poder público municipal. Além disso, a população é mobilizada a participar da gestão da
municipalidade, porém, dentro de certos limites determinados a priori. Dessa forma, as
instâncias institucionais de representatividade popular perdem espaço, devido aos
mecanismos de diálogo direto estabelecidos entre o poder executivo municipal e os
munícipes.
Entretanto, a partir de 1985, com o advento da Nova República, o Programa Cidades
de Porte Médio cessa suas atividades, com o seu encerramento oficial acontecendo mais
precisamente no ano seguinte, e Montes Claros perde esse aporte substancial de recursos.
(STEINBERGER e BRUNNA, 2001) Apesar disso, mesmo o seu fim, várias práticas que só
foram possíveis graças a esses recursos terão continuidade e serão aprofundadas no restante
da legislatura.
É também imperativo ressaltar que, apesar do término do Programa Cidades de Porte
Médio, há um fato novo, nesse processo, que é a ligação partidária da administração
municipal com os novos líderes da nação. O fato de o prefeito ser também do PMDB
possibilitará que permaneçam as boas relações, que a prefeitura já tinha com os gestores
palacianos em Brasília, e que os recursos federais continuem auxiliando a administração
municipal.
Da mesma forma, a nova conjuntura política, com mais liberdades inauguradas pelo
governo civil, possibilita o aparecimento e o fortalecimento de novas agremiações políticas
em Montes Claros, superando a relação antagônica que existia apenas entre PMDB e PDS.
Novas legendas, como o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista, além
do Partido da Frente Liberal, que suplantará o PDS local, buscarão seus espaços nas esferas
governamentais e também nas não governamentais, o que inaugurará um novo momento dos
movimentos populares.
98
Mediante o exposto, o presente capítulo buscará compreender de que forma esse novo
cenário influenciou a gestão da municipalidade, especialmente na análise do modo de governo
do poder executivo, nos reflexos que esse novo PMDB nacional produzirá no diretório local,
na ação dos novos partidos junto aos movimentos populares e consequentemente na disputa
pela hegemonia, e ainda nos dedicaremos a entender e analisar o contexto em que as disputas
locais se deram e os seus resultados nas eleições municipais de 1988.
3.1 A Nova República e o novo PMDB – o Governo Sarney e o fim de uma “Frente”
O nascimento da Nova República com a vitória da Aliança Democrática no Colégio
Eleitoral, em 15 de janeiro de 1985, ainda suscita um intenso debate nos ciclos acadêmicos e
nos meios políticos. Contudo, apesar das várias controversas, há certo consenso de que esta
vitória está inserida num processo de transição pactuado com diversos elementos que davam
sustentação ao regime militar. A própria escolha de Tancredo, em detrimento do nome de
Ulisses Guimarães, atestava esse fato. (MENDONÇA, 2005)
Ulisses Guimarães era a representação maior de um PMDB combativo ao regime
militar. Dono de posições enérgicas e críticas contundentes ao governo dos generais, que
vigorava desde 1964, Ulisses, apesar de ser o principal líder peemedebista, não reunia
condições necessárias para a construção de uma ampla frente, que fosse capaz de vencer em
um Colégio Eleitoral com regras estabelecidas pelo governo de plantão. (MENDONÇA,
2005)
Diferentemente de Ulisses, Tancredo, por sua vez, era tido como um político
confiável, moderado e conciliador, condição sine qua non para uma composição com os
setores do PDS, que seria a única maneira de vencer no pleito do início de 1985.
(MENDONÇA, 2005) O PDS possuía, naquele momento, um total de 356 votos no Colégio
Eleitoral, contra 330 “de toda a oposição reunida”, o que tornava imprescindível uma cisão da
sigla governista. (MENDONÇA, 2005, p.166)
99
Tancredo se tornou um candidato confiável a esses setores do PDS, basicamente por
dois motivos concretos: primeiro, o seu reduzido engajamento na campanha das “Diretas Já!”,
que ocorreu porque ela já havia compreendido que a emenda Dante de Oliveira não seria
aprovada no Congresso Nacional. Sobre o tema, a seguinte declaração do então governador
mineiro é sintomática, “a campanha das Diretas é necessária, porém lírica”. (MENDONÇA,
2005, p. 181) Segundo, efetivamente, a candidatura de Tancredo Neves não se propunha
como efetivamente oposicionista. Pelo contrário, ele apregoava a necessidade de uma ampla
“conciliação nacional”, o que abarcaria teoricamente todos os setores da sociedade, incluindo-
se aí também os militares, fato que era recorrentemente trazido à tona pelo político mineiro,
conforme comprova o trecho abaixo:
Vamos, com a graça de Deus, presidir o momento histórico, e o faremos com
a cooperação e a participação de todas as forças políticas, econômicas e
sociais bem-intencionadas, sem quaisquer preocupações de represálias
quanto ao passado (Isto É n° 413, 21/11/84, “Proclamação da República”:18,
In: MENDONÇA, 2005, p.168 )
Essa posição de Tancredo, exposta em 1984, não era de modo algum novidade, pois o
projeto de constituição de uma força política de centro, que pudesse agrupar oposicionistas e
governistas, já havia sido posto em prática com a criação do Partido Popular (PP).
(DELGADO, 2006) Com a reforma partidária de 1979, que extinguiu o bipartidarismo,
Tancredo, então senador eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro, não acompanha seus
correligionários na criação do PMDB e funda, juntamente com seu antigo adversário o ex-
governador mineiro Magalhães Pinto, o PP. (DELGADO, 2006)
O Partido Popular se propunha, já no início da década de 1980, ser a agremiação de
centro, que possibilitaria uma aliança entre setores ligados ao governo militar e moderados
oposicionistas que não se sentiam mais à vontade sob a liderança oposicionista do PMDB de
Ulisses Guimarães. (DELGADO, 2006) Tal empreendimento político não logrou êxito, pois o
regime militar impôs, em 1980, um novo pacote de regras que impossibilitavam as alianças e
coligações nas eleições gerais, que foram transferidas para o ano de 1982, com a implantação
do chamado “voto vinculado”, que obrigava o eleitor a votar nos candidatos do mesmo
partido, desde vereador municipal, governador até senador da República. (DELGADO, 2006)
100
Dessa forma, não houve alternativa a Tancredo, senão aprovar em convenção do seu
partido a incorporação ao PMDB, fato que não foi acompanhado pelas lideranças oriundas das
hostes arenistas, como, por exemplo, o seu antigo adversário Magalhães Pinto. (DELGADO,
2006) Conforme vimos, o seu projeto de “conciliação nacional” já vinha sendo gestado, fazia
alguns anos, antes de efetivamente ser posto em prática por Tancredo, que o fez nos moldes
propostos, haja vista que sem a aliança com setores insatisfeitos do regime, ele não teria sido
eleito.
Tancredo fora habilidoso em compreender o cenário propício à cisão que o PDS vivia
desde a convenção que escolheu Paulo Maluf como seu representante na disputa presidencial
de 1985. O pleito de 1985 teria, dentro das esferas palacianas, uma característica que o
diferenciava das demais disputas presidenciais, desde o advento do regime militar. Naquele
momento, não havia entre os generais uma candidatura sólida para disputar o processo no
Colégio Eleitoral. (MENDONÇA, 2005) Apesar de Mário Andreazza, eminente liderança
fardada desde 1964, ter pleiteado a indicação na convenção partidária do PDS, e ter contado
com o efetivo engajamento de Figueiredo, pairava sobre ele diversas suspeitas, inclusive do
ponto de vista ético, que impediu o maior engajamento da elite das Forças Armadas e dos
setores civis alinhados ao governo. (SKIDMORE, 1988)
Ainda assim, o apoio de Figueiredo impediu que outros membros do governo
disputassem a indicação. Dentre os aspirantes à condição de presidenciável se encontravam
inclusive lideranças civis do partido governista, como o senador pernambucano Marco
Maciel; o governador baiano, Antônio Carlos Magalhães; o ministro da Educação, Rubem
Ludwig, dentre outros. Apesar desses nomes não contar com o apoio de Figueiredo, seu
esforço individual não foi suficiente para alçar, à presidência, o deputado paulista Paulo
Maluf. (MENDONÇA, 2005)
Embora, Maluf fosse uma das principais lideranças do PDS e, consequentemente, da
antiga ARENA, ele não gozava de maior prestígio nos ciclos militares, tanto é que em 1978,
contrariando a opinião do então Presidente da República, general Ernesto Geisel, ele se lançou
candidato na convenção arenista para definição da candidatura ao governo do Estado de São
Paulo, vencendo o candidato oficial do regime, Laudo Natel, e sagrando-se governador
paulista. (MENDONÇA, 2005) Em decorrência, a antipatia a Maluf se estendeu a diversos
aliados do regime, além dos adversários oposicionistas.
101
Maluf provocava quase apoplexia na esquerda, em boa parte do centro e até
em alguns membros do PDS, que o viam como uma ameaça à democracia
emergente. O ex-governador da Bahia Antônio Carlos Magalhães, por
exemplo, declarou, em agosto de 1984, que Maluf era o homem mais odiado
do Brasil e que não podia andar um quarteirão sem arriscar sua vida.
(SKIDMORE, 1988, p.477).
A aversão a Maluf foi, portanto, o estopim que colocou em movimento aquela que
seria a principal cisão da base governista.
Em junho de 1984, lideranças pedessistas anti-Maluf propuseram à
Executiva Nacional do partido, presidido por José Sarney, outro líder anti-
malufista, a realização de uma consulta partidária em todos os estados para
apurar as preferências das bases pedessistas. Tratava-se de uma estratégia
para prejudicar o ex-governador de São Paulo, tendo em vista sua baixa
popularidade partidária no interior dos estados brasileiros. Entretanto, tal
medida não obteve sucesso, visto que Maluf possuía a maioria dos votos da
executiva do partido governista. O insucesso de tal manobra forçou José
Sarney a renunciar a seu cargo de presidente da Comissão Executiva
Nacional do PDS. Um mês depois, Aureliano Chaves retirou sua candidatura
e formou a dissidência no partido, conhecida como Frente Liberal.
(MENDONÇA, 2005, p. 167)
A vitória de Maluf sobre Andreazza fortaleceu ainda mais a dissidência, e finalizou o
processo de adesão da nova Frente à candidatura oposicionista, com a criação da Aliança
Democrática, através do manifesto “Compromisso com a Nação”, preparado pelas duas
legendas e publicado no jornal Folha de São Paulo, em 08 agosto de 1984. (MENDONÇA,
2005) O próprio manifesto era um documento que expunha muito o caráter conciliatório da
candidatura.
O país vive gravíssima crise na história republicana. A hora não admite
vacilações. Só a coesão nacional, em torno de valores comuns e
permanentes, pode garantir a soberania do país, assegurar a paz, permitir o
progresso econômico e promover a justiça social. Este pacto político
propugna a conciliação para a sociedade e o Estado, entre o povo e o
governo. Sem ressentimentos, com os olhos voltados para o futuro, propõe o
entendimento de todos os brasileiros.70
70 O manifesto publicado pela Aliança Democrática no Jornal Folha de São Paulo encontra-se publicado na
íntegra em Meneguello (1998)
102
Contudo, não se pode deixar de destacar que se existem diversos traços conciliatórios
na candidatura da Aliança Democrática, em especial, representados no seu candidato a vice-
presidente, José Sarney, há também aspectos oposicionistas e populares evidentes na chapa
liderada pelo PMDB. Apesar de a disputa ocorrer eminentemente no âmbito do Colégio
Eleitoral, entendia-se desde o primeiro momento que era fundamental se apropriar do capital
político que o PMDB acumulou nos seus longos anos de oposição ao regime militar, em
especial em 1984, com a massiva campanha das Diretas Já. (DELGADO, 2006)
Assim sendo, desde o início do processo da candidatura ao Colégio Eleitoral havia o
desafio de popularizá-la, o que, aliás, não ocorreu de imediato, principalmente pelo fato dela
nascer da frustração da derrota da emenda que restabelecia as eleições diretas para a
Presidência da República. (SOARES, 1993)
A candidatura de Tancredo era relacionada, em um primeiro momento, “do ponto de
vista do público mais amplo” com a “derrota do movimento popular pelas Diretas Já” foi,
portanto, “condenada a carregar o fardo que lhe impôs a imagem pública do mal menor”.
(SOARES, 1993, p.154) A consequência direta dessa perspectiva do “mal menor” foi a
“assimilação popular lenta e pouco entusiástica”. (SOARES, 1993, p.154)
Dessa forma, construiu-se a estratégia de se realizar uma campanha popular nos
moldes das diretas, o que somente seria possível se fosse amparada em um discurso
oposicionista antirregime e de denúncia ao autoritário processo de eleição indireta no Colégio
Eleitoral. (SOARES, 1993) Tal crítica se apresentava no próprio nome que a aliança deu à
transição: Nova República. Essa ampla campanha popular teria dois objetivos claros. O
primeiro foi pressionar os parlamentares a apoiar a candidatura da aliança. Já, o segundo foi
garantir o devido apoio popular ao possível futuro governo de Tancredo e José Sarney.
(MENDONÇA, 2005)
As referências às diretas eram constantes nos comícios que a Aliança realizou em
várias partes do país. Como exemplo, pode-se citar a presença do locutor Osmar Santos, como
mestre de cerimônias, e da cantora Fafá de Belém, entoando o Hino Nacional, ambos eram
considerados ícones populares que se engajaram na Campanha das Diretas. (MENDONÇA,
2005) Outro fator que auxiliou no caráter popular da campanha “de rua” da Aliança, foi o
engajamento efetivo das tendências mais à esquerda do PMDB.
103
Como já demonstrado no primeiro capítulo deste trabalho, com a intensificação da
repressão pelo regime militar no início da década de 1970, e a consequente desarticulação dos
movimentos de resistência armada, facções clandestinas se inserem no MDB, de modo a
continuar atuando politicamente na resistência ao regime. (CARONE, 1984) Essas facções
ainda continuavam, em grande medida, na ilegalidade, e consequentemente ainda atuavam na
principal legenda oposicionista, o PMDB. Partidos como o PCdoB e o PCB, além do MR8,
estavam atuando efetivamente no PMDB. (CARONE, 1984)
Esses grupos participaram efetivamente da campanha da Aliança, buscando dar uma
tonalidade vermelha ao discurso moderado de Tancredo. (DELGADO, 2006) Prova disso é
que em todos os principais comícios da Aliança era possível encontrar diversas bandeiras
vermelhas do PCdoB e do PCB. (MENDONÇA, 2005)
Portanto, a partir desses fatos torna-se claro que, apesar do forte traço moderado da
candidatura da Aliança, havia, sim, elementos que a pressionavam a posições mais efetivas de
enfrentamento ao status quo. (MENDONÇA, 2005) Essa candidatura possuía traços
contraditórios, pois se de um lado a conciliação com elementos do regime foi condição sine
qua non para vitória no Colégio Eleitoral, de outro, ela também representou todo um anseio
popular em torno da perspectiva da mudança.
É esse caráter contraditório que faz com essa transição seja até hoje motivo de intensa
polêmica no âmbito das discussões acadêmicas. Autores como Mainwaring e Sallun Jr.
apregoam que a profundidade da aliança, com a Frente Liberal, e com vários dos líderes civis
do regime militar, retirou o caráter oposicionista da candidatura de Tancredo. Mainwaring,
analisando a preponderância da conciliação como principal característica da Aliança, afirma
que
Embora a eleição de Tancredo tenha marcado o fim do regime militar, a
oposição conseguiu essa vitória apenas com o apoio de grande segmento de
defectores do regime que formou a Frente Liberal. O estilo e conteúdo do
novo governo, pelo menos no início, reconheciam claramente o caráter
negociado da transição (MAINWARING, 1988, p.309).
Já Sallun Jr vai além e declara que
“No interior de uma coalizão política tão ampla como a Aliança
Democrática, a candidatura Tancredo Neves deixara de ser oposicionista;
tornara-se ‘mudancista’ e, sem confronto com o regime militar, apontava
104
para uma Nova República, liberal e democrática” (SALLUM JR., 1996,
p.107)
Rumando em outra direção, outros autores, como Mendonça e Delgado, defendem
posturas mais equilibradas, que apresentam as dicotomias e contradições da candidatura de
Tancredo, sem, porém, deixar de pontuar que ainda havia fortes traços oposicionistas nos
discursos e, principalmente, no amparo popular que legitimava a candidatura da Aliança
Democrática.
Regressando aos fatos, após a vitória no Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985,
Tancredo adoece, o que o impede de tomar posse, e José Sarney se torna o primeiro
presidente civil desde 1964. A partir da posse de Sarney, os fortes traços oposicionistas que
marcaram a candidatura da aliança vão se esvaindo, o que alterará em grande medida o
PMDB.
Quando ocorreu a vitória no Colégio Eleitoral em janeiro de 1985, a Frente Liberal
ainda não tinha se institucionalizado como partido político. Ela era apenas um grupo de
dissidentes do PDS, que inclusive ainda estava majoritariamente filiado à agremiação do
governo. (DELGADO, 2006) Para que Sarney pudesse se candidatar, teve que se filiar ao
PMDB, inclusive, esse, foi um dos critérios para sua escolha pela Frente Liberal, pois a
legislação, vigente à época, proibia que uma pessoa eleita em uma legislatura por um partido
saísse candidata, nessa mesma legislatura, por outro partido, o que era uma forma de o regime
militar dificultar defecções. Essa condição deveria ser atendida, já que Sarney havia sido
eleito senador em 1978, pela antiga legenda de sustentação ao governo militar, a ARENA.
(MENDONÇA, 2005)
Entretanto, quando a Frente Liberal recebeu o registro oficial como partido político,
Sarney já estava na presidência e não se filiou à nova agremiação, principalmente pelo fato de
ser o PMDB o “principal instrumento político e fiador” da Nova República. (BRESSER
PEREIRA, 1993, p. 58) A ascensão e permanência de José Sarney no cargo de Presidente da
República, pelo PMDB, produziram como resultado a eminência de uma nova elite política,
nesse partido, fato que irá provocar diversas mudanças nas práticas e no modo como essa
agremiação irá atuar a partir de então. Esse fato é publicamente reconhecido por lideranças
105
oriundas do antigo MDB, como, por exemplo, o então senador Fernando Henrique Cardoso e
o economista Bresser Pereira.
Cardoso afirmou em entrevista que, principalmente a partir de 1986, portanto, ainda na
primeira metade do governo, “quem mandava era a ala moderada do Exército com a ala
liberal do antigo regime (..) e um grupo de amigos do presidente”. (NOBLAT, 1990, p. 48) Já
Bresser Pereira foi além e, ainda antes da morte de Tancredo, em artigo publicado no jornal
Folha de São Paulo, afirmou que caso o impedimento do presidente eleito fosse definitivo,
José Sarney teria duas alternativas: a primeira, seria se manter no governo durante todo o
período para qual foi eleito, como vice. Já, a segunda, seria a “redução de seu mandato para
dois anos e a convocação de eleições diretas em novembro de 1986, juntamente com a
convocação da Assembleia Constituinte”.
Bresser Pereira, nesse mesmo artigo, já afirmava que a “primeira alternativa é a
menos possível”, e que se ela fosse adotada traria “conseqüências desastrosas”, e ainda
ameaçava que se esse fosse o caminho “o PMDB, seja por exigência de suas bases populares,
seja por necessidade eleitoral, não terá condições de dar apoio ao governo”. 71. (BRESSER
PEREIRA, 1993, p.66)
Como demonstração inconteste de que o PMDB mudava muito mais que José Sarney,
durante o primeiro mandato da Nova República, aponta-se o irônico fato de que o próprio
Bresser Pereira, que havia demandado que Sarney somente governasse até 1986, sob pena de
perder o apoio de seu partido, torna-se ministro da Fazenda em 1987, portanto, já no período
considerado, por seu artigo de 1985, de ilegítimo.
Dessa forma, considera-se válida a conclusão de Mainwaring, Meneguello e Power
(2000), de que “o resultado da transição de 1985 dificilmente poderia ser mais favorável à
direita”, pois esta se apodera do principal instrumento de contestação ao regime anterior. (p.
29) Esse novo contexto nacional, com a Aliança Democrática e o posterior governo Sarney,
permitiu que “um expressivo contingente de lideranças políticas egressas do regime militar”
tivesse efetivamente uma “alternativa segura para descolar-se da (...) herança pedessista e
reposicionar sua imagem política diante de um novo contexto” e ainda de “assegurar espaços
importantes no governo central”. (CORBELLINI, 2005, p. 150)
71 Artigo originalmente publicado no jornal Folha de São Paulo em 09 de abril de 1985, publicado na integra in
“A Nova Republica: 1985-1990. São Paulo, edições CEP, 1993.”
106
Essa situação, que propiciou que esse expressivo contingente egresso do antigo regime
pudesse se inserir ao PMDB, teve sua expressão máxima nas eleições gerais de 1986, e
transformou o partido na maior agremiação partidária da história institucional brasileira, com
a eleição de 52,9% da Câmara dos Deputados, 77% das cadeiras em disputas no Senado da
República e a impressionante eleição de 22 dos 23 governadores estaduais, sendo que o único
Estado que não elegeu um peemedebista foi Sergipe, que elegeu o candidato do PFL, que
também dava sustentação ao governo de José Sarney. (CORBELLINI, 2005)
Dentre esses novos eleitos pelo PMDB se encontravam uma série de lideranças
oriundas do PDS, como, por exemplo, Wellington Moreira Franco, no Rio de Janeiro, que
venceu o vice-governador de Brizola, Darcy Ribeiro, e Fernando Collor de Mello, vitorioso
no Estado de Alagoas. (DELGADO, 2006)
O expressivo resultado eleitoral obtido pelo PMDB, nas eleições de 1986, deve-se
principalmente ao significativo apoio popular que o governo de Sarney teve, naquela ocasião,
devido aos resultados advindos do plano de estabilização da economia, que havia sido
implantado no início de 1986, denominado de Plano Cruzado. (DELGADO, 2006) Após as
eleições, com o fracasso do plano, fato constatado, e as discussões da Assembleia
Constituinte, as contradições internas no PMDB, entre os peemedebistas chamados
“históricos” e os novos, ficaram mais evidentes, o que criaria um novo cenário no espectro
partidário nacional, com a possibilidade de fortalecimento das siglas que já atuavam e a
criação de novas agremiações partidárias. (CORBELLINI, 2005)
A atuação do PMDB nos movimentos sociais e populares será diminuída e integrada
principalmente ao Partido dos Trabalhadores (PT), fundado pelo movimento sindical do ABC
paulista e liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, deputado federal constituinte eleito em
1986, e aos partidos comunistas (PCB e PCdoB) que serão legalizados na Nova República.
(DELGADO, 2006)
Retrocedendo, a partir da segunda metade da década de 1980, já ficava claro o
protagonismo que o Partido dos Trabalhadores iria ter na direção dos movimentos populares
brasileiros. Tal protagonismo ocorreu em relação diretamente proporcional com a perda de
prestígio do PMDB, em um ambiente em que se deu a decadência do governo de José Sarney.
Na própria gênese dessa agremiação, em 1980, já havia esse propósito, pois diferentemente
das lideranças dos partidos comunistas, em especial do PCB e do PCdoB, que acreditavam na
107
necessidade de continuarem atuando em uma frente oposicionista contra o PMDB, até o final
da ditadura, os petistas já entendiam, amparados em uma ideologia de um socialismo pouco
claro teoricamente, a necessidade de criação de um partido que fosse capitaneado
exclusivamente por trabalhadores. (AARÃO REIS, 2007)
Nesse ínterim, as lideranças comunistas acreditavam que o fim do bipartidarismo, no
final da década de 1970, fora um casuísmo criado pelo regime militar de forma a conter o
avanço do MDB, e, portanto, romper a principal frente política de oposição era “fazer o jogo
da ditadura”. (AARÃO REIS, 2007, p. 03)
Os velhos Partidos Comunistas – o Brasileiro e o do Brasil –, do alto de sua
experiência, reforçavam os argumentos neste sentido: seria uma
inconsequência, no momento delicado da última fase da transição
democrática, alquebrar o MDB, o principal instrumento que, mal ou bem,
fora construído pela sociedade brasileira em suas lutas contra a ditadura.
(AARÂO REIS, 2007, p. 04)
Essa decisão da esquerda comunista abriu um espaço político que o Partido dos
Trabalhadores soube aproveitar muito bem. Os resultados dessa decisão já repercutiram nas
eleições gerais de 1982, quando o PT, cumprindo obrigações da legislação eleitoral e também
atendendo a seus propósitos, obteve uma expressiva votação, elegendo em seu primeiro pleito
8 deputados federais, 12 deputados estaduais, e 117 vereadores. (AARÃO REIS, 2007)
No biênio seguinte, outros dois fatos colaboraram para a ampliação da influência
petista: a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, e a campanha das
“Diretas Já”, em 1984. (AARÃO REIS, 2007) Esses dois eventos intensificaram o processo
que tornaria o PT, o principal partido dos movimentos populares, o que aumentou o seu
capital eleitoral. Mais à frente, nas eleições de 1986, que elegeria os parlamentares
constituintes, o PT dobrou a sua reduzida bancada na Câmara, elegendo 16 deputados
federais, e outros 40 deputados estaduais. (AARÃO REIS, 2007) Nas eleições seguintes, em
1988, o Partido dos Trabalhadores elegeu prefeitos em mais de 30 cidades brasileiras, dentre
elas, na maior do país, São Paulo, pela primeira vez uma mulher, Luiza Erundina, assumia a
chefia do poder executivo local. (AARÃO REIS, 2007)
Já a maioria das lideranças ligadas à oposição institucional ao regime militar, de viés
democrata e liberal, se uniria para fundar o Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) em
1988. (DELGADO, 2006) A diferença, contudo, em relação ao pano de fundo desta criação,
108
de acordo com autores como Coelho (2001) e Roma (2002), é que o PSDB nasce oriundo do
pragmatismo das disputas políticas, iniciadas especialmente a partir da disputa pelo Governo
do Estado de São Paulo, em que os novos peemedebistas ligados ao governo federal
conseguiram emplacar o nome de Orestes Quércia, contra a vontade daqueles que se
intitulavam históricos. (COELHO, 2001)
Dessa forma, o debate ideológico fora colocado em segundo plano, como inclusive
fora admitido por Fernando Henrique Cardoso, que se tornaria a principal liderança do PSDB,
ao afirmar que “bobo é quem quiser ser social democrata”, devido ao fato de no Brasil,
segundo ele, não haver espaço para o modelo clássico europeu. (COELHO, 2001, p. 129)
Coelho (2001) embasa essa afirmação, amparado em artigo produzido pelo próprio Cardoso,
comparando o contexto brasileiro com o espanhol pós-regime franquista.
O que ocorreu na Espanha foi algo que tem a ver com o Brasil; primeiro, que
o regime franquista também se esgotou; houve um cansaço no regime
franquista. Mas em relação à Espanha há duas diferenças, pelo menos. Uma,
que a Espanha está na Europa, integrada no Mercado Comum. [...]. E a outra
diferença, mais importante talvez, é que na Espanha o movimento atual de
redemocratização foi precedido por um intenso movimento das lutas sociais.
Um movimento de trabalhadores nas fábricas, comissões operárias. Temos
que dizer as coisas como elas são: não há movimento social no Brasil neste
momento, comparável ao da Espanha. (Apud COELHO, p. 129)
Dessa forma, a autora conclui que embora houvesse “referências à democracia, justiça
social, participação, cidadania e outras generalidades” fica claro que estas estão sempre
“acompanhadas por argumentos, demonstrando que no Brasil não seria possível, adequado ou
desejável um projeto (...) baseado no modelo social democrata”. (COELHO, 2001, p. 134)
O rompimento que gerou o PSDB ocorreu como uma decisão de lideranças,
especialmente parlamentares, sem maior amparo por “um intenso movimento de lutas
sociais”, e num momento de desgaste do governo de José Sarney, fato inclusive apontado por
Quércia, como um dos motivos das disputas, no momento do ápice da crise do PMDB que
levou à criação da nova legenda. A esse respeito, ele indaga “por que essas pessoas não
falaram em rompimento quando o presidente Sarney estabeleceu o Plano Cruzado (...) (e)
estava muito bem perante a opinião pública?” 72
72 Brasília, Jornal de Brasília, 10/01/1988, p. 03
109
Logo, a partir do exposto, demonstrava-se que aquele PMDB que era fruto de uma
ampla frente de opositores ao regime militar, que congregava desde comunistas até lideranças
empresariais de claro viés liberal, deixava de existir e o seu capital político seria fragmentado
e dividido por diversas agremiações políticas.
3.2 O conceito de “populismo” e sua utilização para a análise de Montes Claros na
década de 1980
O fim do regime militar e a ascensão do PMDB, como o maior partido do país,
provocaram significativas alterações no contexto partidário brasileiro, e elas tiveram seus
reflexos também em Montes Claros. Ainda assim, houve também continuidades que são
fundamentais para a compreensão daquele momento e suas consequências.
Como já exposto, o governo municipal de Montes Claros, eleito em 1982, procurou ter
bom entrosamento com o governo federal desde o seu início, quando estava sob a gestão
pedessista, e como resultado obteve a liberação de significativos recursos, especialmente
através do Programa Cidades de Porte Médio. Com esses recursos em mãos, a administração
introduziu novos mecanismos de gestão, com ênfase no diálogo direto com a população,
especialmente em bairros periféricos. Programas como o “Converse com o Prefeito” e o
“Projeto Mutirão” são exemplares, nesse sentido.
Esse modus operandi permaneceu na atuação da administração municipal até o
restante do mandato, durante a segunda metade da década de 1980, o que leva a um debate
acerca da conceituação dessa prática. Em decorrência, um conceito que vem mente quando se
depara com práticas como as já vistas em relação aos recursos do Programa Cidades de Porte
Médio é o de “populismo”, inclusive autores como Evelina Oliveira (2000) e Marcelo Ferreira
(2002) entendem que certas atitudes do prefeito pemedebista se enquadram no contexto de
lideranças populistas. Este, porém, é um conceito amplo e controverso, que suscitou intensas
polêmicas nos meios acadêmicos, o que torna imperativo uma revisão, de modo a definir se o
caso montesclarense se enquadra nessa categoria.
Primeiramente, é importante destacar que, apesar de esse conceito ser muito citado
para identificar políticos e práticas latino-americanas, outros autores de outros continentes
110
também o usaram dentro de sua visão política. Lênin, por exemplo, utilizava esse termo para
designar uma corrente pequeno-burguesa do movimento popular russo, nas décadas de 1860 e
1870, que, apesar de autoproclamada como socialista, não via o proletariado como a principal
força revolucionária e também não acreditava nas massas populares como construtoras da
história. Tal corrente no fim se desvincula do movimento e se concilia ao czarismo russo.
(LENIN,1979) Ainda sobre esta questão, outro europeu que discutiu o assunto foi o italiano
Norberto Bobbio, que concluiu ser este um conceito impreciso, ambíguo, confuso e
contraditório. (BOBBIO, et al. 1986)
No entanto, apesar de este termo ter sido utilizado em outras realidades, é na América
Latina que ele irá se desenvolver se tornando objeto de reflexão, mais precisamente no debate
teórico feito no Brasil, que muito contribuiu para o seu desenvolvimento.
Atualmente, o populismo como conceito é amplamente utilizado pelas Ciências
Sociais, apesar de haver críticas que o denominam de “consolidado por uma certa sociologia
paulista”, mesmo reconhecendo que ele é de “grande impacto nas Ciências Humanas e na
política brasileira”. (AARÃO REIS, 2007) Essa referência ao Estado de São Paulo é
fundamental para se entender o desenvolvimento desse conceito, que de fato começa a ser
objeto de investigação, a partir de São Paulo e da sua política regional. (GOMES, 2001)
E é em território paulista que, em 1953, um grupo de estudiosos cria o Instituto
Brasileiro de Economia, Sociologia e Política (IBESP). E já no seu primeiro ano começa a
publicar o periódico “Cadernos do Nosso Tempo”, se debruçando sobre o surgimento do
populismo na política brasileira, desde o primeiro momento. O artigo “Que é o
Ademarismo?”, de autor não identificado, publicado por essa revista, é considerado pioneiro
na discussão conceitual brasileira. (GOMES, 2001, p.33) Nele se estabelece as bases que
nortearão o debate conceitual do populismo, ao alinhar o político paulista Adhemar de Barros
às práticas clientelistas e personalistas, porém, sem maior esforço de teorização e
classificação acerca dessas características. (GOMES, 2001)
Entretanto, esse texto refere-se aos três elementos constitutivos do populismo, e estes
permaneceram utilizados por boa parte daqueles que empreenderam o esforço de aprofundar e
buscar teorizar o conceito. (GOMES, 2001) Assim, o primeiro elemento é que o populismo é,
antes de mais nada, um fenômeno de massas “vinculado à proletarização dos trabalhadores na
sociedade complexa moderna” e de tal forma era “indicativo de que tais trabalhadores não
111
adquiriram consciência e sentimento de classe: não estão organizados e participando da
política como classe”. (GOMES, 2001, p.34) O segundo diz respeito à classe dirigente que
perde, nos momentos de expansão do populismo, de certa maneira, a sua representatividade e
poder. (GOMES, 2001) E, por fim, o terceiro elemento preconiza que a junção dos dois
primeiros cria as condições que permitem o surgimento de um líder carismático que mobiliza
essas massas sem consciência de classe, e exerce o poder perdido pelos dirigentes anteriores.
(GOMES, 2001)
Embora não fosse a pretensão do autor, a identificação desses três elementos dialoga
com o conceito de Gramsci, de crise de representação da classe dirigente, já apresentado
anteriormente. Inclusive o próprio Gramsci o analisa sob o viés de uma liderança personalista,
e demonstra também que esse exercício já havia sido feito por Nicolau Maquiavel, cinco
séculos antes. A principal diferença é que, para os dois autores italianos, o “príncipe” poderia
ser de fato um homem que ascende por sua política personalista, mas também poderia ser um
partido político. (GRAMSCI, 1976). O fragmento abaixo reafirma esse ponto de vista.
Para se traduzir em linguagem política moderna a noção de “príncipe”, da
forma como ela se apresenta no livro de Maquiavel, seria necessário fazer
uma série de distinções: “Príncipe” poderia ser um chefe de Estado, um
chefe de governo, mas também um líder político que pretende conquistar um
Estado ou fundar um novo tipo de Estado; nesse sentido, em linguagem
moderna, a tradução de “Príncipe” poderia ser “partido político”. (Gramsci,
1976, p.102).
Portanto, se fossem analisados apenas esses três elementos ficaria claro o
enquadramento da situação de Montes Claros nessa categoria analítica, visão inclusive
defendida por autores (não apenas por esses três elementos) como Oliveira (2000) e Ferreira
(2002). Contudo, da forma como exposto, fica claro que, nesse momento, há pouca inovação
conceitual, pelo contrário, há uma apropriação com a recontextualização do cenário paulista
do século XX. Todavia, tal referência não fica, e nem ficará explícita, apesar do
reconhecimento de certa inspiração marxista. (GOMES, 2001)
Talvez a principal novidade fosse exatamente uma das principais controvérsias que se
encontram nesse conceito, que é a questão valorativa, que estará bastante presente,
especialmente nos embates políticos em que, muitas vezes, se inserem uma forte carga
pejorativa. (GOMES, 2001)
112
Pelo exposto, depois do desenvolvimento teórico do termo, a partir de São Paulo, o
populismo foi estabelecido especialmente nos debates políticos que ocorreram no interior da
sociedade, permitindo com que o termo passasse a ser utilizado para designar um político
enganador, pois “são populistas os políticos que enganam o povo com promessas nunca
cumpridas”, ou que utilizam a “retórica fácil com a falta de caráter em nome de interesses
pessoais”. (GOMES, 2001, p. 31)
Essa valoração atendia a um interesse concreto da elite paulista, que via em Getúlio
Vargas o arquétipo do populista, e do seu governo, principalmente a partir de 1950, como
exemplar de “democracia populista”. Dessa forma, as categorias utilizadas para analisar o
ademarismo foram atualizadas e transportadas para o getulismo, e a conclusão era de que a
ascensão do líder populista era, portanto, a prova definitiva de que o “o povo não sabe votar,
ou, em versão mais otimista, ainda não aprendeu a votar”. (GOMES, 2001, p.32)
Com efeito, o resultado concreto da propagação dessa ideia no interior da sociedade
foi o crescimento gradual de perspectivas que apregoavam ser razoável suprimir o voto, pela
justificativa de que o povo não sabe votar. Esse crescimento possibilitou, inclusive, a
derrubada do regime democrático em 1964, em nome da “boa política”. (GOMES, 2001, p.
32)
A análise do populismo, nesse momento, estava inserida em um processo nacional
mais amplo, que se convencionou determinar de nacional desenvolvimentismo, em que o
Brasil realizava a transição de uma economia de base agrário-exportadora para uma de base
urbano-industrial, fazendo com que o populismo fosse um epifenômeno deste processo.
(FERREIRA, 2001) É a partir desse ponto que novos autores, que se agrupam em torno
desse tema, naquela que ficou conhecida como a primeira geração, dentre eles, o professor da
Universidade de São Paulo, Otávio Ianni afirma que
por um lado há o surgimento de populações recém-chegadas do mundo rural
que não dispõem de condições psicossociais ou horizonte cultural para um
adequado comportamento urbano e democrático, por outro, a sociedade
carece de instituições políticas sólidas, a exemplo de um sistema partidário.
(IANNI, 1989, p. 56)
Ianni, com esse entendimento, transforma o conceito em algo quase universal, como
uma categoria não apenas brasileira ou latino-americana, mas como um aspecto inerente a
113
uma fase intermediária de transformação capitalista. (IANNI, 1989) Fase intermediária esta
que, no caso brasileiro, se inicia em 1945, com o fim do Estado Novo, e termina, segundo
Ianni (1989), com a eclosão do golpe de 1964, que é inclusive o resultado do esgotamento
desse modelo. A respeito dessa questão, Jorge Ferreira (2001) resume a forma como a
primeira geração conceituou o populismo:
o populismo ocorreu, sobretudo, a partir de 1945, pois com o fim do Estado
Novo o país conheceu, no plano político, um mínimo de probidade nas
eleições e, no plano econômico, uma industrialização mais consistente.
Assim, o populismo, como uma ideologia pequeno-burguesa, procurou
mobilizar politicamente “as massas” nos períodos iniciais da
industrialização. Além disso, os assalariados não apresentavam a
“consciência de classe” que caracterizava os trabalhadores providos de
longas tradições de lutas, uma vez que as classes sociais ainda não tinham se
configurado. Resumindo, a classe trabalhadora apresentava-se como “povo
em estado embrionário”. São trabalhadores com escasso “treino partidário” e
“tímida consciência de direitos”, o que os tornava “incapazes” de exercer
influência sobre os políticos populistas. (FERREIRA, 2001, p. 69)
Essa análise pode também ser transposta ao caso de Montes Claros, na década de
1980. Embora tenha sido em outro momento, a cidade teve essa transição intensificada nas
décadas de 1960 e 1970, devido ao advento da Sudene, como já demonstrado anteriormente.
E esse entendimento também se manteve na denominada segunda geração de autores
que se debruçaram sobre o tema populismo, avançando sobre alguns pontos críticos, como
caráter universal, mas mantendo certas premissas. O principal expoente dessa nova geração é
Francisco Weffort, e sua principal obra é “O populismo na política brasileira”, que foi escrita
para compor a revista Les temps modernes, à época dirigida pelo filósofo francês Jean Paul
Sartre. (GOMES, 2001) O primeiro questionamento levantado por essa geração foi no sentido
de se afirmar que essa nova classe operária urbana poderia sim ser agente da história, indo
contra a perspectiva de Ianni, porém, entendendo que ela possuía apenas certo grau de
independência política.(WEFFORT, 1989)
Dessa forma, era necessário um “Estado de Compromisso” entre a liderança populista
e as massas, sendo, portanto, um estilo de governo e uma política de massas. (WEFFORT,
1989) Assim, fica evidente, mais uma vez, a inspiração gramsciana nesse conceito de
“Estado de Compromisso”, conforme demonstra Gomes (2001):
114
Numa perspectiva teórica de sabor gramsciano, o autor proporá o conceito,
que terá largo trânsito, de Estado de compromisso, que é também um Estado
de massas. Ou seja, a idéia do compromisso remeteria a duas frentes que
estabeleceriam, ao mesmo tempo, seus limites e potencialidades. Um
compromisso junto aos grupos dominantes, consagrando um equilíbrio
instável e abrindo espaço para a emergência do poder pessoal do líder que
passa a se confundir com o Estado como instituição; e um compromisso
entre o Estado/Príncipe e as classes populares, que passam a integrar, de
forma subordinada, o cenário político nacional. Estilo de governo e política
de massas integrando o núcleo do que seria o populismo da política
brasileira. (GOMES, 2001, p. 38)
É sob esse cenário que se apresenta a tríade que constituirá na ideia central de Weffort,
de que o sucesso do populismo se deve à repressão estatal, manipulação política e satisfação
de algumas demandas da classe trabalhadora, reforçando a ideia do compromisso e instituindo
o estabelecimento do chamado pacto populista, que era a visão de que os trabalhadores,
devido a tal satisfação, aceitariam a submissão política ao líder. (WEFFORT, 1989) Essa
visão continha uma crítica clara não só aos líderes populistas, mas também à incapacidade da
classe trabalhadora de desenvolver sua consciência de classe, devido ao atendimento de
algumas demandas secundárias. (WEFFORT, 1989)
De tal modo, há um retorno à visão da antiga geração que retira da classe operária a
capacidade de criar a história, pois, de acordo com essa visão, “os setores populares não são
concebidos como atores/sujeitos (...) mas sim como destinatários/objetos”, portanto, as
massas estariam sendo efetivamente “enganadas ou ao menos desviadas de uma opção
consciente”. (GOMES, 2001, p.39) Essa crítica à classe trabalhadora é implicitamente
voltada àqueles que deveriam dirigi-la, ou seja, ao movimento sindical.
A partir dessa premissa desenvolveu-se a chamada teoria do cupulismo, que explicaria
o porquê da passividade da classe trabalhadora frente à liderança populista. A teoria cupulista
afirma que os trabalhadores teriam sido “reféns das políticas ditadas pelas suas lideranças”
que ou eram pelegas, isto é, ligadas ao regime varguista e ao PTB, ou eram dos partidos
comunistas que cometiam o erro de se aliar aos sindicatos petebistas. (COSTA, 1999, p. 90)
Essa teoria cupulista explicaria também a incapacidade do movimento sindical em resistir ao
golpe militar de 1964. (FERREIRA, 2001)
Outra ideia que também será esposada por vários autores que defendem o ideário
clássico do populismo, isto é, são norteados pelas teorias dos autores da primeira e segunda
geração, será a do caráter messiânico do líder populista.
115
A filósofa Marilena Chauí (1994), também oriunda da Universidade de São Paulo,
analisa que o populismo possui suas origens em raízes “teológico-políticas”, em que “há uma
relação de feedback entre mitologia e sociedade, sociedade e mitologia”. (CHAUÍ, 1994, p.
27) Em relação a isso, pode-se depreender que no populismo há necessariamente uma relação
em que existe um ser superior (o líder populista) e um inferior (o povo), o que cria uma
relação de eminente “obediência” entre eles, tal qual na perspectiva teológica. (CHAUÍ, 1994,
p. 27) A autora prossegue esclarecendo, portanto, que o populismo teria seis características
fundamentais; 1) trata-se de um poder sem mediações políticas; 2) existe uma relação de
tutela; 3) caracteriza-se por um poder transcendental; 4) ocorre a dominação carismática nos
moldes tipológicos weberianos; 5) exerce-se esse poder de modo autocrático; e 6) “sendo
despótico, teológico e autocrático, o poder populista é uma forma de autoritarismo”. (CHAUÍ,
1994, p. 20)
A clássica teoria do populismo brasileiro, em suas duas gerações e em vários de seus
adeptos, preconiza, em maior ou menor medida, que este só foi possível devido à existência
de uma classe operária passiva, em um determinado período histórico, ou seja, entre 1945 e
1964, por se encontrar desarticulada e tutelada pelo Estado, devido à satisfação de algumas
demandas pontuais. Essa ideia não só encontrará inúmeros seguidores no universo acadêmico,
conforme já expusemos, mas também será duramente criticada nesse mesmo ambiente.
(GOMES 2001)
Como exemplo, uma das primeiras críticas que atingiu a credibilidade desse conceito
foi a falta de precisão, pois a partir de tais premissas essa categoria abrangeu lideranças das
mais variadas matrizes ideológicas, já que políticos tão diferentes entre si como Getúlio
Vargas e Jânio Quadros foram definidos como populistas. (GOMES, 2001)
Além disso, a flexibilidade do termo possibilitou o seu transporte a outros períodos
históricos, como já visto. Por exemplo, Evelina Oliveira (2000) e Marcelo Ferreira (2002) o
fizeram no caso montesclarense da década de 1980, para tanto, recorreram às demais
premissas de Ianni e Weffort, e também à obra de Saes (1994) que preconiza a “reemergência
do populismo” no Brasil durante a década de 1990. (GOMES, 2001, p. 46)
Entretanto, este não seria o principal problema em relação a esse conceito, pois
transportar um conceito a outros momentos históricos é um exercício de reavivá-lo, de
116
oxigená-lo. O presente trabalho, inclusive, já fez isso com o conceito de coronelismo, como
pode ser observado no primeiro capítulo.
O principal problema do conceito populismo é a condição sine qua non da existência
de um povo apático, passivo e manipulado, que não possui papel ativo no desenvolvimento da
história. Essa crítica, sim, possui maior consistência, e se intensifica a partir das discussões
acadêmicas na década de 1980, envoltas em uma nova inspiração marxista, encontrada
principalmente na obra do autor inglês Edward P. Thompson. (GOMES, 2001)
Da mesma forma Oliveira (2000) e Ferreira (2002) recorreram a essa premissa para
considerar o caso de Montes Claros como exemplo de populismo. A referência de ambos às
obras de Ianni e Weffort também se expressa na maneira em que analisam a participação
popular. Em Oliveira (2000) a referência se dá quando afirma que
“A organização do poder no Norte de Minas inibe, pelo autoritarismo
oligárquico, pela política dos coronéis e ainda através de lideranças
populistas, a expressão dos interesses populares.”(OLIVEIRA, 2000, p. 127)
Já Ferreira (2002) afirma, explicitamente, ter se embasado nos “referenciais teóricos”
de Ianni e Weffort para buscar compreender a realidade montesclarense “a partir do final da
década de 1970”. (FERREIRA, 2002, p. 12)
A evolução desses elementos nos permite identificar um terceiro na
configuração das relações políticas em Montes Claros, isto a partir do final
da década de 1970: a participação dos setores populares nos negócios
públicos via políticas sociais, que se convencionou chamar no Brasil de
“populismo”.
O termo “populismo” nos permite abordá-lo de várias formas. A primeira é a
sua construção como elemento que surge nos períodos de crise política e
econômica, no qual o pacto social/político e a emergência das massas
urbanas requerem um novo tipo de liderança pautada no indivíduo dotado de
qualidades de oratória capaz de seduzir as massas e, ao mesmo tempo,
controlá-las. Essa análise (...) tem como referenciais teóricos básicos as
obras de Octávio Ianni e Francisco Corrêa Weffort. (FERREIRA, 2002, pp.
11-12)
O grave problema da perspectiva clássica é que ela, inspirada em certo marxismo,
invoca uma visão teleológica da classe trabalhadora que, de modo determinista, teria um
caminho natural a seguir, a partir do desenvolvimento da consciência de classe. Tal caminho
seria objetivamente a busca pela revolução socialista, e qualquer coisa diferente disso seria
117
um desvio (inaceitável para muitos desses marxistas) desse caminho. (FERREIRA, 2001)
Logo, a manipulação ocorria na medida em que o povo era desviado desse caminho, e envolto
em novas perspectivas, pelo simples atendimento, ou satisfação, na ótica de Weffort (1989),
de determinadas demandas materiais, como, por exemplo, os direitos trabalhistas garantidos
na era Vargas. (FERREIRA, 2001)
O debate apresentado por Thompson vem para desmitificar esse suposto caminho
natural e apresentar como os aspectos do vivido, isto é, a experiência, por homens e mulheres
que vinham “de baixo”, também era fruto de ações conscientes de sujeitos ativos que
interferiam nos seus destinos. (THOMPSON, 1981) Desse modo, Thompson afirma em
relação à experiência que
os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo
[experiência] – não como sujeitos autônomos, “indivíduos livres”, mas como
pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas
como necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam”
essa experiência em sua consciência e sua cultura [...] das mais complexas
maneiras [...] e em seguida [...] agem, por sua vez, sobre sua situação
determinada. (THOMPSON, 1981, p. 182)
Portanto, Thompson critica a validade do marxismo estruturalista que vê, apenas no
aspecto estrutural, o que determinava as condutas da classe operária, e vê na experiência e,
consequentemente, na cultura, outra maneiras de atingir sua consciência. (THOMPSON,
1981)
Dessa forma a classe operária possuía uma racionalidade em seus movimentos, se
tornando um sujeito ativo da história, e desenvolvendo suas estratégias de modo a atingir seus
objetivos, retirando de certa forma o aspecto manipulador dessa relação com a elite.
(THOMPSON, 1987) Sobre essa questão, vejamos o que diz Thompson:
Quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas
ou partilhadas) sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e
contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos
seus (THOMPSON, 1987, p. 9)
Todavia essas estratégias se davam em um contexto de força desigual. Portanto, havia
momentos de avanço e momentos de recuo, mas, em ambas as situações, eles ocorriam devido
118
a uma clara compreensão estratégica, que não era fruto de teorização, mas do efetivamente
vivido, que era para o autor nada mais que a luta de classes. (THOMPSON, 1987) Então, para
esse autor, não era a consciência que precedia a luta de classes, mas o contrário e, nesta, a
classe trabalhadora atuava com as armas que acreditava ter em suas mãos. (THOMPSON,
1987)
Essa perspectiva altera profundamente a maneira com a qual os historiadores analisam
a situação da classe trabalhadora, fenômeno que também ocorre no Brasil e produz como
resultado uma nova visita ao conceito de populismo, desta vez de maneira bem crítica. Dessa
maneira, há uma transformação nos estudos da classe trabalhadora, que, em vez de analisar as
lideranças, os sindicatos e os partidos, lançam o seu olhar efetivamente aos trabalhadores,
inclusive e principalmente, àqueles que não atuavam dentro dessas organizações. (COSTA,
2001)
Tais estudos contribuem para a derrubada da visão de passividade da classe
trabalhadora frente às lideranças vistas como populistas, quebrando o conceito de
manipulação. Dessa forma, se no período da chamada democracia populista tem que se
atender a determinadas demandas da classe trabalhadora, não é para satisfazer a vontade de
quem está na liderança, mas pela pressão ativa e consciente dos trabalhadores. (COSTA,
2001)
Essa nova visão possibilita a novos autores questionar o conceito de populismo como
um todo. Sobre a questão, Gomes (2002) propõe a redefinição dessa perspectiva,
abandonando o populismo e substituindo-o por pacto trabalhista.
O trabalhismo deve ser entendido como se constituindo de um conjunto de
idéias, valores, símbolos, rituais e vocabulários que passa a se solidificar
especificamente a partir da década de 1940. Desde então, começa a circular
num circuito que comunica setores de elite com setores populares, ganhando
sentidos específicos em cada um desses pólos, em diferentes conjunturas
políticas. É evidente que, como ideologia e projeto políticos, o trabalhismo
lança raízes na experiência do movimento operário e sindical da Primeira
República, no sentido thompsoniano. Ou seja, se a tradição é inventada no
pós-1930, não o é de forma fortuita, arbitrária e a partir do nada. Seu poder
de significação e mobilização (a “comunidade de sentidos” que logrou
estabelecer) veio justamente da releitura que as elites políticas do pós-1930
realizaram do que ocorreu no terreno das lutas dos trabalhadores, antes de
1930. [...] Ademais, pode-se verificar que, como tradição, o trabalhismo será
apropriado e reinventado no pós-1945, tanto por setores sindicais e
119
populares, quanto por setores das elites políticas, especialmente as dos
partidos trabalhistas, com destaque para as do PTB (GOMES, 2002, pp. 67-
68).
Para a autora, a substituição por trabalhismo ainda era mais necessária, pois devido à
conotação pejorativa que o termo populismo adquiriu, este passou a rebaixar a política
brasileira, pois sempre esteve vinculado à “desesperança e ao ceticismo”. (GOMES, 2002, p.
67) Tal opinião foi compartilhada por Aarão Reis (2001), que afirmou que a tradição
trabalhista, marcada pelas bandeiras sociais, lutas políticas reformistas e nacionalistas e
principalmente pelo crescente aumento da participação das massas populares nos processos
decisórios, fora rebatizada como populismo de modo a rebaixá-la e estigmatizá-la, por
interesses conservadores que possuíam ojeriza a tais marcas.
No mesmo sentido Ferreira (2001), relembra inclusive que no início da utilização do
termo populismo, este era elogioso e significava que determinado político tinha sensibilidade
social e vínculos com os interesses populares, porém, foi progressivamente sendo
desconstruído a fim de atender aos preceitos daqueles que eram seus opositores. Rumando em
outra direção, outros autores, embasados na teoria de Thompson, buscaram dar nova
significação ao termo populismo.
As análises de Thompson para compreender a classe operária inglesa serviriam para
“reproblematizar os anos populistas”. (SILVA E COSTA, 2001, p. 224)
Por outro lado, a obra de Thompson sobre paternalismo, cultura plebéia e
estilo retórico e ritualístico da justiça na Inglaterra do século XVIII demorou
a ser um convite para reproblematizar os “anos populistas”. Certamente, são
flagrantes as diferenças entre as peculiaridades da sociedade inglesa dos
setecentos e as condições históricas do populismo brasileiro. Porém, alguns
princípios gerais da noção de hegemonia utilizada por Thompson permitem
perceber como os trabalhadores retiravam da ideologia formal do “modelo
paternalista” os recursos necessários às suas demandas e lutas, utilizando-o
como algo que pertencia ao seu patrimônio adquirido. Se tal modelo era mais
generalizante, a apropriação que dele era feita pelos “de baixo” tinha um
caráter seletivo, aproveitando noções de justiça social e re-significando-as
conforme suas experiências e expectativas (SILVA e COSTA, 2001, p. 224)
No mesmo sentido avança Fortes (2010), para quem a perspectiva de Thompson
possibilita que o conceito de populismo denote uma nova significação que represente “uma
ênfase no protagonismo popular, uma perspectiva democrática radical (mas ainda não
120
socialista)”, de modo que possibilite a essa categoria validade, porém, descartando
completamente a ideia de “manipulação ou de desvio de uma consciência política ideal”.
(2010, p. 190)
Baseado em tais perspectivas, o populismo deixa de ser um “fenômeno de fora para
dentro (...) ou uma ideologia que implicaria manipulação externa” e passaria a ser entendido a
partir de agora como um “sistema político, ou seja, uma conjugação complexa e sofisticada de
interesses e disputas entre atores desiguais”, porém, sempre levando em conta a constante
necessidade da “reciprocidade e negociação, na qual as classes populares estiveram presentes
de forma decisiva”. (FONTES e DUARTE, 2004, pp. 111, 112)
Em outros termos, o populismo, portanto, renova-se enquanto conceito e deixa de ser
“a expressão do atraso de uma classe dominada” e torna-se a “expressão do momento em que
o poder articulatório desta classe se impõe hegemonicamente sobre o resto da sociedade”.
(LACLAU, 1979, p. 201) É partir desse novo viés que se julga correto o enquadramento do
caso de Montes Claros, na década de 1980, na categoria de populismo.
3.3 As eleições de 1988 e o retorno ao antigo perfil dos representantes institucionais
O final da legislatura no município de Montes Claros iniciada em 1983 mostra um
quadro bem diferente daquele com a qual os representantes se elegeram em novembro de
1982, e consequentemente os resultados do pleito municipal de 1988 também serão afetados
por tais diferenças. As diferenças vão além do fato de o PMDB, em 1982, ter elegido um
prefeito de oposição, tanto na esfera municipal quanto na estadual e nacional. Como já
expusemos esse partido, ao assumir o comando da nação, se afasta gradativamente dos
movimentos sociais e populares que outrora dirigia, e, por sua vez, se aproxima, cada vez
mais, de agremiações esquerdistas, especialmente do Partido dos Trabalhadores (PT), do
Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), todos com
militantes e diretórios atuantes na cidade.
Além disso, como já mencionado, também o populismo imperou nas relações entre o
poder executivo, e consequentemente entre o PMDB e a população. Populismo entendido a
121
partir da ótica de Thompson e analisado por vários autores, como Silva e Costa (2001), Fontes
e Duarte (2004) e Fortes (2010), que não retiram o caráter ativo da população no processo
decisório, tampouco o entendem no sentido de fortalecimento de instâncias de representação.
O populismo, nessa ótica, reflete um momento em que a população atuava
efetivamente, sendo representada por associações e sindicatos e muito menos por
parlamentares. (SILVA e COSTA, 2001)
Além disso, há desde o princípio a tentativa de aproximação do prefeito com os
setores tradicionais que haviam efetivamente sido derrotados em 1982. Refletindo sobre a
questão, há em Oliveira (2000) um bom resumo desses dois últimos movimentos citados,
pois, ainda que a opinião da autora refira-se a um conceito de populismo que apresenta graves
problemas, não podemos menosprezar, aqui, o conjunto de seu trabalho. Ao contrário, este
fora de grande valia, conforme comprova o parágrafo transcrito, a seguir:
Na composição inicial de seu secretariado, Tadeu Leite recorre às famílias
tradicionais como Dr. João Carlos Sobreira, Dr. José Sidney de Figueiredo
Chaves e Carlos Antunes Pereira. A chamada participação popular se
transforma rapidamente em atrelamento do movimento dos bairros.
(OLIVEIRA, 2000, p. 170)
O trecho acima comprova essas duas movimentações ao afirmar que o prefeito
recorreu “às famílias tradicionais”. Além disso, a importância por ele concedida à população,
permitiu que essa se juntasse ao “atrelamento do movimento dos bairros”. Sobre o fato de ter
recorrido “às famílias tradicionais” este contato se dá de forma direta, como também de forma
implícita, ao tentar se aproximar das entidades de classe ligadas aos interesses tradicionais.
Essa tentativa de aproximação ocorre em especial sobre duas das principais entidades ligadas
ao projeto que a eleição de 1982 havia derrotado nas urnas: a Associação Comercial e
Industrial, e a Cooperativa Agropecuária.
Em relação à Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, apesar das trocas
de gentilezas já demonstradas anteriormente, a ação governista se tornou mais evidente,
quando em julho de 1987, a pouco mais de um ano da sucessão municipal, o prefeito
122
anunciou o convite ao economista Jayme Crusoé, então vice-presidente dessa entidade
classista, para compor o secretariado, chefiando a pasta de Planejamento da prefeitura.73
Tal movimentação do prefeito foi analisada por comentaristas políticos da época como
uma aproximação, visando o pleito de 1988. O jornalista Elton Jackson, em sua coluna, dois
dias antes do anúncio, afirmava que “a idéia do prefeito” era utilizar o então vice-presidente
da ACI como “ponte para chegar ao empresariado”, pois o prefeito, segundo Jackson, “teria
poucas relações dentro da cúpula empresarial de Montes Claros” e seria importante “apostar
nesse setor, mesmo porque as condições financeiras podem influir decisivamente nas eleições
de novembro de 1988”.74
Outro jornalista que comungava das mesmas ideias de Jackson era Jorge Silveira, que
em sua coluna afirmava que o prefeito provocou uma “mudança radical de comportamento” e
abandonou “a ojeriza que tinha até pouco tempo contras as classes mais abastadas”, porém
vaticinava que esse movimento ocorria “direita e esquerda a parte”, pois “parece que (...) Luiz
Tadeu Leite está desde logo se preparando para as eleições do próximo ano”.75
Já em relação à Cooperativa Agropecuária (COOPAGRO), a relação será estabelecida
em outro nível. A Cooperativa foi fundada pela Sociedade Rural em 1955, para ser a principal
entidade de comercialização dos produtos advindos das grandes fazendas da região. Portanto,
era um efetivamente um instrumento de reprodução do capital rural, cujos lideres políticos
haviam sido retirados da gestão da municipalidade em 1982. (OLIVEIRA, 2000)
Esta entidade “defensora dos direitos dos produtores que representava” era à época
presidida pelo fazendeiro Jairo Ataíde Vieira, que era um típico representante desse segmento,
filho de Air Lelis Vieira, que havia presidido a Sociedade Rural, entre os anos de 1969 e
1971. (OLIVEIRA, 2000, p. 51) Contudo, apesar dos claros antagonismos existentes entre o
prefeito e a classe representada pelos Ataíde, o primeiro não se rogou em buscar cooptar e
dirigir tal entidade. Em relação à questão, o prefeito chegou a afirmar que a disputa pela
73 Montes Claros, 09/07/1987, p. 1
74 Montes Claros, Jornal do Norte, 07/07/1987, p. 2
75 Montes Claros, Jornal do Norte, 18 e 19/07/1987, p. 03
123
presidência da Cooperativa seria uma “luta entre PMDB e PFL”, em referência a filiação
partidária de Jairo Ataíde, em demonstração clara do seu engajamento nessa eleição.76
Durante a campanha pela gestão da entidade houve inclusive denúncias do vereador
Joel Guimarães (PFL), de que Tadeu teria utilizado “dinheiro público e a máquina
administrativa” para as ações oposicionistas.77Contudo, em que pesem quaisquer esforços,
lícitos ou não, que a administração tenha feito, eles não foram suficientes para ampliar sua
intervenção junto a esse segmento do qual fora um duro crítico, conforme se vê claramente
através da reeleição de Jairo Ataíde com expressivos “80,6%”, demonstrando, além da
emergência, de um novo líder ruralista, a oposição do capital rural ao gestor que o derrotara
em 1982, pois, segundo um dos membros da chapa vencedora, Afonso Dias, “não era pra
Tadeu entrar, primeiro porque ele sempre foi contra a classe rural, por pura politicagem” e
ainda ameaçou dizendo “ele cutucou a classe com vara curta, acredito ainda que os ruralistas
vão firmar politicamente e trabalhar para a sua derrubada em 1988”.78
A vitória sobre o grupo ligado à administração municipal na eleição da Cooperativa,
em 1987, alça Jairo Ataíde à condição de principal representante da classe e da oposição, e o
conduz ao posto de candidato anti-Tadeu nas eleições de 1988, ao cargo de prefeito
municipal.
Já o movimento de bairros efetivamente se atrela à administração municipal, através
dos mecanismos de diálogo que esta implementou com o “Converse com o Prefeito” e
“Projeto Mutirão”. Ao se atrelar à administração, ele se desvincula de outras instâncias
organizativas, como as associações comunitárias e os vereadores, que tinham um papel
eminentemente mediador entre a população e suas demandas e o poder executivo, que, por
sua vez, tinha os recursos para atendê-las, ou, nas palavras de Weffort (1989), para satisfazê-
las. Essa relação era complexa e desigual, como Fontes e Duarte (2004) vaticinam, porém, era
ativa de ambas as partes, e a negociação era parte integrante nesse processo.
Além disso, ressalta-se que o prefeito somente tinha a capacidade de satisfazer tais
demandas populares devido aos vultosos recursos oriundos do Programa Cidades de Porte
76 Montes Claros, Jornal do Norte, 25/01/1987, p. 3
77 Ata da Reunião da Câmara Municipal, 24/03/1987.
78 Montes Claros, Jornal do Norte, 25/03/1987, p. 4
124
Médio, que, inclusive, em suas diretrizes era autoritário e centralizador, determinando ao
poder executivo a prerrogativa exclusiva para a sua gestão. (FERREIRA, 2002) Porém, tais
práticas permaneceram além do Programa Cidades de Porte Médio, e se intensificaram na
medida em que as eleições se aproximavam, pois foi veiculada notícia na imprensa da época,
em julho de 1987, de que o prefeito recomeçaria “reuniões com o povo, para elaboração do
orçamento do ano que vem”. 79Portanto em 1988, foi o ano em que aconteceria a sua
sucessão.
A partir desta semana começam a acontecer as reuniões envolvendo o
prefeito Luiz Tadeu Leite, secretários municipais e moradores dos bairros.
O objetivo é discutir o orçamento do ano que vem (...) Como acontece todo
ano, o prefeito procura ouvir das comunidades suas principais
reivindicações, para que na montagem do orçamento para o ano seguinte
seja(sic) priorizada as principais necessidades do município. A pretensão de
Tadeu Leite é percorrer todos os bairros de Montes Claros e ouvir dos
moradores suas reivindicações (...) Conforme ficou estabelecido a primeira
fase do programa acontecerá nesta quinta-feira quando o prefeito fará uma
visita ao bairro Santos Reis. Ainda neste mês acontecerão reuniões
envolvendo a prefeitura e a comunidade nos seguintes bairros: sexta-feira
próxima, Major Prates: dia 27, Delfino Magalhães: dia 28 – São Judas
Tadeu; dia 29 – Bairro de Lourdes.80 (grifos nossos)
Assim, quando a população conseguiu o acesso direto ao chefe do poder executivo
municipal para reivindicar suas demandas, ele tinha efetivamente os recursos para atendê-los.
Nesse sentido, pode-se considerar que o papel daqueles que possuíam caráter mediador fora
profundamente afetado, em especial o dos vereadores, aliados ou não ao prefeito, que se
enfraqueceram nessa movimentação.
Ainda sobre a questão, é sintomático, inclusive, que o noticiário afirmasse que se
iniciarão “as reuniões envolvendo o prefeito (...), os secretários (...) e os moradores dos
bairros”, sem nenhuma menção aos vereadores ou às associações comunitárias. Com efeito,
dessa medida, haverá uma ampla renovação dos quadros da Câmara Municipal.
Especialmente afetados, nesse processo, foram os vereadores vinculados a entidades
populares. Os que eram líderes comunitários perderam a sua capacidade mobilizadora, e
aqueles ligados ao movimento sindical se viram envoltos nas disputas internas em que os
79 Montes Claros, Jornal do Norte, 21/07/1987, p. 3
80 Montes Claros, Jornal do Norte, 21/07/1987, p. 03
125
partidos esquerdistas se encontravam. Novamente, Oliveira (2000) demonstra bem essa
movimentação, ao afirmar que com a ascensão do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro “os interesses dominantes não se representam apenas nos partidos tradicionais” e
em relação aos movimentos populares de oposição “há um deslocamento, ao final (...) para o
Partido dos Trabalhadores. (OLIVEIRA, 2000, p. 175)
A movimentação petista ocorre em todo o Norte de Minas Gerais, principalmente
através da Central Única dos Trabalhadores (CUT), cuja principal base para tal articulação se
encontrava em Montes Claros, além disso, conta com o apoio efetivo de movimentos de
pastorais católicas que anteriormente se alinhavam ao projeto peemedebista local.
Através da Fetaemg, CUT e participação da Pastoral da Terra, foi fundado
em Riacho dos Machados o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Já foram
sindicalizados mais de 500 trabalhadores. Conforme Alvimar Ribeiro dos
Santos, presidente da CUT em Montes Claros, após a sindicalização foi
eleita diretoria por unanimidade com seis membros.81
Além da participação petista também se encontram referências sobre a participação do
PCB e do PCdoB no movimento social montesclarense, tendo o primeiro, maior participação
no movimento sindical, já o segundo, realizou ações voltadas ao movimento estudantil.
Inclusive, serão desses segmentos que sairão as candidaturas desses partidos ao legislativo
municipal. (GUIMARAES, 1997)
Ainda registra-se que, além do aumento da intensidade da participação de outros
partidos nos movimentos populares, as movimentações nacionais e estaduais do PMDB
também teriam seus reflexos concretos no âmbito do diretório local deste partido. O
antagonismo entre “novos” e “históricos” que, conforme já foi dito, ocorreu nacionalmente, e
também teve sua expressão do ponto de vista local, fez com que setores do diretório
estivessem envolvidos em conflitos públicos e permanentes. Para esclarecer, esses conflitos
entre os pemedebistas se deram entre os próprios vereadores, entre estes e o poder executivo,
e entre outros membros do diretório local, em disputas inclusive contra representantes do
governo estadual.
Dentre os casos mais marcantes dessas disputas desponta a formação de um bloco
entre parte dos vereadores peemedebistas, que afrontavam permanentemente a administração,
81 Montes Claros, Jornal do Norte, 31/01/1986, p. 03
126
e as críticas públicas feitas pelo presidente do diretório local ao governo estadual de Newton
Cardoso, eleito em 1986 pelo PMDB, que foram devidamente rebatidas por membros do
secretariado mineiro.
Em relação às posições de conflito entre os vereadores e o prefeito, o próprio Tadeu
afirmou que havia sido formado um “grupo de pressão” dentro da própria bancada do seu
partido, e afirmou ainda que o principal responsável por isso era seu correligionário Marco
Antônio Pimentel, que, conforme o ex-prefeito, “está seguindo interesses que não sei quais
são, e nem de quem são”.82
O grupo, que já expressava seu descontentamento abertamente desde 1986, ainda
contava com o sindicalista José Paulo Gomes, o líder comunitário Osmar Pereira e a
professora Maria Aparecida Bispo, que efetivamente viria a se desligar do partido, assim
como Pimentel, ambos aderindo à oposição83. Apesar de já haver indícios de insatisfação
desde a primeira metade do mandato, como quando o vereador Osmar Pereira afirmou que a
“na prefeitura reúne-se muito, fala-se muito, mas realiza-se muito pouco”84, as ameaças de
rompimento somente se amplificam em sua segunda metade .
Nessa ocasião, Pereira critica o fato de apesar de ter reiteradamente solicitado ações da
prefeitura em relação à falta de água, o executivo preferiu “instalar ali um subcentro
comunitário, de resultado não se sabe quais”, numa demonstração concreta da ausência de
força do representante institucional, o que seria uma das características do populismo, como já
exposto.85
Curiosamente, quem viria a público demonstrar sua lealdade ao prefeito, apontando a
existência de um grupo querendo “desestabilizar o governo Tadeu”86 seria o vereador Carlos
Pimenta, eleito pelo PDS, e o único vereador reeleito entre aqueles vitoriosos na legislatura
anterior, e que havia recentemente se filiado ao PMDB, enquadrando-se claramente, no
82 Montes Claros, Jornal do Norte, 04/03/1987, p. 01
83 Montes Claros, Jornal do Norte, 04/08/1988, p. 03
84 Montes Claros, Jornal do Norte, 27/01/1984, p. 03
85 Montes Claros, Jornal do Norte, 27/01/1984, p. 03
86 Montes Claros, Jornal do Norte, 16/04/1987, p. 3
127
contexto local, no chamado grupo dos “novos”, em oposição àqueles “históricos” eleitos pela
sigla em 1982.
A questão da oposição entre “históricos” e “novos” também será evocada por João
Avelino, presidente do diretório local do PMDB e secretário municipal de Administração. As
críticas de Avelino ao governo estadual tiveram início devido às mudanças que foram
realizadas em cargos que atuavam na região, ao afirmar que “estava bastante surpreso e
chocado com essas articulações”, e que “o governo de seu próprio partido promovia
perseguições”.87
Sobre a questão, o secretário estadual para Assuntos Municipais, Nilberto Moreira,
tomou a frente na defesa do governador e afirmou que, além de não o considerar mais do
PMDB, desejava o “ver pelas costas o mais rápido possível”, tendo como resposta de Avelino
que ele, diferentemente de Moreira, era “da época em que lutávamos contra o regime militar e
poucos eram os que se diziam pertencentes às fileiras emedebistas”88.
Cabe destacar que acerca deste conflito, mesmo tendo o prefeito desautorizado
Avelino de falar em nome da administração, em suas críticas, ele buscou conciliar, apelando
para o “reentendimento”, e o manteve secretário, apesar da divergência.89
A atuação de Luiz Tadeu Leite, nesse conflito, daria a tônica de sua atuação nos
demais, buscando o entendimento e visando a unidade do partido no pleito de 1988, que,
inclusive, teria vários pleiteantes ao posto de candidato a prefeito. Sobre essa questão, o
prefeito teorizou, apresentando as diferenças entre união do partido e unidade partidária
“A união que seria o ideal para todo mundo é aquela situação em que todos
têm a mesma posição, se isto for difícil vamos tentar a unidade partidária,
que é aquela em que, havendo opiniões diferentes, alguns abrem mão de
alguma coisa em benefício do partido. Isto, pelo menos vamos assegurar,
pois para vencermos as eleições municipais, é preciso que todos tenhamos o
mesmo ideal.” 90
87 Montes Claros, Jornal do Norte, 28 e 29/03/1987, p. 01
88 Montes Claros, Jornal do Norte, 30/09/1987, p. 07
89 Montes Claros, Jornal do Norte, 29/09/1987, p. 01
90 Montes Claros, Jornal do Norte, 19/08/1987, p. 01
128
Dessa forma, buscando sempre unificar o grupo em torno do projeto de manter a
administração municipal nas mãos do partido, o prefeito assume a condução de suas
articulações, visando às eleições municipais, e mantendo-se na situação de liderança
carismática que governa sob a égide do populismo. Dessa maneira, demonstrava que a
unidade se dava em torno de si, e afirmava que “quem não estiver conosco, fica fora do nosso
esquema”, pois “não podemos beneficiar aqueles que não estão com a gente”, ainda que
“alguns vereadores estão apavorados com a possibilidade de não se reelegerem em 1988”,91 já
diagnosticando a perda de representatividade de alguns dos parlamentares, devido ao modus
operandi do seu governo.
Esse processo, que seria liderado por Luiz Tadeu Leite, tinha como principal ação a
definição do nome que se candidataria a sucedê-lo no paço municipal. O partido tinha em
1987, principalmente, três pré-candidaturas às eleições municipais de 1988, que eram o ex-
secretário de governo da administração municipal, Heliomar Valle da Silveira, o ex-presidente
do poder legislativo, vereador José Nardel, e o então vice-prefeito, o médico Mário Ribeiro da
Silveira.
Heliomar manteve por poucos meses sua pré-candidatura, sempre recorrendo ao
discurso de que pleiteava a posição, mas somente levaria o projeto adiante com o apoio
expresso do prefeito, pois “hoje (...) ele é o maior político da cidade”92. Porém, apesar do
apelo eminente, o apoio não ocorreu, e o ex-secretário abandonou a disputa.
Assim, mantiveram-se pleiteando o posto de candidato, a partir da segunda metade de
1987, apenas o vereador José Nardel e o vice-prefeito Mário Ribeiro. Nardel possuía um
passado semelhante ao do prefeito Luiz Tadeu Leite. Assim como ele, também não era
oriundo de famílias tradicionais, era radialista e possuía um vínculo passado com movimentos
comunitários e populares, tendo inclusive iniciado sua carreira no rádio apresentando o
programa “Atualidades Circulistas”, que falava das ações do “Círculo Operário dos
Trabalhadores Cristãos”, e, assim como Tadeu, também fora o vereador mais votado da
cidade na sua primeira eleição. (GUIMARÃES, 1997, pp. 229-230)
Nardel chegou inclusive a realizar, em agosto de 1987, um evento de “lançamento” de
sua candidatura ao cargo de prefeito em 1988. O vereador, porém, diferentemente de 91 Montes Claros, Jornal do Norte, 19/08/1987, p. 01
92 Montes Claros, Jornal do Norte, 17/01/1987, p. 04
129
Heliomar, não buscou amparar sua candidatura na figura do prefeito, mas no âmbito do
coletivo partidário, afirmando que essa “candidatura não é minha, ela vem sendo feita por
companheiros do partido”. 93 Tal atitude era inclusive uma resposta, pois, naquele momento,
já parecia que o tal “esquema” que o prefeito havia falado tinha nome e sobrenome, Mário
Ribeiro. Desde abril de 1987, o prefeito, apesar de afirmar que o nome não estava definido,
dava pistas de que seu preferido seria o seu padrinho e vice- prefeito, o médico Mário Ribeiro,
e ainda, buscando se antecipar a movimentos como o de Nardel, afirmava: “tem gente fazendo
jogo duplo dentro do PMDB, e querem (com isso) prejudicar o Mário”.94
A partir de posições como essa, oriundas do chefe do executivo, a pré-candidatura de
Nardel foi se esvaziando dentro do PMDB. Contudo, na mesma medida em que terminou,
iniciou-se a pré-candidatura de sua esposa, a educadora Marina Queiroz, que efetivamente
saiu candidata à prefeita, em 1988, pelo Partido Democrático Trabalhista, que tinha em
Brizola e Darcy Ribeiro, irmão de Mário, seus principais expoentes nacionais.
(GUIMARÃES, 1997)
A candidatura de Marina inclusive se gestou em uma autodenominada “Frente
Oposicionista”, que reunia, além de seu partido, o PFL de Jairo Ataíde, o Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) e o Partido Liberal. Marina, nessa frente, pleiteou a vaga na chapa como
candidata a vice-prefeita, e advogou o nome do fazendeiro e também pefelista Roberto
Amaral como cabeça de chapa. Porém, a partir do momento em que a “Frente Oposicionista”
aprovou o nome de Ataíde e do então deputado Milton Cruz, que havia sido eleito tanto para
vereador em 1982, quanto para a Assembleia Legislativa mineira em 1986, pelo PMDB, para
representarem o grupo como candidatos a prefeito e vice, Marina se desligou da campanha a
vice-prefeita, e o PDT homologou sua candidatura à chefia do executivo municipal.95
Dessa forma, a convenção do PMDB cumpria uma profecia feita pelo próprio Mário
Ribeiro, que afirmou, ainda em julho de 1987, que “convenção é para homologar e não para
escolher”.96 O próprio momento de definição da chapa liderada por Ribeiro, tendo como vice
93 Montes Claros, Jornal do Norte, 18/08/1987, p. 01
94 Montes Claros, Jornal do Norte, 30/04/1987, p. 01
95 Montes Claros, Jornal do Norte, 01/07/1988, p. 01
96 Montes Claros, Jornal do Norte, 18 e 19/07/1987, p. 01
130
o ex-deputado Pedro Narciso, para a sucessão de Tadeu Leite, ocorreu no gabinete do
prefeito.97
A chapa pemedebista formada para a sucessão de Tadeu Leite, com Mário Ribeiro e
Pedro Narciso, era por si só uma demonstração da diminuição da representatividade dos
setores populares no grupo governista, pois, sem entrar no mérito das posições ideológicas de
ambos, e reconhecendo que os dois são oriundos do antigo MDB, é incontestável o fato de
que os dois fizeram parte da elite política e econômica do município, desde antes da vitória
peemedebista, sendo ambos, inclusive, donos de grandes fazendas, o que representava uma
alteração no perfil socioeconômico da chapa majoritária do partido, em relação ao pleito de
1982. (OLIVEIRA, 2000) É o que comprova o fragmento a seguir:
Afora as atividades desenvolvidas no exercício da medicina, Mário teve
participação muito ativa na sociedade. Foi diretor do Montes Claros Tênis
Clube, ajudou a construir o Estádio João Rebello, foi presidente da
Associação Desportiva Ateneu, participou financeiramente da construção da
praça Coronel Ribeiro, Presidente do Automóvel Clube de Montes Claros,
primeiro presidente do Frigonorte – Frigorífico Norte de Minas S/A, um dos
criadores do Posto Médico do IPASE em Montes Claros (...) Foi assessor da
Fundação Norte Mineira de Ensino Superior e patrono do diretório
acadêmico da Faculdade de Medicina do Norte de Minas. De 1958 a 1962
foi vereador em Montes Claros. Em 1962 foi candidato a vice- prefeito na
chapa do Partido Republicano, nas eleições em que saíram vitoriosos o Dr.
Pedro Santos, para prefeito, e Luis de Paula Ferreira para vice. (grifos
nossos) (GUIMARÃES, 1997, p. 285)
Essa alteração no perfil socioeconômico da chapa do PMDB, se afastando daquela que
seria sua principal base social, foi um fato destacado inclusive por Jairo Ataíde, que afirmou
que os dois candidatos eram fazendeiros igual a ele, e completou dizendo que “meu medo era
sair Mário e João Avelino, porque assim a candidatura deles teria realmente uma fachada de
povão, o que agora ficou descaracterizado”.98As referências feitas por Ataíde quanto ao perfil
socioeconômico da chapa peemedebista seriam recorrentes, conforme atesta seu depoimento:
“não sou como o candidato do PMDB, que está escondido até hoje na toca e
se protege sob o manto do “mentirão”. Do candidato que está dizendo que é
pobrezinho, mas toda Montes Claros sabe que é dono da maioria dos lotes da
Avenida Sanitária, do candidato que é dono dos cinemas de Montes Claros,
97 Montes Claros, Jornal do Norte, 29/07/1988, p. 01
98 Montes Claros, Jornal do Norte, 04/08/1988, p. 03
131
do candidato do PMDB que é fazendeiro como eu, a quem o povo deve
perguntar como ele adquiriu a sua fazenda”. (grifos nossos) 99
Cabe frisar ainda que esta eleição teve mais duas candidaturas, que na época foram de
menor expressão: o do veterano ex-prefeito Pedro Santos, que, em 1988, já tinha 74 anos e
candidatou-se pelo pequeno Partido Social Cristão; e a do advogado petista Luis Chaves,
mantendo a estratégia petista de lançar candidaturas próprias na década de 1980. Porém o
antagonismo maior foi efetivamente entre Mário Ribeiro (PMDB) e Jairo Ataíde (PFL), como
as próprias urnas iriam demonstrar.
E o antagonismo ao PMDB era novamente liderado pelos grandes fazendeiros de
Montes Claros. O apoio dos fazendeiros à candidatura de Jairo Ataíde era extremamente
evidente, apesar de não oficial, como frisado pelo então presidente da União Democrática
Ruralista (UDR), Alexandre Vianna, que afirmava que o “apoio virá, mas dos filiados e não
da UDR”.100 Tanto era assim que o anúncio público da candidatura de Ataíde se deu nas
festividades do aniversário da cidade, durante a tradicional Exposição Agropecuária, que fora
inclusive financiada por recursos da prefeitura, episódio que obviamente gerou protestos de
membros do secretariado municipal.
Prefeitura repudia benefício a Jairo Ataíde na Exposição – A liberação do
parque de exposições para colocação de faixas do candidato da Frente de
Oposição, Jairo Ataíde, foi considerada pelo secretário municipal Hamilton
Trindade como um desrespeito aos ruralistas, aos outros políticos e ao
público em geral que paga pra freqüentar a XVII Exposição Agropecuária. A
prefeitura, segundo o secretário, fez um acordo com o presidente da
Sociedade Rural, Antonio Bessa, que é contra o cunho político-partidário
que a festa está tomando, e este não foi cumprido por causa de uma facção
da Sociedade Rural. Hamilton Trindade lamentou o fato de a programação
do dia 3 de julho ter “sido tomada da prefeitura” quando por tradição a
municipalidade banca e organiza a festa, independente de política. A
colocação de faixas de Jairo Ataíde, sem que outros candidatos tivessem o
mesmo beneficio, gerou protestos e acabou ficando aberto a todos os
candidatos que quiserem se anunciar no parque de exposições. Também o
fato de Antônio Dias ter tecido critica ao prefeito e a paralisação do “show”
de Sidney Magal para que Jairo Ataíde anunciasse sua candidatura não
agradou a prefeitura (...). O presidente da Rural, Antônio Bessa, foi isentado
de qualquer culpa, pelo cunho político partidário que a festa tomou.101
99 Montes Claros, Jornal do Norte, 11/09/1988, p. 03
100 Montes Claros, Jornal do Norte, 04/08/1988, p. 03
101 Montes Claros, Jornal do Norte, 06/07/1988, p. 01
132
Se a candidatura do PFL buscou o amparo de seus tradicionais aliados, também o
PMDB construiu toda a sua campanha sob o mote de ser a “chapa do povo de Montes
Claros”, provocando antagonismo com a outra que seria a de elite, reconstruindo o viés da
disputa ocorrida em 1982.102 Durante a campanha, essa referência foi recorrente, e em todos
os momentos as lideranças peemedebistas ressaltavam o seu caráter popular frente ao elitista
do grupo liderado por Jairo Ataíde.
Esse discurso fora compartilhado pelas três principais lideranças peemedebistas. Os
candidatos Mário Ribeiro e Pedro Narciso, apesar de terem status econômico semelhante ao
de Ataíde, sempre faziam questão de destacar o mesmo tom popular de discurso que fora
empregado pelo prefeito Luiz Tadeu Leite em toda a sua carreira política. Como prova disso,
por exemplo, pode-se aludir ao fato que, durante o lançamento oficial de sua candidatura,
Mário Ribeiro afirmou que a candidatura de Jairo Ataíde representava “a força de um grupo
que sempre dominou as classes menos favorecidas.”103 E foi além, em comício realizado no
bairro São Geraldo disse que “nós aqui somos o povo organizado, e vamos provar que a
verdadeira democracia é o voto do pobre”, e continuou: “vamos provar que o voto do pobre
tem o mesmo valor do voto do rico, do voto dos bacanas.”104 (grifos nossos)
Com essas atitudes, da mesma maneira como ocorreu em 1982, quando Luiz Tadeu
Leite era um jovem vereador que buscava ampliar sua credibilidade, ao se amparar no
veterano médico Mário Ribeiro, agora era a vez de Ribeiro, que buscava se comparar a Tadeu
como homem do povo. Para atingir a seu propósito, ainda frisava, recorrentemente, que os
feitos da administração foram possíveis através do seu trabalho e de sua relação com o
prefeito. A esse respeito, vejamos o depoimento: “nós faremos um governo melhor que o de
Tadeu, por que ele pediu, e acima de tudo porque aprendemos a governar com ele”. E disse
mais: “antes de Tadeu Leite não havia um dentista, hoje temos quarenta, e eu e Tadeu ainda
vamos colocar mais”, e ainda questionou: “Qual o prefeito que deu lotes em Montes Claros?
(...) Só o governo de Tadeu Leite, e vamos fazer mais do que isso, porque foi uma exigência
102 Montes Claros, Jornal do Norte, 30/08/1988, p. 03
103 Montes Claros, Jornal do Norte, 30/08/1988, p. 01
104 Montes Claros, Jornal do Norte, 30/08/1988, p. 03
133
dele”. Por fim, completou: “todos juntos nós venceremos novamente, porque o povo quer um
governo do tipo Tadeu Leite”. 105
Já o candidato à vice, Pedro Narciso, no mesmo comício no bairro São Geraldo,
afirmou que “este pessoal que sempre mandou na cidade está de volta, querendo enganar o
pobre”, e ainda acrescentou: “perguntem a eles o que fizeram por nossa gente, por nossos
bairros, por nossos companheiros pobres que moram nas favelas”.106 (grifos nossos) Ainda
Narciso, em outro comício, chegou a afirmar que se Jairo Ataíde precisasse ir ao bairro
Independência precisaria ser acompanhado por um “guia turístico”.107. Além disso, ele
também utilizou da relação populista do prefeito com a população para garantir o caráter
popular da chapa, dizendo que “o povo dirigiu a prefeitura através do braço firme de Luiz
Tadeu Leite”.108
Apesar da veemência desses depoimentos, quem executou mais frequentemente esse
discurso foi Luiz Tadeu Leite, inclusive pelo fato de ser quem melhor o incorporava, por tudo
que desenvolveu ao longo dos seis anos em que foi prefeito, período em que definitivamente
criou mecanismos de diálogo direto com a população, o que, sem dúvida, fortaleceu a sua
liderança no contexto populista.
Luiz Tadeu Leite mantinha a mesma linha do discurso que o elegera em 1982 e com o
qual governou durante o período, afirmando ser ele e seus aliados os legítimos homens do
povo, já, seus adversários eram os grandes latifundiários que governam a despeito do interesse
popular. A referência aos adversários como latifundiários e representantes dos grandes
fazendeiros e, portanto, inimigos do interesse popular, era constante.
Em uma dessas referências, o prefeito afirmou que “dinheiro pode comprar vaca e boi,
mas não compra a consciência das pessoas”.109Além disso, ele acusou diversas vezes o
candidato Jairo Ataíde, no exercício do cargo de presidente da COOPAGRO, jogar “o excesso
de leite fora”, ao invés de “dar um litro sequer aos pobres”, apenas para especular o seu preço.
105 Montes Claros, Jornal do Norte, 04/09/1988, p. 03
106 Montes Claros, Jornal do Norte, 30/08/1988, p. 03.
107 Montes Claros, Jornal do Norte, 16/09/1988, p. 03
108 Montes Claros, Jornal do Norte, 14/09/1988, p. 04
109 Montes Claros, Jornal do Norte, 16/09/1988, p. 03
134
E, por fim, construía como centro de sua estratégia a reafirmação de seu caráter de homem do
povo, diferentemente de seus adversários:
“Eu quero o apoio de vocês para o Mário Ribeiro, por isso estou vindo aos
bairros. E eu tenho peito de vir aos bairros, pois nós cumprimos o que
havíamos prometido. Eu não tenho ligação com os ricos, com os poderosos
que estão querendo me achincalhar. Vocês nunca viram um prefeito realizar
tantas obras e ser tão achincalhado como acontece comigo. Está é a
estratégia deles, querendo enganar o povo. Eles me classificam até de
moleque de camiseta, simplesmente porque eu uso roupas simples. Vou
continuar assim porque o povo que está comigo também é muito simples.
Esse pessoal que tá lá querendo mandar na cidade novamente, é formado por
latifundiários, e muitos deles até contrataram jagunços para escorraçar o
homem pobre do campo. Eles já tomaram o campo, e agora querem tomar a
cidade. É no linguajar deles o campo e a cidade juntos. Na verdade, eles
querem é mandar na cidade, como acontece no campo, onde estão pisando e
espoliando o pobre”.110 (grifos nossos)
Tadeu, dessa forma, seria a antítese desse grupo e a prova de que para ser prefeito não
era necessário ter “pança, dinheiro, nome, sobrenome importante, ou ter careca”, pois “o povo
vota em quem ele confia”.111
Jairo Ataíde, por sua vez, além de buscar identificar Ribeiro e Narciso como
fazendeiros, assim como ele, centrou sua estratégia em buscar descontruir o prefeito como
homem do povo, tentando demonstrar que era Tadeu que dispunha do poderio econômico,
pois havia se tornado um homem de posses de maneira ilícita, com recursos da prefeitura.
“Tadeu fez muito para a cidade, mas fez muito mais para si próprio”, pois, segundo o
candidato do PFL, o prefeito possuía “uma casa no melhor bairro da cidade, sítio para
reuniões políticas, carro do ano. Será que ele conseguiu tudo isso com o salário de prefeito?”.
Todavia, a estratégia de Jairo esbarrava no amplo “esquema”, conforme palavras do
próprio prefeito, construído ao longo dos seis anos de mandato, que garantia a capilaridade da
candidatura peemedebistas em todos os cantos da cidade, o que fora fundamental para a
vitória de Mario Ribeiro e Pedro Narciso nas eleições municipais de 1988, com a expressiva
votação de 51.797 votos, em um universo de pouco mais de 111 mil eleitores e que
representou 56,96% dos votos válidos. Jairo Ataide (PFL), por sua vez, obteve 29211 votos
110 Montes Claros, Jornal do Norte, 30/08/1988, p. 03
111 Montes Claros, Jornal do Norte, 04/09/1988, p. 03
135
(32,12% dos votos válidos), Marina Queiroz(PDT) recebeu 6518 votos(7,16% dos votos
válidos), Luiz Chaves foi escolhido por 2253 eleitores(2,47% dos votos válidos) e o veterano
Pedro Santos teve apenas 1153 votos(1,26% dos votos válidos).112
O “esquema”, contudo, não incluía os vereadores que deram suporte à vitória de Luiz
Tadeu Leite em 1982 e que foram sua sustentação no poder legislativo municipal.
Rigorosamente, todos os vereadores oriundos dos movimentos populares que haviam sido
eleitos no pleito anterior não conseguiram suas reeleições, apesar de estarem ligados a um
prefeito que chegou a atingir mais de 90% de aprovação popular. (GUIMARÃES, 1997)
Se em 1982 apenas o PMDB e o PDS elegeram vereadores, em 1988 seis diferentes
partidos conseguiram garantir representação no poder legislativo municipal. O PMDB se
manteve com a maior bancada, elegendo 7 vereadores, o PFL se tornou a segunda maior
bancada, com 4 representantes, seguido por PTB e PDT, ambos com três, e PL e PDS se
fariam representados por um vereador cada.
TABELA 2 – Vereadores eleitos em 1988
Vereador Partido votação profissão
Carlos Welth Pimenta do Figueiredo PMDB 1.663 Médico
Gilberto Wagner Martins Pereira Antunes PMDB 1.519 Administrador
Jorge Tadeu Guimarães PMDB 1.445 Zootecnista
Tancredo José dos Santos Macedo PFL 1.272 Médico/Fazendeiro
Eduardo Avelino Pereira PFL 1.165 Médico/Fazendeiro
Édison Alves Martins PTB 1.017 Médico
Manoel Soares Lopes PMDB 991 Cartorário
Ivan José Lopes PMDB 968 Médico
José Correa Machado PL 950 Arquiteto/Empreiteiro
112 Dado obtido através de consulta feita a [email protected], em 27/03/2014.
136
Artur Luiz Pereira Leite PMDB 934 Jornalista
Marlene Tavares Cardoso PMDB 931 Professora
Benedito Paula Said PTB 896 Jornalista
Cláudio Pereira PFL 818 Médico/Fazendeiro
José Gonzaga Pereira PTB 809 Funcionário publico
José Geraldo de Oliveira PFL 664 Dentista
Aurindo José Ribeiro PDT 584 Chefe de Departamento
pessoal de Industria
Edmar Pereira Santos PDS 573 Microempreendedor
José Hélio Guimarães PDT 549 Médico
Gilmar Ribeiro dos Santos PDT 541 Microempreendedor
FONTES: TRE-MG, consultado através de [email protected] em 27/03/2014,
OLIVEIRA 2000; GUIMARÃES 1997
Nesse novo cenário criado pelas urnas nas eleições de 1988, apenas três vereadores
eleitos seis anos antes conseguiram novamente o mandato popular, que foram Carlos Pimenta,
que em 1982 já havia conseguido o feito de ser o único reeleito da legislatura anterior, agora
já convertido ao peemedebismo, assim como Manoel Soares Lopes, que também tinha sido
eleito na disputa anterior, pelo PDS, e o oposicionista Claudio Pereira, que se não estava no
mesmo partido (em 1982 fora eleito pelo PDS) pelo menos se mantinha nas fileiras da
oposição a Luiz Tadeu Leite. (GUIMARÃES, 1997)
Dessa forma os poderes institucionalizados, executivo e legislativo, em Montes Claros
retornam a um perfil socioeconômico e político semelhante ao anterior a 1982, com a
prefeitura chefiada por um fazendeiro e o parlamento com presença reduzida de
representantes efetivamente oriundos dos estratos populares.
137
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou demonstrar que a eleição de 1982 representou um marco
no processo político local em Montes Claros (MG), a partir da eleição de vários elementos
estranhos à elite local para os cargos representativos, todavia esses não permaneceram no
pleito seguinte, em 1988.
Pelo exposto, não é a pretensão deste trabalho de dissertação encerrar essa discussão.
Pelo contrário, o objetivo é apresentar contribuições para a discussão desse rico período que é
a década de 1980, momento em que Montes Claros e todo o país passavam por significativas
transformações.
Montes Claros sempre possuiu uma forte tradição de lideranças vinculadas à grande
fazenda, o que é fruto de seu desenvolvimento histórico, visto que o processo de povoamento
se deu a partir da criação de gado. (COSTA, 1997) A partir desse processo, a elite
agropecuária dominou o cenário político local, e transformou o processo eleitoral em uma
disputa intraclasse, no qual, independentemente de quem fosse o vencedor, os fazendeiros se
manteriam no poder e seus interesses seriam priorizados, em detrimento de outros interesses
de outras classes.
Sem dúvida, esse processo gerou uma permanência de coronéis durante 150 anos à
frente da chefia da municipalidade, que, amparados pelo que Oliveira (2000) denominou de
política de compromissos com a elite estadual, impediu o desenvolvimento da representação
de outros segmentos.
O mando dos coronéis perpassou regimes democráticos e ditatoriais, sendo poucas
vezes contestado. Eles (os coronéis), dispondo dos recursos públicos, foram se fortalecendo
de modo a, inclusive, chegar ao pleito de 1966, sem que ninguém ousasse se candidatar contra
a candidatura oficial da sua classe, que era a de um ex-presidente da Sociedade Rural, a
principal entidade de defesa dos interesses do setor. (OLIVEIRA, 2000)
Apesar disso, tal cenário começa a se modificar através do processo de urbanização
intensificado pelo advento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que trouxe
138
vários trabalhadores rurais para Montes Claros, seja pela expectativa do emprego, seja
principalmente pela expropriação de suas pequenas propriedades rural, o que foi possibilitado
pelo caráter autoritário do regime implantado a partir de 1964, que reprimia qualquer tentativa
de resistência. (OLIVEIRA, 2000)
Com efeito, a periferia da cidade foi amplamente ocupada por esses trabalhadores,
inicialmente desarticulada e desprovida de qualquer infraestrutura. Esse foi o cenário propício
para o crescimento da liderança do jovem radialista Luiz Tadeu Leite, que, articulado com os
incipientes movimentos e utilizando-se de um eficaz instrumento midiático que à época era o
rádio, conseguiu se credenciar como um porta-voz desse povo, o que o tornou aos 23 anos, em
1976, o vereador mais votado da história de Montes Claros. (GUIMARÃES, 1997)
O mandato do vereador Luiz Tadeu Leite não só se tornou um importante instrumento
de articulação e organização das camadas populares, através da luta classista do movimento
sindicalista e do movimento estudantil, como também possibilitou a criação de associações
comunitárias. Essas entidades da sociedade civil seriam o principal amparo de Tadeu Leite em
sua eleição para prefeito, em 1982, finalizando assim um longo ciclo de alternância entre
fazendeiros na chefia do poder executivo local.
Essa ligação do prefeito eleito em 1982, com esses movimentos, teria seu reflexo
também na eleição de vereadores ligados a essas entidades, o que tornaria a legislatura
iniciada nesse mandato atípica do ponto de vista socioeconômico dos parlamentares. A
eleição do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, do presidente Associação Comunitária
do Bairro Maracanã e da primeira mulher, que também era negra e professora de escola
pública, dentre outros, seria o exemplo evidente disso.
Contudo, se o mandato do vereador Luiz Tadeu Leite fora um importante instrumento
para a articulação e organização das camadas populares, o mesmo não se pode dizer do seu
mandato de prefeito. Ainda que seja verdade que o seu mandato como prefeito eleito, em
1982, tivesse proporcionado uma verdadeira mudança de prioridades, estabelecendo a
periferia como o seu centro, também é fato que isso ocorreu em detrimento das demais
instâncias representativas das camadas populares, o que proporcionou, em grande medida, a
derrota dos vereadores populares no pleito seguinte, em 1988.
A legislatura iniciada em 1983 foi marcada pelo populismo, entendido sob a ótica de
uma participação popular ampla, porém desarticulada, possibilitando inicialmente, pelos
139
amplos recursos oriundos do Programa Cidades de Porte Médio, que em sua essência foram
centralizador e autoritário, determinando as características que marcaram as relações do poder
executivo local.
Ações como o “Converse com o prefeito” e o “Projeto Mutirão” possibilitaram à
população o acesso direito ao gabinete do prefeito, o que, em grande medida, retirou a
representatividade dos vereadores populares. O povo não recorreu a estes, como
intermediários no processo decisório. Acrescenta-se a essas ações, outros fatores que
contribuíram para a diminuição da representatividade institucional popular como os vários
acenos que o chefe do executivo fez a setores da elite que haviam sido derrotados em 1982,
além das transformações que o próprio PMDB sofreu, após a sua chegada ao poder nacional,
com o ex-arenista José Sarney.
Tais acenos se concretizaram no próprio perfil da chapa peemedebista do município
lançada em 1988, composta por dois fazendeiros, demonstrando uma mudança de perfil,
quando comparada com a eleição anterior, que, de semelhante, teve o fato de o adversário ter
sido novamente um representante dos grandes fazendeiros, o ex-presidente da Cooperativa
Agropecuária. A eleição de dois fazendeiros pelo PMDB teria efeito claros, inclusive, após a
eleição, pois, segundo Guimarães (1997), o prefeito Mário Ribeiro e o vice Pedro Narciso, no
decurso da legislatura iniciada em 1989, iriam romper politicamente com Luiz Tadeu Leite e
se aliariam a Jairo Ataíde, apoiando o último contra o seu antigo aliado na disputa municipal
de 1992. Porém, esse assunto não faz parte dos objetivos que foram analisados por este
trabalho.
Da mesma forma, o novo perfil peemedebista iniciado no governo Sarney fez com que
outras agremiações, em especial o Partido dos Trabalhadores, se tornem o principal amparo
partidário dos movimentos populares organizados.
Já em Montes Claros, destaca-se novamente a compreensão de, a partir de toda a
pesquisa realizada, que o principal motivo para a diminuição da representatividade
institucional das camadas populares na última eleição municipal da década de 1980 fora o
populismo vigente na legislatura iniciada em 1983.
Face ao exposto, torna-se imperativo reiterar novamente que não é pretensão desta
dissertação encerrar este assunto, nosso propósito incide em apenas apresentar um novo ponto
140
de vista para um debate que ainda se faz atual, visto que alguns dos personagens aqui
retratados ainda, nos dias, atuais atuam efetivamente nas disputas políticas de Montes Claros.
141
REFERÊNCIAS
AARÃO REIS, Daniel. “O colapso do colapso do populismo ou a propósito de uma herança
maldita”. In: FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001
AARÃO REIS, Daniel. O Partido dos Trabalhadores – trajetória, metamorfoses,
perspectivas. Rio de Janeiro. UFF, 2007
ALVEZ, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984), Petrópolis, Vozes,
1985
BARROS, José Costa D´Assunção. A escola dos Annales: considerações sobre a história do
movimento. In: Revista História em Reflexão: vol. 4 n. 8, UFGD, 2010.
BRANDÃO, Gilvo Marçal. Hegel: o Estado como realização histórica da liberdade. In:
WEFFORT, Francisco (org) Coleção Clássicos da Política, volume II, organizada por
Francisco Wefford. Editora Ática, São Paulo, 2002
BRITO, Gy Reis Gomes. Montes Claros – da construção ao progresso 1917-1926. Montes
Claros. Ed. UNIMONTES, 2006
BOBBIO, Norberto. O marxismo e o Estado. Editora Graal, Rio de Janeiro, 1979.
BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo na história do pensamento político.
Brasília, Editora da UnB, 1980.
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política.
Brasília: UnB, 1986.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Ed. Bertrand, Rio de Janeiro, 2010.
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A Nova República: 1985-1990. São Paulo, edições CEP,
1993.
CARDOSO, Ciro F. Uma introdução à História. São Paulo. Brasiliense, 1981.
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História. Campus, Rio de
Janeiro, 1997.
CARONE, Edgard. Movimento Operário no Brasil (1964-1984). São Paulo: Difel,
1984.
142
CARVALHO, José Murilo de. Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo
Horizonte. Ed. UFMG, 2005
CASTRO, Jeanne Berrance de. A Milícia Cidadã: A Guarda Nacional de 1831 a 1850. São
Paulo: Nacional, 1977.
CELLARD, André. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa:
enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008.
CHAUÍ, Marilena de Souza. Raízes teológicas do populismo no Brasil: teocracia dos
dominantes, messianismo dos dominados. In: DAGNINO, Evelina (org.) Os anos 90: Política
e sociedade no Brasil, São Paulo: Brasiliense, 1994
COELHO, Roseli. Social democracia: formas e reformas. São Paulo: Humanitas, 2001.
CORBELLINI, Juliano. O poder como vocação: O PFL na política brasileira (1984-2002).
Porto Alegre. UFRGS, 2005
COSTA, Hélio da. Trabalhadores, sindicatos e suas lutas em São Paulo (1943 1953). In:
FORTES, Alexandre; NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, Fernando Teixeira da; COSTA, Hélio
da; FONTES, Paulo (Orgs).Na luta por direitos: estudos recentes em história social do
trabalho. Campinas: Unicamp, 1999
COSTA, Emilia Viotti. Da Monarquia a República: Momentos decisivos. São Paulo: Editora
da UNESP, 1999
COSTA, Emilia Viotti. Experiência versus estruturas. Novas tendências na história do
trabalho e da classe trabalhadora na América Latina – o que ganhamos? O que perdemos?
Unisinos, São Paulo, 2001
COSTA, João Batista de Almeida. Cultura Sertaneja: a conjugação de lógicas diferenciadas.
In: SANTOS, Gilmar Ribeiro dos. Trabalho, Cultura e sociedade no norte/nordeste de Minas.
Montes Claros. Best, 1997.
CHAUÍ, Marilena. Filosofia. Editora Ática, São Paulo, 2000
DOSSE, François. A história em migalhas. Dos annales à nova história. EDUSC, Bauru,
2003.
143
DELGADO, G. A questão agrária no Brasil: 1950-2003. In: RAMOS FILHO, L. O.; ALY
JÚNIOR, O. (Org.). Questão agrária no Brasil: perspectiva histórica e configuração atual. São
Paulo: INCRA, 2005
DELGADO, Lucília N. A; 1964; Temporalidades e Interpretações. In REIS, Daniel Aarão,
RIDENTI, Marcelo, MOTTA, Rodrigo Sá (orgs.). O golpe e a ditadura militar: quarenta anos
depois (1964-2004). Bauru, SP: Edusc, 2004
DELGADO, Tarcisio. A história de um rebelde: 40 anos, 1966-2006. Brasília. Fundação
Ulisses Guimarães, 2006.
DUARTE, Adriano; FONTES, Paulo. O populismo visto da periferia: adhemarismo e janismo
nos bairros da Moca e São Miguel Paulista, 1947-1953. Caderno AEL. Campinas: Unicamp,
v. 11, n. 20/21, 2004
DURKHEIM, Emile. Lições de sociologia: a moral, o direito e o estado. Martins Fontes, São
Paulo 2002.
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. Formação do patronato político brasileiro. Ed
Globo, São Paulo, 2000. FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2008.
FERREIRA, Jorge. O nome e a coisa: o populismo na política brasileira. In: O populismo e
sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001
FERREIRA, Marcelo Valmor: Cidade de Porte Médio e Populismo: Montes Claros, um
estudo de caso. Belo Horizonte, 2002.
FERNANDES, Florestan. As mudanças sociais no Brasil. In. IANI, O. (Org). Florestan
Fernandes. São Paulo: Ática, 1991.
FORTES, Alexandre. Formação de classe e participação política: E. P. Thompson e o
populismo. Anos 90. Porto Alegre: UFRGS, v. 17, n. 31, p. 173-195, jul. 2010.
FOUCALT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1984
FRANÇA, Iara Soares de. SOARES, Beatriz Ribeiro. A cidade média e suas centralidades: O
exemplo de Montes Claros no norte de Minas Gerais. Uberlândia. UFU, 2007
GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado Moderno. 4ª ed. Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1976.
144
GRUPPI, Luciano, O conceito de Hegemonia em Gramsci. Edições Graal, Rio de Janeiro,
1978.
GOMES, Ângela de Castro. “O populismo e as ciências sociais no Brasil: notas sobre a
trajetória de um conceito”. In: FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história: debate e
crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001
GOMES, Ângela de Castro. Reflexões em torno de populismo e trabalhismo. Vária História,
Belo Horizonte, nº 28, dezembro 2002, p. 55-68.
GOMES, José Paulo Ferreira. As eleições de 1982, uma virada histórica? Monografia
apresentada para a conclusão do curso de Ciências Sociais. Unimontes, 2003
GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. A esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta
armada. 5ª edição. São Paulo, Ática, 1998.
GUALBERTO, João. A invenção do coronel. Ed. UFES, Vitória, 1995.
GUIMARÃES, Jorge Tadeu. Faces do Legislativo. Montes Claros. Sociedade Editorial
Arapuim, 1997.
HOBBES, Thomas. O leviatã. Martins Fontes, São Paulo, 2003.
IANNI, Octavio. A formação do Estado populista na América Latina 2. Ed. São Paulo: Ática,
1989.
LACLAU, Ernesto. Política e ideologia na teoria marxista: capitalismo, fascismo e
populismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
LAMOUNIER, Bolívar. O voto em São Paulo, 1970-1978, in: Voto de desconfiança, São
Paulo, Símbolo, 1980,
LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978.
LÊNIN, Vladimir. Obras escolhidas em três tomos. Avante, Lisboa, 1979
LOCKE, Jonh. In: “Coleção Os pensadores”. São Paulo, Abril Cultural, 1973.
LOPES, Irineu Ribeiro: DO CAMPO PARA A CIDADE: Uma abordagem sobre a formação
da classe operária em Montes Claros-MG, no período de l960-1980. Montes Claros, 2012. (no
prelo)
KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de
Janeiro. Nova Fronteira, 2008.
145
JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. “O Coronelismo ainda é uma questão historiográfica?
Texto apresentado na mesa redonda: “Questões Interpretativas da República: Coronelismo,
Revolução e Populismo”, apresentado no Encontro Nacional da ANPUH, Belo Horizonte,
1997.
MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. The Federalist Papers. London:
Penguin, 1987.
MAINWARING, Scott. “Os movimentos populares de base e a luta pela democracia”. In:
Alfred Stepan (org.). Democratizando o Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 275-314.
MAINWARING, Scott. MENEGUELLO, Rachel e POWER, Timoty. Partidos conservadores
no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2000
MARX, Karl; ENGELS, Friederich. O Manifesto Comunista. Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra,
1999.
MATTOS, M.G.; ROSSETTO JÚNIOR, A.J.; BLECHAR, S. Teoria e prática da
metodologia da pesquisa: construindo sua monografia, artigo científico e projeto de ação.
São Paulo: Phorte, 2003.
MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processo. Porto Alegre, Artmed, 2004.
MENDONÇA, Daniel de. A vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral e a posição
política dos semanários. Veja e Isto É. Revista Alceu, v. 5 n.10 - p. 164 a 185 – jan/jun. PUC,
Rio de Janeiro, 2005.
MENEGUELLO, Rachel. Partidos e governos no Brasil contemporâneo (1985-1997). São
Paulo: Paz e Terra, 1998.
MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1963.
MOSCA, Gaetano. História das Doutrinas Políticas: desde a antiguidade. Rio de
Janeiro. Zahar, 1968.
NOBLAT, Ricardo. Céu dos favoritos: O Brasil de Sarney a Collor. Rio de Janeiro:
Rio fundo Ed., 1990.
LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978.
LOPES, Irineu Ribeiro. DO CAMPO PARA A CIDADE: Uma abordagem sobre a formação
da classe operária em Montes Claros-MG, no período de l960-1980. (no prelo), 2012.
146
OLIVEIRA, Eliézer Rizzo de. De Geisel a Collor: forças armadas, transição e democracia.
Campinas, Papirus, 1994,
OLIVEIRA, Evelina Antunes F. de. Nova cidade, velha política: poder local e
desenvolvimento regional na área mineira do Nordeste. Maceió. EDUFAL, 2000.
OLIVEIRA, Marcos Fábio Martins de. O processo de desenvolvimento de Montes Claros
(MG), sob a orientação da SUDENE. (1960-1980). (Dissertação). USP. São Paulo, 1996.
PEREIRA, Laurindo Mékie. A cidade do favor: Montes Claros em meados do século XX. Ed.
Unimontes. Montes Claros, 2002.
PEREIRA, Laurindo Mékie. Gramsci e a história política. In DIAS, Renato da Silva (org)
Repensando o Político. UNIMONTES, Montes Claros, 2012. (no prelo).
WEBER, Max. Economia e sociedade. UNB, Brasília, 1991.
PIRES, Murilo José, RAMOS, Pedro. O termo modernização conservadora: sua origem e
utilização no Brasil. In: Revista Econômica do Nordeste. Vol. 40 nº3, julho-setembro, 2009.
PITKIN, Hanna Fenichel. Representação: Palavras, Instituições e Ideias. Lua Nova. CEDEC,
São Paulo, n. 67, 2006
POMAR, Valter Ventura da Rocha. Comunistas no Brasil: interpretações sobre a cisão de
1962. São Paulo, 2000. (Dissertação de mestrado). USP
PORTELLI, Hugues.Gramsci e o bloco histórico. Tradução: Angelina Peralva. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1977
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. O Mandonismo local na vida política brasileira. São Paulo.
Institutos de Estudos brasileiros, 1969.
QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Marcia Gardênia
Monteiro de. Um toque de clássicos. Ed. UFMG, Belo Horizonte, 2002.
REIS, Geraldo Antonio dos. Algumas considerações sobre o processo de desenvolvimento
recente da região mineira do nordeste. In: SANTOS, Gilmar Ribeiro dos. Trabalho, Cultura e
sociedade no norte/nordeste de Minas. Montes Claros. Best, 1997.
ROMA, Celso. A institucionalização do PSDB. Entre 1988 e 1999. São Paulo: RBCS vol. 17
nún. 49 junho/2002
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Poder e política: crônica do autoritarismo brasileiro,
Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1978
147
SAMPAIO, Nelson de Souza. Eleições e Sistemas Eleitorais. Revista Eletrônica Paraná
Eleitoral (www.paranaeleitoral.gov.br). Escrito em abril de 1988. Acessado em 28/04/2012.
SALLUM Jr., Brasilio. Labirintos: dos generais à Nova República. São Paulo: Editora
Hucitec, 1996.
SILVA, Fernando Teixeira da; COSTA, Hélio da. “Trabalhadores urbanos e populismo: um
balanço dos estudos recentes”. In: FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história:
debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001
SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo (1964-1985). Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1988.
SOARES, Luiz Eduardo. Os dois corpos do presidente e outros ensaios. Rio de Janeiro:
Relume- Dumará, 1993.
STEINBERGER, Marília & BRUNA, Gilda Collet. Cidades médias: elos do urbano-regional
e do público-privado. In: ANDRADE, Thompson Almeida & SERRA, Rodrigo Valente
(orgs.). Cidades médias brasileiras. Rio de Janeiro: IPEA, 2001, p. 35-77.
ROCHEFORT, M. Redes e Sistemas: ensino sobre o urbano e a região. São Paulo, Hucitec,
1998.
RODRIGUES SALES, Jean. Entre o fechamento e a abertura: A trajetória do PC do B da
guerrilha do Araguaia à Nova República (1974-1985). História (São Paulo) [On-line] 2007,
26 (Sin mes) : [Data de consulta: 26 / julho / 2013] Disponível
em:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=221014798017> ISSN 0101-9074
ROLLEMBERG, Denise; Esquerdas revolucionárias e luta armada. In: DELGADO, Lucília
de Almeida Neves, FERREIRA, Jorge (Orgs.). O Brasil Republicano - O tempo da ditadura:
regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003.
ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do Político. Ed. Alameda, São Paulo, 2010.
SILVA, Maria Euzimar Berenice Rego. O Estado em Marx e a teoria ampliada do Estado em
Gramsci. Anais do 4º colóquio Marx e Engels. Unicamp, Campinas, 2005.
SOUZA, João Morais de. “Discussão em torno do conceito de coronelismo – da propriedade
de terra às praticas de manutenção do poder local”. In: Caderno Estudos Sociais, vol. 11, n 2,
jul/dez. Recife, 1995
148
THOMPSON, Edward P. A Miséria da Teoria, ou um planetário de erros. Uma crítica ao
pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
THOMPSON, Edward P. A Formação da Classe Operária Inglesa. (3vols.) Trad. Denise
Bottmann (vols. I e III); Renato Busatto Neto e Cláudia Rocha de Almeida (vol. II). São
Paulo, Paz e Terra, 1987
WEFFORT, F. O populismo na política brasileira. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989
WEFFORT, F. C. (org.). Os Clássicos da Política. São Paulo: Ática, 2006