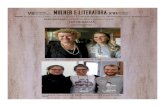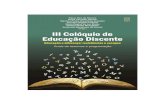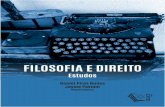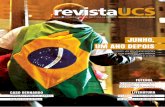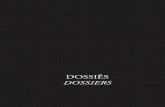UCS 2
-
Upload
thaynara-dias -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of UCS 2
-
7/23/2019 UCS 2
1/19
241Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
Unidades de conservao como estratgia de gesto territorial dosrecursos naturais
Conservation units as a territorial management strategy fornatural resources
Maria do Socorro Ferreira da Silva
Rosemeri Melo e Souza
Universidade Federal do Sergipe
Resumo: No Brasil, as Unidades de Conservao (UCs) so utilizadas enquanto meca-
nismos de gesto territorial para proteger os recursos naturais que restaram ao pas apsum intenso processo de depleo. Para compreender as relaes existentes nas UCs faz-se necessrio um resgate terico acerca da categoria de anlise geogrfica, o territrio,considerado como instrumento de exerccio de poder. Nessas relaes, observa-se oenvolvimento de atores inseridos nos espaos territoriais legalmente protegidos, gerandoo processo contnuo de territorializao-desterritorializao-reterritorializao. Aqui,prevalecem as relaes de poder estabelecidas pelos grupos dominantes nem funodas reas detentoras de maior biodiversidade mundial como o Brasil.
Palavras-chave: Biodiversidade. Unidades de conservao. Gesto territorial.
Abstract: Conservation Units (CUs) are tools for territorial management in Brazil toprotect natural resources that have been spared from the countrys intense process ofdepletion in the past. To understand the functioning of these Conservation Units it isnecessary to develop a theory that investigates analytically the geographical categoryof territory that is regarded as an instrument for the exercise of power. Here, the par-ticipation of actors can be observed in the continuous process of desterritorialization-territorialization-reterritorilization in spaces that are legally protected. In these spacespower relations are established by hegemonic groups that are controlling the areas ofthe greatest biodiversity in the world, as it is the case in Brazil.
Keywords: Biodiversity. Conservation units. Territorial management.
DOI: http://dx.doi.org/10.5212/TerraPlural.v.3i2.241260
-
7/23/2019 UCS 2
2/19
242
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
INTRODUO
O Brasil encontra-se no alto da lista depases detentores de maior biodiversida-
de mundial. Conforme Copabianco et al.(2002) at 2002, o pas abrigava cerca 10,8%de espcies de plantas com semente, 17,2%de mamferos, 15% de anfbios, e 10,7%de peixes de todo o mundo. Dentre essasespcies cabe ressaltar que muitas delasso endmicas, ou seja, so restritas a umadeterminada rea.
Notadamente, diante desse potencialde biodiversidade o pas passa a chamara ateno dos pases do Norte que neces-sitam de matria-prima para atender snecessidades da indstria da biotecnolo-gia. Dessa forma, polticas de conserva-o dos recursos naturais, tanto na esferainternacional como nacional, so criadasem funo dos territrios consideradoscomo megadiversos, os quais possuem
juntos cerca de 70% da diversidade bio-lgica mundial. Dessa forma, o pas tema responsabilidade de proteger vrias
de suas espcies, ecossistemas naturais eprocessos biolgicos que tornam o planetahabitvel.
Aps o reconhecimento das falhasapresentadas na utilizao dos produtosqumicos da indstria da agricultura e demedicamentos, a biodiversidade passa aser vista como fornecedora de matria-prima para suprir tais necessidades, assimcomo para a acumulao de capital conti-
nuada, e o controle sobre os mercados eos recursos naturais (SHIVA, 2005). Nessaanlise, fica evidente tanto o interesse dospases desenvolvidos em reservar parcelasdos territrios detentores de biodiversi-dade para interesses futuros. Assim, nose pode descartar a hiptese dessas UCsestarem sendo criadas como mecanismo dealienao do territrio, para mais adianteserem utilizadas com outros interessese no para as geraes futuras, como
propagado.Com relao ao capital interno, h evi-
dncias de que essas reas esto sendoreservadas para mais adiante atenderem as
necessidades do agronegcio, neste caso,como estoque de terras para o avano daatividade agrria.
Contudo, apesar da importncia dos re-cursos biofsicos, os impactos ambientais,como o desmatamento, as queimadas, acontaminao dos solos, do ar e dos recur-sos hdricos, colocam em risco a conserva-o dos ecossistemas naturais. Mesmo apsa criao de espaos territoriais protegidos,como as UCs, percebe-se a contnua deple-o desses ambientes. Nessa tica, pode-sedizer que o desenvolvimento humano dasociedade capitalista sem destruir a basebiolgica sem dvidas um grande de-safio que ser enfrentado no decorrer dosculo XXI.
No Brasil, os espaos territoriais demar-cados, com a funo de proteo dos recur-sos naturais e/ou culturais, as primeirasreas protegidas foram criadas em 1861, as
Florestas da Tijuca e das Paineiras. Em 1961a Floresta da Tijuca recebeu a denominaode Parque Nacional do Rio de Janeiro peloDecreto N 50.923, de 6/07/1961, e em 1967teve o nome alterado para Parque Nacio-nal da Tijuca pelo Decreto N 60.183, de8/02/1967 (BRASIL, 2004). Apesar dessapreocupao com a proteo dos recursosnaturais a primeira UC foi instituda le-galmente apenas em 1937, sob forma de
Parque Nacional.Num contexto histrico, as reas deproteo do pas passaram por momentosdistintos, tendo como marco a criao doCdigo Florestal em 1934. Atualmente osespaos protegidos encontram-se inseridosnas UCs estabelecidas pelo Sistema Nacio-nal de Unidades de Conservao SNUC(Lei no 9985, de 18 de julho de 2000), queas dividem em dois grupos, as UCs deProteo Integral que tem como objetivo
-
7/23/2019 UCS 2
3/19
243
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
a preservao da natureza, admitindo-seapenas o uso indireto dos recursos natu-rais, com exceo dos casos previstos nareferida Lei; e as de Uso Sustentvel com o
objetivo bsico de compatibilizar a conser-vao da natureza com o uso sustentvelde parcela dos recursos naturais existentesnesses espaos.
No primeiro grupo, encontram-se cin-co categorias: Estao Ecolgica, ReservaBiolgica, Parque Nacional, MonumentoNatural e Refgio de Vidas Silvestres; e osegundo composto por sete categorias:rea de Proteo Ambiental (APA), reade Relevante Interesse Ecolgica, FlorestaNacional (FLONA), Reserva Extrativista,Reserva de Fauna, Reserva de Desenvol-vimento Sustentvel e Reserva Particulardo Patrimnio Natural (RPPN).
Entre os fatores que justificam e moti-vam a criao e implementao de UCs es-to a perda da biodiversidade biolgica; avulnerabilidade para extino de espcies;a degradao e fragmentao de hbitats;argumentos ticos relacionados manu-
teno das espcies; e o valor econmicodireto ou indiretamente relacionado ma-nuteno da biodiversidade. No entanto,esses espaos territoriais so permeados deconflitos de ordem poltica, legal e scio-econmica-ambiental que vem dificultado administrao desses territrios.
Nesse sentido, o presente trabalho fazuma abordagem crtica e discursiva sobreas Unidades de Conservao consideradas
como principal estratgia territorial para aproteo dos recursos naturais.
O PAPEL DA ANLISEDO TERRITRIO PARA ACONSERVAO DOS RECURSOSNATURAIS
Para compreender os sentidos e impli-caes das categorias do Sistema Nacional
de Unidades de Conservao (SNUC) huma necessidade de resgatar o conceitode territrio luz da categoria de MiltonSantos, que considera territrio como uma
extenso apropriada e usada. Num sentidomais restrito o territrio um nome polti-co para o espao de um pas. J o sentidode territorialidade o de de pertenceraquilo que nos pertence, nesse sentido oterritrio usado como sinnimo de espaogeogrfico (SANTOS; SILVEIRA, 2001).
Ainda na anlise de Santos e Silveira(2001), o territrio enquanto questo cen-tral na histria da humanidade constitui-secomo um pano de fundo na perspectivade interpretao das diversas etapas edo momento atual de cada pas. Sendoassim, para compreender os modos deregulamentao faz-se necessrio anali-sar a forma de distribuio do trabalhoem cada momento histrico, o que nosremonta a questo da compreenso dadiviso territorial do trabalho que envolvea repartio do trabalho vivo dos lugarese a distribuio do trabalho morto e dos
recursos naturais que consequentementenorteia a repartio do trabalho vivo.
Nesse sentido, a diviso territorial dotrabalho dita as regras via hierarquia entreos lugares, redefinindo constantemente acapacidade agir das instituies, firmase pessoas. Em outras palavras, o uso doterritrio, a territorialidade, definidopela implantao de infra-estrutura, pelodinamismo da economia e da sociedade.
Dessa forma, Santos e Silveira (1987; 1997apud SANTOS; SILVEIRA, 2001) com-plementam que a configurao do espaogeogrfico se d atravs do movimento dapopulao, da distribuio da agricultura,da indstria e dos servios e do arcabouonormativo.
Na anlise de Vallejo (2009), o conceitode territrio possui diferentes abordagensque dependem da cincia que o est utili-zando. Nas Cincias Polticas, por exem-
-
7/23/2019 UCS 2
4/19
244
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
plo, o territrio est intimamente ligado formao do Estado; na Antropologia, muito utilizado em relao s sociedadestradicionais, em que os vnculos espaciais
so bastante pronunciados. J na Geogra-fia, caracterizada como a cincia de inte-grao entre o espao fsico e os processossociais, o territrio no poderia deixar deser uma categoria geogrfica das mais im-portantes a serem analisadas (VALLEJO,2009). O espao anterior ao territrio,pois o ator territorializa o espao. Dessaforma, para Naranjo (2000 apud VALLEJO,2009), o territrio um espao geogrficoocupado por um ser ou conjunto de seres,sobre o qual se manifestam as relaes desobrevivncia e reproduo.
A discusso do conceito de territriono estudo das UCs apresenta vrias pos-sibilidades de anlise, tanto no aspectodo mundo natural quanto nas questesrelacionadas sociedade, seja ela geral, oucomunidades sociais. Na anlise do estudodas comunidades tradicionais a noo deterritrio influenciada pela experincia
de vida, uma vez que a principal fontede recursos oriunda da natureza. As ex-perincias das comunidades tradicionaisso precursoras das prticas atuais deconservao de recursos naturais atravsde unidades de conservao, evidenciandouma prtica territorial (VALLEJO, 2009).Trata-se, portanto, do que Santos e Silveira(2001) chamam de territrio usado, sinni-mo de espao geogrfico. Dessa forma, a
categoria de anlise no o territrio emsi, mas o territrio usado.Na abordagem funcional-estratgica
de territrio como espao em que se exercedomnio poltico, consequentemente con-trolo do acesso (HAESBAERT, 2003). Dessaforma, o conceito de territrio se aplica sreas Protegidas, mais especificamente asUCs, uma vez que o recorte espacial, quedefine uma fronteira, media uma relaode poder que efetivamente torna essa rea
um meio de influenciar e controlar pesso-as, coisas e relaes sociais. Trata-se doexerccio de territorialidade, onde pessoase recursos so controlados em funo de
uma rea.Godelier (1984 apud DIEGUES; NOGA-RA, 1999) traz algumas reflexes acerca doterritrio, principalmente quando analisaos tipos de culturas e comunidades tradi-cionais. A noo de territrio um elemen-to de grande relevncia na relao entrepopulaes tradicionais e a natureza. Nes-se sentido, o autor define territrio comouma poro da natureza e espao sobre oqual uma sociedade reivindica e garantea todos, ou a parte dos membros, direitosestveis de acesso, controle e uso sobre osrecursos naturais existentes. Sendo assim,esse recorte espacial, do mundo natural,fornece ao homem os meios de subsistn-cia, de trabalho e de produo, de produziros aspectos materiais das relaes sociais.Conforme Diegues e Nogara (1999), o ter-ritrio dessas populaes diferente dassociedades urbanas, pois descontnuo,
marcado por vazios aparentes, o que semdvida os torna mais frgeis, no sentidomais restrito, no processo de desterritoria-lizao dessas comunidades.
Haesbaert (2003) complementa a anli-se, enfatizando que a produo do espaosempre envolve a desterritorializao e are-territorializao, ou seja, na dinmica doterritrio sempre haver a vida e a mortedos territrios, onde a vida social vista
como um movimento de territorializao-desterritorializao-reterritorializao.Nessa viso, as populaes tradicionaisso exemplos claros, pois estiveram pormuito tempo enraizadas num determinadoespao territorial de onde retiravam seussustentos, porm, aps a transformaodesse espao em UC de Proteo Integralforam desterritorializadas passando a fa-zer parte de um aglomerado de excluso.Nessa tica, a tendncia de que os mais
-
7/23/2019 UCS 2
5/19
245Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
fracos sejam os principais atingidos.A criao de espaos legalmente pro-
tegidos vista como uma importanteestratgia de controle do territrio, pois
estabelece limites e dinmicas de uso eocupao. O controle e os critrios de usoaplicados nas UCs so atribudos em fun-o da valorizao dos recursos naturaisexistentes nas localidades, ou pela neces-sidade de proteger biomas, ecossistemase espcies raras ou ameaadas de extino(MEDEIROS, 2006).
Em termos legais, o SNUC define UCscomo espao territorial e seus recursosambientais, incluindo as guas jurisdi-cionais, com caractersticas naturais rele-vantes, legalmente institudo pelo PoderPblico com objetivos de conservao elimites definidos, sob regime especial deadministrao, aos quais se aplicam ga-rantias adequadas de proteo (BRASIL,2000).
Conforme Santos (1988), o mundo organizado em subespaos articulados lgica global. Santos e Silveira (2001, p.
255) acrescentam que a lgica das gran-des empresas, internacionais e nacionais,constitui um dado da produo polticainterna e da poltica internacional de cadapas. Nesse contexto, a gesto do territriocaracteriza-se pelas relaes de poder dosgrupos sociais na busca pela satisfao deseus interesses num determinado espaoterritorial, neste caso, dotado de biodiver-sidade.
Como exemplo desse controle descritotemos a Conveno sobre a DiversidadeBiolgica, um instrumento poltico inter-nacional, que ser analisado mais adiante,o qual influenciou na criao do SistemaNacional de Unidades de Conservao nombito nacional. Assim, pode-se dizer queh um retalhamento dos espaos naturais,onde os territrios detentores de potencialde biodiversidade passam a ser controla-dos pelos grupos dominantes em funo
de interesses distintos.As empresas globais necessitam de
condies territoriais para sua produoe regulao. Diante do processo de globa-
lizao econmica, o espao nacional or-ganizado para servir s grandes empresase por isso pagam um preo, tornando-sefragmentado, incoerente, anrquico paratodos os demais atores. Dessa forma, asempresas interessadas em determinadosespaos territoriais, influenciam naese lugares, entretanto, para funcionaremcriam ordem para si mesmas e desordempara os outros pases (SANTOS; SILVEI-
RA, 2001).Nesse sentido, as empresas possueminteresses diversos que comumente ge-ram conflitos entre grupos dominantesantagnicos em busca dos territrios daconservao. Por um lado, os interessa-dos em explorar o potencial biodiversodesses territrios para atender indstriafarmacolgica, apoiando e incentivando aelaborao e manuteno de polticas de
conservao para os ecossistemas naturais.E por outro lado, os que necessitam dessesterritrios para o avano do agronegcio,advogando em favor da a reduo dasreas de Reserva Legal, por exemplo.
Diante do exposto, e da situao dasUCs no Brasil, duas questes retornamao tema central nesta anlise: ser que osverdadeiros interesses pelos territriosdetentores de biodiversidade no estosendo mascarados, e esses espaos estosendo poupados para as necessidades daindstria farmacolgica? Ou esto sendoutilizados como reserva/estoque para ex-panso do agronegcio, num mundo ondea discusso gira em torno da produo deenergia e combustvel a base de vegetais?No seria por essa ltima questo que defato no se tem tanto interesse na gestoefetiva desses espaos legalmente prote-gidos?
-
7/23/2019 UCS 2
6/19
246 Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
BIODIVERSIDADE ECONSERVAO DA NATUREZA
Para Albagli (2001), a proteo da
biodiversidade possui diferentes atorescom motivaes distintas. As corporaestransnacionais, principalmente nos setoresfrmacos e de defensivos agrcolas defen-dem a preservao do patrimnio genticopara suas exploraes biotecnolgicas.Os grupos e organizaes ambientalistasatuam na perspectiva da proteo dos re-cursos naturais pelo seu valor intrnseco,embora em alguns casos deixem dvidas
quanto aos reais interesses externos nessesterritrios biodiversos. Os bancos multila-terais, pressionados pela opinio pblicainternacional para a conservao da biodi-versidade passam a utiliz-la como critrioe requisito bsico para o financiamentode projetos a serem desenvolvidos, comona Amaznia, por exemplo. J o governobrasileiro, no plano discursivo, aceita edivulga a importncia da biodiversidadepara o desenvolvimento regional combases sustentveis da regio. As comuni-dades extrativistas so convencidas de quea conservao dos ecossistemas condiobsica para sua prpria sobrevivncia. Eas comunidades tradicionais se conscien-tizam que seus conhecimentos biogen-ticos da regio so fundamentais para oaproveitamento econmicos dos recursosexistentes naquele territrio.
O desmatamento da floresta amazni-
ca, ocorrido na metade da dcada de 1980levou as questes relacionada a florestapara o centro do debate ecolgico mun-dial, nascendo assim, o prprio conceitode biodiversidade. Nesse momento, omundo atentava-se para a importncia dasflorestas tropicais, as quais detinham emseu territrio os habitats mais ricos em es-pcies do planeta, entretanto, devido o altograu de desmatamento, corriam o maior
risco de extino (SANTOS, 2005), sendo
que muitas delas jamais sero conhecidaspela humanidade. Escobar e Pardo (2005)acrescentam que as florestas tropicais pas-sam a ser cenrios de novos impulsos de
formas de desdobramentos do processo demonopolizao capitalista.No passado. a biodiversidade, enten-
dida como diversidade de formas de vida- plantas, animais, microorganismos - eratida como base para a sobrevivncia decomunidades pobre. Entretanto, desde osculo passado a idia de biodiversidadetem-se configurado, no contexto mun-dial, como a base ecolgica para a vida e,sobretudo como o capital natural paradois teros da humanidade que investe nabiodiversidade como forma de produopara desenvolver as atividades agrcolas,pesqueiras, de sade e produo de uten-slios. Dessa forma, as indstrias globaisencontram na biodiversidade fontes dematria-prima como alternativa para su-prir as falhas apresentadas nas antigastecnologias qumicas (SHIVA, 2005).
Na agricultura, aps o reconhecimento
das falhas apresentadas no controle depragas, via produtos qumicos, a utilizaode pesticidas de origem vegetal vem sedifundindo cada vez mais, viabilizandoinvestimentos neste ramo industrial. J nosetor de sade, a indstria farmacuticaocidental passa a utilizar o princpio deplantas, aderindo ao sistema da medicinaindiana e chinesa (SHIVA, 2005).
Conforme Alonso (2005), a indstria
farmacutica e alimentar mundial depen-dem dos recursos naturais para continuarsuas investigaes e adquirir maior n-mero de produtos. Como resultado dessadependncia, tem-se a constante presso,principalmente para salvaguardar os in-vestimentos no setor da biotecnologia.
Dessa forma, os conhecimentos daspopulaes tradicionais, como exemplo in-dgenas, so explorados, princpios ativos,destinados a combate e cura de doenas,
-
7/23/2019 UCS 2
7/19
247Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
so descobertos, principalmente pelospases detentores de tecnologia, os quaistm lutado pelos direitos de propriedadeintelectual associados ao comrcio entre
pases, com soberania para as multinacio-nais.Evidentemente, o conhecimento das po-
pulaes tradicionais tem sido a chave paratal descoberta. Segundo Rafi (1994 apudALONSO, 2005), atravs de observaes,as empresas farmacuticas constataramque a prospeco biolgica viabilizadaquando trs comunidades utilizam a mes-ma substncia com fins medicinais.
Entretanto, os novos sistemas de paten-tes e os direitos de propriedade intelectualameaam apropriar-se dos recursos e pro-cessos de conhecimentos vitais dos pasesdo Sul, resultando sem dvidas em mo-noplio para as empresas do Norte, ondeas patentes esto no centro do novo colo-nialismo (SHIVA, 2005). Jameson (1991apud SANTOS, 2005, p. 127) complementa,destacando que a colonizao tem efeitosdevastadores sobre a poltica, as lutas de
resistncia e os anseios de emancipao.Nessa anlise, devido ao aporte fi-
nanceiro e poltico, os pases do Norte,proporcionaram o surgimento de novastecnologias, como a biotecnologia, aumen-tando ainda mais o controle sobre os mer-cados mundiais e dos recursos naturais,influenciando nas polticas globais faceao controle territorial dos pases deten-tores de biodiversidade. Trata-se de um
novo tipo de colonialismo, onde os pasesdo Sul, detentores da maior biodiversi-dade do planeta, continuam a ser merosfornecedores de matrias-primas, comoem tempos passados. Vale ressaltar queo conhecimento tradicional permanece margem dessa relao e nem ao menos reconhecido.
Nesse momento, os avanos da tecno-cincia, mais especfico da biotecnologia,mostram a importncia que os recursos
genticos iriam desempenhar na econo-mia do futuro. Essas evidncias foramdiscutidas antes da Eco-92, onde os pasesdesenvolvidos advogavam a favor do livre
acesso aos recursos genticos, defendendoa idia que a biodiversidade pertence atodos, portanto no propriedade de nin-gum (SANTOS, 2005).
A biopirataria tida como o processode patentear fraes e produtos da biodi-versidade, com base nos conhecimentosdas populaes indgenas. Porm, o paten-teamento dos produtos alm de negar asinovaes e criatividades acumuladas daspopulaes tradicionais transformam-seem instrumentos de enclausuramento dosbens intelectuais e biolgicos capazes detornar a sobrevivncia possvel. Contudo,se a biopirataria no for barrada, s restaraos povos dos pases em desenvolvimentose submeterem compra de suas prpriassementes e os seus medicamentos a preoselevados impostos pelas empresas globaisque manipulam a indstria da biotecnolo-gia e farmacutica (SHIVA, 2005).
Assim, fica claro o domnio dos pasesdo Norte em relao biodiversidade dosterritrios dos pases do Sul. Configura-sedessa maneira, uma disputa acirrada, nombito da poltica internacional face aocontrole pela biodiversidade, situao emque certamente os pases detentores decapital e tecnologia sempre dispem deprivilgios no tocante a temtica apresen-tada. Trata-se, portanto da verso moderna
do colonialismo, o biocolonialismo.Conforme Santos (2005), o Brasil de-fendeu a tese de que o acesso aos recursosnaturais deveria ser regulamentado poracordo, a critrio do pas que dispe ter-ritorialmente dessa biodiversidade, tendocomo base o princpio do direito soberanodo Estado sobre os recursos existentesem seu territrio. Sendo assim, para queos recursos genticos passassem a serpatrimnio mundial, deveria haver uma
-
7/23/2019 UCS 2
8/19
248 Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
transferncia de biotecnologia visando fa-vorecer a conservao desse patrimnio.
Nessa tica, j que o direito proprieda-de intelectual fato consumado, nada mais
justo que parte dos lucros resultante dofavorecimento da propriedade intelectualfosse repassada para os pases detentoresde biodiversidade.
UNIDADES DE CONSERVAOCOMO ESTRATGIA DE GESTOTERRITORIAL DOS RECURSOSNATURAIS
Diante da crise ambiental, anunciadacomo crise mundial, evidenciada princi-palmente a partir da dcada de 1970, osespecialistas debruaram-se sobre a cria-o de um instrumento internacional quetratasse da Conservao da DiversidadeBiolgica planetria.
As iniciativas se desenvolveram duran-te a dcada de 1980, sendo que em 1992,durante a Eco-92, 150 pases adotaram a
conveno global que entra em vigor em1993. Dessa forma, a CDB se configuranum marco poltico, portanto, devendo serseguida pelos pases signatrios (BENSU-SAN; BARROS; BULHES et al, 2006).
O Decreto Legislativo n 2, de 1994,aprova o texto sobre a Conveno sobreDiversidade Biolgica (CDB), que temcomo objetivo a utilizao sustentvel deseus componentes e a repartio justa eequitativa dos benefcios derivados dautilizao dos recursos genticos, medianteo acesso adequado aos recursos genticose a transferncia adequada de tecnologiaspertinentes, levando em conta todos osdireitos sobre tais recursos e tecnologias,efinanciamento adequado (BRASIL, 1994).No mbito da conveno um sistema ade-quado de UCs considerado o pilar centralpara o desenvolvimento de estratgiasnacionais de preservao da diversidade
biolgica.
A CDB o mais importante tratadointernacional sobre diversidade biolgica,do qual o Brasil signatrio, acatando,portanto seus princpios e determinaes,
devendo segui-los e implement-los.Esse tratado foi assinado pelo Presidenteda Repblica durante a Conferncia dasNaes Unidas sobre Meio Ambiente eDesenvolvimento (CNUMAD) em 1992;ratificada pelo Congresso Nacional, peloDecreto Legislativo n 2/94, em 1994; epromulgada atravs do Decreto n 2.519,em 1998 (BRASIL, 2006). Nesse tratado, ospases signatrios se comprometem a re-cuperar e restaurar ecossistemas degrada-
dos, promover a recuperao de espciesameaadas mediante, entre outros meios,a elaborao e implementao de planos eestratgias de gesto.
Para Inoue (2009), existe uma separaoentre dois conjuntos de literaturas, umafocada nos aspectos internacionais-globaise outra nos aspectos locais-regionais. Dessaforma, dificulta-se a viso integrada sobrea questo da biodiversidade.
A autora acrescenta ainda que nas tenta-tivas de anlise, as dimenses global e localacabam se separando. Entretanto, as duasso interligadas, uma vez que para atingira proteo global da biodiversidade huma dependncia de aes locais. Allbagli(1998 apud INOUE, 2009) destaca que osmaiores desafios rumo implementaoda CDB encontram-se exatamente na es-fera local, onde comumente as estratgiasrumo a proteo ainda so insuficientes
diante do grau de ameaa existente nessesespaos legalmente protegidos.
Yearkey (1996 apud GUILHERME,2007) apresenta outras duas formas deinterferncia dos atores globais, alm dostratados e convenes em regimes globais,as Organizaes No Governamentais(ONGs) que advogam sobre a globalizaodos problemas ambientais e as Empresase Autoridades Locais. Em sua anlise as
ONGs globais, como Amigos da Terra,
-
7/23/2019 UCS 2
9/19
249Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
Greenpeace e WWF, so responsveispela maioria das campanhas globais econscientizao, arregimentao de gruposde atuao e poder de barganha e veto
para dotao internacional em programasprprios ou de interesse ambiental, gra-dualmente foram se incorporando na par-ticipao e representao em organismosinternacionais de formulao de polticasglobais que interferem localmente.
Para Dobson (1990 apud GUILHERME,2007), simplesmente falsa a idia de queseja interesse geral a luta por uma socieda-de sustentvel e igualitria, pois uma par-cela decisivamente influente da sociedade
tem interesse material de prolongar a criseambiental, sobretudo, por que h dinheiroenvolvido na administrao. Portanto, aidia de considerar essas pessoas comoparte do engendramento de uma mudanasocial profunda utpica.
As UCs fazem parte do regime global debiodiversidade, entendido como o conjun-to de elementos balizadores normativos ecognitivos, ao redor dos quais interagem
os atores, produzindo, do global ao local,decises, aes e dinmicas de troca derecursos e de conhecimento sintonizadoscom a CDB.
No mundo contemporneo, as UCsvm se constituindo numa das principaisformas de interveno governamental,visando reduzir as perdas da biodiversi-dade face degradao ambiental impostapela sociedade (desterritorializao dasespcies da flora e fauna). No entanto,
esse processo vem sendo acompanhadopor conflitos e impactos decorrentes dadesterritorializao de grupos sociais(tradicionais ou no) em vrias partes domundo (VALLEJO, 2009).
Evidentemente, no se pode deixar dedestacar os interesses dos pases do Nortena obteno dos recursos naturais para afabricao de produtos, como medicamen-tos e cosmticos. Vale ressaltar a preocu-
pao dos pases do Sul em estabelecer
mecanismos que lhes assegurem a justaremunerao pelo acesso aos recursos ge-nticos e aos conhecimentos tradicionais, arepartio equitativa aos benefcios oriun-
dos do uso desses recursos (BENSUSAN;BARROS; BULHES et al, 2006).Ainda na idia dos autores, a CDB
apresenta baixo nvel de implementao,devendo assim, encontrar formas maiseficientes rumo proteo dos recursosnaturais. Entre as causas que obscurecemo futuro, esto o desequilbrio do graude implementao dos trs principaisobjetivos da CDB, a saber: a conservao,o uso sustentvel da biodiversidade e a
repartio dos benefcios oriundos do usodos recursos genticos por determinadospases. Dessa forma, pode-se dizer queas inovaes apresentadas na CDB se di-luram devido a falta de implementaocontnua.
O Brasil est entre os 17 pases mega-diversos, sendo o primeiro neste ranking,o qual rene 70% das espcies animais evegetais catalogadas no mundo, destacan-
do-se ainda por agrupar entre 15 e 20% dabiodiversidade mundial e o maior nmerode espcies endmicas do planeta (DRUM-MOND; ANTONINI, 2006).
Esses dados justificam os olhares einteresses constantes dos pases do Nortepara com os territrios biodiversos doBrasil, assim como para com outros pasesconsiderados megadiversos. Sendo assim,fica evidente, que jamais pases iriamse reunir, em conferncias mundiais em
busca de alternativas para a proteo dosrecursos naturais, se no por interessesnas potencialidades que esses recursosoferecem, principalmente para atender asnecessidades da indstria biotecnolgica,que acima de tudo gera recursos financei-ros para esses pases.
A criao de UCs, na perspectiva deproteo dos recursos naturais, utiliza-da, pelos pases detentores de tecnologia
e capital, como estratgia de controle de
-
7/23/2019 UCS 2
10/19
250 Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
espaos territoriais dotados de potencialde biodiversidade. No cerne dessa questo,esses pases continuaro no controle domercado mundial de produtos agrcolas e
farmacuticos alm dos recursos naturaisque esto sendo resguardados, geralmenteem reas protegidas, na desculpa que aten-dero as necessidades das futuras geraesem suprir suas prprias necessidades.
Para ilustrar tal importncia CrucibleGroup II (2001, apud ALONSO, 2005),destaca que na dcada de 1990, o setor deprodutos bioindustriais diretamente liga-dos agricultura, produo de alimentos
e sade se consolidaram na economiaglobal concentrando gigantescas corpora-es transnacionais, onde as dez maioresempresas de agroqumicos controlaram91% do mercado global deste setor; asdez maiores companhias de sementesobtiveram um controle entre 25% e 33%do mercado mundial; e as empresas far-macuticas responderam por 36% do totaldesse mercado.
Na anlise de Escobar e Pardo (2005),os recursos naturais so usados numaperspectiva globalocntrica, onde a bio-diversidade produzida pelas instituiesdominantes, como o Banco Mundial e asorganizaes no governamentais ambien-talistas dos pases do Norte apoiadas pelospases do G-8. Essas empresas, objetivandomanter o controle dos recursos naturais,
oferecem subsdios para conservao euso sustentvel desses recursos nas maisvariadas escalas, internacional, nacional elocal. Em contra partida, sugerem meca-nismos para a utilizao desses recursos,principalmente com relao investigaocientfica, a conservao in situ e ex situ, aoplanejamento nacional da biodiversidadee ao estabelecimento de mecanismos deapropriao para a compensao e utili-
zao econmica, sobretudo em troca dos
direitos de propriedade intelectual. Ficaevidente o poder da CDB em funo dadivulgao dessa perspectiva globalocn-trica em prol dos pases do Norte.
Diante do exposto, algumas anlises sodignas de nota. A primeira est atrelada aopoder desses pases em dominar os terri-trios dos pases detentores de biodiver-sidade, a exemplo do Brasil, onde grandeparte dos biomas foi devastada e o querestou vem sendo transformada em UC,de forma que os recursos naturais fiquemresguardados, obviamente como reservapara apropriao do capital externo para
atender a demanda da indstria farma-cutica estimada em bilhes de dlaresanuais.
Na segunda anlise, os espaos terri-toriais so reservados para o aumento darea destinada produo agrcola. Obvia-mente, aps a criao da Lei de Gesto deFlorestas Pblicas para Produo Sustent-vel, a qual prev a liberao de concessesdas florestas pblicas para pessoas jurdi-
cas (Lei n 11.284/2006) e da especulaoem torno do debate sobre a modificaodo Cdigo Florestal para reduzir a reade Reserva Legal da Amaznia para 30%,confirma-se a idia de que esses espaosterritoriais estavam sendo poupados paraatender s necessidades descritas anterior-mente, sobretudo, do agronegcio. Nestecontexto, os territrios das UCs so usadosestrategicamente como estoque para novos
avanos do agronegcio. Assim, o slogando desenvolvimento sustentvel utiliza-do pela mdia, sobretudo para mascarar asreais evidncias.
AS PRIMEIRAS ESTRATRGIASDE PROTEO DOS RECURSOSNATURAIS
A idia de proteger recortes territoriais
-
7/23/2019 UCS 2
11/19
251Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
remonta prpria histria da humanidade.H evidncias de que h milhares de anosos povos j reconheciam valores especiais.Dessa forma, esses povos tomavam me-
didas para proteger determinados stiosgeogrficos, principalmente, quando setratava de animais sagrados, gua pura,plantas medicinais e matria-prima (MIL-LER, 1997 apud MORAES, 2004). Nessecontexto, os registros mais antigos docu-mentam que os povos da ndia tinham apreocupao de proteger os peixes e outrosanimais, assim como as reas de florestas(MORAES, 2004).
No Brasil, apesar da primeira rea deproteo ter sido institucionalizada em1937, com a criao do Parque NacionalItatiaia, no Rio de Janeiro (CSAR; PAU-LA; GRANDO JUNIOR et al, 2003), hregistros histricos indicando que a coroaportuguesa e o governo Imperial realiza-ram iniciativas de proteo, de gesto econtrole dos recursos naturais, com o obje-tivo de garantir o controle sobre o manejo,principalmente, da madeira e da gua. Du-
rante o Imprio, D. Pedro II, o imperadorordenou que as fazendas devastadas parao plantio do caf fossem desapropriadase replantadas.
O desmatamento ao longo do perodocolonialismo comprometeu os estoqueshdricos que serviam para abastecer partedo Rio de Janeiro. Assim, h indcios queas primeiras reas protegidas tenham sidocriadas em 1861, as Florestas da Tijuca e
das Paineiras com afi
nalidade de resguar-dar os recursos hdricos daquela regio(DRUMMOND, 1997; BARRETO FILHO,2004 apud MEDEIROS, 2006). Em 1961,atravs de Decreto passou a ser chamadade Parque Nacional de Rio de Janeiro eem 1967, em virtude de confuses acercada nomenclatura foi novamente alterada,passando a chamar-se Parque Nacional daTijuca (IBAMA, 2004).
Entretanto, o modelo de UCs adotado
no Brasil e nos pases subdesenvolvidos, considerado pelas literaturas como umdos principais instrumentos de estratgiapara a proteo da natureza. Esse modelo
originou-se nos Estados Unidos, tendocomo marco a criao do Parque Nacionalde Yellowstone em 1872, e expandiu-separa o Canad e pases da Europa, con-solidando-se como um padro mundial,principalmente aps a dcada de 1960,quando o nmero e a extenso de espaosprotegidos ampliaram-se pelo mundo. Aconcepo do modelo deriva da concentra-o de reas protegidas com o objetivo deproteger a vida selvagem ameaada peloavano da civilizao urbano-industrial(CSAR; PAULA; GRANDO JUNIOR etal, 2003).
Para Brito (2000 apud Moraes, 2004), asbases para a criao do Parque Nacionalde Yellowstone foram os fatores cnicos ehistricos, alm do potencial de lazer paraa populao urbana, porm num enfoqueque iria tornar-se smbolo para o manejode UCs criadas posteriormente em vrias
partes do mundo.Na anlise de Vallejo (2009), o conceito
de parque nacional como rea natural, sel-vagem, foi empregado nos Estados Unidosaps o extermnio quase total de comuni-dades indgenas e a expanso para o oeste.Alm da proposta de reservar grandesreas naturais para fins de recreao paraa populao urbana que vinha crescendorapidamente, havia uma preocupao de
tornar o Yellowstone uma regio reservadae proibida de ser colonizada, ocupada ouvendida segundo as leis americanas. En-tretanto, no se considerou que os ndiosamericanos tinham vivido em harmoniacom a natureza por milhares de anos. Paraos preservacionistas americanos, todos osgrupos sociais eram iguais e a naturezadeveria ser mantida intocada das aesnegativas da humanidade.
Dessa forma, o modelo americano
-
7/23/2019 UCS 2
12/19
252 Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
acabou se espalhando pelo mundo numaperspectiva dicotmica entre povos eparques. Partindo-se do princpio deque a presena humana sempre devas-
tadora para a natureza, pois deixaram deconsiderar os diferentes estilos de vida daschamadas populaes tradicionais exis-tentes em outros pases como na Amricado Sul e frica.
Para Diegues (1993) essa postura pre-servacionista adotada nesse modelo deparques nacionais acabou resultando emconflitos que envolveram as populaesextrativistas, pescadores e ndios nos pa-ses subdesenvolvidos, onde a realidadeera completamente diferente da existentenos Estados Unidos.
O problema gerado pela reproduodo modelo americano na criao de UCsno Brasil manifesta-se em conflitos juntos populaes tradicionais que viviam nointerior desses espaos territoriais que pas-saram a ser legalmente protegidos numaviso preservacionista. Essas comunidadespossuam culturas e prticas que caracteri-
zam dependncia da natureza, que, sobre-tudo guardam profundo conhecimento, acomear pelo seu territrio, mantido porvrias geraes (DIEGUES, 1994 apudMORAES, 2004).
Vallejo (2009) complementa, ressaltandoque essa forma de interveno estatal nacriao territrios protegidos, tambm foiresponsvel pelo processo de desterrito-rializao de vrios grupamentos sociais,
tradicionais ou no, que l viviam antes dacriao das unidades de conservao.Evidentemente, com o processo de des-
territorializao desses povos, consequen-temente, essas populaes tendem a serreterritorializadas em outras localidades,notadamente, longe de suas razes hist-ricas/culturais, causando grandes perdaspara as UCs, principalmente, quanto propriedade intelectual, visto que essaspopulaes conhecem de fato os recursos
existentes nesses territrios, assim comoforam responsveis pela proteo dessesespaos durante muito tempo.
Dessa forma, na anlise de Haesba-
ert (2003), a desterritorializao aparececomo o inverso de territorializao, e seconcretiza no processo de desapropriaodo espao social, trazendo como consequ-ncia a multiplicao dos aglomerados deexcluso, trata-se, portanto, de espaossobre os quais os grupos sociais dispede menor controle e segurana, materiale simblica.
Sendo assim, o territrio como disputaentre grupos antagnicos tem levado desterritorializao dos mais fracos, nestecaso representados pelas populaes tradi-cionais e no-tradicionais que viviam nasUCs, sobretudo nas categorias de ProteoIntegral, antes da sua criao.
UNIDADES DE CONSERVAONO BRASIL
A Lei 9985/2000, do SNUC, estabelececritrios e normas para a criao, implan-tao e gesto das UCs. Porm, pode-sedizer que UCs no esto integradas depolticas de desenvolvimento e uso daterra em nvel regional, representando emsua criao uma drstica interveno dopoder pblico sobre a sociedade regionale/ou local, que geralmente desconsidera osdemais interesses em jogo. Mesmo que as
unidades sejam efetivamente implantadas,sua simples criao, com a conseqenteredefinio do acesso aos recursos naturaisda rea, gera insegurana e instabilida-de, fazendo com que, em alguns casos, oterritrio de muitas delas seja dilapidadoantes que sejam implantadas de fato, oumesmo que as comunidades residentes nolocal permaneam em situao de indefi-nio por longos anos, impossibilitadas dereorganizar satisfatoriamente suas vidas
-
7/23/2019 UCS 2
13/19
253Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
(CSAR; PAULA; GRANDO JUNIOR etal, 2003).
Entretanto, apesar de todo o aparatolegal sobre os recursos naturais, um dos
grandes desafi
os para a administrao dasUCs est relacionado ao tipo de desenho deuma UC que inclui alm de seu tamanhoe forma, a existncia de zonas de amorte-cimento e de conexes entre elas e outrasreas naturais. Nesse sentido, um desenhoinadequado pode gerar problemas deriva-dos da fragmentao de habitats e da insu-larizao. A ligao entre os ecossistemasnaturais possibilitam entre elas o fluxo degenes e o movimento da biota, facilitando
tanto a disperso de espcies como a reco-lonizao das reas degradadas, alm depromover a manuteno de populaesque necessitam de reas mais extensas paraa sua sobrevivncia (BENSUSAN, 2006).
No obstante, existem outros obstculosque vm dificultando a gesto desses es-paos territoriais, podendo-se citar entreeles: o problema da desapropriao depropriedades particulares; a permanncia
das populaes consideradas tradicionaise no-tradicionais nas UCs de ProteoIntegral; a aplicao das restries de usodos recursos naturais para as comunidadeslocais, no caso das unidades de uso dire-to; a superposio das UCs com reservasindgenas, reas militares; a extrao ina-dequada dos recursos naturais; e a falta deconectividade entre as unidades.
A gesto de UCs implica na anlise daforma de apropriao desses territrios.
Assim, entre os entraves mais difceisde serem solucionados na administraodessas unidades encontra-se a questofundiria, pois a maioria das pessoas, quese dizem donos das terras, no tm do-cumentos que comprovem a posse legaldas mesmas. Esse impasse impede queos rgos gestores possam conceder asdevidas indenizaes. Outro quesito queessas terras, geralmente esto sob domnio
de grandes latifundirios, comumente
envolvidos nos processos de tomada dedecises. J os proprietrios que possuemttulos legais dificultam tais negociaesem funo da especulao imobiliria,
exigindo altas indenizaes que comu-mente ultrapassam aos valores do mercadoimobilirio.
Na anlise de Medeiros (2006), apesarno inegvel avano que proporcionou questo de reas protegidas do pas, oSNUC, no conseguiu atingir plenamentesua pretenso inicial de criao de um sis-tema que pudesse integrar, por meio de umnico instrumento, a criao e gesto dasdiferentes tipologias existentes no pas.
notria no pas a evidncia de dificuldadesexistentes em funo das disputas cada vezmais acirradas entre grupos que atuamou tm interesse nas reas de proteo nopas.
Para Kolecom (2004 apud COHEN,2007), a edio da lei do SNUC foi umgrande avano, no sentido de ter unifor-mizado a questo, no entanto, no bastamera existncia da lei para que os pro-
blemas existentes sejam resolvidos. Serianecessrio tambm garantir a efetiva par-ticipao da sociedade, de modo a imple-mentar e at melhorar a prpria legislao.Diegues (1993) acrescenta que precisotambm melhorara as condies de vidadas populaes tradicionais, sem afetar arelao mais harmoniosa com a natureza.A conservao custa caro, no somente emfiscalizao, criao de infra-estrutura, etc.,mas em investimentos scio-econmicos
e culturais que beneficiem populaestradicionais.
A gesto e o gerenciamento das UCs fe-derais encontram-se sob administrao doInstituto Chico Mendes de Conservao daBiodiversidade, ICMBio, as UCs estaduaissob responsabilidade das Secretarias Es-taduais do Meio Ambiente, as municipaispelas Secretarias Municipais, e as RPPNspelos proprietrios.
Em 2004, apenas 10,54% da rea terri-
-
7/23/2019 UCS 2
14/19
254
torial do Brasil era coberta por UCs, o querepresentava 101.4974.971 hectares. Destetotal, 6,34% estavam distribudas nas cate-gorias de uso indireto, Proteo Integral,
e 3,53% nas de Uso Sustentvel (ISO, 2004apud BENSUSAM, 2006).Em 2005 o pas contava com 914 UCs,
distribudas nas categorias do SNUC, oequivalente a 111.612.388 hectares, ad-ministradas pela espera federal e esta-dual considerado um nmero modestotamanho ao potencial da biodiversidadeexistente. A criao de UCs de Proteo eIntegral e de Uso Sustentvel encontram-se equilibradas, sendo 478 unidades terri-
toriais de Proteo Integral e 436 de UsoSustentvel.Porm, quando se analisam as esferas
federal e estadual, com relao rea,percebe-se que o governo estadual inves-tiu mais em UCs de Uso Sustentvel com44.397.707 hectares, destacando-se a cria-o de APAs em todo o pas, consideradasmais prximas de um mecanismo paraordenamento de uso da terra (RYLANDS;BRANDON, 2005). A criao de UCs deUso Sustentvel tem gerado menos con-flitos com as populaes tradicionais ouno-tradicionais, uma vez que permitidaa utilizao direta de parte dos recursosnaturais existes. J o governo federal in-veste mais em UCs de Proteo Integral,apesar de 111 contra 367 estaduais, a readas unidades federais muito maior, com28.245.729.
Com relao s RPPNs, conforme dados
do IBAMA (BRASIL, 2009), em 2009 o pascontava com 500 unidades, distribudasem 471.907,17 ha, sob administrao deseus proprietrios particulares. Entre osEstados destacam-se com maior nmerode RPPNs em seu territrio, Minas Geraiscom 82, e com menor nmero Sergipe eRoraima, ambos com trs unidades dessacategoria. Na Regio Nordeste o Estado daBahia se destacava com 75 unidades dessanatureza.
A Amaznia Legal (Mato Grosso, Ama-
zonas, Acre, Amap, Roraima, Rondnia,Tocantins e parte do Maranho) possuaat 2009, 286 UCs, cerca de 20% do seuterritrio, sob a administrao federal,
estadual e municipal (INSTITUTO SO-CIOAMBIENTAL, 2009), totalizando 299,incluindo as 13 RPPNs.
Do total de UCs existentes em 2007na Amaznia Legal, 183 eram de UsoSustentvel e 104 de Proteo Integral.Conforme Borges, Iwagana, Moreira eDugigan (2007), os governos estaduaisusam como estratgia a criao de UCsde Uso Sustentvel, uma vez que geramenos conflitos entre o poder pblico e
as populaes locais. A criao de reasde Proteo Integral implica na remoode populaes locais e gastos do poderpblico em indenizaes para as desa-propriaes, aumentado, dessa forma, osconflitos nesses recortes espaciais.
Quanto aos conflitos existentes na ad-ministrao esses territrios na AmazniaLegal, pode-se destacar: a) a sobreposiode reas entre as UCs e outras reas da
unio como as terras militares, as reser-vas garimpeiras, as reas indgenas e osassentamentos agrcolas; b) a falta de infra-estrutura, mesmo para unidades criadash muito tempo; c) a falta de recursoshumanos capacitados; e, d) a falta de re-cursosfinanceiros (BORGES; IWANAGA;MOREIRA et al, 2007).
Para que as UCs cumpram os objetivospara os quais foram criadas, necessriopensar no somente na gesto interna
desses espaos, mas sim em buscar al-ternativas para minimizar os problemasexternos que afetam diretamente as unida-des, uma vez que as presses que ocorremno entorno dessas reas se apresentamde fora para dentro, sendo assim, a visodo gestor das unidades deve envolver osterritrios circunvizinhos que de algumaforma possam comprometer a proteodesses ecossistemas.
Contudo, no basta apenas multiplicar
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
-
7/23/2019 UCS 2
15/19
255Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
a quantidade de unidades no pas, a exem-plo do Estado de Sergipe que possua at2009, quinze UCs, sendo seis de ProteoIntegral e nove de Uso Sustentvel. O que
mais tem despertado a ateno neste cen-rio, que no intervalo de 2004-2009 foramcriadas seis unidades, e mais trs estoem processo de criao. No entanto, essesespaos territoriais apresentam os maisvariados problemas que vem dificultandoa gesto e o gerenciamento desses espaoslegalmente protegidos, tais como: a faltade polticaflorestal estadual; a inexistnciade plano de manejo em todas as unidades;a falta de regularizao fundiria; a falta
de infra-estrutura administrativa e opera-cional; a falta de profissionais qualificadosvia concurso pblico; os mais variadosimpactos ambientais provocados pelaspopulaes de reas circunvizinhas e porgrandes empreendedores; as ocupaesdesordenadas em reas de risco ambien-tal; a especulao imobiliria; e a faltade realizao de programas de educaoambiental.
Nesta anlise,fi
cam alguns questiona-mentos, como por exemplo, para que criartantas unidades, num curto intervalo detempo, se as que foram criadas encontram-se permeadas de problemas que dificil-mente sero resolvidos? A quem perten-cem as terras onde as UCs foram e estosendo criadas? Quais os interesses queesto em jogo, uma vez que h unidadesque foram criadas h quase 20 anos, e, noentanto no dispe ao menos de plano de
manejo? O que deve ser protegido, o quepode ser utilizado e para quem usufruir?Ser que no para reservar as terras paraatenderem as necessidades do agronegcionum futuro bem prximo? Essas e outrasquestes tambm esto inseridas na hist-ria da maioria das UCs do pas.
As relaes de poder estabelecidas nes-ses territrios so explcitas, pois o Estadopassa a controlar os recursos naturais, no
caso das UCs de Proteo Integral, proi-
bindo o acesso aos recursos naturais dis-ponveis para as populaes tradicionaise de entorno, e nas de Uso Sustentvellimitando o uso territorial. Nesse sentido,
a poltica de conservao feita sob gidedo Estado ou de um agenciamento parainteresses do grande capital.
Apesar do avano significativo das pol-ticas referentes aos espaos protegidos dopas, notrio que apenas a existncia dosinstrumentos, do sistema e das instituiesresponsveis no garante sua efetividadee eficincia. Para a gesto territorial des-sas reas, faz-se necessrio a introduode mecanismos mais slidos e perenes de
planejamento e financiamento. A falta deplanejamento a curto, mdio e longo prazoe o aporte de recursos,financeiros e huma-nos, esto entre os principais entraves naconsolidao efetivas das reas protegidasno pas, mas a questo fundiria, sem dvi-das, encontra-se no mago dessa questo,principalmente por envolver relaes depoder no uso do territrio.
Dessa forma, torna-se necessrio estabe-
lecer com mais preciso a integrao dasreas protegidas com as vrias escalas deplanejamento e gesto do territrio, atual-mente reconhecidas atravs de mosaicos edos corredores ecolgicos. Apesar da exis-tncia do SNUC, na prtica as experinciase os resultados so pouco satisfatrios.Pode-se dizer que o SNUC no conseguiucontemplar definitivamente uma soluopara os problemas de baixa integrao egerenciamento das reas protegidas (ME-
DEIROS, 2006).H necessidade do fortalecimento da
poltica de conservao, que englobe todasas reas protegidas, como: as terras ind-genas, reservas legais e as reas de preser-vao permanente; alm da importnciade estabelecer a conectividade entre osespaos protegidos; e atravs da criao decorredores ecolgicos e de novas UCs. ParaBensusan (2006), existem outros requisitos
fundamentais neste processo, tais como:
-
7/23/2019 UCS 2
16/19
256
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
planejamento global do sistema; definiode critrios para seleo de novas UCs;resgate da importncia das categorias doSNUC; fortalecimento da pesquisa cient-fi
ca nesses espaos; democratizao nosprocessos de consulta pblica previstasno SNUC; fortalecimento de programas deconservao em reas particulares; apoioe respeito s comunidades tradicionais;construo coletiva na soluo dos con-flitos locais; capacitao continuada dosgestores e dos membros das UCs; geraode benefcios nesses espaos para a comu-nidade local; e a busca de parcerias com acomunidade local na perspectiva de uma
gesto participativa.
CONSIDERAES FINAIS
Diante do processo de ocupao desen-freado e do uso predatrio dos recursosnaturais, pores do territrio dotadas debiodiversidade so reservadas na perspec-tiva de uma gesto territorial adequada.
Porm, no se pode deixar de ressaltar,os interesses dos pases do Norte nessesterritrios, Assim, h evidncias de queesses territrios vm sendo reservadoscomo garantia aos anseios do agronegcio.Nesse contexto, polticas de conservao,na escala internacional e nacional, foramcriadas, com o intuito de resguardar essesrecortes espaciais, criando-se as Unidadesde Conservao, como principal mecanis-mo de conservao da natureza.
H evidncias de que os pases desen-volvidos vm controlando os territriosdotados de recursos naturais, consideradoscomo fonte de matria-prima para a inds-tria da biotecnologia, como a biogentica, aindstria de alimentos e de produtos agr-colas. No mago desta questo, a criao deUCs, com o objetivo de proteger parcelasdos recursos naturais para as futuras ge-raes utilizada como mais uma faceta
do mercado capitalista, configurando-seassim uma nova forma de controle terri-torial, o biocolonialismo.
Neste cenrio, a disputa acirrada pelos
territrios dotados de biodiversidade tam-bm tm gerado conflitos que envolvemdiferentes atores. D um lado, os donos dogrande capital internacional, com interes-se na proteo desses espaos, sobretudodevido ao seu potencial para atender demanda da indstria farmacutica e decosmticos. Por outro lado, os donos docapital interno, interessados em resguardaresses territrios como reserva de terraspara expanso do agronegcio. Neste con-texto, sempre haver as comunidades quedispem de menor poder de barganha nes-ta disputa, as populaes tradicionais, queso retiradas das UCs de Proteo Integral.Portanto, ficam evidentes as relaes depoder estabelecidas nessas reas protegi-das, em prol dos grupos dominantes.
A criao de UCs, principalmente dogrupo de Proteo Integral, vem sendoacompanhada pelo processo de desterrito-
rializao dos mais fracos, as populaestradicionais, que so obrigadas a deixaresses espaos que antes ajudavam a pro-teger. Porm, a administrao vem sendomarcada pelo descaso constante por partedas autoridades responsveis.
J as UCs de Uso Sustentvel tambmapresentam os mesmo problemas degesto, tendo como desafio estabelecerquais os recursos naturais que podem ser
utilizados, quem deve utiliza-los e quantadessa utilizao sustentvel. Enquantono se encontram mecanismos eficientespara resoluo de tais questes, os atoresenvolvidos, principalmente as populaestradicionais e locais, continuaro esperan-do por uma gesto eficiente que atenda aosseus anseios e o das geraes futuras.
Dessa forma, apesar das UCs seremconsideradas como um instrumento estra-tgico de gesto territorial pode-se dizer
-
7/23/2019 UCS 2
17/19
257Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
que o pas ainda tem um longo caminhoa percorrer, visto que essas reas conti-nuam relegadas aos mesmos problemashistricos de administrao e gerencia-
mento. Nessa tica, faz-se necessrio novosolhares rumo a minimizao dos conflitospolticos, legais, econmicos, territoriais,sociais, culturais e ambientais que vemdificultando a gesto desses espaos.
Para alcanar a minimizao dos con-flitos, na perspectiva de uma gesto parti-cipativa, necessrio o envolvimento dosatores que possuem interesses na conser-vao dessas reas. Nessa perspectiva, necessrio repensar nos desenhos das UCsde forma que impea a fragmentao e oisolamento da rea, de modo a que a socie-dade civil possa participar de forma ativana busca de alternativas para minimizao,tanto dos problemas internos como exter-nos desses espaos, uma vez que tambmexercem fortes presses sobre as unidades.Nessa anlise, a participao efetiva dosmoradores locais, fundamental paraapontar pressupostos objetivando o uso e
ordenamento desses territrios.Para implementao de fato das UCs in
locu, vrios desafios, rumo a uma gestoparticipativa e gerenciamento efetivo,devem ser enfrentados, tais como: fortale-cimento da poltica de ordenamentos ter-ritorial dos recursos naturais englobandotodas as reas protegidas; elaborao depolticaflorestal estadual; estratgia de re-as prioritrias visando o estabelecimento
de conectividade entre as unidades, comopor exemplo, criao de RPPNs, corredo-res ecolgicos e zonas de amortecimento;elaborao do plano de manejo, planode gesto e de zoneamento econmico-ecolgico das unidades; regularizaofundiria; realizao de concurso pblico;captao de recursos; melhoraria na infra-estrutura administrativa e operacional;ampliao das pesquisas; disponibilizaopara solucionar conflitos locais e insti-
tucionais; estabelecimento de parceriasentre os rgos estatais e as organizaesda sociedade civil; valorizao do conheci-mento tradicional; utilizao dos recursos
naturais pelas populaes tradicionais ecomunidades locais; e a realizao de pro-gramas de educao ambiental.
Outra estratgia importante a criaode comits de gesto participativa comatuao de representantes dos diversossegmentos da sociedade, tais como: doICMBio, das Secretarias Estaduais doMeio Ambiente, do Conselho de MeioAmbiente Estadual, dos Comits de BaciasHidrogrficas, das Prefeituras Municipais,dos setores produtivos, das instituiestcnico-cientfica e dos conselhos de comu-nidades com a finalidade buscar soluestanto para os conflitos internos como paraos externos, uma vez que exercem profun-das presses sobre os ecossistemas.
Somente por meio de iniciativas dessanatureza poder-se- pensar em dar aosespaos territoriais legalmente protegidosa finalidade para os quais foram criados,
sejam eles de Proteo Integral ou de UsoSustentvel.
REFERNCIAS
ALBAGLI, Sarita. Amaznia: fronteira geopolticada biodiversidade. Pareceristas Estratgicas,n. 12,set. 2001. Disponvel em: < http://jadsonporto.sites.uol.com.br/sarita.pdf >. Acesso em: 5 maio2009.
ALONSO, Margarita Flrez. Proteo do conhe-cimento tradicional? In: SANTOS, Boaventura deSousa (Org.). Semear outras solues: os caminhosda biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Riode Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
BENSUSAN, Nurit; BARROS, Ana Cristina;BULHES, Beatriz; BARRETTO FILHO, HenyoTrindade. Introduo. In: BENSUSAN, Nurit; BAR-ROS, Ana Cristina; BULHES, Beatriz; ARANTES,Alessandra (Orgs.). Biodiversidade: para comer,
vestir ou passar no cabelo? Para mudar o mundo!
-
7/23/2019 UCS 2
18/19
258
MARIADOSOCORROFERREIRADASILVA; ROSEMERIMELOESOUZA
Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
So Paulo: Peirpolis, 2006.
BENSUSAN, Nurit. Conservao da biodiversi-dade em reas protegidas. Rio de Janeiro: FGV,2006.
BORGES, Srgio Henrique; IWANAGA, Simone;MOREIRA, Marcelo; DURIGAN, Carlos Csar.Uma anlise geopoltica do atual sistema de uni-dades de conservao na Amaznia Brasileira. In:CI BRASIL (Conservao Internacional): PolticaAmbiental - Conservao Internacional-Brasil. BeloHorizonte: CI Brasil, 2007.
BRASIL. Decreto Legislativo n. 2, de 3 de fevereirode 1994. Aprova o texto da conveno sobre diver-sidade biolgica.Braslia: MMA, 1994.
______. IBAMA. Parque Nacional da Tijuca. Bras-lia: IBAMA, 2004. Disponvel em: < http://www.ibama.gov.br/siucweb/mostraUc.php?seqUc=7 >.Acesso em: 22 jun. 2009.
______. IBAMA.Atlas de conservao da naturezabrasileira: unidades federais. So Paulo: METALI-VROS, 2004.
______. IBAMA. Relatrio resumido das RPPNpor estado.Disponvel em: < http://www.ibama.
gov.br/rppn/index.php?id_menu=73 >. Acessoem: 10 fev. 2009.
______. Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000. Instituio Sistema Nacional de Unidades de Conservaoda Natureza SNUC. Braslia, 2000.
______. Plano Nacional de reas Protegidas.Bra-slia, 2006.
______.Relatrio resumido das RPPNs por estado.IBAMA. Disponvel em: < http://www.ibama.gov.
br/siucweb/rppn/relatorio_resumido.rtf >. Acessoem: 5 fev. 2009.
CSAR, A. L.; PAULA, D.; GRANDO JUNIOR, E.S.; BARRETO FILHO, H. T; FALEIRO, R. P.; GA-NEN, R. S. Proposta de um procedimento pra acriao de Unidades de Conservao. In: LITTLE,P. E. (Org.). Polticas ambientais no Brasil: anlises,instrumentos e experincias. Braslia: IIEB, 2003.
COHEN, M. 2007. Avaliao do uso de estratgiascolaborativas na gesto de Unidades de Conser-
vao do tipo Parque na cidade do Rio de Janeiro.Tese (Doutorado). Disponvel em < http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br > Acesso em: 15nov. 2007.
COPABIANCO, J. P. R. Biomas brasileiros. In:CAMARGO, A.; COPABIANCO, J. P. R.; OLIVEI-RA, J. A. P. (Orgs.). Meio Ambiente: avanos eobstculos Ps Rio/92.Rio de Janeiro: FundaoGetlio Vargas, 2002.
DIEGUES, Antnio Carlos. O mito moderno danatureza intocada.So Paulo: Hucitec, 1993. (SrieDocumentos e Relatrios de Pesquisa, n. 1)
DIEGUES, Antonio Carlos; NOGARA, Paulo Jos.O nosso lugar virou parque: estudo scio-ambien-
tal do Saco de Mamangu Parati Rio de Janeiro.2. ed. So Paulo: NAPAUB/USP, 1999.
DRUMMOND, G. M.; ANTONINI, Y. A contribui-o da Fundao Biodiversitas para implementa-o do artigo 7 da Conveno sobre DiversidadeBiolgica. In: BENSUSAN, N.; BARROS, A. C.;BULHES, A.; ARANTES, A. (Orgs.). Biodiversi-dade: para comer, vestir ou passar no cabelo? Paramudar o mundo! So Paulo: Peirpolis, 2006.
ESCOBAR, Arturo; PARDO, Maurcio. Movimen-tos sociais e biodiversidade no Pacfico colombiano.
In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Semearoutras solues: os caminhos da biodiversidade edos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civiliza-o Brasileira, 2005.
GUILHERME, M. L. Sustentabilidade sob a ticaglobal e local.So Paulo: FAPESP, 2007.
HAESBAERT, Rogrio. Desterritorializao: entreas redes e os aglomerados de excluso. In: CASTRO,I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRA, R. L. (Orgs.).Geografia:conceitos e temas. 5. ed. Rio de Janeiro:Bertrand Brasil, 2003.
INOUE, Cristina Yumie Aoki. O conceito de regimeglobal de biodiversidade e experincias locais deconservao e desenvolvimento sustentvel.Dis-ponvel em < http://www.mamiraua.org.br/ad-min/imgeditor/File/publicacoescientificas/2007/artigo_1pdf >. Acesso em: 5 fev. 2009.
ISA INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Unidadesde conservao na Amaznia legal. Disponvelem: < http://www.socioambiental.org/uc/qua-dro_gera l >. Acesso em: 16 fev. 2009.
MEDEIROS, Rodrigo. Evoluo das tipologias e
categorias de reas protegidas no Brasil. Ambiente
-
7/23/2019 UCS 2
19/19
259Terr@Plural, Ponta Grossa, v.3, n.2, p.241-259, jul./dez. 2009.
UNIDADESDECONSERVAOCOMOESTRATGIADEGESTOTERRITORIALDOSRECURSOSNATURAIS
e Sociedade, Campinas, v. 9, n. 1, jan./jun. 2006.
MORAES, Marlia Britto Rodrigues de. rea deproteo ambiental como agncia de desenvolvi-mento sustentvel: APA Canania Iguape Perube/SP. So Paulo: FAPESP, 2004.
RYLANDS, Anthony B.; BRANDON, Katrina. Uni-dades de conservao brasileira. Megadiversidade,v. 1, n. 1. jul. 2005. Disponvel em: < http://www.unifap.br/ppgbio/doc/06_rylands_brandon.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2009.
SANTOS, Laymert Garcia dos. Quando o conhe-cimento tecnocientfico se torna predao hight-tech:recursos genticos e conhecimento tradicionalno Brasil. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.).Semear outras solues: os caminhos da biodiver-sidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 2005.SANTOS, Milton. Metamorfose do espao habita-do. So Paulo: Hucitec, 1988.
SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Bra-sil: territrio e sociedade no incio do sculo XXI.3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.
SHIVA, Vandana. Biodiversidade, direitos depropriedade intelectual e globalizao. In: SAN-TOS, Boaventura de Sousa (Org.). Semear outrassolues: os caminhos da biodiversidade e dosconhecimentos rivais. Rio de Janeiro: CivilizaoBrasileira, 2005.
VALLEJO, Luiz Renato. Unidades de conserva-o: uma discusso terica luz dos conceitos deterritrio e de polticas pblicas. Disponvel em: . Acesso em: 20 de fev. 2009.
Recebido em 24/07/2009
Aceito em 20/12/2009