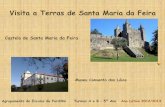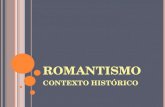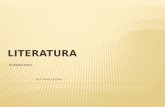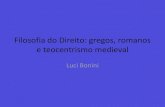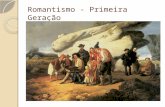UMA VISÃO CRÍTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA DA MÚSICA … · o Medievo ou sobre o Romantismo,...
Transcript of UMA VISÃO CRÍTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA DA MÚSICA … · o Medievo ou sobre o Romantismo,...

1
UMA ANÁLISE CRÍTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA DA MÚSICA NA
GRADUAÇÃO NORTE-AMERICANA E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES À
ACADEMIA BRASILEIRA
Leonardo Salomon Soares Tramontina
Universidade de São Paulo
Resumo: Há muito o ensino da historiografia musical no Brasil carece de postulados
definidos e atualizados frente às práticas historiográficas dos principais centros de
pesquisas do exterior. O intento do presente artigo é, por meio da análise crítica das
palestras do mais representativo evento da área nos Estados Unidos – o II Institute for
Music History Pedagogy, contribuir para o re-posicionamento e conseqüente
atualização de tão importante disciplina no contexto brasileiro.
Abstract: Since long, teaching methods of musical history in Brazil lack proper and
updated paradigms, especially when compared to the practice in the universities around
the world that have important research centers in this field. The intent of this paper is,
through a critical report of one of the most important events of this area in the USA -
the II Institute for Music History Pedagogy, - to contribute to the reshaping and
upgrading of this important discipline in the Brazilian context.
Curriculum:
Possui graduação em Licenciatura em Música pela Universidade de São Paulo
(2007). Mestrando na mesma instituição sob orientação de Rodolfo Coelho de Souza.
Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Musicologia Histórica e Metodologia
de ensino de Historiografia Musical, atuando principalmente nos seguintes temas:
História da Música e Apreciação Musical. Integrante do projeto de pesquisa coordenado
pelo Prof. Diósnio Machado Neto intitulado “Desenvolvimento de método para o ensino
de História da Música”.
Inserido em um projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Método para
o ensino de História da Música” 1, cujo propósito é estudar os paradigmas
1 Equipe composta em 2007, sob a coordenação do Prof. Dr. Diósnio Machado Neto.

2
historiográficos, musicológicos e metodológicos desta disciplina, o presente texto
decorreu, essencialmente, de uma análise crítica das informações obtidas num dos
principais eventos da área, o II Institute for Music History Pedagogy.
Ao avaliar – tomando como referência as discussões e colóquios do congresso,
bem como os estudos anteriores já realizados – as premissas que regem o ensino da
História da Música no contexto da graduação norte-americana, demonstrando como nela
se equiponderam historiografia, musicologia e metodologia, o presente artigo intenta
prover subsídios à construção do sistema pedagógico de tão importante disciplina, bem
como definir sua configuração no ambiente acadêmico.
Para compreender os modelos adotados pela academia americana no ensino de
História da Música, e com isso traçar paralelos com o contexto brasileiro, convém
apresentar um histórico dos acontecimentos e idéias mais pertinentes que permearam e
estruturaram o ensino desta disciplina, bem como delimitaram seus paradigmas atuais.
A partir da segunda metade do século XX, surgem nos cursos de pós-graduação
das Universidades Européias e Americanas grupos de intelectuais que buscam
abordagens pouco tradicionais da historiografia musical, mais críticas e próximas aos
estudos contemporâneos da antropologia e da história cultural, e menos atadas à
musicologia analítica2. Por meio de musicólogos que buscaram “... transcender os
limites da análise interna de obras musicais em favor de um entendimento mais amplo
da música... não apenas como obra ou estrutura autônoma mas, sobretudo como
linguagem ou enunciado situado num contexto sócio-histórico-cultural” (VOLPE, 2004.
p.113) a musicologia americana fez emergir novas perspectivas musicológicas,
expandindo o campo de pesquisa especialmente por meio de relações multidisciplinares.
Tendo em vista que, para os novos paradigmas, a música e as outras áreas do
conhecimento não só constroem o discurso histórico como possibilitam, cada área a seu
modo, um entendimento outrora velado em algumas abordagens, não provoca
sobressalto que a necessidade de inclusão – quando da pesquisa musicológica – dos
estudos provenientes de áreas não correlatas às musicais, se evidencia nesta mesma
época.
Em concomitância ao re-norteamento historiográfico-musicológico face à
interdisciplinaridade irromperam, na transmissão da História da Música, paradigmas
2 A principal figura articuladora nesta transformação foi o musicólogo alemão Carl Dahlhaus (1928-1989), ao fazer uma análise crítica dos movimentos historiográficos do final do século XIX e início do século XX sob a luz da História da Música.

3
metodológicos mais pragmáticos e focados em premissas fundacionais do ambiente de
graduação norte-americano: a ênfase no bacharelado e na formação de músicos
performers. Os novos modelos pedagógicos materializaram-se no que EGGEBRECHT
(Grove’s 1973. p. 599) denomina Antologias músico-históricas (musico-historical
anthologies).
Desde sua origem, esta premissa didática tem o intuito de proporcionar aos
estudantes de graduação e aos musicólogos que exercem a atividade docente exemplos
musicais que representem estilos, gêneros, formas e práticas no transcorrer histórico.
Em outras palavras, oferecer a professores e alunos exemplos musicais que pudessem
resumir ‘adequadamente’ os paradigmas do ‘desenvolvimento’ histórico.
Entre os primeiros exemplos de Antologias incluem3 Geschichte Der Musik In
Beispielen (1931) de Arnold Schering, as conhecidas coleções de Davison e Apel
(1946-50) e a monumental coleção editada por Fereller, Das Musikwerk (1951). Deles
germinaram os principais eixos condutores de elaboração dos métodos de História da
Música vigentes. Por pertencerem cronologicamente à primeira metade do século XX,
os dois primeiros exemplos, e em menor medida a antologia de Fereller, “... revelam a
marginalidade dos musicólogos, aparentemente ignorantes das correntes históricas que
se desenvolviam na época, em particular a escola dos Annales” (CHIMÈNES, 2007. p.
19).
Ao se analisar, pois, o conteúdo e o modo como os exemplos e o texto escrito são
interligados, nota-se a ênfase quase absoluta nos aspectos da análise musical e no estudo
dos estilos e gêneros musicais cronologicamente inseridos, ambos de uma abordagem
historiográfica mais primeva e limitada, o que indica “... a amplitude da distância em
relação ao desenvolvimento das ciências humanas” (Idem, p. 20). É indispensável
atentar que, embora tais aspectos sejam imprescindíveis no entendimento iniciativo da
História da Música, eles representam apenas alguns dentre a profusão de discursos já
desbravados e aqueles por desbravar.
Desde então, uma miríade de novas antologias foi publicada. Trataremos de
exemplificar sucintamente como os métodos mais recentes têm considerado as
pesquisas atuais da musicologia histórica e de que forma as têm inserido em seus
materiais.
3 Vide bibliografia.

4
Via de regra, as antologias contemporâneas constituem-se de: compêndio de
História da Música, uma Antologia de partituras (todas elas mencionadas no
compêndio) com curto texto de análise da obra, gravações correspondentes aos
exemplos da Antologia de Partituras, um livro de exercícios e um sítio eletrônico na
Internet (com materiais de apoio).
Os autores dos métodos mais recentes têm, grosso modo, demonstrado maior
sensibilidade para com as abordagens mais vanguardistas da História quando da
elaboração de seus livros. Isso se evidencia, majoritariamente, de duas formas: (1) nos
denominados “quadros de texto” e, com maior evidência, (2) na constante atualização e
revisão dos textos e exemplos musicais.
Os ‘quadros de texto’ (1) são inserções textuais à parte do corpus do assunto
principal, mas de alguma forma ligadas a ele. Suas temáticas com freqüência se
enquadram nos paradigmas da denominada historiografia cultural, especialmente a
história sob a ótica “...daquilo que ela havia deixado de fora ou tornado invisível”
(BURKE, 2004. p. 64), a saber: a história dos gêneros, econômica, organológica, da
recepção, consumo e produção musicais e da música considerada não séria, bem como
dos ritos musicais como representado e representador das estruturas sociais. Contudo, a
despeito da inconteste disposição, as manifestações mais explícitas de abordagens
sociais ou culturais da História são intencionalmente parcimoniosas, demonstrando que
não há intento em escrever, por exemplo, uma Antologia da música sob o ponto de vista
“feminista”, ou “da recepção e do consumo”. Segundo os autores, os ‘quadros de texto’
são inseridos somente quando sua abordagem representa fator contundente dentro da
cronologia e do tema referentes ao assunto tratado: há, por exemplo, ‘quadros’ sobre o
impacto da recém surgida classe média burguesa na definição dos padrões de consumo,
gosto e composição do Classicismo. Contudo, o mesmo não é feito nos capítulos sobre
o Medievo ou sobre o Romantismo, talvez pelo autor considerar a ascensão da classe
média pouco relevante para os períodos. Caberia, pois, questionar os critérios que
delimitam tais escolhas.
Na assídua reedição dos métodos (item 2), com o conseguinte transladado de
paradigmas, temas e exemplos musicais, é realçada a preocupação dos autores, do
ambiente acadêmico e do meio editorial, com os recentes logros nas pesquisas das
ciências humanas aplicadas aos estudos musicais. Por exemplo, ao deslindar a escolha

5
de alguns dos exemplos musicais do seu Norton Anthology of Western Music4, o
musicólogo Jay Peter Burkholder observa que não procura selecionar necessariamente
‘as grandes obras musicais’ da História (sob o ponto de vista da análise musical
tradicional), mas exemplos que auxiliem seu discurso. Com isso, o autor acata o
princípio de que “não apenas obras ‘exemplares’ e bem sucedidas são importantes para
o nosso entendimento da história da música, mas também aquelas que não foram bem
sucedidas, justamente porque as deficiências nos informam sobre a estética e problemas
composicionais que o autor estava tentando resolver” (VOLPE, 2004. p. 131).
Entrementes, mesmo cônscios de que as “... formas de sumarização... não tenham
simplificado a tarefa, mas sim agravado suas dificuldades” (LANG, 1997, p. 3) os
métodos optaram por uma abordagem generalizadora do conteúdo historiográfico. E, a
despeito dos breves apontamentos em forma de ‘quadros de texto’, das incessantes
alterações no corpus dos exemplos musicais, textos, assuntos e objetivos didáticos, há
um padrão metodológico bastante consolidado5 que visa prioritariamente otimizar o
processo pedagógico, tendo sempre em vista a formação de instrumentistas e
compositores e as realidades práticas daí advindas.
Esta posição frente à disciplina de História da Música ensinada aos
instrumentistas justifica-se por dois motivos: (1) por ela aparentemente carecer de
elementos de apoio e de interesse diretos à performance musical, e (2) por ser este um
grupo profissional que não intenta pleitear para si uma carreira na musicologia histórica,
quando de seus estudos de pós-graduação. Vê-se, pois, que ambos países – Brasil e
Estados Unidos – enfrentam semelhantes dificuldades neste assunto. A musicologia
norte-americana, contudo, demonstra tratar os motivos do desinteresse dos
instrumentistas e compositores frente à disciplina, e as técnicas utilizadas para 'reaver'
tal interesse como objeto sistemático de estudo.
Contudo, quer se trate do contexto americano ou brasileiro, não se deve inquirir se
um músico ‘não-historiador’ estaria desobrigado, por circunstâncias de seu ofício
manual, a se fazer partícipe na contemporaneidade? E, além disso, cientes da escassez
de musicólogos de ofício – e da conseqüente modicidade nas pesquisas acadêmicas,
devem os docentes e as universidades brasileiras privar os graduandos de um contato
com os conhecimentos mais eruditos da pós-graduação? 4 Vídeo disponível no site: http://www.wwnorton.com/college/titles/music/grout7/video.htm. Acessado em 05/04/2009. 5 Para maiores detalhes, vide monografia “Análise de seis metodologias no ensino de História da Música”.

6
Questionamentos à parte, a academia americana, ao privilegiar os estudos
performáticos na graduação (deixando a pesquisa acadêmica propriamente dita para a
pós) tem, desde a segunda metade do século passado, influenciado sobremaneira a
estruturação dos currículos das universidades americanas – e conseqüentemente a
elaboração de material didático que os nutre - de tal modo que não há disciplina da área
musical que não disponha de abundante material bibliográfico nos moldes
metodológicos das “Antologias”. Portanto, se por um lado os estudos historiográficos
são tratados em seus termos mais gerais e os pontos de vista da história cultural são
destilados por 'amostragens' – comprovando que as atualizações musicológicas se dão
num nível mais elementar, por outro, a busca por um pragmatismo pedagógico cada vez
mais eficiente tem, paulatinamente, se tornado a ocupação acadêmica de inúmeros
musicólogos.
Uma vez que a universidade brasileira, ao fundamentar seus cursos de graduação
em música, demonstra adotar práticas análogas às das faculdades americanas, o contato
com a postura destas frente às abordagens da História Cultural no ensino de História da
Música e frente aos paradigmas pedagógicos desta disciplina, pode sugerir diretrizes de
ensino à graduação e à pós-graduação brasileiras, quer se trate da denominada Música
Ocidental ou especificamente da tradição musical brasileira. Não obstante, antes de
definir quaisquer apropriações e adaptações metodológicas, há que se estudar as
especificidades de nosso ambiente musical6.
Sendo o Institute for Music Pedagogy um acontecimento representativo quanto às
abordagens, preocupações, predileções, métodos e objetivos supracitados, uma
visualização mais detalhada de seus componentes certamente permitirá o entendimento
dos paradigmas estruturadores da historiografia musical americana, o que, por sua vez,
pode ser útil na formulação dessa disciplina no Brasil.
Na resenha do livro Teaching Music History, James Briscoe faz notar que “hoje…
a musicologia… não reconheceu a pedagogia da Musicologia e Historia da Música
ensinadas na graduação como objeto de estudo acadêmico” (BRISCOE, 2002 p. 694).
Entretanto, como observa o autor e como comprovam ambos os I e II Institute for Music
History Pedagogy realizados, respectivamente, em 2006 e 2008, as inúmeras
6 O primeiro passo deste estudo, sob a forma de uma dissertação, está em andamento.

7
problemáticas relacionadas à transmissão desta disciplina parecem receber, cada vez
mais, “um posto permanente em nossos currícula” (Idem, p. 694).
O congresso é parte de uma iniciativa do College Music Society cujo intento é
promover bienalmente, e em associação a outra instituição de ensino, um ambiente de
discussão e troca de experiências sobre o ensino de História da Música no contexto
norte-americano. Oficialmente denominado “The CMS/Juilliard Institute for Music
History Pedagogy” em sua segunda edição, o evento foi realizado entre os dias 4 e 8 de
junho de 2008. Suas 8 palestras, 3 debates, 3 concertos e 2 visitações ocorreram em três
lugares: nas instalações da “The Juilliard School of Music” – sob auspícios do
departamento de História da Música da mesma instituição, no “The Metropolitan
Museum of Art” e no “The Bruno Walter Auditorium of the Performing Arts Library at
Lincoln Center”.
Seguem, em sua cronologia, as palestras realizadas, bem como um resumo crítico
dos temas propostos:
“Textos, contextos e não-textos na pedagogia da História da Música”, James
Parakilas;
Em sua palestra, Parakilas buscou o amálgama entre as preocupações pedagógicas
mais pragmáticas evidentes no cenário norte-americano e o contato com as áreas da
pesquisa musicológica sob influência das novas correntes historiográficas, quando da
atividade docente.
Para isso, fez uso de suas atividades didáticas no Bates College, contexto onde
aplica três abordagens quanto ao conteúdo historiográfico, denominadas por ele,
respectivamente, de “Texto”, “Contexto” e “Não-texto”. O musicólogo, a fim de
exemplificá-las mais facilmente, delimita-as em torno: (1) dos desafios da partitura para
a performance musical, (2) de como se diferenciam as tradições de ensino de História da
Música referenciadas ou não pela notação musical tradicional, e (3) de como as diversas
abordagens no ensino desta matéria podem contribuir na ampliação das perspectivas
cognitivas dos alunos (e dos próprios professores).
A visão 'Textual' refere-se aos conhecimentos construídos a partir de uma tradição
que se ateve à análise de textos musicais (escritos, tratados e partituras). Sem, contudo,
dirimir a importância desta, o autor privilegia os outros dois constructos.

8
A segunda abordagem, diz respeito ao entendimento da História da Música dentro
de um 'Contexto' e, segundo o palestrante, apresenta duas facetas: (a) uma vertente mais
tradicional e anciã, que infunde gêneros e estilos musicais a uma História geopolítica de
caráter cronista – e cujo exemplo representativo seria, segundo Parakilas, a Antologia
de Donald J. Grout e Claude V. Palisca, e (b) as linhas teóricas mais recentes, calcadas,
por exemplo, nos fluxos econômico-sociais como fontes da pesquisa histórica7. Ele
também observa o aparecimento de um terceiro caminho, responsável pela união entre
as duas histórias contextuais, sendo representado pelo método do Prof. Jay Peter
Burkholder8.
Influenciado pelos estudos históricos antropológicos do historiador francês Mark
Bloch, o 'Não-texto' tem por paradigma a oralidade e a recepção enquanto constructos
históricos. Seguindo o legado da escola dos Annales, Parakilas comenta existir algumas
épocas e situações (contextos temporais e/ou geográficos) que não somente se permitem
um entendimento via discurso oral ou via recepção, mas são construídos tendo por
principal meio de compreensão histórica tais premissas.
A música Pop, ao privilegiar como prática cultural o processo de gravação e
distribuição de Cds ou DVDs, reformula o conceito de autoria de uma obra. Uma
conhecida canção executada por Frank Sinatra – New York, New York, por exemplo –
tem sua autoria “apropriada” pelo cantor americano na medida em que o público os
indissocia. Diferentemente da 5ª Sinfonia de Beethoven, o compositor é excluído do
processo e o intérprete passa a ser o “autor”.
Outra atividade realizada é instigar os alunos a estudar, por exemplo, os modos de
transmissão orais do Jazz e de como elementos particulares desta manifestação cultural
– como o desapego por questões como as 'interpretações historicamente orientadas' –
são reflexos destes modos de ação frente à História.
No último exemplo, o palestrante diz também incentivar os alunos instrumentistas
a executarem as obras musicais estudadas. Com isso ele intenta oferecer uma
oportunidade de discussão sobre como determinadas decisões interpretativas
modificaram e modificam o ambiente musical e consequentemente a produção cultural. 7 Entre outros, o autor cita o antológico texto de W. Benjamin obre a reprodutibilidade da obra de arte e o livro “Noise: the political economy of music”, de Jacques Attali. 8 A opinião de Parakilas é condizente com o histórico do método de Burkholder. Inicialmente, o Norton Anthology of Western Music era uma combinação não criteriosa de dois materiais: a Antologia de partituras editada por Claude Palisca e o compêndio escrito pelo Prof. Donald Grout. Após o falecimento dos autores a editora Norton nomeou um musicólogo encarregado de compatibilizar os conteúdos e atualizar as abordagens de ambos materiais. O encarregado dessa tarefa, pois, foi o Prof. Peter Burkholder.

9
Ao demonstrar seus procedimentos pedagógicos na graduação, Parakilas revelou
ser possível encontrar um meio termo que, simultaneamente, evite um pragmatismo
excessivo e pouco inovador e ofereça a possibilidade do graduando entrar em contato
com as vertentes historiográficas mais atuais.
“Como a História da Música funciona – ou não! – na mente de um performer”,
Michael Beckerman;
Nesta palestra, Beckerman elucubrou sobre como a História da Música poderia
integrar-se à performática musical, especialmente o que ele denomina de “dois modos
de execução”: a performance historicamente consciente, atenta às variações nos
discursos, parâmetros e entendimentos sobre a posição da música e do homem no
tempo, e a baseada nos 'instintos' do músico, em suas vivências subjetivas. Veremos,
entretanto, que a metodologia usada para mensurar tal integração parece inexata, uma
vez que oferece dados pouco factíveis e as conclusões, ao desatenderem importantes
variáveis, produzem resultados por vezes indistintos.
Sendo professor da New York University, Beckerman solicitou a três de seus
alunos o estudo de uma obra musical por eles desconhecida – o primeiro movimento de
um trio de cordas do compositor checo Gideon Klein9. Inicialmente, as únicas
informações disponíveis sobre a obra eram aquelas passíveis de serem obtidas na
própria partitura, essencialmente por intermédio da análise formal e harmônica. Após
alguns ensaios preparatórios, os instrumentistas foram ao estúdio de gravação.
A segunda etapa da pesquisa consistiu em informar aos músicos detalhes sobre a
vida de Klein, sobre o contexto em que a obra foi composta, bem como os momentos do
trio em que o compositor cita trechos de outras obras musicais que, direta ou
indiretamente, aludiam ao contexto desafortunado no qual Klein estava inserido. Após
mais alguns dias de ensaio, o grupo foi novamente ao estúdio.
Feito isso, comparou-se as gravações e, no que concerne à interpretação musical,
seguintes foram as evidências: (1) a segunda gravação é consideravelmente mais
extensa, (2) de caráter mais lúgubre (devido ao realce nas notas graves) e (3) apresenta
as citações textuais mais evidenciadas. 9 Compositor e pianista nascido em Prerov (1919-45), República Checa. Estudou composição com Alois Hába e piano no Conservatório de Praga. De origem judaica, foi ainda jovem deportado para o campo de concentração de Terezin onde, junto com outros músicos, executou obras próprias e obras de Shoenberg, Berg, Janacek, entre outros. Disponível em http://gideonklein.cz/ukuvod.htm. Acessado em 04/02/2009.

10
Após demonstrar em pormenores as disparidades citadas, Beckerman tentou
associar as três dessemelhanças interpretativas à presença – ou não – dos dados
contextuais transmitidos aos instrumentistas. Não teriam as duas primeiras dissensões
(itens 1 e 2) – pondera o palestrante – sido originadas no anseio dos intérpretes em
enfatizar o contexto profundamente trágico em que a obra foi criada, priorizando a
execução mais lenta e 'triste'? Antes mesmo de responder, ele próprio nota a
incongruência metodológica desta abordagem, concluindo que a gravação poderia estar
mais lenta por este mesmo motivo, ou simplesmente por que os músicos estavam mais
cansados naquele dia, ou por terem tirado uma nota baixa em uma prova, ou brigado
com seus respectivos namorados, etc. Já o terceiro item – a evidência dos trechos onde
há intertextualidade – não deveria ser considerado elemento quando da comparação das
execuções, pois as informações fornecidas por Beckerman sobre quais eram e onde se
localizavam os temas e melodias apropriadas por Klein poderiam ter sido obtidas de
antemão, tivesse a obra sido analisada em seus pormenores.
Finda a exposição, o palestrante chamou ao palco um segundo trio de cordas
composto por alunos da própria Juilliard, outrora sujeito aos procedimentos do grupo
anterior. A cada um dos três integrantes foram inquiridas perguntas sobre as
disparidades interpretativas entre as versões, bem como sob quais paradigmas a obra foi
're-concebida' pelos músicos tendo em vista as novas informações contextuais
fornecidas por Beckerman.
O fato de respostas díspares e variadas terem sido dadas às mesmas perguntas –
impossibilitando assim conclusões de qualquer espécie – evidenciou as lacunas do
procedimento analítico de Beckerman que, curiosamente, demonstrou plena consciência
das fraquezas metodológicas de sua pesquisa.
Tais deficiências, contudo, trouxeram à tona uma discussão estética frutífera,
especialmente se inserida nos estudos da recepção e da interpretação musicais como
discursos temporais. Qual das execuções do trio era a mais 'integra' musicalmente? A
baseada puramente no 'instinto' dos músicos, ou a imbuída de informações históricas?
Sem tentar responder difícil questão, Beckerman, antecipou que tal problemática será
objeto de estudo acadêmico, em prossecução ao tema tratado na palestra. Espera-se,
pois, deste estudo vindouro contribuições mais concretas e veementes às pesquisas da
musicologia.
“Ensinando Música Antiga a performers e compositores” Craig Wright;

11
A temática da palestra encontra-se em paridade com as preocupações de boa parte
dos professores de História da Música nos Estados Unidos: como devem ser norteados
os parâmetros pedagógicos, desde o seu nível mais elementar – o da relação professor-
aluno em sala de aula – até a seleção e abordagem dos conteúdos, a fim de despertar no
bacharelando o desejo por aprender a matéria. O autor, pois, parte do discurso –
recorrente entre os palestrantes e entre os docentes norte-americanos – de que, estando o
interesse da grande maioria dos alunos focado em áreas pouco envolvidas com a
historiografia musical, a disciplina de História da Música acaba por ser um nó górdio no
currículo da graduação. E adverte que, no caso da música antiga (anterior ao barroco
tardio), a ojeriza é potencializada pelo desconhecimento quase total do repertório.
Nas atividades letivas da Yale University, Wright diz separar suas classes entre
(A) instrumentistas e (B) compositores, pois, segundo o autor, uma vez que os anseios e
objetivos de ambos diferem em considerável grau, deve-se oferecer atividades,
conteúdos e exercícios diferenciados para cada curso, a despeito de objetivarem os
mesmos propósitos.
Antes, entretanto, de especificar os traços próprios a cada grupo, há que explicitar
as técnicas didáticas comuns a ambos: (1) a necessidade de se enfatizar que a beleza e
complexidade do repertório antigo equiparam-se às das grandes obras primas do
repertório clássico tradicional (barroco, classicismo, etc.); e (2) o estudo das obras e
especialmente da teoria musical antiga contribui para o entendimento de questões
fundacionais relacionadas à interpretação musical.
Para o performer (grupo A), o musicólogo sugere, por exemplo, que os
bacharelandos (especialmente em canto) aprendam a Solmização solfejando uma obra
conhecida, ou percebam mais claramente as diferenças entre canto responsorial e
antifonal adaptando a uma melodia de cantochão existente uma letra da música pop
(prósula). Já para pianistas e cravistas, Wright realiza em suas aulas um estudo mais
aprofundado da teoria musical antiga no que concerne aos sistemas de afinação, desde a
lira grega até o temperamento barroco. A dramatização teatral também é um recurso
utilizado pelo autor que, para demonstrar como o cantochão se insere na solenidade da
liturgia da igreja medieval, apaga as luzes da sala, acende incenso e velas, numa
reprodução parcial da vida religiosa da época. No caso das formas e ritmos das danças
de corte medievais e renascentistas, professor e alunos reproduzem de forma
simplificada as coreografias e gesticulações típicas desse contexto.

12
Duas são as abordagens para manter o interesse dos compositores (grupo B) pelo
conteúdo das classes: demonstrar, sob o olhar da análise musical, as analogias entre as
práticas composicionais antigas e as do século XX e XXI (a isoritmia em Machaut e o
minimalismo de Steve Reich, por exemplo), e um trabalho final em que é requerida do
aluno a composição de uma pequena obra utilizando determinadas técnicas presentes
em certos compositores de outrora (contraponto palestriniano, cadência de Landini,
etc.). O musicólogo observa que este exercício final em estilo neo-medieval ou neo-
renascentista tem estimulado seus estudantes a adquirir maior respeito e reverência
pelos compositores antigos. Além disso, ao utilizar procedimentos de criação
paradigmáticos da pós-modernidade (o estudo das linguagens composicionais de outrora
e as citações), Wright instiga os alunos a ponderar sobre problemáticas da
contemporaneidade, em especial a “desconstrução” (HELLER, p. 13-32) da confiança
em um saber científico cujas conquistas espelhariam (e seriam espelhadas pelo) o
desenvolvimento da humanidade.
Quanto aos exemplos musicais, o autor aventa para peças capazes de propor
desafios e questionamentos, que tenham relevância para os estudantes como intérpretes
e compositores, e que permitam traçar conexões com obras atuais e/ou próximas do
cotidiano dos alunos.
Como exemplificado, os postulados filosóficos do autor demonstram ter como
âmago uma pedagogia musical centrada especificamente numa abordagem analítica da
História da Música. Contudo, é mister observar que, se por um lado a análise musical
tradicional oferece aos compositores e intérpretes exemplos e soluções mais
assimiláveis e imediatas, em conformidade com os propósitos profissionais dos
instrumentistas, por outro, demonstra combalir os intentos de extrapolar o prisma
analítico em prol de entendimentos outros da História.
“Selecionando pontos, conectando pontos: a Antologia como História”, Mark Evan
Bonds;
Partindo de micro para macro problemáticas, ou seja, de questões analíticas
pontuais em obras musicais ditas paradigmáticas, para o modo como elas se inserem no
edifício social como um todo, o intento de Bonds nesta palestra é elucidar seu modus

13
operandi ao escolher e selecionar os ‘pontos’ para seu método “A history of music in
Western Culture”10.
Por ‘pontos’ entende-se toda e qualquer observação e abordagem (Bonds não
distingue claramente ambas) que o docente – responsável pela escolha e transmissão do
conteúdo – considera relevante em se tratando da historiografia musical ensinada à
graduação. Podem ser, portanto, fatos históricos, elementos estilísticos, procedimentos
analíticos e composicionais, ou abordagens históricas (atuais ou não).
Nesta seleção consideram-se, inicialmente, parâmetros quantitativos tais como:
(1) o tempo que os cursos de música disponibilizam em seus currículos para a
disciplina, (2) a proporção entre o número ideal de páginas, partituras e CDs e a
viabilidade financeira do material (preços exeqüíveis, lucro, etc.), (3) o direito autoral
de imagens, gravações e partituras. Quanto aos fatores qualitativos, almeja-se um
aprumo equânime entre história cronológica, analítica, estilística, racial, e de gêneros
que, em concomitância à imprescindível contribuição na formação do instrumentista,
também incite discussões mais abrangentes, transpassando o limite da própria música.
Findos os procedimentos de escolha, Bonds tratou de exemplificar suas estratégias
conectivas, todas elas concernentes – direta ou indiretamente – ao chamado “musical
borrowing”, ou apropriação musical. Normalmente conhecido em seu sentido literal – a
citação verbatim11, o termo costuma ter, entrementes, nuances outras, sendo que de
algumas delas o autor faz uso sistemático.
Ao se estudar os exemplos proferidos, observa-se oito tipos principais de “musical
borrowing”: (1) a simples ‘atualização’ estilística de um trecho musical, geralmente
melódico (2) um mesmo texto ‘musicado’ por diferentes compositores, (3) a adaptação
de técnicas de composição e conceitos formais ou teóricos (gêneros, encadeamentos
harmônicos, texturas, formas, instrumentação, etc.) a uma nova linguagem, (4) a
reutilização de uma temática político-social existente, agora ligada a um novo contexto
temporal (geralmente ligada à Ópera buffa), (5) a apropriação de gêneros musicais
associados a certos pathos dramáticos (como o papel do coro como comentarista da
ação dramática), (6) as citações autobiográficas dentro de uma obra, (7) a ‘re-
composição’ ou ‘re-arranjo’ de obras já existentes e (8) a citação literal crítica, onde a
10 BONDS, Mark Evan. A History of music in western culture. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 11 Um exemplo paradigmático de musical borowing literal no século XX é a Sinfonia de L. Berio, na qual ele não somente cita trechos de obras musicais, mas fragmentos textuais.

14
inserção do conteúdo musical existente é elemento sine qua non à construção do
discurso musical da nova obra.
Através da análise comparativa, por exemplo, de quatro Lieder compostos,
respectivamente, por Reihardt, Schubert, Schumann e Hugo Wolf, todos tendo como
texto o poema Kennst du das Lang, o musicólogo busca demonstrar como a
metamorfose dos paradigmas românticos alterou paulatinamente o gênero ao longo do
século XIX. Em segundo lugar, ele explicita o conceito – herdado da escola dos Annales
– de que tais novos esclarecimentos só foram evidenciados por meio dessa visão
específica sobre a História12.
Há, pois, neste fluxo conectivo entre pequenos e grandes eventos, a iniciativa de
conciliar análise musical ao todo historiográfico, demonstrando concordância ideológica
com o pressuposto de que “... uma verdadeira Teoria da Música deve mostrar como a
sensibilidade dos homens de uma sociedade dada pode se simbolizar pela escrita
musical” (FAUQUET apud CHIMÈNES, 2007, p. 23).
Como observação adenda, é curioso notar como uma didática pragmática, cujo
objetivo cardinal é despertar o interesse nos graduandos, acaba por fornecer um olhar
em paridade com as mais hodiernas vertentes da pesquisa historiográfica.
“O ensino da História da Música através da arte”, Barbara Hussano Hanning e
“Saindo do fundo do poço, ou, Ensinando pelo contexto”, James Briscoe.
Pela similitude na temática e no modo como ela é tratada, optou-se pela análise
conjunta destas duas palestras.
Partindo da teoria psicológica da ‘percepção inteligente’ de Rudolf Arnheim, pela
qual a percepção e o entendimento artísticos não são mais considerados constructos
intelectuais vagos e subjetivos, os palestrantes apresentam táticas pedagógicas que se
assemelham às práticas conectivas de Bonds. Ao contrário deste, contudo, fazem uso
não de citações, mas de associações pictórico-musicais. Para transmitir aos seus alunos,
por exemplo, o procedimento da isoritmia na Escola de Notre Dame, Hanning associa
suas linhas rítmicas aos diferentes layouts (arcadas, galerias, clerestorium, triforium) da
catedral gótica que dá nome à escola. O ponto de fuga em uma obra renascentista é
12 É por meio deste tipo de aborgadem sobre o ‘passado’ que a ‘história infinita’ de Jenkins se produz, demonstrando que “nós, de certa maneira sabemos mais sobre o passado do que as pessoas que viveram lá” (JENKINS, p. 34).

15
comparado aos pontos de imitação da polifonia de Josquin. A fim de elucidar os
artifícios psicológicos do drama operístico barroco em seu intento de mover os afetos do
público, ambos se utilizam de intensas análises de obras de Bernini, Caravagio e
Artemisa Getilineschi.
Nas fartas exemplificações notam-se duas tipologias de associações músico-
visuais: uma mais direta e com intentos claramente mnemônicos, que concatena quase
literalmente elementos musicais (ritmo, textura, forma, etc.) a imagens visuais, e as
relações indiretas, cujo objetivo é tornar mais inteligível aos alunos um conceito amplo
e abstrato que transpassa os limites entre as artes (nos moldes iniciados por Panofsky);
em outras palavras, transpor à imagética conceitos abstratos complexos, a fim de
facilitar seu entendimento. Ao conciliar ambas tipologias, Briscoe e Hanning – assim
como Bonds e Wright – explicitam os já reportados paradigmas da Academia
estadunidense frente à disciplina de História da Música ensinada à graduação.
“História da Música e o estudo no estrangeiro, e as conexões que ambos podem
criar na sala de aula”, Mark Pottinger;
Este colóquio decorreu das vivências de uma viagem-curso de quatro semanas
realizada por Pottinger e seus alunos do Manhattan College a Paris e seus arredores. O
objetivo da mencionada jornada era fomentar, por meio de estratégias não usuais, a
discussão das características e dos contextos da produção musical na região, desde a
música medieval e a escola de Notre Dame até a chanson pop e o jazz gaulês. Dentre as
táticas utilizadas, houve aulas em sítios arqueológicos, catedrais, museus, visitação de
lugares históricos e parques. Afora as atividades mencionadas, requeria-se do aluno
passeios livres pelos bairros da cidade, visitas a concertos, além de provar da
hautcoisine em um restaurante parisiense e assistir a um Jam Session.
Por meio de uma didática mais palatável, o método de Pottinger, de soslaio
inopinado e prescindível, almeja encalçar nos graduandos a imanente juntura entre a
História das Idéias e das práticas musicais: busca-se demonstrar, por exemplo, como o
contato com o mobiliário urbano, ruelas, cheiros, sabores e vestimentas pode enriquecer
o entendimento dos acontecimentos, justamente por serem estes feitores do discurso
historiográfico em igual medida aos grandes eventos geopolíticos. Infere-se, pois, que o
musicólogo prioriza uma análise em que a música pode ser um foco ímpar à percepção
de eventos extra-musicais (políticos, filosóficos e artísticos, etc.), ou seja, que ela

16
“... participa de redes de representação onde se apropria de significado e nela cria
identidade” (MACHADO NETO 2007, p. 18).
A conjunção entre o que o professor denomina de História das Idéias e das
práticas musicais na França foi mediada especialmente por dois projetos finais. Ambos
exigiam dos alunos dados e análises que clarificassem como uma determinada obra de
arte, compositor e personagem (escolhidos pelos discentes) representam e refletem o
período em que viveram.
Na impossibilidade de organizar uma viagem desta magnitude, o autor sugere
paralelos em menor escala, tais como visitações a museus, bibliotecas e lugares
históricos, ou mesmo por meio de programas de computador tais como o Google Earth,
por meio dos quais é possível percorrer, por exemplo, as ruas de Paris ou de Londres e
observar construções em seus pormenores.
Ao transpor a interatividade da viagem à sala de aula presencial, além de utilizar
técnicas análogas às de Bonds e Wright como, por exemplo, dramatização, execução
pelos alunos das obras estudadas em classe, etc., Pottinger age em concordâncias às
práticas pedagógicas vigentes nos Estados Unidos. Fica evidente, conquanto, que tais
procedimentos são utilizados como catalisadores de um entendimento que pretende
ultrapassar o lugar comum da análise musical, no qual o exercício da arte composicional
e interpretativa é considerado em sua autonomia.
Ao supracitado, acresce-se um item incomum à maioria das abordagens: a
inserção dos alunos como figuras ativas nas escolhas metodológicas do docente,
permitindo a eles, por exemplo, a possibilidade de contribuir na elaboração dos Sylabi
do curso. Na explicitação do conteúdo a ser transmitido e da didática de ensino e de
avaliação, confere-se seriedade à atividade docente, respeito pela disciplina e segurança
aos discentes.
“Decodificando a disciplina de História da Música”, Jay Peter Burkholder;
Apesar do autor do Norton Anthology of Western Music aportar sobrelevada
importância aos entendimentos culturais da história, subordinando, em seu método, a
musicologia analítica ao discurso histórico, o tema de seu colóquio acercou-se às
contribuições mais recentes dos estudos pedagógicos da educação superior,
desenvolvidos e adotados pelos professores da Indiana University.

17
Basicamente, eles consistem de mecanismos cujo objetivo é externar os múltiplos
modelos didáticos utilizados pelo professor na transmissão dos conteúdos, a fim de
sanar eventuais agruras de entendimento dos alunos.
Antes de adentrar em seus pormenores, é conveniente observar que a idéia básica
que permeia tais mecanismos se assemelha à de Pottinger, quando este informa aos
alunos seus procedimentos metodológicos, aceitando, inclusive, sugestões em seus
Sylabi. Não obstante, o chefe da cadeira de Musicologia da Universidade de Indiana
destrinça o tema, apropriando-se de estudos de outros campos educacionais.
Como tarefa iniciativa, o autor nomeia aquelas que acredita serem as principais
dificuldades do alunado americano na História da Música: (1) identificar e diferenciar
as principais características de estilo e gênero musicais; (2) desenvolver estratégias para
identificar obras desconhecidas por data, gênero, estilo e compositor; (3) relacionar
apropriadamente uma obra musical a seu contexto cultural; (4) selecionar quais aspectos
do contexto de uma obra são mais ou menos relevantes; (5) escrever sobre música
utilizando prosa descritiva que pontue características concretas da obra; (6) escrever um
artigo defendendo ou contestando uma tese dada.
Objetivando 'decodificar' a disciplina, bem como resolver tais dificuldades,
Burkholder propõe uma série de passos que consistem, essencialmente, em: localizar os
entraves específicos da turma, esmiuçar e explicitar as táticas que um musicólogo
experiente (no caso, o próprio professor) utilizaria para sanar tais agruras, criar um
ambiente de ensino estimulante, e avaliar e compartilhar os logros obtidos após este
processo (através de exercícios, discussões e pequenos artigos).
Após minuciar os procedimentos de decodificação, o autor apresentou uma
asserção noviça e singular, outrora não considerada por outro palestrante, e
imprescindível à formação do pesquisador: o ensino do pensamento e da escrita
argumentativa utilizada no ambiente científico. Alicerçando-se na literatura que versa
sobre as técnicas de escrita na pesquisa científica, bem como atentando para a o caráter
imperioso da denominada Cultura Geral como elemento formativo do conhecimento13,
Burkholder demonstrou como orienta e incita seus alunos a escrever sobre música e a
defender ou ‘atacar’ uma tese utilizando-se dos meio apropriados.
Conclusão:
13 O tema da cultura geral foi, inclusive, abordado em uma das mesas redondas do evento (“Cultural Literacy”).

18
Pelas temáticas apresentadas no II Institute, confirma-se uma tenaz preeminência
de postulados e estratégias referentes à otimização de um processo pedagógico
centrado, sobretudo, nos objetivos profissionais dos bacharelandos. Isso se evidencia,
por exemplo, nas táticas mnemônicas de Hanning e Briscoe, nas associações de Wright,
Bekermann, Bonds e Pottinger, bem como na preocupação de Burkholder em entender e
aperfeiçoar as práticas didáticas. Discussões referentes à necessidade da atualização
historiográfico-musicológica como orientadora dos paradigmas da disciplina e como
aporte ao entendimento foram tíbias. Apenas Pottinger e, especialmente, Parakilas
demonstraram preocupações para além das técnicas puramente pedagógicas. Conclui-se,
pois, que a pluralidade na abordagem do conteúdo não foi plenamente considerada
como fator pedagógico.
Contudo, postular a inexistência de uma preocupação da Academia norte-
americana pelo tema seria prematuro, uma vez que a observação criteriosa dos
compêndios de História da Música e de seus materiais auxiliares (antologia de
partituras, livros de exercícios, gravações e sítios na Internet) revela que a apropriação,
pela graduação, dos paradigmas historiográficos e musicológicos mais atuais –
presentes nas pesquisas da pós-graduação – tem se avolumado e adquirido deferência.
No caso específico do Institute, isso se manifesta especialmente em Pottinger e
Parakilas, curiosamente os únicos palestrantes que não são autores de Antologias14.
Ambos comprovam ser possível conciliar a tão imperiosa eficiência pedagógica
centrada na performance às abordagens historiográficas capazes de enriquecer o
entendimento da História. Ambos demonstram, com isso, seguir o conselho de
Hepokosky (2005, sem pág.):
“… apesar de costumeiramente não se inserir questionamentos intrincados nos cursos de
graduação, devemos, contudo, sensibilizar os estudantes à existência de análises musicológicas
mais ‘complexas’, com as quais alguns deles entrarão em contato no futuro. Se a musicologia não
é sempre ensinada per se, deveria ao menos ser referida com freqüência, invocada da mesma
forma que se invoca o Cálculo (como uma espécie de terra prometida da matemática) aos
estudantes de Álgebra I”.
14 Para uma análise pormenorizada dos métodos, vide bibliografia: TRAMONTINA, Leonardo S. S. Análise de seis metodologias de ensino de História da Música.

19
A despeito da mencionada conciliação, a graduação americana definiu a
subordinação da pedagogia e do conteúdo historiográfico à realidade profissional dos
estudos performáticos, tida como sua linha mestra, assumindo formalmente as
conquistas e reveses decorrentes desta postura. E, na medida em que isso se generaliza,
recrudescem as contribuições e os estudos acadêmicos na área. As palestras do Institute
for Music History Pedagogy corroboram, pois, a premissa de que a pedagogia vem
paulatinamente sendo tratada nos Estados Unidos como objeto de estudo científico
(BRISCOE, 2004, p. 694).
Antes de traçar correlatos capazes de enriquecer o ensino desta disciplina no
Brasil deve-se ter em mente que, a despeito do supracitado recrudescimento das
pesquisas (consubstanciados por artigos, livros e congressos) e do conseguinte avanço
na formulação dos métodos de ensino, o estudo sistemático da pedagogia desta
disciplina pelo ambiente acadêmico estadunidense é deveras recente e está, todavia, em
consolidação. Uma pesquisa realizada por James Briscoe (1999, sem pág.) revela que
até recentemente, dos cursos de pós-graduação em musicologia nos EUA e Canadá,
apenas quatro requeriam ou ofereciam em seus currículos a disciplina de Pedagogia da
História da Música.
Em contrapartida ao que se possa inquirir, tal situação inconclusa pode ser
deveras produtiva na medida em que permite aos estudiosos brasileiros o contato com
paradigmas e modelos ainda em formação, possibilitando fecundos diálogos e trocas
entre ambos contextos.
Num primeiro momento, a postura da Academia brasileira perante o estudo da
História da Música na graduação, ao subordinar seu estudo à interpretação musical,
parece assemelhar-se à das universidades norte-americanas. Esta afirmação,
entrementes, é inconclusa, uma vez que o sistema pedagógico no Brasil carece tanto de
linhas definidas de ensino quanto de didáticas que permitam a aplicação direta do
conteúdo histográfico (de premissas atuais ou não) no aperfeiçoamento da prática
instrumental.
Como inferido em uma pesquisa realizada entre 2006 e 2007 (TRAMONTINA,
2007, p. 251-253) a docência brasileira costuma adotar uma atitude acrimoniosa frente
aos estudos sistemáticos sobre a receptividade, a compreensão e memorização do
conteúdo, bem como sobre sua serventia para o bacharelado. Tal postura, justificada por

20
um construtivismo eclético15, de termos vagos tais como “esforço de desburocratização
do ensino” onde “cada semestre é diferente dos demais” e o “critério, o horário, etc., são
informais” é implausível no mundo da pesquisa acadêmica. Demonstra-se partir mais de
uma indiligência pedagógica do que de uma atitude originada a partir de um paradigma
mais heterodoxo e menos hermético que costuma permear a tradição de ensino no
Brasil. Outrossim, cabe indagar a efetividade dessas condutas pouco sédulas, uma vez
que elas em nada contribuíram para a profissionalização da atividade docente no âmbito
da historiografia, pedagogia e da pesquisa científica.
Se, por um lado, o ecletismo pedagógico tem sido improfícuo, por outro, as
tentativas no sentido de apresentar aos graduandos perspectivas tais como a da
Antropologia Histórica, da História Social, da História da Recepção, da Cultura popular,
e dos Gêneros, etc., costumam ser realizadas por meio de uma coadunação equivocada
entre interpretação histórica da música antiga e estilos musicais. Em outras palavras, à
denominada “musicologia aplicada” (STEVENS apud KERMAN 1987, p.255) é
atribuída uma abordagem vanguardista, fazendo com que se passe por História Cultural.
Neste processo, tanto o pragmatismo pedagógico quanto a atualização histórico-
musicológica são desabonados.
Soma-se a isso o explícito descaso da Universidade para com a disciplina,
evidente, por exemplo, na indisponibilidade de matérias nos cursos de pós-graduação
focadas na profissionalização do ensino de História da Música. Como conseqüência do
fomento ao diletantismo, a matéria é costumeiramente transmitida por docentes cujos
focos de pesquisa distam por completo dos estudos sobre historiografia musical. Por
advirem de outras áreas da música, eles costumam ter um conceito ainda mais
desacertado das possíveis funções da História da Música no ambiente universitário
(dentre os temas de discussão diletos entre estes professores encontra-se a já
mencionada “interpretação historicamente orientada”).
Acaso não seria desatino substituir um professor de violino, impossibilitado de
lecionar, por um professor de piano? No entanto, tal procedimento parece ser lugar
comum nas disciplinas teóricas. Conversas informais com ex-alunos bem como
experiências pessoais revelam que, até o ano de 2007, tais substituições ocorriam
assiduamente no Departamento de Música da Universidade de São Paulo. Neste caso,
15 Vide: SOUZA, M. C. C. C. . À sombra do fracasso escolar: a psicologia e as práticas pedagógicas.. Estilos da Clínica (USP), SAO PAULO, v. 3, n. 5, p. 63-82, 1998.

21
seria proba a veemente observação de alguns dos palestrantes, segundo a qual um curso
bem estruturado e uma matéria transmitida e organizada de modo claro e consciencioso
confere respeito mútuo ao professor, ao aluno e ao objeto de estudo.
Em se tratando especificamente da historiografia musical brasileira, o problema se
agrava na medida em que parte considerável das pesquisas dos cursos de pós-graduação
não se parelha aos pressupostos da “musicologia hermenêutica” (MACHADO NETO,
2007, p.1), insistindo no “... vínculo majoritário da produção musicológica como
problemas de catalogação de arquivo, modelos metodológicos para transcrições e
edições de partituras, panoramas históricos sociais regionais e a análise musical...
relacionada à prática musical do pesquisador” (Idem, p. 12). Em outras palavras, parte
considerável da Academia insiste no anacrônico positivismo criticado por Joseph
Kerman (KERMAN, 1987, p. 31-74) desde o último quartel do século XX. Segundo
observa Myrian Chimènes, “Trata-se... de uma concepção internalista da musicologia,
que prevalece ainda nas monografias, e de uma história reduzida a seu objeto,
construída exclusivamente sobre a análise e evolução das formas” (CHIMÈNES, 2007,
p.18).
Destas vicissitudes decorre uma situação desestimuladora: o instrumentista,
mesmo depois de cursar seis semestres da matéria – quando há professores disponíveis
– é incapaz de aplicar em seu ofício performático os conhecimentos obtidos em sala de
aula e tampouco está devidamente apto a buscar um entendimento mais rico da música
como discurso histórico, ou a fazer contribuições relevantes à pesquisa musicológica.
Vê-se, pois, que a História da Música enquanto disciplina é tratada pela Academia e
pela própria Universidade como disciplina episódica.
Antes de enfrentar tais problemas com probidade, é imperativo ao ambiente
acadêmico no Brasil definir – por meio de artigos, eventos e discussões – as diretrizes
da transmissão e do conteúdo de História da Música ensinada na graduação para, a
partir daí, buscar um diálogo com a Academia norte-americana. Neste sentido, a
observação crítica sobre o Institute permitiu inferir três interpelações capazes de sugerir
modelos viáveis ao contexto brasileiro: (1) a ênfase no pragmatismo pedagógico
subordinado à performance musical, (2) o estudo centralizado nas postulados filosóficos
da História Cultural presentes na pós-graduação, (3) a linha representada por Parakilas e
Pottinger (e pela Antologia de Burkholder) sugerida no já mencionado texto de
Hepokosky (2005, sem p.), que busca fundir (1) e (2).

22
A última proposta, ao estimular o contato dos graduandos com estudos
normalmente associados à pós e, concomitantemente, aproximar suas táticas
pedagógicas aos anseios profissionais dos alunos (em sua maioria no bacharelado e sem
a pretensão de seguir uma carreira na Academia), pareceu capaz de fomentar dois
importantes desdouros presentes no país: o estímulo à pesquisa musicológica, tão
desdenhada pelos instrumentistas (aqui e nos EUA) e o desenvolvimento da pedagogia
da historiografia musical. Mediante tal interpolação, o aluno recém graduado teria uma
visão mais atilada do discurso histórico (podendo, numa eventual investida acadêmica,
tratar do tema com mais propriedade) e do próprio labor performático. Deferido o item
(3) como modelo adotado, o segundo passo seria quantificar a importância relativa entre
História Cultural e pragmatismo pedagógico.
Desde as discussões menos usuais de Parakilas e Pottinger, as preocupações de
Beckerman, Bonds e Wright referentes à performance musical, até as táticas
pedagógicas de Briscoe, Hanning e Burkholder, a totalidade das palestras analisadas no
presente sugere, de diferentes maneiras, procedimentos e idéias úteis à
consubstanciação da historiografia musical ensinada no Brasil. Cabe aos agentes
envolvidos a iniciativa da troca de experiências e discussões.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRISCOE, James. Teaching music history. Journal of American Musicological
Society, New York, vol. 57 fasc. 3; p. 693-702, 2004. Resenha.
_______________. Current Issues in the Doctoral Study of Musicology. Journal of
the College Music Society, Montana, s/ no e p. 1999.
BURKE, Peter. O que é História Cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2008. Trad.
Sérgio Goes de Paula.
CHIMÈNES, Myrian. Musicologia e história. Fronteira ou “terra de ninguém” entre
duas disciplinas? Revista de História (USP). São Paulo, n. 157, p. 15-29, 2o sem. de
2007.

23
DAVISON, Archibald T.; APEL, Willi. Historical Anthology of Music.
Cambridge: Harvard, 1982.
FERELER, K.G. (Editor). Anthology of Music: a collection of complete musical
examples illustrating the history of music. Köln: Arno Volk Verlag, 1951.
HELLER, Agnes [et al.]. A crise dos paradigmas em ciências sociais e os desafios
para o século XXI. Rio de Janeiro. Contraponto. 1999.
HEPOKOSKY, James A. "Music History" as a Set of Problems: "Musicology" for
Undergraduate Music Majors. In: College Music Symposium, v. 28, sem página.
2005.
JENKINS, Keith. A História Repensada. São Paulo. Contexto, 2005.
KERMAN, Joseph. Musicologia. Sao Paulo: Matins Fontes, 2001. 331p.
LANG, Paul Henry. Musicology and performance. New Haven, Yale University
Press, 1997.
MACHADO NETO, Diósnio. Unita Multiplex: por uma musicologia integrada.
In: VII Seminário Nacional de Pesquisa em Música, 2007, Goiânia/Goiás. Anais do
VII SEMPEM. Goiânia : Programa de Pós Graduação Stricto-sensu - EMAC/UFG,
2007. v. 1. p. XXI-XXXV.
SCHERING, Arnold. Geschichte Der Musik In Beispielen [History Of Music In
Examples]. Nova York: Broude Brothers, 1950; 481 p.
TRAMONTINA, Leonardo S. S. Análise de seis metodologias de ensino de História
da Música. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes –Universidade de São
Paulo, 2007. Trabalho de conclusão de curso.
VOLPE, M.A. Análise musical e contexto: propostas rumo à crítica cultural.
Debates (UNIRIO), Rio de Janeiro, v. 7, p. 111-134, 2004.