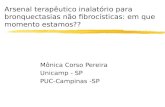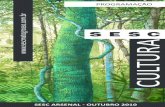UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES PÓS-GRADUAÇÃO … · Em conseqüência disso, a intensa busca pela...
Transcript of UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES PÓS-GRADUAÇÃO … · Em conseqüência disso, a intensa busca pela...
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO A VEZ DO MESTRE
A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
VIABILIZAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO
Por: Daniele Werner Catalão
Orientador
Prof. Ana Paula Pereira da Gama Alves Ribeiro
Rio de Janeiro
2008
2
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO A VEZ DO MESTRE
A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
VIABILIZAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO
Apresentação de monografia à Universidade
Candido Mendes como requisito parcial para
obtenção do grau de especialista em Gestão Pública
Por: Daniele Werner Catalão
3
AGRADECIMENTOS
A Deus pela oportunidade de mais uma
conquista. Aos meus pais, avó e irmã
pela presença e por todo incentivo. Aos
amigos pelo carinho. E ao Ronaldo
pelo companheirismo.
4
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho aos meus pais e a
minha avó, que sempre priorizando a
educação, fizeram o possível e o
impossível para proporcionar esta e
muitas outras vitórias em minha vida.
5
RESUMO
Com a emergência da Era da Informação o acesso às informações produzidas
pela administração pública tornou-se um requisito indispensável para o
funcionamento eficaz da democracia, pois, é através da transparência
administrativa que se possibilita o controle da sociedade civil sobre o Estado.
Entretanto apesar do significativo avanço na regulamentação do direito à
informação, observam-se diversos obstáculos que impedem a eficácia da
legislação e comprometem, assim, o exercício da cidadania. Nesta perspectiva,
a proposta deste trabalho é demonstrar o quão imprescindível é a
implementação de políticas públicas arquivísticas, tendo em vista que criam as
condições fundamentais para a viabilização da lei no cotidiano arquivístico.
Palavras-chave: Acesso à Informação Arquivística; Legislação Arquivística; Políticas Públicas Arquivísticas.
6
METODOLOGIA
A fim de fornecer embasamento teórico para a reflexão proposta neste
trabalho, primeiramente, foi feito o levantamento de fontes bibliográficas entre
livros, trabalhos acadêmicos, artigos eletrônicos, bibliotecas virtuais, além da
legislação pertinente ao tema. Em seguida iniciou-se o processo de leitura e
análise do material selecionado, com o intuito de buscar os autores e as
contribuições mais relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. A partir
de então, foram definidos os assuntos que seriam abordados, necessários
para a compreensão do tema, delimitando assim o conteúdo tratado em cada
capítulo.
7
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 08
CAPÍTULO I
ACESSO À INFORMAÇÃO 10
CAPÍTULO II
A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA 20
CAPÍTULO III
O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 29
CONCLUSÃO 38
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 40
8
INTRODUÇÃO
As transformações evidenciadas entre as diferentes civilizações ao
longo dos séculos comprovam a importância do documento de arquivo na
história da humanidade. A preservação do passado é indispensável ao
desenvolvimento do presente e do futuro, afinal, é através dos registros e
testemunhos deixados pelo homem que se constrói a memória e a identidade
cultural de uma nação, essenciais para a evolução e formação das sociedades.
Com a emergência da Era da informação o documento arquivístico
passou a ser um recurso estratégico tanto para o gerenciamento do Estado
Moderno quanto para o desenvolvimento humano, sobretudo na defesa de
direitos do individuo. Em conseqüência disso, a intensa busca pela informação
nos últimos anos resultou na construção de um importante arsenal legislativo
responsável pela regulamentação do direito de acesso à informação.
Baseado na finalidade precípua do tratamento arquivístico de tornar os
documentos acessíveis favorecendo a disseminação da informação, propõe-se
neste trabalho analisar o direito de acesso à informação pública, que embora
garantido desde a Constituição Federal de 1988, ainda apresenta-se como um
desafio para a realidade arquivística. Sabe-se que o aparato legal construído a
partir do processo de redemocratização, estabeleceu critérios importantes para
a preservação da documentação e para a proteção dos direitos fundamentais
do cidadão, no entanto, a elaboração de instrumentos legais não foi suficiente
para garantir o pleno direito de acesso aos documentos produzidos pela
administração pública brasileira.
Considerando o acesso à informação um dos pilares do regime
democrático, na medida em que assegura o diálogo entre o Estado e a
sociedade, pretende-se despertar a atenção acerca da importância da
implementação de políticas públicas arquivísticas no sentido de preencher as
lacunas criadas pelas normas, superando assim os obstáculos que impedem a
concretização dos princípios legais.
9
Visando um melhor entendimento do conteúdo pesquisado,
estabeleceu-se a seguinte estrutura:
No primeiro capítulo, elaborou-se uma breve abordagem histórica sobre
a conquista do Direito à informação, analisando a evolução dos usos e valores
atribuídos ao documento de arquivo em diferentes períodos da história. Em
seguida apresentou-se um panorama sobre o processo de construção e
consolidação da legislação arquivística de acesso à informação.
No segundo capítulo, foi feita uma reflexão sobre a questão do acesso e
sigilo na administração pública, considerando a transparência administrativa
um pressuposto crucial para o exercício da cidadania. Além disso, foram
apresentados alguns dos principais problemas que comprometem a efetivação
do direito à informação no cotidiano arquivístico.
No terceiro e último capítulo apresentou-se o conceito e a trajetória das
políticas públicas no Brasil, destacando a importância e os requisitos
fundamentais para implementação destas políticas. Para finalizar, preocupou-
se em demonstrar principalmente, de que maneira estas ações
governamentais podem minimizar os problemas existentes e viabilizar as
determinações legais, garantindo assim através do acesso à informação, o
pleno funcionamento da democracia.
10
CAPÍTULO I
ACESSO À INFORMAÇÃO
Um governo do povo, sem informações para o povo ou sem os meios para que ele a obtenha, não é nada mais do que o prólogo de uma farsa ou de uma tragédia ou talvez de ambas. A informação deve sempre governar sobre a ignorância, e o povo que quer ser seu próprio governante deve armar-se com o poder que a informação proporciona. (James Madison, 4º presidente americano).
A história dos arquivos teve inicio no Oriente, entretanto, é no Ocidente
que os usos da informação evoluem e contribuem para o desenvolvimento de
instrumentos compatíveis às novas funções da informação arquivística.
A princípio, os registros humanos eram preservados com o intuito de
comprovar ou testemunhar um fato, porém, no decorrer dos anos, as
transformações econômicas, políticas e tecnológicas atribuíram-lhes novas
utilidades. Além do valor probatório, o documento passou a ser conservado a
fim de atender aos interesses de valor histórico, científico e cultural.
Atualmente a informação tornou-se essencial para o progresso humano,
tendo em vista a capacidade de transformar o homem, a sociedade e a própria
humanidade. Vivenciamos a chamada Era da Informação, onde os arquivos
representam fontes de informações vitais para o gerenciamento do Estado
Moderno e para a defesa dos direitos do cidadão. Por conta disso, “os
processos de transferência e uso da informação constituem um dos cernes da
contemporaneidade.” (JARDIM, 1999, p. 1). Afinal, o objetivo central do
tratamento arquivístico é preservar e tornar acessíveis as informações contidas
no documento de arquivo, salvo àquelas consideradas de caráter sigiloso.
A partir de uma retrospectiva histórica sobre a conquista do direito à
informação constatou-se que a questão do acesso surge pela primeira vez
durante o governo revolucionário Francês. Desde então o conjunto de
11
dispositivos legais sobre este assunto sofreu vários avanços até culminarem na
atual legislação arquivística.
1.1 A Conquista do Direito à Informação: uma breve
abordagem histórica
Durante muitos séculos, a preservação dos documentos visava apenas
os interesses da nobreza. Somente os reis, monges e detentores de títulos
guardavam e utilizavam os arquivos como fontes de prova e testemunho de
seus direitos particulares.
A partir do século XVI destacam-se as funções jurídicas e
administrativas dos arquivos tornando-os essenciais para o exercício do poder
central. Desde então, deixam de ser privilégio de grupos dominantes da
sociedade e enquanto instrumentos básicos da administração passam a servir
ao Estado.
Após a Revolução Francesa, um novo valor é atribuído à informação
arquivística. O forte sentimento nacionalista, atrelado ao desejo de reconstruir
a história do país fez surgir o interesse cultural dando início a procura pelos
arquivos como fontes para a pesquisa histórica. Segundo Schellenberg (2004,
p. 27), “durante toda a revolução francesa, os documentos foram básicos para
a manutenção de uma antiga sociedade e para o estabelecimento de uma
nova.” Este interesse histórico possibilitou a concretização do acesso público
aos documentos, oficializado pela primeira vez na França em 1794, através do
decreto 7 do Messidor.
Assim começa um modo de administração diferente, onde o documento já não desempenha apenas um papel jurídico, mas constitui um instrumento de poder cujo acesso é sinal do poder do povo. (ROSSEAU; COUTURE, 1998, p. 31).
12
Na prática este decreto não foi plenamente satisfatório, primeiro porque
a documentação mais recente não estava disponível à consulta pública, e
segundo, porque como o acesso era permitido apenas para a pesquisa, em
geral não era o cidadão comum quem consultava, mas sim o historiador.
Contudo, a atitude do governo revolucionário francês significou um grande
avanço na história da arquivística. Até o momento os arquivos existiam em
função do Estado; porém a partir da legitimação do acesso, havia sido
consagrada a concepção dos arquivos à serviço do cidadão.
Até a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) os progressos sobre a
questão do acesso não foram muito significativos. As leis e regulamentos
criados neste período mantinham o privilégio dos pesquisadores e eruditos.
Somente com a consolidação dos Estados democráticos, na segunda metade
do século XX, a informação adquire uma nova dimensão. A fim de garantir a
transparência governamental, o Estado e a Sociedade passam a interagir no
âmbito público. Com isso,
A informação adquire a relevância jurídica de que carecia porque suas qualidades e as condições nas quais deve dar-se sua circulação e posse repercutem diretamente na forma e alcance da participação da sociedade na tomada de decisões sobre assuntos que a afetam. Em outras palavras, essa relevância jurídica da informação se deve a que o regime jurídico da informação converte-se em um aspecto essencial do exercício da soberania pela coletividade. (JARDIM, 1999, p. 2).
É neste contexto que em 1948 através Declaração Universal dos
Direitos do homem emerge o Direito à Informação :
A declaração Francesa de 1789 já antecipara este direito, ao afirmar não apenas a liberdade de opinião – artigo 10 -, mas também a livre comunicação das idéias e opiniões, que é considerada, no artigo 11, um dos mais preciosos direitos do homem. Na declaração Universal dos Direitos do homem, o direito à informação está contemplado no art. 19 nos seguintes termos: todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer
13
meio de expressão (LAFER1, 1991 apud FONSECA, 1996, p. 36).
Diante do exposto, constata-se que em todas as épocas a informação
apresentou-se como um instrumento importante para a sociedade, seja para
testemunho, para sua organização, para o exercício do poder ou para a
conquista de direitos.
Através da evolução dos usos e valores informacionais despertou-se o
interesse pelos documentos de arquivo e, por conseguinte intensificou-se a
busca por mecanismos capazes de garantir o acesso a estes.
Com a conquista do direito à informação, o acesso aos arquivos deixa
de ser restrito à uma elite e torna-se um direito público de todo cidadão. Assim,
a finalidade das instituições arquivísticas desloca-se da questão da guarda
para o acesso, devendo então preservar e principalmente disponibilizar o
Patrimônio Arquivístico sob sua custódia, enquanto fonte de informação e
garantia de direitos. Como afirma Mattar, “Todos se beneficiam dessa tutela. O
Estado, como apoio à sua administração e o indivíduo e a sociedade, como
apoio à informação, prova, ao desenvolvimento científico e à cultura.” (2003,
p.24) Afinal em um sistema democrático, é através da liberdade de expressão
e do livre acesso às informações que os indivíduos exercem seus direitos
constitucionais.
1.2 A Consolidação da Legislação Arquivística
A partir da Declaração Universal dos Direitos do homem, a noção do
direito à informação é transformada em direito democrático. A fim de garantir o
exercício efetivo desse direito, diversos países promulgaram legislações, que
embora suas peculiaridades, apresentam em comum, o princípio do direito de
1 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Cia das Letras, 1991. 406p.
14
acesso aos documentos públicos. Entre eles, a Colômbia em 1985, a África do
Sul em 2000, o Japão em 2001 e o México em 2002.
Nos Estados Unidos de acordo com a “Freedom of information act” (lei
de liberdade de informação) promulgada em 1966 e alterada em 1974, existem
três tipos de documentos. Àqueles que devem ser divulgados, àqueles que
devem ser mantidos à disposição do público e os que dependem de solicitação
prévia para serem consultados. Os prazos de sigilo variam entre 30 e 75 anos.
Os documentos referentes à defesa do Estado são classificados como
supersecretos, secretos ou confidencias. Além disso, os órgãos federais
devem publicar o máximo possível de informações sobre suas atividades, que
quando não publicadas devem ser fornecidas imediatamente após a
solicitação, seja de uma pessoa física, jurídica ou até mesmo estrangeira.
Na França, a lei nº 7.918 de 1979, revista em 2000, permite que a
maioria dos documentos seja consultada desde à sua produção, exceto
àqueles que ferem a privacidade do indivíduo, cuja restrição pode perdurar por
150 anos, ou àqueles que põem em risco a segurança pública, cujo prazo
máximo de sigilo é de 60 anos.
Já no Canadá, a lei nº C-43 de 1982 vincula o acesso ao recolhimento
dos documentos para o arquivo permanente, com exceção apenas dos
arquivos privados que possuem restrições.
No Brasil o direito à informação apareceu pela primeira vez na
legislação brasileira com a Constituição da república de 1988.
Art. 5º XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988).
15
Além do dever da administração pública em viabilizar o acesso à
informação, a Constituição instituiu o mandado de segurança e o habeas-data
como artifícios legais que visam a assegurar tal direito, sendo o primeiro
relacionado à informação de interesse público e o segundo a informação de
interesse particular.
Dois anos depois de promulgada a Constituição, um projeto de lei
dispondo sobre “A política nacional de arquivos públicos e privados” foi
aprovado, sendo a lei nº 8.159, sancionada em 8 de janeiro de 1991. A lei de
arquivo, como ficou conhecida, constituiu uma grande conquista, na medida
em que regulamentou o direito de acesso ao documento, fixando prazos de
restrição à consulta quando a informação nele contida for imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
Art. 23º §2º O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de 30 anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma única vez por igual período. (BRASIL, 1991).
Além disso, prevê a elaboração de decreto estabelecendo critérios a
serem adotados na atribuição de categorias de sigilo, bem como prazos para a
liberação de tais documentos à consulta.
Como é sabido, até o advento da Lei de Arquivos em 1991, a consulta
aos documentos era regulamentada por normas institucionais. No entanto,
mesmo diante da inexistência de dispositivos legais sobre o acesso, a questão
do sigilo sempre foi uma grande preocupação do governo brasileiro. Os
segredos de Estado estiveram regulados por sucessivos decretos, entre eles o
nº 1.801/36, o nº 27.583/49, o nº 60.417/67 e o nº 79.099/77 em vigor até
1997, quando foi revogado pelo nº 2.134.
Dispondo sobre a classificação, reprodução e o acesso aos documentos
públicos de natureza sigilosa, este decreto regulamentou o capítulo V da lei nº
8.159/91 instituindo quatro categorias de sigilo, bem como seus respectivos
16
prazos de retenção e as autoridades responsáveis pela classificação. As
categorias são: reservados até 5 anos; confidenciais até 10 anos; secretos até
20 anos; e ultra-secreto até 30 anos. Todas podendo ser renovadas uma única
vez por igual período. Aos documentos relativos à intimidade do indivíduo,
estabeleceu-se prazo de 100 anos de sigilo a partir da sua produção. Além de
outras providências, o decreto prevê também a autorização de acesso caso
haja interesse de pesquisa.
Tais limitações impostas pela legislação objetivam conciliar os princípios
do direito à informação, à privacidade e à segurança nacional. Sendo assim,
estas restrições devem estar justificadas e condicionadas a um determinado
tempo, de modo que em algum momento todos os documentos sejam abertos
ao uso público.
Em que pesem as características político-administrativas e culturais de cada país, a solução mais amplamente utilizada na tentativa de conciliar os princípios mencionados é o estabelecimento de prazos de desclassificação, para aqueles documentos classificados como sigilosos. (FONSECA, 1999, p. 7).
A falta de especificação de critérios para atribuir um determinado grau
de sigilo, ou para permitir a consulta em caso de pesquisa cientifica, são
algumas das falhas presentes no decreto nº 2.134/97. Ainda assim, ele
significou um importante avanço, no sentido de normatizar as possibilidades de
acesso, considerando as necessidades de sigilo estabelecidas pela lei de
arquivo.
Art. 23 §1º Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas são originariamente sigilosos. (BRASIL, 1991).
Em 1997 a lei federal nº 9.507, entrou em vigor, regulando o direito de
acesso à informação e o processo do habeas-data garantido pela Constituição.
17
Art. 7º Conceder-se-á habeas data: I – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; II – para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; III – para a anotação nos assentamento do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. (BRASIL, 1997).
Em 13 de junho de 2000, o decreto nº 3.505, estabeleceu a política de
segurança da informação nos órgãos e entidades da administração pública.
Entre outras medidas visava a “assegurar a garantia ao direito individual e
coletivo das pessoas, à inviolabilidade da sua intimidade e ao sigilo da
correspondência e das comunicações, nos termos previsto na Constituição.”
(BRASIL, 2000).
Em 27 de dezembro de 2002, o decreto nº 2.134/97 foi revogado pelo
decreto nº 4.553, que dispondo sobre a salvaguarda de informações sigilosas
no âmbito da administração pública federal, ampliou os prazos de sigilo,
multiplicou as autoridades responsáveis pela classificação dos documentos
sigilosos, além de ter omitido as questões relativas à privacidade do indivíduo.
Tendo em vista o que determina a lei de arquivo, ao ampliar o prazo de
sigilo dos documentos considerados ultra-secretos de 30 anos para 50 anos,
com a possibilidade de prorrogação por tempo indeterminado, tal decreto
tornou-se inconstitucional.
Art. 7º §1º O prazo de duração da classificação ultra-secreto poderá ser renovado indefinidamente, de acordo com o interesse da segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 2002).
Somente com a aprovação do decreto nº 5.301, em 09 de dezembro de
2004, os prazos de sigilo retornaram àqueles estabelecidos pela lei 8.159/91. A
proposta deste decreto era revogar o decreto nº 4.553/02, assim como
regulamentar a medida provisória nº 228/04, que dispõe sobre a ressalva
18
prevista na parte final do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Para tal, foi
instituída uma comissão de averiguação e análise de informações sigilosas
com a atribuição de rever os prazos de restrição dos documentos classificados
como ultra-secretos, podendo mesmo decorrido o tempo limite de sigilo (60
anos), manter a ressalva de acesso enquanto for imprescindível à segurança
nacional.
Art. 6º Provocada na forma do art. 5º, a comissão de averiguação e análise de informações sigilosas decidirá pela: I – Autorização de acesso livre ou condicionado ao documento; ou II – permanência da ressalva ao acesso enquanto for imprescindível à segurança nacional. (BRASIL, 2004)
Vale lembrar que em 05 de maio de 2005, a MP nº 228/05 foi convertida
na lei federal nº 11.111, apenas para cumprir normas legislativas. Enquanto a
medida provisória havia sido expedida pelo poder executivo, a lei foi elaborada
pelo poder legislativo.
A regulamentação da ressalva disposta no art. 5º da Constituição criou o
direito ao sigilo, autorizando que alguns documentos permaneçam em segredo
enquanto julgar-se necessário. No entanto, embora constitucional, a
possibilidade do sigilo eterno apresenta-se como uma ameaça à democracia
brasileira.
A restauração da democracia trouxe uma nova configuração para o
cenário arquivístico brasileiro. Desde então diversos mecanismos legais foram
criados a fim de efetivar o direito de acesso à informação. Os decretos
elaborados a partir de 1991 possibilitaram um grande avanço sobre a questão,
todavia, o sigilo eterno, representou um grave retrocesso na legislação
arquivística, tendo em vista que a atual situação legal favorece a opacidade
das práticas do governo comprometendo a democracia. De acordo com Jardim
(1999, p. 49).
O grau de democratização do Estado encontra, na sua viabilidade, um elemento balizador: maior o acesso à informação governamental, mais democráticas as relações
19
entre o Estado e a sociedade civil. A visibilidade social do Estado constitui um processo de dimensões políticas, técnicas, tecnológicas e culturais, tendo como um dos seus produtos fundamentais a informação ‘publicizada’.
Sabe-se que assim como o sigilo é indispensável para garantir a
segurança nacional e a privacidade do indivíduo, o acesso é fundamental para
a efetivação do direito à informação. Entretanto, assiste-se a uma preocupação
governamental muito maior com as restrições à consulta do que com a
regulamentação do acesso. Segundo Fonseca (1999, p.8),
os impedimentos do acesso aos arquivos não são de ordem exclusivamente legal; há muitos obstáculos não legais – certamente também políticos - ao acesso aos documentos de arquivo.
A realidade brasileira deixa claro que ainda há um longo caminho a ser
percorrido para que através do acesso às informações públicas, garanta-se a
transparência administrativa. Como afirma Cepik (2001, p. 12),
[...] ainda é preciso enfrentar o enorme desafio político, legal e administrativo de democratizar o acesso às informações, uma condição cada vez mais essencial para a expansão e aprofundamento da própria cidadania.
20
CAPÍTULO II
A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA
Sob o modelo jurídico-representativo de Estado, a informação dcumentária começou a crescer e acumular-se como acompanhamento de legitimação dos atos do governo, instrumento de controle e regulação da população, além de base do cálculo antecipador do desempenho das ações do Estado sobre a população. (JARDIM, 1999, p. 17).
A administração pública é responsável pela execução de ações Estatais
consideradas de interesse coletivo. Gerar, processar e possibilitar o acesso às
informações decorrentes de suas atividades são algumas de suas principais
características.
Conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e reiterado
pela legislação arquivística, cabe à administração pública a gestão dos
documentos bem como a disponibilização destes à consulta. Segundo os
preceitos constitucionais, os órgãos públicos devem funcionar sob os princípios
da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Sendo
assim, o acesso à documentação pública é fundamental na democratização
das relações entre Estado e sociedade civil, pois à medida que proporciona a
transparência dos atos administrativos executados pelo Estado, permite à
sociedade monitorar as atitudes e decisões governamentais.
De fato, os registros, além das necessidades do direito e da história, servem à transparência das ações, um novo e atraente nome para o que mais tradicionalmente constitui a obrigação de prestar contas (accountability) tanto do ponto de vista administrativo quanto histórico. (DURANTI2, 1994, p. 55 apud FONSECA, 1996, p. 45).
2 DURANTI, Luciana. Registros Documentais contemporâneos. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, 1994.
21
No entanto, apesar do aparato legal construído nos últimos anos,
diversos estudos constatam a dificuldade em promover o acesso às
informações geradas pelo Estado, principalmente aquelas produzidas durante
o regime militar. Alguns aspectos legais somados à escassez de recursos e ao
interesse do Estado em manter-se na invisibilidade, limitam significativamente
as possibilidades de acesso.
Os dispositivos que favorecem a produção e reprodução da opacidade informacional na administração Federal apresentam uma relação profunda com a maneira pela qual o conjunto das organizações gera e utiliza as informações que produz e acumula no curso das suas ações. Enquanto expressão resultante da atividade cotidiana do Estado, a informação arquivística traduz, nos termos em que é gerenciada (ou negligenciada), os diversos matizes entre a transparência e a opacidade. (JARDIM, 1999, p. 149).
2.1 Transparência Administrativa: uma função do Estado
Democrático
Com a ascensão do Estado democrático, o acesso à informação pública
tornou-se um direito de cidadania garantido pela Constituição Federal. Ao lado
dos direitos do cidadão surgem os deveres da administração pública, conforme
previsto no artigo 216, parágrafo 2º. “Cabem a administração pública, na forma
de lei a gestão da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.” (BRASIL, 1988).
É neste contexto que surge a idéia de transparência administrativa. Na
prática este conceito garante que o cidadão, por pertencer a uma sociedade e
ser responsável pelo bom funcionamento das instituições, tenha acesso aos
documentos produzidos pela administração pública, bem como conheça as
razões e participe das decisões administrativas. Cabe ressaltar que a
administração pública destina-se a execução de tarefas visando a satisfação
das necessidades da coletividade, e sendo assim, a socialização das
informações produzidas pelos órgãos Estatais constitui uma verdadeira
22
garantia para que as ações do Estado tenham visibilidade. Segundo Debasch3,
a noção de transparência apresenta três facetas: o direito de saber, tendo em
vista que a administração publica atua em função do interesse geral; o direito
de controle e acompanhamento das decisões administrativas do governo; e o
direito de ser ator e não um mero espectador dessa administração. (1990 apud
JARDIM, 1999, p. 56)
A transparência administrativa pressupõe, portanto, a comunicação e a
publicidade das ações governamentais. O diálogo entre o Estado e a
sociedade através do acesso à informação, constitui a base do regime
democrático, na medida em que representa a concretização dos direitos do
indivíduo.
De acordo com Jardim,
Estado e sociedade civil interatuam no âmbito do público, no qual as questões que podem interessar à coletividade são explicitadas e se discutem. As constituições desses Estados democráticos configuram essa interação e definem os termos desse âmbito público cujo princípio básico é a livre e igual participação de todos os indivíduos nele. Uma condição vital para a participação efetiva nesse âmbito é que essas questões – por afetarem ou poderem afetar a coletividade – sejam debatidas e públicas isto é, possam ser conhecidas por qualquer um. A função do ordenamento jurídico nesta matéria é de garantir que ninguém impeça ao indivíduo de ter conhecimento dos assuntos públicos. (1999, p. 2)
Todavia, se por um lado a transparência nas atividades executadas pela
administração pública possibilita maior eficácia do sistema democrático, por
outro, a obscuridade compromete o exercício da cidadania além de favorecer a
construção de um cenário propício para a prática da corrupção.
O segredo revelaria, antes de mais nada, a sobrevivência de um autoritarismo administrativo, totalmente incompatível com uma construção democrática que implica no debate público e na possibilidade do cidadão ter acesso à informação. A informação ‘confiscada’ pelos governantes e os funcionários seria o indicador da democracia ‘podada’, no qual os cidadãos
3 DEBBASCH, Patrick. La transparence administrative en Europe. Paris: CNRS, 1990.
23
‘considerados como quantidade negligenciável e tratados como intrusos’, permanecem ‘administrados’, sem verdadeiramente adquirir a cidadania. Privados do acesso às fontes de informação e ignorando os motivos das decisões a eles relacionados, os cidadãos encontram-se à mercê de uma administração anônima, sem rosto e impenetrável. [...] Por outro lado, o segredo seria também nefasto à administração, criando u clima de desconfiança que bloqueia a comunicação, entrava a coleta de informações e favorece reações contrárias por parte dos cidadãos. (CHEVALIER4, 1988 apud JARDIM, 1999, p. 52).
O segredo é considerado um instrumento de poder e dominação,
através do qual o Estado assegura seus próprios interesses, mantendo sua
hegemonia, enquanto impede que a sociedade controle e participe
efetivamente de suas ações políticas.
Para Jardim os fatores que contribuem para a presença da opacidade
na administração pública se situam sobre dois planos, dos quais o primeiro
seria o político, tendo em vista que os eleitos não têm interesse em deixar
transparecer informações que poderiam não somente reduzir sua margem de
ação, mas também ser explorada pelos seus adversários; e o segundo o
administrativo, onde a opacidade seria resultado da frágil familiaridade dos
cidadãos com a estrutura burocrática e do temor da transparência reduzir as
possibilidades de manobras do corpo administrativo junto ao cidadão e aos
grupos de interesse. (1999, p. 54)
Sem dúvida é necessário manter a publicidade dos arquivos,
respeitando as restrições cabíveis, pois uma vez estreitada as relações entre o
individuo e o Estado, através da fiscalização social dos atos governamentais, é
possível coibir as práticas de abuso de poder e corrupção, garantindo desta
maneira a eficiência da máquina Estatal e a preservação dos princípios
democráticos.
4 CHEVALIER, Jacques. Le mithe de la transparence administrative. In: CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES DE PICARDIE. Information ete transparence administrative. Paris: PUF, 1988.
24
2.2 O uso da lei no cotidiano arquivístico
O surgimento do capital informacional como um novo protagonista nas
sociedades contemporâneas, a partir da metade do século XX, acentuou a
necessidade de meios para normatizar e assegurar o seu pleno valor. Este
valor não depende apenas da quantidade de informações acumuladas, mas
também e principalmente da utilidade dada a essas informações. Neste caso, o
que se valoriza é o volume e a quantidade de informações em circulação, ou
seja, as informações produzidas devem ser divulgadas, consultadas e não
apenas acumuladas. Assim surge a noção do direito à informação.
O suporte legislativo construído no Brasil a partir da Constituição de
1988 foi crucial para a regulamentação do direito de acesso à informação
pública. No entanto, a literatura comprova que as condições técnicas criadas
pela legislação não foram suficientes para que esta produzisse os efeitos
desejados. Além de alguns ajustes legais, ainda se faz necessário o
cumprimento de um amplo leque de condições, a fim de garantir que as regras
sejam implementadas de maneira criteriosa e coerente, sobretudo zelando
pelo pleno exercício da cidadania.
No que concerne ao sigilo, ainda é preciso muita discussão para o
esclarecimento de alguns pontos abordados, os quais geram dúvidas sobre
sua aplicação. De acordo com a Constituição, é assegurado o acesso do
cidadão à informação governamental, bem como é previsto o sigilo,
imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, e a privacidade do
individuo. Sendo assim, é evidente que nunca haverá transparência absoluta
dos assuntos públicos, pois muitas vezes o segredo será indispensável, como
afirma Chevalier: “Toda sociedade tem efetivamente a necessidade de zonas
de sombra, de espaços de confidencialidade, que assegurem a preservação de
uma esfera de autonomia individual, além da proteção de interesses públicos
maiores.” (1988, p. 225 apud JARDIM, 1999, p.65)
A responsabilidade de classificar um documento como sigiloso não cabe
ao profissional da informação, mas sim ao produtor do documento. Por esta
25
razão é de suma importância para a eficiência do trabalho arquivístico, que os
direitos de acesso, bem como os impedimentos à consulta estejam legalmente
justificados. No entanto deve-se tomar cuidado para que o sigilo não se torne
uma regra, mas que seja somente adotado em casos excepcionais.
Atualmente a Lei Federal vigente de nº 11.111 de 2005 que trata sobre
o sigilo de documentos públicos tem provocado controvérsias inclusive
causando questionamentos sobre sua legalidade. A ação direta de
inconstitucionalidade, ajuizada no Supremo Tribunal Federal em maio deste
ano, se baseia no fato da citada Lei autorizar a Comissão de Averiguação e
Análise de Informações Sigilosas, a manter o sigilo pelo tempo que julgar
necessário.
Art. 6º
§2º Antes de expirada a prorrogação do prazo de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente para a classificação do documento no mais alto grau de sigilo poderá provocar, de modo justificado, a manifestação da Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas para que avalie se o acesso ao documento ameaçará a soberania, a integridade territorial nacional ou as relações internacionais do País, caso em que a Comissão poderá manter a permanência da ressalva ao acesso do documento pelo tempo que estipular. (BRASIL, 2005)
Esta comissão composta por membros do Executivo possui total poder
de atribuir categorias de sigilo e impor restrições de acesso. No entanto, a
discricionariedade atribuída a esta comissão demonstra-se no mínimo
incoerente, já que o Poder Executivo é o maior interessado em manter o
silêncio, principalmente em relação aos arquivos da ditadura militar. A
divulgação de alguns episódios deste conturbado momento da história
brasileira marcado pela censura, perseguição e repressão, são bastante
comprometedores.
Para pôr fim a possibilidade do sigilo eterno, tramita no congresso um
novo projeto de lei. A proposta defendida é limitar a 60 anos o prazo de sigilo
26
para os documentos considerados ultra-secretos. Após este período os
documentos estariam integralmente disponíveis no Arquivo Nacional para
consulta de qualquer interessado, seja um pesquisador com objetivo cientifico,
ou um cidadão comum apenas com o desejo de conhecer a sua história, afinal
estas informações não são apenas de interesse técnico-processual, mas
também de interesse público, pois todo o povo brasileiro tem direito de ter
acesso à sua memória e a sua identidade.
Conforme análise de Jardim,
[...] uma legislação adequadamente concebida pode ser um poderoso instrumento a favor da gestão, uso e preservação dos arquivos. No entanto, um marco legal só provoca impactos arquivísticos quando vai além de uma declaração de princípios conceituais bem estruturados, amparado em redefinições institucionais oportunas e promissoras. O desafio maior para as instituições arquivísticas, seus profissionais e a sociedade é a construção cotidiana da legislação no fazer arquivístico. O contrário disso pode redundar num inferno de boas intenções cujo epicentro é uma legislação tornada ‘letra morta’. (2003, p. 38)
Uma vez que a regulamentação existente esteja apropriadamente
estabelecida, é preciso iniciar um longo trabalho com o intuito de atender aos
requisitos essenciais para sua aplicação. Pois, elaborar normas é a parte fácil
do trabalho; mas sua implementação que envolve socialização, aplicação e
monitoramento, é a parte mais difícil; isso sem mencionar a obtenção de
mudança real na cultura. (Bertók; Caddy; Ruffner, 2002, p. 63)
Socializar a legislação é uma das etapas mais importantes para suas
possibilidades de uso. Segundo Chevalier4,
[...] as possibilidades de uso da legislação [...] são socialmente seletivas, ou seja, as demandas emanam de um círculo limitado de cidadãos familiarizados com a administração e seus procedimentos. A liberdade de acesso beneficia inicialmente aos ‘iniciados’ ou seja, os que são capazes, por sua posição social, sua formação, sua profissão, de superar a complexidade dos procedimentos jurídico-administrativos. (1988 apud JARDIM, 1999, p. 71)
27
Embora o termo “público” quando citado nos textos legais soe como um
conjunto de cidadãos iguais, a realidade apresenta categorias diferenciadas de
indivíduos. Alguns são privilegiados, por sua classe social, ou por sua posição
no mercado de trabalho, ou ainda pelo seu nível de escolaridade. Estes
facilmente conhecerão e farão jus ao seu direito. Por outro lado, existe a
grande maioria que com pouca ou nenhuma intimidade com a administração
pública acaba ignorando seus direitos. Estes por sua vez acreditam que o
governo tudo sabe, administra e provê, enquanto o povo, tudo espera, pois
está certo de que o Estado não é ele, mas sim uma entidade maior, abstrata e
soberana. (Faoro5, 1975 apud JARDIM, 1999, p. 75)
Portanto, antes de qualquer coisa é necessária uma mudança cultural
capaz de derrubar estes paradigmas. Somente assim será possível introduzir a
noção de direito à informação nessas camadas “não privilegiadas”,
conscientizando o individuo de que o Estado tem obrigações e ele, como
cidadão, tem o dever de exigir que sejam cumpridas.
Outro desafio a ser superado é a inexistência de um poder fiscalizador
que possibilite averiguar e exigir o cumprimento da lei. Pois como diversas
experiências comprovam, o respeito à norma está condicionado à presença de
monitoramento, pelo menos durante a fase de adaptação, até que a nova regra
seja incorporada à cultura.
Outra questão que dificulta o pleno cumprimento da legislação traduz-se pela fragilidade das estruturas organizacionais responsáveis pela sua aplicação e fiscalização, favorecendo a reprodução da opacidade informacional, em contraposição ao discurso de transparência que as administrações reiteram ao longo dos últimos governos. (FREIXO, 2003, p. 4).
Além disso, o deficiente tratamento arquivístico realizado pelas
administrações, acarreta o acúmulo desordenado dos documentos e também a
perda de registros históricos importantes.
5 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Edusp, 1975.
28
Observa-se que há restrições de acesso aos documentos, sendo apontados como principais razões para impedimento de consulta o estado precário de conservação dos documentos, conjunto documental em fase de organização e a falta de identificação dos documentos, fatos que inviabilizam a consulta, e consequentemente, o acesso aos documentos e informações. (OHIRA; MARTINEZ, 2002, p. 20).
É indispensável um efetivo processo de gestão de documentos que
preserve a integridade física e o valor informacional permitindo assim a
recuperação segura das informações, caso contrário, será difícil conseguir
recuperar uma informação em meio a uma massa documental acumulada sem
os devidos critérios de avaliação e seleção.
Desta forma constata-se que “o termo acesso relaciona-se a um direito,
mas também a dispositivos que o viabilizem, ou seja, um conjunto de
procedimentos e condições materiais que permitem o exercício efetivo desse
direito.” (Lochak6, 1988 apud JARDIM, 1999, p. 72).
Nesta perspectiva, torna-se essencial a implementação de políticas
públicas arquivísticas.
Pressupondo que a legislação é implementada no marco do desenvolvimento de políticas arquivísticas, o complexo processo que leva à sua viabilização pode ser mais ou menos lento. Uma lei de arquivos não é efetivada na sua totalidade em curto prazo. Trata-se de um processo permanente cuja vitalidade é assegurada pelo modo como se desenvolvem as políticas públicas arquivísticas. (JARDIM, 2003, p. 42).
6 Lochak, Daniele. Secret, securité et leberté. In: CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES DE PICARDIE. Information e transparence administrative. Paris: PUF, 1988.
29
CAPÍTULO III
O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A busca pela concretização dos direitos humanos a partir do período pós-
guerra vem demandando um aparato de medidas do Estado, de forma a
disciplinar o processo social. Torna-se necessário então, a criação de meios
que promova a inserção do cidadão na sociedade, minimizando a exclusão e
as desigualdades, conseqüentes do sistema capitalista. Neste sentido, as
políticas públicas atuam como instrumento complementar, preenchendo as
lacunas criadas pelas normas e concretizando os princípios legais.
Diferentemente das leis, que se caracterizam pela generalidade e abstração,
as políticas públicas são focadas para realização de objetivos determinados.
Através de programas de ação governamental, voltados para responder
questões sociais de interesse coletivo, estas políticas possuem a finalidade de
efetivar direitos já estabelecidos legalmente.
As políticas públicas devem ser – em sua formulação - a expressão pura e genuína do interesse geral da sociedade, o que num processo legítimo, pressupõe que seja a demanda social auscultada em instâncias democráticas, enfrentada de forma realística pela instituição formuladora e solucionda à luz do possível consenso, entre os atores sociais a partir de eficaz fluxo de informações.(PIRES, 2001 p. 1)
É evidente que diante do expressivo número de direitos assegurados
pela Carta Magna de 1988, muitos mesmo regulamentados por lei, ainda
dependem do desenvolvimento de políticas públicas, a fim de construir um
cenário com as condições essenciais para que sejam efetivamente
cumpridos.
Com ênfase no objeto central deste trabalho, pretende-se demonstrar
como a partir de ações governamentais, voltadas tanto para o usuário
(sociedade), quanto para o produtor (administração pública) da informação,
é possível concretizar o direito de acesso à informação.
30
3.1 – Conceito e Trajetória das Políticas Públicas no Brasil
As alterações ocorridas nos cenários político e econômico a partir do
processo de democratização do Brasil (década de 1980) exigiram um novo
redimensionamento do papel do Estado. A figura autoritária e repressiva que
exercia o controle social como forma de manter a ordem, vai sendo
paulatinamente suplantada por um modelo de Estado de direito que assume
obrigações perante a sociedade.
Com a Carta Constitucional de 1988 novos direitos são agregados ao rol
dos direitos fundamentais, refletindo interesses de diversas camadas sociais,
e, sobretudo promovendo o avanço da cidadania. Aos poucos surge uma nova
relação Estado - Sociedade. O Estado, antes entendido como um espaço
representante da elite torna-se um espaço de interação, onde através da
participação social propõe-se solucionar conflitos e defender interesses
coletivos. Enquanto a sociedade passa a atuar ativamente buscando
restabelecer os direitos do indivíduo, visando à construção de uma sociedade
democrática.
O conceito de participação cidadã está lastreado na universalização dos direitos, na ampliação do conceito de cidadania, para além da dimensão jurídica e numa nova compreensão sobre o papel e o caráter do Estado, remetendo a definição das prioridades nas políticas públicas a partir de um debate público” (GOHN7, 2004 apud KUJAWA, p. 2)
O grande desafio do novo Estado Constitucional está na implementação
dos direitos assegurados pela Constituição, tendo em vista que para isto é
necessária uma atuação direta e efetiva do poder público por meio de políticas
públicas.
7 GOHN, Maria da Gloria. Movimentos sociais na atualidade: manifestações e categorias analíticas. In: GOHN, Maria da Gloria (org). Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e novos atores sociais. Petrópolis: Vozes, 2003.
31
As políticas públicas podem ser entendidas como o conjunto de planos e programas de ação governamental voltados à intervenção no domínio social, por meio das quais são traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado, sobretudo na implantação dos objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição. (CRISTÓVAM, 2005, p. 06)
De um lado, os textos legais definem os direitos do cidadão, de outro, as
políticas públicas atuam de forma complementar descrevendo os objetivos e
meios para que sejam concretizados. Assim, as políticas públicas passam a
ser o principal instrumento para efetivação de direitos, que depois de
reconhecidos legalmente requerem ação do Estado para atendê-los.
Não basta garantir direitos em leis. É preciso assegurar as condições políticas, materiais e institucionais necessárias para sua concretização, e estabelecer as condições de vida necessárias para que a população possa ter acesso a estes direitos (...) (TORRES, 2007)
O desenvolvimento de políticas públicas implica a participação de
diversos atores sociais, envolvendo governo, profissionais da área em questão,
usuários e cidadãos. Juntos eles discutem o problema, elaboram o plano de
ação e monitoram os resultados da política implementada.
É importante lembrar que as políticas são elaboradas por pessoas ou grupo que possuem valores, interesses, opções e modos diversos de enxergar o mundo. Devemos olhar as políticas públicas como resultados das disputas entre atores distintos. Para que elas realmente garantam direitos, precisam sempre ser acompanhadas e debatidas por uma maior diversidade de atores da sociedade, com suas distintas necessidades e visões de mundo. (POLIS8, 2006 apud TORRES, 2007, p. 5).
8 POLIS. Política Pública como garantia de direitos. Boletim REPENTE. Dez/2006. Disponível em: www.polis.org.br.
32
A fim de compreender o processo de formulação e implementação das
políticas públicas é importante considerar os conceitos de agenda e arenas
decisórias. A agenda define o objeto de conflito sobre o qual será desenvolvida
a política, identificando assim os agentes que participarão do processo. As
arenas decisórias, segundo Lowi9, são tipos ou formatos que uma política
pública pode assumir, de acordo com o seu objeto. O primeiro é o das políticas
distributivas, onde as decisões tomadas pelo governo desconsideram a
questão dos recursos limitados, gerando impactos individuais, ao privilegiar
certos grupos em detrimento do todo. O segundo é o das políticas regulatórias
que envolvem políticos e grupos de interesse e são mais visíveis ao público,
pois trabalham com ordens e proibições. O terceiro é o das políticas
redistributivas que intervem na estrutura econômica criando mecanismos que
diminuam as desigualdades sociais. São em geral as políticas sociais
universais, que apesar de atingirem um maior número de pessoas, impõem
perdas concretas para certos grupos e ganhos incertos para outros, já que o
objetivo é justamente deslocar recursos, ou direitos, entre grupos da
sociedade. E por último, o quarto formato das políticas constitutivas, que
determinam as regras e configurações dos processos de negociação das
políticas. Cabe ressaltar, conforme destaca Lowi9, que cada uma dessas
políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de veto e de apoio diferentes,
processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma também
diferente. (1964; 1972 apud SOUZA, 2006, p. 28)
Para tornar-se concreta, é necessário que a política pública se traduza
em um plano de ação, o qual deve ser formulado, implementado e avaliado.
Souza propõe uma subdivisão mais detalhada onde a elaboração da política
pública é constituída pelos seguintes estágios: definição de agenda,
identificação do problema, identificação das alternativas, avaliação das opções,
9 Lowi, Theodor. “American Business, Public Policy, Case Studies and Political Theory”, Word Politics, 16: 677 – 715. 1964. Lowi, Theodor. “Four Systems of Policy, Politics, and Choice”. Public Administration Review, 32: 298 -310. 1972.
33
implementação e avaliação (2006, p.29). Ou seja, primeiramente o problema
converte-se em tema da agenda política. Em seguida a partir de um
diagnóstico do problema, as pessoas envolvidas no processo identificam e
analisam a questão a ser resolvida. Posteriormente, as possíveis alternativas
para o problema são avaliadas a fim de selecionar as mais adequadas para a
situação. A partir de então é formulado o plano ou programa de ação, onde
devem constar os detalhes das atividades que serão executadas, os objetivos
e os resultados esperados. Após implementação da política, é indispensável a
construção de metodologias específicas que possibilite o acompanhamento e
avaliação dos resultados.
No entanto na prática, o processo de desenvolvimento de uma política
pública não ocorre necessariamente seguindo todas essas fases. Nem sempre
são bem planejadas, ou às vezes devido às transições entre governos com
prioridades diferentes, não chegam a ser implementadas. Além disso, os
resultados alcançados por certas políticas muitas vezes não correspondem aos
impactos projetados na sua formulação. Na tentativa de minimizar estes
problemas e garantir a eficiência das políticas formuladas, é fundamental
considerar os seguintes pontos: 1º) As políticas públicas podem ser elaboradas
pela esfera municipal, estadual e federal, portanto elas devem dialogar entre si,
apresentando objetivos articulados. Caso contrário elas podem se tornar
conflitantes; 2º) No decorrer de todo o processo de construção de uma política
pública deve existir o monitoramento e a fiscalização, tanto por órgão do
governo quanto pela sociedade civil. Para isso é importante garantir a
transparência das informações sobre todo o processo, permitindo adaptações
ou reformulações do plano.
Contudo, as políticas públicas demonstram ser o caminho mais
adequado para que os direitos amparados por lei sejam na prática garantidos.
Assim, considerando a situação brasileira descrita nos capítulos anteriores,
propõe-se o investimento na elaboração de políticas públicas no sentido de
viabilizar o pleno exercício do direito de acesso à informação. Afinal “a
viabilização dessa legislação torna-se comprometida se não for
34
simultaneamente instrumento e objeto de uma política arquivística” (JARDIM,
2003, p. 38).
3.2- A Implementação de Políticas Públicas Arquivísticas
Entende-se por políticas públicas arquivísticas o conjunto de estratégias
e diretrizes, que visam solucionar problemas apresentados no campo
arquivístico, conforme afirma Jardim:
o conjunto de premissas, decisões e ações – produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social – que contemple os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural) relativos à produção, uso e preservação da informação arquivística de natureza pública e privada. (2003, p. 38)
A fim de responderem as demandas políticas e metodológicas na área
dos arquivos faz-se necessário definir o cenário geográfico, administrativo,
econômico e social a ser contemplado com a política arquivística,
resguardando as particularidades em certos segmentos do Estado, tendo em
vista que alguns possuem mais recursos e possibilidades de mudanças do que
outros.
Cabe ressaltar que as políticas arquivísticas constituem uma das
dimensões das políticas informacionais, cuja finalidade é
assegurar, com vistas à sua utilização, o acesso ao conhecimento especializado e profissional, às informações científicas, técnicas e econômicas, assim como à soma dos saberes produzidos e reunidos no país e em outras partes do mundo a fim de auxiliar a solução de problemas concretos e ao desenvolvimento de todos os setores da sociedade. (MONTVILOFF10, 1990 apud JARDIM, 1995)
10 Técnico do Programa Geral de Informações da UNESCO, em entrevista concedida em Paris, em 20.09.93.
35
Sendo assim, deve haver um alto grau de compatibilidade entre as
políticas de informação e as arquivísticas, caso contrário, dificilmente se
alcançará os resultados esperados.
Outra premissa a ser considerada é a participação de diversos setores
no processo de elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas
arquivísticas, uma vez que para tal é imprescindível a combinação de
conhecimentos técnicos na área da arquivologia, ciência política,
administração, alem de um profundo conhecimento da realidade sobre a qual o
Estado pretende atuar.
Supõe-se que mecanismos legais e institucionais sejam forjados e concretizados de forma a garantir a representatividade de agentes do Estado e da sociedade civil nesse processo. [...] Numa cultura política permeada por valores como participação social e transparência a representatividade da sociedade civil deverá ser assegurada, ao menos quantitativamente, em grau que impeça a hipertrofia a favor do Estado no processo político decisório. Agentes representantes dos diversos tipos de usuário dos arquivos,[...] de instituições de ensino e pesquisa fora do aparelho do Estado e de organizações arquivísticas devem ter assegurado a sua participação. (JARDIM, p. 12, 2006)
Visando minimizar os problemas que permeiam a realidade arquivística
e comprometem o uso adequado da informação tanto pela administração
pública como também pela sociedade, alguns aspectos devem ser priorizados
pelas políticas públicas arquivísticas:
Com o intuito de conscientizar a sociedade quanto à importância da
informação e das instituições arquivísticas é necessário desenvolver
programas no sentido de torná-los mais visíveis dentro do universo cultural, do
qual fazem parte bibliotecas e museus. Através da divulgação dos serviços
oferecidos pelos Arquivos Públicos, bem como por meio de incentivos à
visitação e pesquisa, é possível aproximar o mundo arquivístico da realidade
social;
36
Para garantir que métodos de tratamento e gerenciamento dos
documentos produzidos pela administração pública estejam fundamentados
nos princípios consagrados pela Ciência Arquivística e de acordo com as
normas legais existentes, é indispensável uma política que estabeleça poder
fiscalizador a um órgão capacitado para acompanhar, inspecionar e prestar
assistência às práticas arquivísticas executadas desde a produção ou
recebimento do documento até o momento de sua destinação final11.
As possibilidades de acesso à informação governamental pelo administrador público e o cidadão encontram-se diretamente relacionas com o conjunto de práticas desenvolvidas pela administração pública no decorrer do ciclo informacional. (JARDIM, 1999. p. 33)
Tendo em vista suas atribuições de orientação normativa visando à
gestão documental e à proteção dos documentos, esta função caberia ao
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)12, que teria total autonomia para
intervir em caso de perdas informacionais iminentes. A atividade de fiscalizar
poderia ser delegada a uma comissão de profissionais da área que seriam
como auditores arquivísticos, especializados nas diversas espécies
documentais (textuais, audiovisual, fotográfico, sonoro, micrográfico). Esta
estratégia possibilitaria a racionalização das informações, maiores condições
de recuperação e acesso, além de garantir o cumprimento da lei.
Um motivo impeditivo de relevo é a inexistência de poder fiscalizador do Arquivo Nacional que possibilite a imposição de suas atribuições legais de gerir e recolher documentos do Poder Executivo Federal, a exemplo da autoridade que possuem algumas instituições arquivísticas estrangeiras. O Arquivo da França possui seus inspetores de arquivo e o dos Estados Unidos tem em sua estrutura a figura do inspetor geral.( MATTAR, 2003, p. 32)
11 A destinação final pode ser a eliminação, quando o documento não apresenta valor probatório ou informativo, ou a guarda permanente. 12 Órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados. Tem sido responsável pela aprovação de importantes decretos e resoluções dispondo sobre matéria arquivística.
37
Evidentemente, a execução dessas ações não é uma tarefa muito
simples, pois envolve além de captação de recursos, questões técnicas,
culturais e principalmente políticas.
38
CONCLUSÃO
A princípio, os registros documentais objetivavam apenas testemunhar
ou comprovar um fato, porém, diante da dinâmica social ao longo da história,
os interesses pelos arquivos transcenderam o valor probatório e adquiriram
também valor administrativo e histórico. Estas novas funções atribuídas à
informação resultaram em 1948 na emergência do direito à informação. Desde
então, vários países criaram seus próprios mecanismos legais a fim de garantir
tal direito. Assim, salvo as necessidades de sigilo que visam a preservar o
direito à privacidade e à segurança nacional, os arquivos tornaram-se um bem
público destinado aos cidadãos.
Com o processo de redemocratização do país e a promulgação da nova
Constituição Federal de 1988, a questão dos arquivos e documentos públicos
ganhou novo estatuto jurídico. Eis que se transformaram em instrumentos
capazes de assegurar direitos individuais e coletivos, bem como o exercício
pleno da cidadania. Além disso, com o surgimento do conceito da
transparência administrativa, a comunicabilidade dos arquivos passa a
representar um meio de controle social.
Entretanto, a realidade comprova que a regulamentação legal não
significou a garantia do direito à informação, uma vez que “a existência da lei
não garante sua aplicação [...] ” (COUTURE13, 1998 apud JARDIM, 2003, p.
38)
Na perspectiva de superar os obstáculos existentes, criando as
condições necessárias para a efetivação deste direito é imprescindível a
implementação de políticas públicas arquivísticas no sentido de desenvolver
ações estratégicas principalmente visando a conscientização social e a
fiscalização do respeito aos princípios arquivísticos, bem como às
determinações legais.
13 COUTURE, Carol. Rôle et champs d’application de la législation archivistique. Ciberlegenda nº 1, 1998. Disponível em: http://www.uff.br/mestcii/carol1.htm. Acesso em: 21 de setembro de 2003.
39
É relevante destacar a título de reflexão, que o interesse do Estado em
conceber uma política pública está condicionado à visibilidade social que o
problema analisado possui. No caso dos arquivos isto implica um
compromisso do Estado em contribuir para a construção de uma sociedade
mais democrática tendo em vista que a legitimação e reconhecimento do valor
documental representam um avanço para a concretização do direito à
informação.
40
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
ARAÚJO, Vânia Maria Rodrigues Hermes. Informação: instrumento de
dominação e de submissão. Ci. Inf. ,Brasília, v. 20, n. 1, p. 37-44. jan/jun.1991.
BERTÓK, János; CADDY, Joanne; RUFFNER Michael. Diretrizes de Políticas
voltadas à resposabilização e a transparência. Transparência e
Responsabilização no setor Público. Fazendo Acontecer. Coleção Gestão
Pública. Brasília, 2002. 293 p.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/. Acesso em: 07 mai. 2008.
_________. Lei nº 8.159. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos
e privados. 8 jan. 1991. Disponível em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm. Acesso
em: 10 mai. 2008.
__________. Lei nº 9.507. Regula o direito de acesso a informações e
disciplina o rito processual do hábeas data. 12 nov. 1997. Disponível em:
http://www.aab.org.br/. Acesso em: 05 mai. 2008.
________. Decreto Nº 3.505: Institui a política de segurança da informação nos
órgãos e entidades da administração pública federal. 13 jun. 2000. Disponível
em: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm.
Acesso em 05 mai. 2008.
________ . Decreto Nº 4.553: Dispõe sobre a salvaguarda de dados,
informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da
sociedade e do Estado, no âmbito da administração pública federal, e dá
outras providências. 27 dez. 2002. Disponível em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm. Acesso
em: 07 mai. 2008.
41
_________. Medida Provisória Nº 228: Regulamenta a parte final do disposto
no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição, e dá outras providências. 9 dez.
2004. Disponível em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm. Acesso
em: 10 mai. 2008.
_________. Decreto Nº 5.301: Regulamenta o disposto na medida provisória
nº 228, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a ressalva prevista na
parte final do disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição, e dá outras
providências. 9 dez. 2004. Disponível em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm. Acesso
em: 10 mai. 2008.
__________. Lei nº 11.111. Regulamenta a parte final do disposto no inciso
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências. 5
mai. 2005. Disponível em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm. Acesso
em: 07 mai. 2008.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando um conceito de políticas publicas para a
concretização dos direitos humanos. Disponível em: <
http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/politicapublica/mariadallari.htm> Acesso
em: 13 mai. 2008.
CEPIK, Marco. Direito à informação: situação legal e desafios. [S.l.: s.n.].
2001. Disponível em: http://www.article19.org/work/regions/latin-
america/FOI/pdf/ip0202cepik.pdf. Acesso em: 10 jun. 2008.
COSTA, Pedro Badini da. Arquivos, informação e cidadania: A importância do
resgate da memória judicial como exercício da cidadania. Rio de Janeiro, 2004.
Disponível em: http://www.ndc.uff.br/TRF/pedroartigo.PDF. Acesso em: 15 de
jun. de 2008.
COSTA, Célia Maria Leite; FRAIZ, Priscila Moraes Varella. Acesso à
informação nos arquivos brasileiros: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2,
42
n.3, p. 63-76, 1989. Disponível em: http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/47.pdf.
Acesso em: 10 jun. 2008.
CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Breves considerações sobre o conceito de
políticas públicas e seu controle jurisdicional. 2005. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7254. Acesso em: 13 mai. 2008.
FERNANDES, Antonio Sergio Araújo. Políticas Públicas: Definição, evolução e
o caso Brasileiro. Disponível em:
http://200.155.18.61/informacao/b6d71ce_114f59a64cd_-7fcc.pdf. Acesso em:
13 mai. 2008.
FILHO, Carlos José Marin. Concepção de políticas públicas – Definição,
viabilização e execução. 2005. Disponível em:
http://www.urisan.tche.br/~cursoplanodiretor/material/marin/cap1.pdf. Acesso
em: 05 mai. 2008.
FONSECA, Maria Odila. Direito à Informação: acesso aos arquivos públicos
municipais. 1996. 148f. Dissertação (mestrado) – Escola de Comunicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, RJ; 1996. Disponível em:
www.geocities.com/arquivosmunicipais/textarqmunisc.doc . Acesso em: 13 mai.
2008.
____________________. Informações e direitos humanos: acesso à
informação arquivística. 1999, Brasília. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php/ing_ensci. Acesso em 15 jun. 2008.
FREIXO, Aurora L. Gestão da informação no Estado Brasileiro: aplicação da
legislação sob a ótica das estruturas organizacionais e dos sistemas. Bahia,
2003. Disponível em:
http://www.cinform.ufba.br/v_anais/artigos/aurorafreixo.html. Acesso em: 15
jun. 2008.
JARDIM, José Maria. A produção de Conhecimento Arquivístico: perspectivas
internacionais e o caso brasileiro (1990-1995). Ci. Inf., Brasília, v. 27, n. 3,
43
p.39-55, 1998. Disponível em:
http://dici.ibict.br/archive/00000653/02/A_produ%C3%A7%C3%A3o_de_conhe
cimento.pdf.. Acesso em: 20 mai. 2008.
________________.O acesso à informação arquivística no Brasil: problemas
de acessibilidade e disseminação, 1999. Disponível em:
http://www.cid.unb.br/publico/setores/000/84/materiais/2007/1/550/modulo_5-
informa%C3%A7%C3%A3o_arquiv%C3%ADstica_no_Brasil.doc. Acesso em:
20 jun. 2008.
_________________.Tranparência e opacidade do Estado no Brasil: usos e
desusos da informação governamental. Niterói-RJ, Eduff, 1999. 239 p.
__________________O inferno das boas intenções: legislação e políticas
arquivísticas.In: MATTAR, Eliana (org). Acesso à Informação e Política de
Arquivos. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2003. 135p.
__________________.Políticas Públicas Arquivísticas: princípios, atores e
processos. Arquivo & Administração. Rio de Janeiro. V. 5, n 2, p. 5 -16, 2006.
KUJAWA, Henrique Aniceto. Os movimentos sociais, controle social das
políticas públicas e democracia. Disponível em:
http://www.2csh.clio.pro.br/henrique%20aniceto%20kujawa.pdf. Acesso em: 07
jun. 2008.
MATTAR, Eliana. Dos arquivos em defesa dos Estados ao Estado em defesa
dos arquivos. In: MATTAR, Eliana (org). Acesso à Informação e Política de
Arquivos. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2003. 135p.
OHIRA, Maria Lourdes Blatt; MARTINEZ, Priscila Amorim. Acessibilidade aos
Documentos nos Arquivos Públicos Municipais do Estado de Santa Catarina –
Brasil. In: 1º Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de
Documentação e Museus, São Paulo, 2002. p. 30.
44
PIRES, Maria Coeli Simões. Concepção, financiamento, e execução de
políticas públicas no estado democrático de direito. 2001. Disponível em:
http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2001/02/-sumario?next=7. Acesso
em: 07 jun. 2008
ROSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol. Os Fundamentos da Disciplina
Arquivística. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998.
SCHELLENBERG, Theodore. R. Arquivos Modernos: princípios e técnicas. 3ª
ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2004. 386p.
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias,
Jul/Dez 2006, nº.16, p.20-45.
TORRES, Abigail. Políticas Públicas conceitos básicos. 2007. Disponível em:
http://www.wcf.org.br/lacosdarede/files/Aulas/Politicas_Publicas.pdf. Acesso
em: 07 jun. 2008.