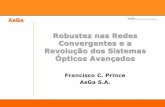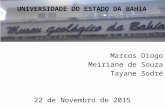UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO · 2012. 8. 23. · Memorial Educativo 1. A...
Transcript of UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO · 2012. 8. 23. · Memorial Educativo 1. A...
-
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
A educação das crianças de zero a três anos em creches públicas do Distrito
Federal: direito negado?
Laís Caetano Magalhães
BRASÍLIA, julho de 2011.
-
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
A educação das crianças de zero a três anos em creches públicas do Distrito
Federal: direito negado?
Laís Caetano Magalhães
BRASÍLIA, julho de 2011.
-
Laís Caetano Magalhães
A educação das crianças de zero a três anos em creches públicas do Distrito
Federal: direito negado?
Trabalho Final de Curso apresentado como
requisito parcial para obtenção do título de
Licenciada em Pedagogia, à Comissão
Examinadora da Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília, sob orientação da
professora Dra Marly de Jesus Silveira.
Comissão Examinadora:
Profa. Dra. Marly de Jesus Silveira (orientadora)
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília
Profa. Dra. Renísia Cristina Garcia Filice
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília
Profa. Ms. Carmem Sílvia Batista
Secretaria de Educação do Distrito Federal
Profa. Dra. Norma Lucia Neres de Queiroz (suplente)
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília
BRASÍLIA, julho de 2011.
-
AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente pelo apoio de todas as pessoas que foram presentes na minha
caminhada na graduação, pois de forma direta e indireta me deram forças e incentivos para
continuar e enfrentar as constantes barreiras.
Aos meus pais por me darem oportunidades morais e financeiras para prosseguir nos
estudos, por me orientarem nas diversas escolhas surgidas e por acreditarem nos meus sonhos
e desejos.
A Carla Andréia Bennech (In Memória), diretora e dona da primeira escola em que
trabalhei, agradeço com toda minha consideração pela oportunidade e confiança na minha
pessoa e em meu trabalho, assim como, o seu carinho e sua amizade durante os primeiros
anos de experiência docente.
Ao meu querido namorado Yuri, por seu companheirismo, paciência, estímulo,
carinho, atenção e disponibilidade. Obrigada por me dar força e apoio nos momentos críticos
em que tive de estar firme e segura para prosseguir em meus sonhos e conquistas.
À professora Marly Silveira pela disponibilidade, coragem, interesse e atenção em me
orientar com condições de tempo restritas, se esforçando para que eu alcançasse os meus
objetivos de forma consistente e embasada.
Por fim, agradeço a todos os professores da graduação que contribuíram
significativamente para minha constituição como educadora e também aos diretores das
instituições visitadas e os profissionais da Diretoria Regional de Ensino do Guará por
disponibilizar informações cruciais para a realização desta pesquisa.
-
Dedicatória
Dedico este trabalho a Deus, primeiramente, por me
acompanhar e encorajar na caminhada.
Dedico também aos meus pais e irmã que sempre me apoiaram e
me deram suporte, me orientando e incentivando sempre em
minhas vitórias.
-
MAGALHÃES, Laís Caetano. A educação das crianças de zero a três anos em creches
públicas do Distrito Federal: direito negado? Brasília-DF. Universidade de Brasília/Faculdade
de Educação (Trabalho Final de Curso). 2011.
RESUMO
Este trabalho monográfico desenvolveu-se com a finalidade de cumprir requisito da
formação acadêmica, graduação em Pedagogia, no âmbito da Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília. Tematiza aspectos da Educação Infantil, na faixa etária de zero a
seis anos, cujo problema se coloca na seguinte indagação: como se efetiva o direito de acesso
ao atendimento educacional de crianças de zero a três anos de idade em creches públicas do
Guará - Distrito Federal? Definiu-se como objetivo geral, mostrar o desrespeito ao direito de
acesso da criança pequena, ao atendimento em creche pública no Distrito Federal. Para
fundamentar essa observação crítica o estudo empenha-se em elaborar as seguintes etapas:
resgatar alguns elementos fundamentais da história social da criança e do reconhecimento dos
seus direitos; identificar as principais políticas públicas para a infância e para a educação
infantil na atualidade brasileira, e relatar aspectos do atendimento educacional à criança de
zero a três anos de idade em creches públicas do Guará - Distrito Federal. A pesquisa foi
realizada em duas creches conveniadas da 10ª Região Administrativa distrital, com a
participação da responsável pelo Núcleo de Planejamento e Controle da Diretoria Regional de
Ensino do Guará, dos diretores-presidentes de ambas as creches e das suas respectivas
coordenadoras. Essa exploração empírica apoiou-se na leitura interpretativa de teóricos dessa
área, tais como Ariès, Piaget, Vygotsky e Wallon; e na análise de documentos Constitucionais
e de Políticas Públicas Educacionais voltadas para a infância. O levantamento e análise das
informações mostraram que a oferta educacional é insuficiente e deficiente, apesar das
políticas educacionais que visam enfrentar as dificuldades deste importante serviço público.
Percebe-se que no Distrito Federal ainda há longo caminho a percorrer na garantia do direito
fundamental à educação de qualidade para todas as crianças brasileiras.
Palavras-chave: direito à educação; educação infantil; atendimento educacional em creches;
políticas para a infância.
-
SUMÁRIO
Página
Agradecimentos .................................................................................................................... IV
Dedicatória ............................................................................................................................ V
Resumo................................................................................................................................... VI
Memorial Educativo ............................................................................................................. 8
1 – A origem de tudo .............................................................................................................. 8
2 – De frente com a pedagogia ............................................................................................... 11
2.1 – Universidade: mundo das incógnitas ...................................................................... 11
2.2 – Aluna universitária e professora ............................................................................. 12
3 – Desafio: Políticas Públicas Educacionais e Educação Infantil ......................................... 13
4 – Considerações Finais ........................................................................................................ 15
Introdução ............................................................................................................................. 16
Capítulo I – Construindo um referencial ........................................................................... 22
1.1 – A história social da criança brasileira e a educação para o desenvolvimento infantil... 22
1.2 – O lugar da criança: seus direitos nas Constituições Brasileiras..................................... 29
1.3 – Políticas Públicas Educacionais para a Educação Infantil ............................................ 37
1.4 – Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à
educação .......................................................................................................................... 41
Capítulo II – Percorrendo uma trilha que nos possibilite olhar a realidade................... 49
2.1 – Caminhos metodológicos .............................................................................................. 49
2.2 – Informações a partir das observações de campo ........................................................... 51
2.3 – Considerações provisórias ............................................................................................ 61
Referências ............................................................................................................................ 64
Anexos ................................................................................................................................... 68
-
Memorial Educativo
1. A origem de tudo
A denominação adotada vem explicar os fatos iniciais e motivadores que levaram a
escolha profissional e moral na área docente focada à defesa infantil. Tal capítulo irá expor a
trajetória escolar formal relatando fatos principais das seções ensino fundamental, médio e
superior que auxiliaram para construção pessoal, moral e profissional.
O ensino fundamental I foi marcado pela transferência de uma instituição particular
para uma pública no meio do semestre por não estar acompanhando o ritmo da turma e a
dinâmica da escola. Pelo pouco que recordo, o problema que enfrentava era a dificuldade de
compreensão quanto ao conteúdo sistematizado que era “jogado” de forma crua e plana a fim
de seguir o roteiro de conteúdos bimestrais. Portanto, quando ingressei na escola pública me
deparei com dinamismo, compreensão e prática, sendo o conteúdo explanado com a
contribuição dos alunos e re-esclarecido com a prática empírica. Em tal escola as crianças
eram tratadas como crianças, ou seja, exigia-se esforços ao nível da idade; proporcionava
participações em eventos e datas comemorativas de forma envolvente e explicativa de acordo
com os conteúdos abordados; estimulava a participação sem tabulações e rankings e
desenvolvia atividades visando à autonomia e responsabilidade.
Já no ensino fundamental II, as mudanças são de várias ordens. A primeira série desse
módulo é marcada pelas características do início da adolescência implicando em
conseqüências diversas para o desempenho escolar. Assim como no anterior, o ensino
fundamental II foi realizado também em escola pública sendo marcado pela conquista e
influência de novas amizades causando um desvio do foco nos estudos e no desempenho
escolar. Nessa escola pública havia muitos problemas com relação à troca de professores e a
falta de recursos didáticos resultando em grande índice de reprovação e desistência.
Juntamente com essas questões havia a não participação e parceria dos pais com a escola,
sendo agravada com a falta de apoio por parte da direção da escola.
A última série do ensino fundamental, também foi realizada em uma escola pública
considerada modelo. Porém, esse único ano na escola foi de construção de amizades, laços
afetivos e participação no grêmio escolar o que resultou em um desempenho escolar baixo,
mas em uma considerável ganho pessoal para tomadas de decisões coletivas voltadas à
criança e adolescente. Nessa escola priva-se pela formação cidadã ativa, pelo conhecimento
-
transversal e participação igualitária, porém o meu desempenho individual não foi focado para
a aprendizagem e sim para participação em movimentos escolares.
Do ensino fundamental II para o ensino médio houve a maior mudança da minha
trajetória escolar. Meu ensino médio foi realizado em uma instituição particular sendo
necessário o máximo de esforço e dedicação pelo fato de ter alto custo, o que resultou no
esquecimento do trabalho de ideologias, discussões e conquistas às crianças e adolescentes.
Tal esforço e dedicação resultaram em uma rotina de estudos com a finalidade de ingressar
para o curso de Medicina da Universidade de Brasília, ou seja, estudava no período vespertino
e no período matutino e noturno estudava fixando a matéria. Com todo esse esforço e rotina
cansativa adquiri uma doença hormonal e emocional, se agravando com a minha dificuldade
de assimilação do conteúdo, assim como, minha excessiva cobrança.
Com a falta de estímulos e dificuldade de aprendizagem foquei parte de minhas
atenções para o trabalho assalariado nos finais de semana com animação de festa infantil. Foi
a partir daí que minha paixão e admiração pela natureza e universo infantil se confirmaram, e
com isso tive a oportunidade de ter contato com crianças carentes de abrigos tomando
consciência das condições de direitos de crianças em situações de risco e até mesmo as de
baixa classe. Esse foi o fato motivador e intrigante para uma busca de conhecimento e ação
em prol de tal realidade.
Sendo assim, com todo esse ritmo passei no meio do 3º ano com 17 anos de idade no
curso de pedagogia da Universidade de Brasília. Esse acontecimento gerou comentários com
relação à minha capacidade, pois acreditavam que com minhas dificuldades de aprendizagem
não seria capaz de conquistar uma vaga, e assim tal acontecimento influenciou fortemente
para minhas reflexões e atitudes como educadora.
Essa instituição escolar tem o foco exclusivo na formação intelectual e cultural para o
ingresso na Universidade de Brasília. Apesar do consistente corpo docente, da ampla estrutura
e da disponibilização de recursos didáticos o colégio segue um modelo tradicional de ensino
em que o aluno é extremamente pressionado e cobrado para o exclusivo ingresso na
Universidade e em cursos reconhecidos e de peso para o social.
O ingresso na Universidade foi uma conquista e marco de superação, sendo o início no
curso de pedagogia o fim ou desestímulo para o curso de medicina na área pediátrica com
finalidade de amparar e salvar crianças abandonadas, sem assistência e desamparadas.
-
A dinâmica da Universidade proporciona liberdade, autonomia e diversas trajetórias a
seguir. Foi nesse ritmo que minha graduação se desenvolveu, sem muitas orientações optei
pelo caminho da liberdade focando exclusivamente no trabalho. Portanto, no segundo
semestre do curso comecei a trabalhar em uma escola de educação infantil sendo meu foco e
destino de esforços, o que resultou em escolhas favoráveis à prática já exercitada e não para a
conquista de melhores conhecimentos e aproveitamento total das atividades universitárias.
Apesar da dedicação para o profissional, meus esforços para o conhecimento teórico
eram cada vez maiores a fim de ter conhecimento especifico e preparo para a defesa à criança
de zero a cinco anos de idade e ao seu direito educacional. Considero que todas as disciplinas
da grade de pedagogia são incentivos para busca, reflexão e ação como cidadãos ativos de
deveres e direitos e acima de tudo como educadores ativos, persistentes e solidários.
-
2. De frente com a pedagogia
Com base nas teorias de Durkheim (1858-1917) e Herbart (1776-1841), o autor
Ghiraldelli expõe a definição de pedagogia como “(...) a literatura de contestação da educação
em vigor e, portanto afeita ao pensamento utópico.” (2006, p. 8), sendo que educação na
concepção durkheimiana, exposto no livro O que é pedagogia, é um fato social com a
finalidade de transmitir o patrimônio social e cultural resultando na continuidade histórica de
uma determinada sociedade.
Na Universidade de Brasília o curso de Pedagogia com grau de licenciatura é ofertado
nos períodos diurno e noturno com base na Portaria nº 064745 de 30/06/1969. O curso de
pedagogia tem duração de oito semestres contendo trinta disciplinas consideradas obrigatórias
e fundamentais para o embasamento acadêmico teórico sendo complementado pelas
disciplinas nomeadas como optativas que ficam a critério do aluno de acordo com sua área de
interesse. (Disponível em: Acesso em: 12 de abril de
2011).
2.1 Universidade: mundo das incógnitas
Ao se referir à pedagogia tem-se a imediata ligação com o exercício da docência em
instituições escolares formais, porém o curso de pedagogia enquanto ciência da educação
deve formar cidadãos ativos aptos a atuarem como profissionais nos diversos locais onde a
educação age. É claro que a educação está presente em todos os lugares e a toda hora, logo
uma Faculdade de Educação assim como os cursos de licenciatura devem ser fortemente
estruturados para que possa obter aptos cidadãos ativos em prol da educação, porém na prática
da Universidade, o mundo das incógnitas, tal situação não ocorre.
Denomino mundo das incógnitas porque, de acordo com minha experiência prática, a
Universidade assim como suas faculdades gira em torno de indeterminações e teorias. Na
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília tem-se um amplo leque de áreas de
atuação de licenciatura, mas não ultrapassa da consistente teoria. Tendo basicamente teorias
surge as incógnitas que ficam calcadas nas críticas e opiniões de como deveria ser sem antes
raciocinar e planejar o como fazer.
http://www.matriculaweb.unb.br/
-
Sendo assim, é preciso ir à prática empírica para tentar desfazer das incógnitas e
começar a planejar o agir no leque de possibilidades otimistas, nas teorias ressalvadas na
prática e no compromisso moral e social de educador.
2.2 Aluna universitária e professora
Imersa no mundo das incógnitas, sendo as teorias vigente para o agir, deparei-me com
a dualidade: aluna universitária e professora. Como já citado, no segundo semestre de curso
tive a oportunidade de atuar como professora em uma turma com crianças de 2 a 3 anos de
idade, tal fato proporcionou mais incógnitas.
A Universidade enquanto mundo das incógnitas me proporcionava teorias antigas e
externas à realidade vivenciada, que quando em encontro com a prática educativa exigente de
experiência, conhecimento e agilidade gerava mais incógnitas, porém carregadas de desespero
e pressa por respostas pontuais.
Considero tais situações uma grande dualidade, pois na Universidade era exigida
opiniões e reflexões estruturalmente montadas enquanto na prática educativa era exigida
ações práticas e com resultados imediatos. Tal situação induziu a um esforço e dedicação
maiores pautados na pesquisa, questionamento e ação, sendo assim a teoria universitária
proporcionou ações práticas consistentes e estruturadas, assim como a prática educativa
fomentou questionamentos as teorias aplicadas distantes da realidade e as práticas
inadequadas consideradas como exemplo-padrão.
-
3. Desafio: políticas públicas educacionais e educação infantil
Em minha trajetória acadêmica e profissional tive a oportunidade de conhecer o
contexto da educação continuada e profissional de uma instituição pública, que me
proporcionou uma visão comparativa da educação para massa que tem o direito e da educação
para pouco escolhidos. Com isso, afirmou a minha concepção de que a educação não é
prioridade para o Estado, tendo como exemplo as condições gerais precárias da educação em
todos os segmentos fora o esquecimento da oferta e preocupação com as crianças incluídas na
educação infantil.
Considero minha temática um grande desafio pelo fato de a educação como direito
não ser prioridade resultando na não importância para o segmento da educação infantil, sendo
assim as políticas públicas educacionais são rasas e falíveis, principalmente tratando-se do
público de zero a cinco anos de idade.
Entendo a educação como um direito humano de todos sendo o Estado obrigado a
ofertar com quantidade e qualidade. Porém, para que isso ocorra é necessário que o Estado
assuma a educação como prioridade e dever sem a utilização da mesma como ferramenta de
manipulação e alienação. Portanto, assumindo a educação como um direito humano é
necessário lançar consistentes políticas públicas que vão à busca da padronização de direitos e
qualidade educacionais.
De acordo com a Lei nº 9.394 de 1996, a educação infantil é a primeira etapa da
educação básica que visa o desenvolvimento integral da criança de zero a seis anos de idade
nos aspectos relevantes para sua formação social, moral e intelectual. Sendo a educação
infantil o primeiro contato do indivíduo com regras a serem cumpridas na e além da
instituição escolar, assim como, a inicialização da vida escolar deve ser promovida como uma
etapa escolar e obrigatória, principalmente aos que a ofertam: o Estado.
Compreende-se por política pública o conjunto de ações e planos governamentais, das
diferentes esferas públicas, que visam o cumprimento dos direitos sociais que garantem o
bem-estar social e adéqüem ao interesse público. (LOPES, AMARAL, et al., 2008). Assim,
entende-se que as políticas públicas são necessárias em todas as ordens do serviço público
com a lógica justificativa de alcançar o bem-estar e progresso da sociedade.
-
Portanto, tenho o desafio lançado com o propósito de alertar, de forma clara e objetiva,
a gravidade do descaso educacional à todos envolvidos direta ou indiretamente com a
educação para que assim o direito humano à educação seja garantido e ofertado com
qualidade à todos.
-
4. Considerações finais
O memorial educativo é um excelente espaço para exposição clara dos acontecimentos
acadêmicos, das concepções adotadas e da reflexão para prática futura.
Considero-o de extrema necessidade para repensar de ações, destinos e
responsabilidades, pois é o espaço adequado para a exposição pessoal sem indicações ou
respaldos teóricos já existentes.
Tal produção afirmou a necessidade do trabalho conjunto entre a teoria e prática
sempre respaldada pela observação e concordância com a realidade. As reflexões apontadas
afirmaram a lógica cíclica de erros educacionais vindos do descaso governamental, do mau
preparo dos profissionais e das conotações capitalistas que regem a educação. Como exemplo,
exponho minha experiência com a monografia que foi realizada em dois meses por causa da
greve e do abandono do antigo orientador.
Sendo assim, conclui-se que a prática é distante da teoria expressada e por isso faz-se
necessário a apropriação da teoria adequada à realidade como forma de respaldo para as
atitudes práticas de acordo com a escolha e percurso a ser seguido como profissional da
educação, que exige uma responsabilidade e atuação social.
-
Introdução
O universo infantil sempre me despertou interesse pela espontaneidade e alegria da
criança, mas ao mesmo tempo trouxe o sentimento de cuidado, assistência e apoio ao bem-
estar. A criança é o meu centro de preocupação enquanto cidadã e a educação infantil me
desperta profunda atenção.
Antes mesmo do ingresso nesse curso conciliei os estudos, na época o ensino médio,
com o trabalho em animação de festa infantil. Foi a partir daí que minha paixão e admiração
pela natureza e pelo universo infantis se afirmaram, e com isso tive a oportunidade de
estabelecer contato com crianças em diferentes situações e condições. Esse foi o fato
motivador para busca de conhecimentos estruturados e envolvimento com atividades de
extensão, inserida na realidade infantil de Brasília e cidades.
Já inserida no contexto universitário busquei experiência profissional exercendo a
carreira docente, fato que exigiu mais esforços para o conhecimento teórico com a finalidade
de conquistar conhecimentos específicos e preparo para a defesa da criança de zero a cinco
anos de idade e de seu direito educacional institucionalizado.
Em minha trajetória acadêmica e profissional tive a oportunidade de conhecer o
contexto da educação continuada e profissional de uma instituição pública, que proporcionou
uma visão comparativa da educação para muitos que tem direito e da educação para poucos
escolhidos. Com isso, afirma-se a visão de que a educação não é prioridade para o Poder
Público, tendo como exemplo as condições gerais precárias da educação em todos os
segmentos, a insuficiência da oferta de vagas e necessidade de melhorar cuidados com as
crianças incluídas na educação infantil.
Em oportunidades de observação acadêmica me deparei com um cenário de
desrespeito e violação do direito ao acesso em creches públicas, especialmente das crianças de
zero a três anos de idade. Ou seja, a educação é um direito de todos e dever do Estado com a
finalidade de desenvolver integralmente, a criança de zero a cinco anos de idade, nos aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, mas não está sendo viabilizado por completo a todas.
Considero esta temática um grande desafio pelo fato de a educação como direito não
ser prioridade resultando na falta de atenção e assistência para o segmento da educação
-
infantil, e por isso as políticas públicas educacionais quando observadas em sua afetividade
nas escolas, revelam-se frágeis diante do quadro apresentado pela realidade local.
O foco de interesse no direito e na garantia de acesso ao atendimento educacional das
crianças de zero a três anos advém da preocupação com o desenvolvimento social, físico,
cognitivo e emocional, iniciado desde os primeiros meses de vida sendo promovido
principalmente em instituições escolares.
O direito de acesso ao atendimento pedagógico e de assistência física em creche de
período integral está considerando o indivíduo enquanto pessoa humana de necessidades e
valores, além de contribuir para a estabilidade econômica e familiar da mãe trabalhadora.
Sabe-se que a criança, em sua história, teve reconhecimento tardio de um lugar
específico na vida pública e particular, decorrente de movimentos mais amplos da sociedade.
Lutas e interesses pelo universo infantil possibilitaram estudos estruturados sobre o
desenvolvimento, características e necessidades e, principalmente, leis e políticas públicas que
garantem o reconhecimento dos direitos essenciais infantis, e assistência social para o bem-
estar. Considera-se a criança como indivíduo de direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana cabendo ao poder público, de acordo com o art. 3º do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), efetivar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à cultura, ao respeito, à convivência familiar entre outros.
Portanto, quando a educação é institucionalizada pela Constituição Federal Brasileira
automaticamente se enquadra como direito social fundamental que o Estado tem o dever de
garantir. Como todos os outros serviços públicos garantidos pelo Estado, a educação tem o
caráter de direito subjetivo, entendido como uma capacidade assegurada a todos para realizar
ou agir segundo seus direitos, sem que atinja os direitos do outro. (SANTOS, 2008, p. 19)
A todo indivíduo pertencente da sociedade é assegurado o direito subjetivo à educação
gratuita por ser um fator social propício ao desenvolvimento dos processos formativos a
serem aperfeiçoados e utilizados no convívio familiar, social, do trabalho, das instituições de
ensino e pesquisa, dos movimentos sociais e das manifestações culturais, conforme estabelece
o art. 1º da Lei nº 9.394 de 1996 (LDB).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação titula o desenvolvimento de tais processos
formativos como educação escolar, que é composta pela educação básica e pela educação
-
superior. A educação básica abrange a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
por isso o art. 4º determina como dever do Estado o ensino fundamental obrigatório e gratuito,
a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio e o atendimento
gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade.
O atendimento em creches e pré-escolas corresponde à educação infantil oferecida em
creches para crianças de zero a três anos de idade e pré-escolas para crianças de quatro a seis
anos de idade. O art. 29 da LDB conceitua a educação infantil como primeira etapa da
educação básica com a finalidade de desenvolver integralmente a criança até seis anos de
idade, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, juntamente a ação da família e da
comunidade.
O art. 208 da Constituição Federal de 1988 reafirma a educação como dever do
Estado, a ser efetivada com a oferta obrigatória e gratuita da educação básica de sete a
quatorze anos de idade. Recentemente, conquistou-se a ampliação dessa oferta obrigatória
educacional, através da Emenda Constitucional nº 59/2009 já inclusa na 33ª edição da
Constituição atualizada em 2010, garantindo a oferta da educação básica obrigatória e gratuita
dos quatro aos dezessete anos de idade, sendo que a educação infantil será ofertada em
creches e pré-escolas às crianças até cinco anos de idade.
Em termos de financiamento a Constituição de 1988 prevê que a União organize o
sistema federal de ensino financiando as instituições de ensino públicas federais. Juntamente
com a União, os Municípios devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil, sendo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar
anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita na educação.
Apesar das determinações legais, o financiamento da educação é o pilar instável que
paralisa o desenvolvimento da educação de qualidade a todos. A Conferência Nacional de
Educação (Conae) e o Plano Nacional de Educação (PNE) são formas que o Ministério da
Educação (MEC) desenvolve para estabelecer sua organização pautando as decisões
necessárias para assegurar a qualidade da oferta do ensino brasileiro. Em 2010 ocorreu uma
conferência, cujo tema foi Conae: Construindo o Sistema Nacional Articulado: O Plano
Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação. Tal conferência resultou no
Documento Final responsável por apresentar e estabelecer diretrizes, metas e ações para a
política nacional de educação.
-
Um dos pontos coletivamente levantados no Documento Final da Conae (2010) é o
financiamento da educação explicitando a realidade de menosprezo e a concepção de
financiamento apartada das necessidades reais do País. Enfatiza a necessidade de efetivação
do Sistema Nacional de Educação Brasileira, que ainda não foi possível devido ao insuficiente
financiamento resultando na permanência dos fenômenos do analfabetismo e do fracasso
escolar, além da falta de alicerce para assegurar o alcance das metas de planos nacionais
anteriores.
Sendo assim, pontua como sugestões de solução: a criação de uma reforma tributária
transparente preocupada com a garantia de recursos financeiros suficientes para a efetivação
dos direitos sociais; a incorporação do mecanismo do custo aluno/qualidade (CAQ), que deve
ser definido a partir do custo anual por estudante, suficiente para a realização da educação
básica pública em um padrão mínimo de qualidade; a determinação da administração do
orçamento pelas secretarias de educação baseada na Lei de Responsabilidade Educacional e
alterações de dispositivos desta que limitam os avanços na área da educação. E por fim, a
ampliação do investimento em educação pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB)
na proporção de, no mínimo, 1% ao ano alcançando, no mínimo, 10% do PIB até 2014.
Percebe-se, em termos legais e de políticas, que ainda há muito para estabelecer e
conquistar, apesar dos atuais avanços, pois efetivando o acesso educacional institucionalizado
possibilita-se a socialização, o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional e o preparo para
o mundo do trabalho, além de dar amparo e assistência à criança enquanto pessoa humana de
direitos.
Incluindo a criança de quatro meses a três anos de idade na instituição escolar creche
são necessários atitudes e elementos que garantam o desenvolvimento, segurança e bem-estar
da criança que permanecerá dez horas fora do ambiente de convívio familiar. Para essa tarefa,
a infra-estrutura física da instituição atende plenamente as necessidades específicas da idade?
Considerando a oferta em creches com prioridade na esfera pública, de que forma o Estado se
esforça para possibilitar o acesso ao atendimento em creches aptas e estruturadas? Qual ação
vigora na prática da creche: cuidar e/ou educar?
Essas questões surgem ao longo de observações feitas em nossas cidades em torno de
Brasília, e auxiliaram a definir como questão de estudo a seguinte indagação principal: Como
-
se efetiva o direito de acesso ao atendimento educacional de crianças de zero a três anos de
idade em creches públicas do Guará no Distrito Federal?
Considero de extrema importância para minha formação como pedagoga, estudar,
explorar e compreender sobre a colocação de obrigatoriedade ao atendimento educacional
para as crianças de zero a três anos de idade. Para isso define-se como interesse mais amplo o
objetivo geral: averiguar se há o desrespeito ao direito de acesso ao atendimento em creche
pública do Distrito Federal, das crianças de zero a três anos de idade. Nesse sentido temos
como objetivos específicos:
1º - Resgatar alguns elementos fundamentais da história social da criança e do
reconhecimento dos seus direitos;
2º - Identificar as principais políticas públicas para a criança e para a educação infantil
na atualidade brasileira;
3º - Relatar aspectos do atendimento educacional à criança de zero a três anos de idade
em creches públicas do Guará no Distrito Federal.
Para desenvolver o projeto de estudo foi necessário pesquisar dados e elementos gerais
sob domínio interno de órgãos públicos de educação e das creches visitadas, observar
estruturas e rotina pedagógica e entrevistar atores da realidade observada. O trabalho final de
curso está organizado em três capítulos principais que estabelecem as concepções teóricas
referentes ao tema abordado, o levantamento e análise de dados e a discussão dos resultados.
O primeiro capítulo demonstra os conceitos e concepções sobre a criança, o direito ao
acesso em creches e as políticas públicas para a criança e para a educação infantil. O estudo
baseou-se em leituras de documentos públicos do Ministério da Educação, de bibliografia que
aborda a história social da criança e textos analíticos da legislação brasileira sobre educação e
políticas de proteção à infância e adolescência.
Respaldado pela teoria em construção, o segundo capítulo descreve os procedimentos
de investigação como forma de conquistar informações e dados reais que contribuirão para
reformulação e aprofundamento das indagações formuladas neste trabalho, que apresenta um
processo inicial de sistematização e síntese. E ainda neste, tem-se a sistematização da
discussão dos dados e fatos obtidos de forma ainda incipiente para responder os
questionamentos iniciais, que possibilitarão prosseguimento de estudos.
-
CAPÍTULO I – Construindo um referencial
1.1 – A história social da criança brasileira e a educação para o desenvolvimento
infantil.
Sobre a história social da criança Ariès (1978), faz um panorama cronologicamente
histórico, pautado na realidade européia, sobre o desenvolvimento social da criança assim
como da infância. No século XII a criança não tinha reconhecimento sendo representada
como um adulto em tamanho reduzido, uma miniatura, sem considerar suas especificidades.
Porém, no século XVII começa a surgir o interesse pela criança devido ao nível elevado de
mortalidade generalizada.
A preocupação inicial referente à saúde e futuro da criança fez com que a atenção dos
adultos se direcionasse para a ingenuidade, graça e espontaneidade infantis, sendo
reconhecida como fonte de distração e relaxamento, resultando no sentimento de
“paparicação”. Essa percepção vem se ligar mais tarde aos interesses psicológicos e morais
porém, tais movimentações resultaram em um sentimento contrário preocupado apenas com a
disciplina e seguimento dos costumes sociais. Portanto, a grande preocupação com a saúde e
higiene, assim como com o futuro, fez com que a criança fosse colocada no lugar central
dentro da organização familiar. (ARIES, 1978).
A história da criança brasileira, de acordo com Priore (2008), é marcada pela falta de
conceitos e preocupações devido à instabilidade e mobilidade populacional no primeiro século
de colonização e por isso, a infância era considerada um tempo de transição e sem
personalidade.
As fases da vida humana adotadas no começo da história eram pautadas nos manuais
de medicina de Galeno (129 d. C. – 200 d. C.) que definia a infância como a primeira idade do
indivíduo, denominada puerícia, correspondendo à fase do nascimento aos 14 anos de idade.
Essa primeira idade era divida em três momentos que se cumpriam de acordo com a condição
social dos pais, sendo o primeiro até o final da amamentação ocorria até 3 ou 4 anos de idade;
o segundo momento até os sete anos de idade caracterizado pelo crescimento junto às tarefas
diárias dos pais e o terceiro momento em diante era caracterizado pelo trabalho infantil em
pequenas atividades, ou o estudo a domicílio ou na rede pública para os melhores
posicionados econômica e socialmente. (PRIORE, 2008, p. 84)
-
No Período Jesuítico (1549 – 1759) instalado na fase de colonização, que durou um
século e meio, a criança era alvo de interesse dos padres da Companhia de Jesus cuja
finalidade era formar novos cristãos para propagar seus valores no mundo de convívio os
valores.
Fora da Colônia a infância estava sendo descoberta, possibilitando abertura às novas
formas de afetividade e afirmação do sentimento da infância em que a Igreja e o Estado
tinham papel essencial. A criança indígena torna-se o meio de viabilizar a difícil conversação
entre os indígenas adultos e os cristãos missionários, pelo fato de não contradizer a lei cristã
imposta pelos colonizadores. (CHAMBOULEYRON, 2008).
Apesar das crianças indígenas serem vistas pelos colonizadores como a possibilidade
de estabelecer comunicação e inserção no meio indígena, não havia nenhuma preocupação
com a sua saúde, cuidados e futuro infantil porque o interesse era a alienação através da
educação religiosa, que transforma e doutrina a cultura e os costumes dos indígenas para o
cristianismo. (CHAMBOULEYRON, 2008, p. 63).
Próximo ao término da colonização tem-se a chegada da Roda dos Expostos, criada na
Europa medieval, como instituição de assistência à criança abandonada e com caráter
missionário, ou seja, o amparo à criança significando o enquadramento nos princípios
cristãos. Sendo assim, a primeira providência era o batismo como forma de salvar a alma da
criança abandonada. (MARCILIO, 1997, p. 36).
De acordo com Marcilio (1997), a Roda dos Expostos no período colonial esforçou-se
para prosseguir com a assistência à criança, que em grande número era abandonada sem os
cuidados essenciais à sua sobrevivência, pois a falta de recursos constituía mais um forte pilar
para a mortalidade infantil. Após o período colonial crítico de “adestramento” dos indígenas,
tem-se ênfase no período colonial da escravidão negra reafirmando os elevados índices de
mortalidade infantil agravados pelo descaso com os pequenos negros. O descaso se
caracteriza por alimentação inadequada correspondente à idade, por falta de orientações para
com os cuidados higiênicos no primeiro mês de vida e a desproteção às condições climáticas
desfavoráveis. (PRIORE, 2008, p. 86).
Com o aumento da população portuguesa na colônia surge o tratamento de
“paparicação” para com as crianças negras, tratadas como “animaizinhos” que serviam para
distrair e passar as horas vagas das portuguesas e de seus filhos. Entretanto, a morte infantil
-
não era vista como um fato negativo por que tinham o pensamento da substituição, ou seja, as
crianças que nascem substituem as que morrem. Esse pensamento levava ao descaso e
despreocupação com a rotina e futuro das crianças que andavam por todos os lugares sem
orientação e sem proteção adulta. (SCARANO, 2008, p. 111)
Conforme Mauad (2008), o início do Período Imperial (1822 – 1889) é marcado por
reclamações sobre os mosquitos, o calor, os costumes desarranjados e sobre as crianças que
era vistas como piores que os mosquitos do clima tropical. Porém, o século XIX admite a
infância como fase do desenvolvimento humano, pois a criança passa a ser considerada pela
continuação da linhagem, exceto a criança negra ainda incluída na escravidão. Portanto, a
criança alcança espaço na sociedade e aparece em dicionários da década de 1830, definida
como cria da mulher que necessita de alimentação e cuidados por ter ausência de fala e por
falta de juízo da fase adulta.
A atenção que a criança e a infância começam a adquirir torna-se alvo de polêmicas,
principalmente quando se trata da educação específica a essa idade da vida. Quando tratava-se
da educação surgia a contraversão entre educar e instruir cabendo às escolas oferecer o ensino
enciclopédico e a imposição dos princípios morais. Tinha-se em vista que a base moral
deveria ser imposta no seio familiar fazendo com que não houvesse a confusão entre educação
e instrução ( MAUAD, 2008, p. 150).
Cabe ressaltar que o reconhecimento da infância e da criança não se estendeu aos
escravos negros que muito ao contrário, faleciam em grande escala antes mesmo de
desembarcar e aqueles que sobreviviam eram órfãos mal tratados. A criança negra era vista
como uma criança estragada e sem utilidade, tendo valor quanto estivesse apta para trabalhar
já que todo o aprendizado adquirido no trabalho escravo refletia no preço de revenda em que
os escravocratas teriam lucros. (GÓES & FLORENTINO, 2008, p.186).
Outro período brasileiro em que a história da criança é permeada de conquistas e
retrocessos é o Período Republicano (1889 – 1937) que está marcado basicamente pelo
processo de industrialização. Sabe-se que as indústrias contratavam mão-de-obra feminina e
infantil por ter baixo valor de despesas e alto valor de lucro, porém, é nesta situação que
instala-se a realidade infantil vitimada em acidentes de trabalho. O cotidiano infantil e
adolescente nas fábricas e oficinas era marcado por acidentes de trabalho e violência em
vários níveis. Antes da ambição de lucros vinda com a industrialização, a infância era
-
permeada por cuidados e elementos líricos que foi dando espaço para as vozes de denúncia da
exploração dos menos favorecidos da sociedade (MOURA, 2008, p. 260).
Relatado por Moura (2008), no ambiente industrial de trabalho a criança era submetida
a uma relação hierárquica recebendo de seus superiores uma disciplina férrea em que as
imagens do pai e do patrão frequentemente se confundiam. Além de tais imposições, a criança
tinha que enfrentar longas jornadas de trabalho sem tempo destinado às brincadeiras e à
educação institucionalizada. Sendo assim, para muitas crianças o brinquedo era aquilo que
tinham ao alcance das mãos e o local inapropriado eram as dependências das fábricas.
O elevado nível de mortalidade infantil vem se instalar novamente devido à falta de
alimentação por extrema pobreza, juntando-se com as condições desumanas de trabalho. A
realidade nas fábricas era o amontoado de máquinas e operários que impediam a entrada da
luz e do ar que se uniam com os mínimos princípios de higiene. Por isso, em 1910 o Decreto
Estadual nº 2918/1918 que vem estabelecer a idade de 12 anos como limite para a admissão
de trabalhadores em fábricas e oficinas. Sendo assim, as primeiras décadas da República
brasileira foram marcadas pelos trabalhos infantil e feminino, como elementos importantes de
contenção de custos da produção. Tal conquista gerou conseqüências negativas, pois as
crianças protegidas do trabalho infantil, e de classe econômica desfavorável, se encontravam
desprotegidas com a falta de amparo e acompanhamento, sendo as ruas o local de diversão e o
meio de conseguir esmolas como também de assaltar e roubar. (MOURA, 2008, p. 272-276).
Concluí-se que a história social da criança brasileira é fortemente marcada por duras
conquistas e constantes retrocessos estando sempre marcada pela divisão de classes gerando a
desigualdade social, a pobreza e a marginalização dos excluídos socialmente. É preciso
investigar legalmente, desde a primeira até a atual Constituição Brasileira e em outros
respaldos legais, a história de reconhecimento e conquistas da criança, independentemente da
classe econômica ou raça, que visam universalizar na prática os direitos infantis,
principalmente à educação.
De acordo com Marchi (2010), somente no final do ano 1980 a infância é reconhecida,
pelos pesquisadores europeus e norte-americanos, como fase do desenvolvimento humano
carregada da dimensão de construção social, em que as crianças são indivíduos sociais ativos
na ordem social adulta. Porém, antes de tal cenário, sociólogos e psicólogos do
desenvolvimento já discutiam sobre a infância e o sujeito dessa etapa da vida, a criança. Jonh
-
Locke (1632-1704) comparava a criança com uma folha de papel em branco em que as
experiências são escritas. Anos mais tarde o sociólogo Rousseau (1712-1778) interpreta a
criança como indivíduo dotado de senso inato de justiça e moralidade que se desenvolve e
aperfeiçoa a medida que cresce, desde que protegido da sociedade que o corrompe.
Apesar da fase de tentativas de conceituação da infância e da criança, psicólogos do
desenvolvimento já investigavam as formas singulares de desenvolvimento, aprendizagem e
interação da criança. Jean Piaget (1896-1980) foi um pesquisador da epistemologia genética
com a finalidade de compreender como as crianças constroem e desenvolvem as estruturas
intelectuais e as formas de desenvolvimento. Piaget assinala o egocentrismo como
característica definidora do pensamento e da linguagem infantil por que há a dificuldade de
diferenciar seu próprio ponto de vista do dos outros. Concluí-se que a socialização é a
condição necessária ao desenvolvimento intelectual, moral e lingüístico do indivíduo a ser
aperfeiçoado nas relações sociais posteriores. (VASCANCELOS, 2008).
Para Piaget o indivíduo passa por quatro estágios de desenvolvimento cognitivo. Do
nascimento aos dois anos de vida o indivíduo se encontra no estágio sensório-motor, em que o
conhecimento do mundo é através dos sentidos e habilidades motoras. O estágio posterior é
do pensamento pré-operatório, dos dois aos seis anos de idade, em que a criança utiliza de
símbolos para comunicação e para representar aspectos do mundo. A idade de sete aos onze
anos, referente ao pensamento operatório-concreto, se caracteriza pelo entendimento e
aplicação de operações lógicas em experiências do momento. E por fim, o estágio do
pensamento operatório-formal, correspondente à adolescência em diante, em que o indivíduo
pensa abstratamente especulando sobre situações hipotéticas aplicando a dedução sobre o
possível. (KAIL, 2004, p. 13).
Outra explicação para o desenvolvimento infantil está apoiada no pensamento
sociogenético de Henri Wallon (1879-1862). Wallon entende que a emoção que resulta do
movimento, da atividade interativa e direciona a vida. A criança um sujeito completo, é pleno
de emoções e protagonista de seu desenvolvimento e de sua segurança afetiva. Para ele, a
criança é um ser geneticamente social inserido primeiramente na “constelação familiar” que
irá suprir as necessidades biológicas e sociais, pois a inclui na sociedade com cultura e
linguagem próprias. Wallon não classifica o desenvolvimento infantil em estágios, mas sim
em um processo de avanços consecutivos que se dão na dialética psicomotricidade, da
afetividade e da inteligência, ou seja, na relação entre ação, emoção e razão, que se
-
influenciam mutuamente e são acionados por fatores biológicos e sociais integrados.
(VASCANCELOS, 2008).
Sintetizando vários estudos, Vygotshy (1896-1934) um dos elaboradores da psicologia
propõe abordagem do psiquismo como construção social. Conforme Vasconcelos (2008), sua
concepção de desenvolvimento provém de um plano social com destino a um plano
individual, sendo que tais planos processam a evolução da ontogênese humana. Esta
concepção pode ser entendida com base nas experiências diversas paralelas e decorrentes dos
fatos da vida social, que são históricos e culturais.
Vygotsky define desenvolvimento como movimento que decorre de um processo
dinâmico em que a crianças e seus outros sociais se encontram em constante processo de
mútua transformação. Ainda descreve o desenvolvimento infantil marcado pela alternância de
períodos de calma e de crise, pois o desenvolvimento é um processo que se manifesta de
forma brusca e intensa. (VASCONCELOS, 2008, p. 7)
Compreende-se, inicialmente e à luz de Piaget, que o desenvolvimento físico,
emocional e social é imprescindível para a aprendizagem, entendida como aquisição
contextual e historicamente determinada podendo ou não acontecer. Tal aprendizagem
possibilita a construção de coordenações que devem ser experimentadas primeiramente no
plano corporal e concreto para depois ser vivenciada no plano do pensamento. (MACEDO,
1994). Por outro lado, na perspectiva da construção social da mente de Vygotsky, é a
aprendizagem que aciona o desenvolvimento.
A instituição escolar deveria ser o local onde a aprendizagem é sistematicamente
desenvolvida respeitando a estrutura física e cognitiva do indivíduo em processo de aquisição.
Nesse sentido, Piaget (1994) esclarece que a criança pré-escolar se encontra na fase de
transição entre a ação e a operação e que começará a estruturar as representações de forma
justaposta, sincrética e egocêntrica, conforme o desenvolvimento se encontra estruturado na
idade correspondente. Como a aprendizagem sistemática e mediada é campo da educação,
esta adquire o objetivo de promover o desenvolvimento integral da criança.
Portanto, o desenvolvimento apoiado e promovido pela instituição escolar, creche e
pré-escola, possibilita a socialização, o desenvolvimento físico (biológico) e, principalmente,
a aprendizagem sistemática necessária para a interação em todos os níveis da vida social. De
forma geral o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2000 atribui à educação infantil um
-
papel crucial nos primeiros anos de vida, no desenvolvimento integrado dos aspectos
intelectuais, psicomotores, do equilíbrio emocional e da sociabilidade que são essenciais à
formação do indivíduo.
Cavalleiro (2007), a socialização se constitui uma relação dialética em que o individuo
faz e sofre trocas e influências como forma de internalizar os aspectos do meio em que está
inserido, até que alcance condição de agir para transformar e intervir em seu meio.
No que tange ao desenvolvimento físico, o Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil – Formação Pessoal e Social (1998) esclarece que é por meio da linguagem
corporal que a criança aprende sobre o mundo, sobre si e comunica-se, por isso é necessário o
estímulo e orientação como parte da rotina e socialização. E como conseqüência, a
aprendizagem necessita de todos os citados elementos, assim como está presente em todos
eles, sendo esse um processo intenso e contínuo a ser desenvolvido principalmente no espaço
escolar.
Aproximando as teses de Piaget, Vygotsky e Wallon, fica claro que a educação
institucionalizada é um pilar essencial para o desenvolvimento humano, além de ser direito
social fundamental do indivíduo em processo de formação e constituição. Porém, a efetivação
do desse processo institucional exige profissionais capacitados, parceria com a família,
materiais pedagógicos e equipamentos atualizados de boa qualidade, e sobretudo, uma rede de
apoios interinstitucionais de defesa e proteção da infância e da adolescência.
1.2 – O lugar da criança: seus direitos nas Constituições Brasileiras.
O presente capítulo tem finalidade demonstrativa pontuando historicamente a
localização e situação do reconhecimento, assistência e direitos da criança nas Constituições
Brasileiras, entendidas como a estrutura teórica que define as partes componentes do Estado
assim como seu funcionamento. O Estado pode ser compreendido como o englobado de
princípios que determina o desenvolvimento em um território, onde os indivíduos se
adequarão a estes. (TEMER, 2008). Porém, o Estado compreendido na realidade brasileira se
compõe, também, de espaços para conflitos, disputas, negociações e jogos de poder.
Sendo assim, a Constituição no aspecto social pode ser interpretada como alma do
povo fornecendo poder social ou se distanciar dele; no aspecto político pode se apresentar
como um sistema flexível de princípios e determinações que necessitarão de interferência
-
fisicamente apta para alcançar efetividade (COELHO, 1997) e no aspecto jurídico a
constituição se aproxima do direito em que as normas são sobrepostas à vontade racional do
indivíduo. (TEMER, 2003, p. 17-19).
Encarando a Constituição como o conjunto normativo de princípios que regem o
Estado e suas competências, que por sua vez regulará as relações sociais em um dado
território cabe analisar as sete Constituições, interpretando-a como ferramenta de conquistas e
concretização das determinações legais, no aspecto dos direitos fundamentais da sociedade
incluindo a criança como cidadã de direitos.
A primeira Constituição Brasileira foi a Constituição do Império de 25 de Março de
1824, com duração de 65 anos, que se encaixa no cenário histórico do Imperialismo pautado
na ideologia liberal, marcada pela seqüela do absolutismo, pelo êxito do andamento do
programa do Estado liberal e pela abertura para os direitos humanos do século XX.
(BONAVIDES, 1987)
Como primeira Constituição do Brasil se ocupou de definir os cidadãos brasileiros
como todos aqueles nascidos ou não no Brasil, mas que residissem no Império e os nascidos
em Portugal e suas Possessões, residentes no Brasil na época da proclamação da
independência. Os art. 7º e 8º consideram todo cidadão brasileiro portador de direito à
liberdade, à segurança individual e à propriedade, perdendo-os todo aquele que se naturalizar
estrangeiro, que sem licença do Imperador aceitar qualquer auxílio do governo estrangeiro e
que for banido por sentença. Nesta tem a preocupação com a garantia dos direitos civis e
políticos do indivíduo determinando que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
algo a não ser em virtude da Lei; que todos têm direito de comunicar seus pensamentos sem
ser perseguido; que todo cidadão tem sua residência como um asilo inviolável; que ninguém
poderá ser preso sem culpa formada e que todos os cidadãos têm direito à instrução primária
gratuita. Fica claro na interpretação, mas não evidente no textual que a Constituição de 1824
considera todo indivíduo brasileiro, inclusive a criança, como cidadão de direitos
principalmente à educação, porém sem especificar-lhes direitos referentes à fase do
desenvolvimento assim como a defesa e amparo à infância. (NOGUEIRA, 1999)
A Constituição Federal Brasileira de 1891 é a segunda Carta Magna do Brasil e se
caracteriza pela falta de legitimidade popular e pouco alcance nas vivências políticas, pois
está marcada pela proclamação da República com um golpe militar. A República se
-
caracteriza pelo federalismo e pelo presidencialismo, por eleição direta com vigência de
quatro anos recebendo o título de “chefe eletivo da nação”, tendo toda sua responsabilidade
depositada no órgão legislativo que posteriormente constitui-se em Câmara dos Deputados e
Senado. (PACHECO, 1987)
A Constituição de 1891 prossegue com a definição de cidadão brasileiro assim como
seus direitos determinados na anterior acrescentando um capítulo sobre a declaração de
direitos que esclarece, em forma de incisos, sobre a igualdade de todos perante a lei; a
liberdade de manifestações religiosas em locais públicos; a desvinculação do ensino das
missões de catequese; a liberdade de associação aos poderes públicos, denúncia de abusos de
autoridade e indicação dos culpados; a livre manifestação do pensamento sem censura pela
imprensa e o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial entre outros.
Desta determina ainda as incumbências da União e dos Estados, sendo que em nenhum
momento inclui movimentações por conquistas e direitos sociais e essenciais, notando-se
progresso teórico com relação ao detalhamento dos direitos dos cidadãos considerando estes
como todo indivíduo pertencente à sociedade. (CALVACANTI, 2002)
Após 43 anos de Constituição no modelo federalista da primeira República tem-se a
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934, situada no
Período da Segunda República, caracterizada pelas movimentações do Governo Provisório de
Getúlio Vargas que foi fato motivador de rebeliões para a conquista de uma nova
Constituição, com inovações e singularidades que a sociedade necessitava; por isso tal
Constituição ficou marcada pelas grandes inovações iniciando pelo aspecto programático em
relação à parte social democrática e à ordem econômica. (MARINHO, 1987)
Esta Constituição inclui em seu art. 2º, além do já determinado nas Constituições
anteriores, a força social afirmando que todos os poderes emanam do povo e por tal causa
serão exercidos. Essa atenção com a sociedade é minuciosamente detalhada no art. 5º que
trata das competências da União dentre as quais estão traçar as diretrizes da educação
nacional e fazer o recenseamento geral da população. Isso é seguido no art. 10 referente às
competências da União e dos Estados determinando o cuidado da saúde e das assistências
públicas e a difusão da instrução pública em todos os graus. E por fim o art. 138, que incumbe
a União, os Estados e os Municípios de assegurar amparo aos desvalidos com serviços
sociais; de estimular a educação eugênica; de amparar a maternidade e a infância; de socorrer
as famílias em prole numerosa; de proteger a juventude contra toda exploração e todo tipo de
-
abandono e de adotar medidas legislativas e administrativas com a finalidade de reduzir a
mortalidade e morbidade infantis, assim como, medidas de higiene social para impedir a
propagação das doenças transmissíveis.
Os capítulos referentes à declaração de direitos prosseguem da mesma maneira,
incluindo artigos posteriores sobre o amparo à produção e condições de trabalho,
determinando a carga horária máxima de trabalho seguido da proibição do trabalho infantil de
menores de 14 anos de idade; do trabalho noturno a menores de 16 anos de idade e do
trabalho em indústrias insalubres a menores de 18 anos de idade e mulheres. Esta
Constituição, também, é a primeira a destinar um artigo para a definição de educação, sendo
assim o art. 149 define a educação como um direito de todos, sendo ofertada pela família e
pelos poderes públicos a fim de possibilitar condições para vida moral e econômica da Nação.
Pode-se considerar a Constituição de 1934 como a mais completa nos termos de
preocupação e determinação de ações sociais direcionadas à sociedade necessitada como alvo
do desenvolvimento do País ainda em processo de construção. Porém, toda a preocupação
teórica com os cidadãos, principalmente as crianças, não teve tempo viável de realizar-se na
prática porque sua vigência foi de apenas três anos seguidos dos conflitos de interesses dos
representantes que realmente não tinham o social como prioridade.
A quarta Constituição foi no ano de 1937 outorgada em um momento de crise de
ordem e de autoridade, pelo fato da disputa política com interesse de destruição do domínio
social e econômico. Tais movimentações levaram à transformação das instituições políticas
sendo necessário “armar” o Estado contra as ações dos partidos opositores, e com isso
consolidar um Estado social baseado na Constituição polonesa, afinal esta é permeada de
princípios adotados pela ditadura de Vargas. (PORTO, 1987).
O art. 1º da Constituição de 1937 considera o Brasil como uma República em que o
poder político decorre do povo que será exercido pautado no interesse do bem-estar, da honra,
da independência e da prosperidade. Tal Constituição considera a declaração de direitos como
um capítulo referente aos direitos e garantias individuais seguindo os dispostos básicos das
anteriores disponibilizando um artigo para a determinação de recursos educacionais à infância
e à juventude e garantindo o ensino primário como gratuito e obrigatório (PORTO, 1987).
Infelizmente todas as conquistas teóricas com forte determinação em caráter de lei mor
referentes ao amparo e assistência sociais foram desconsideradas em tal Constituição. Pode-se
-
interpretá-la como retrocesso do desenvolvimento social e conseqüentemente do país, pois os
interesses eram meramente particulares de alguns grupos. Portanto, a infância e a criança
perdem a possibilidade de amparo e reconhecimento alcançando somente a garantia do direito
à educação, que entra em contradição quando não se garante os direitos básicos, ou seja, os
cuidados e assistência com a saúde dos pequenos cidadãos.
A Constituição de 1946 se constitui a quinta Constituição brasileira marcada por uma
grande responsabilidade pelo fato de a antiga Constituição não ser completamente
implementada, cabendo a esta fazer valer o federalismo cooperativo a fim de garantir a
democracia no Brasil. Sua construção teve apoio na Lei Constitucional de 1945 que primava
pela execução de todos os poderes pelo Presidente da República, fato que resulta no
fortalecimento da União através de certa centralização. (FILHO, 1987).
Na Constituição de 1946 o capítulo II referente aos direitos e garantias individuais
prosseguem como antes sem citar nenhuma determinação à União a respeito de ações com os
cuidados e assistência aos desamparados. No entanto, dispõe um capítulo para as
determinações referente à educação, no art. 166 a educação é posta como um direito de todos
a ser realizada no âmbito familiar e na escola sendo o ensino primário obrigatório e gratuito.
(BALEEIRO, 1987). Portanto, percebe-se que a preocupação com o social, principalmente
com a criança, não alcança nenhum avanço se tratando da assistência e condições básicas de
saúde, interação social e conquistas econômicas.
A penúltima Constituição Brasileira é a de 1967 que foi devidamente discutida,
votada, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, porém este não se apresentava mais
como órgão com legitimidade política resultando em incerteza de sua vigência (BALTAZAR,
2006). Esta não foi honestamente promulgada por que a Assembléia Nacional Constituinte era
legal, mas ilegítima por ter sido homologada por determinação do Governo na vigência do
regime militar. (SANTOS, 2008)
Essa Constituição está marcada pela falta de democracia, suspensão dos direitos
constitucionais, censura e perseguição política. Na década de 60 o Brasil vivia grandes
mudanças econômicas caracterizadas pelas modernizações das indústrias e serviços,
concentração de renda, abertura ao capital estrangeiro e o conseqüente endividamento
externo. Nesse contexto, a preocupação era a qualificação de mão-de-obra de jovens aptos a
-
contribuir com o ritmo de produção das indústrias, afirmando o esquecimento dos direitos
sociais essenciais.
Entretanto, o art. 8º determina as competências da União, que correspondem à ação de
legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional e sobre a nacionalidade, cidadania e
naturalização, incorporando os povos indígenas à comunhão nacional. O capítulo referente
aos direitos e garantias individuais prossegue sem nenhuma conquista para a sociedade e sem
acréscimos dos direitos básicos para a sobrevivência em sociedade. Tem-se um avanço no
título IV da Família, da Educação e da Cultura, que estabelece a disposição da assistência à
maternidade, à infância e à adolescência e sobre a educação dos excepcionais. Determina, no
art. 176, que a educação é um direito de todos e dever do Estado sendo desenvolvida no lar e
na escola pautada no principio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade
humana. Portanto, reafirma-se o ensino primário obrigatório e gratuito cabendo aos Poderes
Públicos ministrá-lo nos diferentes graus. (CALVACANTI, 1999)
A última e atual Constituição está marcada pelo complexo arcabouço político e
jurídico que disponibiliza o maior período de estabilidade democrática na história do país
republicano. A Constituição, enquanto lei maior que organiza o Estado, começa a ter uma
personalidade de ação política que se traduz em ideais, discursos e ações. (PAIXÃO, 2009, p.
20-21). Após a realidade do regime militar conquista-se afirmação dos direitos sociais e da
organização social e econômica do país com as determinações constitucionais que considera o
cidadão e suas necessidades como aspecto essencial para o desenvolvimento de um país
democrático.
A Constituição de 1988 localiza os direitos e garantias fundamentais logo no início do
texto constitucional ocupando o Título II, que é dividido em capítulos referentes aos direitos e
deveres individuais e coletivos (Capítulo I); aos direitos sociais (Capítulo II); a nacionalidade
(Capítulo III); aos direitos políticos (Capítulo IV) e aos partidos políticos (Capítulo V). Sendo
assim, as grandes conquistas dessa Constituição localizam-se no Capítulo II que trata dos
direitos sociais especificando-os, no art. 6º, como a educação; a saúde; a amamentação; o
trabalho; a moradia; o lazer; a segurança; a previdência social; a proteção à maternidade e à
infância e assistência aos desamparados.
As maiores conquistas legais para o social, incluindo para as crianças, encontra-se no
Título VIII – Da Ordem Social determinando, no art. 194, a seguridade social como um
-
conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade com finalidade de
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Sendo assim, a
Seção IV assegura a assistência social a todos que necessitarem garantindo a proteção à
família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e
adolescentes carentes e a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. O
capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso determina, no art. 227,
como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, entre outros, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Cabe ressaltar que o ensino defendido nas Constituições anteriores é tratado na atual
como um direito de todos e dever do Estado e da família visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Logo,
é dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete
anos de idade com a responsabilidade de universalizar o ensino médio gratuito; de atender
portadores de deficiências e de ofertar educação infantil em creche e pré-escola às crianças até
5 anos de idade. A palavra “todos” nunca foi suficientemente positiva para os grupos sociais
historicamente excluídos da riqueza material e de acesso a bens imateriais decorrentes da
educação de boa qualidade, utilizando como demonstração prática a consolidação da
desigualdade pela produção das diferenças de gênero, raça e etnia, geracionais, campo e
cidade, regionais e outras.
Com a completa vigência da Constituição de 1988 tem-se o pleno reconhecimento e
valorização formais da criança e da infância garantindo os direitos humanos fundamentais
comuns a todos os cidadãos. Portanto, o auge da afirmação do reconhecimento infantil vem
com a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, conhecida como o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), que dispõe sobre os direitos fundamentais; a prevenção; a política de
atendimento; as medidas de prevenção; a prática de ato infracional; as medidas pertinentes aos
pais ou responsáveis; o conselho tutelar; o acesso à justiça e os crimes e infrações
administrativas.
O ECA (1990) tem como finalidade expor sobre a proteção integral da criança e do
adolescente, entendendo criança como a pessoa até doze anos de idade incompletos e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. O art. 3º determina que a criança e o
adolescente gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo de
-
responsabilidade da família, da sociedade e do poder público efetivar o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, ao respeito, à convivência familiar
entre outros.
Conforme visto anteriormente no capítulo referente à história social da criança
brasileira, a criança negra era vista como sem utilidade contribuindo fortemente para a
elevação do índice de mortalidade infantil. O desprezo e desconsideração com o negro
configurou a sua realidade, infelizmente atual, de desigualdade de oportunidades, de
tratamento e de reconhecimento. Em termos legais tem-se a conquista na Constituição
Brasileira de 1988 que determina no título II a igualdade perante a lei garantindo aos
brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade. E ainda no mesmo título encontra-se a determinação de punição a
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais e à prática do
racismo, que é um crime inafiançável e imprescritível.
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD)
divulgou uma documento de Orientação e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais
em 2006, que alerta para o reconhecimento das diferenças como um passo fundamental para a
promoção da igualdade já que há maior concentração de crianças negras em creches
filantrópicas e comunitárias, local onde a desigualdade racial é freqüentemente encontrada.
Santana (2006, p. 38), coordenadora do documento, chama a atenção para a prática de
discriminação cotidiana que resulta no comprometimento da socialização e interação das
crianças negras tendo como conseqüência a interferência nos processos de constituição de
identidade, de socialização e identidade.
Como possível solução, o documento indica a progressiva efetivação das políticas
públicas que afirmem e garanta os direitos sociais da criança, assim como, sua plena aplicação
usando como exemplo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Neste
sentido, Didonet (2000) esclarece que a política de educação infantil é um processo
determinado pela época e contexto em várias formas de ação existindo quando a educação
assume forma organizada, objetiva e com finalidades pré-estabelecidas. Na atual época, a
política de educação infantil brasileira está carregada de influência das organizações
multilaterais que visam o desenvolvimento econômico e social dos países subdesenvolvidos.
(ROSEMBERG, 2000 apud DREWINSKI, 2001, p.124).
-
É evidente que o reconhecimento da criança como indivíduo social de direitos já está
completamente estabelecido na teoria legal. Têm-se documentos que se caracterizam como
políticas públicas de defesa e indicação dos direitos essenciais à criança, sendo que neste
estudo o foco primordial é demonstrar que a efetivação do direito à educação de qualidade em
creches públicas não ocorre na proporção dos anseios e demandas da população.
-
1.3 - Políticas Públicas educacionais para a Educação Infantil.
Este capítulo tem como finalidade causar inquietação sobre as políticas públicas
educacionais para a educação infantil compreendendo-as como agente defensor do direito
social e constitucional à educação em creche pública para um público ainda não incluído na
obrigatoriedade e gratuidade da oferta educacional.
Coloca-se como questão motivadora desse assunto a seguinte indagação: as políticas
públicas educacionais, que são em grande número, não garantem o efetivo acesso das crianças
de zero a três anos de idade ao atendimento em creches públicas no Distrito Federal?
Entende-se por política pública “a totalidade de ações, metas e planos que os governos
(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o
interesse público.” (MANUAL SEBRAE, 2008). Políticas públicas devem ser concebidas
como uma criação necessária de intervenção do Estado de Bem-Estar Social, sendo que tal
intervenção é a diretriz geral para a ação dos indivíduos, das organizações e do próprio
Estado. (GOMES, 2009, p. 247)
Por isso, pode-se considerar que as políticas públicas educacionais estão expressas em
todos os documentos, programas e planos de iniciativa do poder público com a finalidade de
solucionar (ou não) os problemas referentes à educação nacional, que é dever do Poder
Público.
O significado de direito corresponde ao que é reto e segue ordens preestabelecidas, ou
seja, como “um conjunto de normas jurídicas disciplinando a convivência na sociedade
humana”. A educação é compreendida como um direito subjetivo, sendo visto como uma
capacidade assegurada a todos para realizar ou agir com seus direitos sem que atinja os
direitos do outro. (SANTOS, 2008, p. 19). De acordo com Gomes (2009), o direito se
concretiza como um pilar de conquista e efetivação por que:
“O Direito está buscando uma nova dimensão da hermenêutica constitucional que
permita dar prevalência aos direitos humanos e responder às demandas sociais
surgidas com o desenvolvimento socioeconômico que afetam a liberdade, a
igualdade de oportunidades e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana (...)”
-
O atendimento educacional para as crianças pequenas é reconhecido como educação
infantil, que vem ser considerada e especificada na LBD/96 que estabelece como a primeira
etapa da educação básica, a ser ofertada em creches para crianças de zero a três anos de idade
e em pré-escolas para crianças de quatro a seis anos de idade. Com essa conquista, Didonet
(2000) afirma que a educação infantil alcançou importância social e responsabilidade
reconhecida pelo fato de ser a etapa inicial para a formação fundamental que todo indivíduo
precisa para exercer sua cidadania e estruturar bases para estudos posteriores. Porém, a
realidade “da educação infantil, enquanto política social, tem ainda se caracterizado como
oferta pobre para uma população pobre, resumindo-se a programas de caráter ora
compensatório, ora preparatório ou preventivo.” (DREWINSKI, 2001, p. 114).
As políticas públicas educacionais podem ser vistas como um plano de ação para
efetivação da oferta, orientações para a prática educacional e possíveis conquistas de
melhorias. E quando se trata de direitos infantis têm-se duas políticas públicas essenciais: a
Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Tais
documentos são interpretados como avanço de reconhecimento dos direitos sociais
fundamentais, principalmente ao decretar uma lei específica aos direitos, deveres e garantias
da criança e do adolescente.
Ao tratar da educação como um direito social garantido a nível constitucional é
necessário a determinação dos princípios constitucionais do ensino, que são: igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideais e de concepções pedagógicas;
gratuidade do ensino público; valorização dos profissionais de ensino; gestão democrática do
ensino público e garantia de padrão de qualidade. Estabelecendo todos esses aspectos tem-se a
necessidade de lançar políticas públicas educacionais consistentes e coerentes com a
realidade, que efetivem tais determinações.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 é uma política pública com a
finalidade de disseminar informações sobre os direitos constitucionais da criança e do
adolescente, que são parte integrante da Agenda de Compromisso dos gestores federais,
estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como foco dispor sobre a
proteção integral da criança e do adolescente. Entende- se por proteção o ato de efetivar todos
os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à dignidade, à
-
liberdade, entre outros, sendo necessários programas e atitudes governamentais que efetivem
todos esses direitos sociais fundamentais.
Ao se tratar de políticas públicas educacionais têm-se diversos programas e planos que
visam traçar diretrizes educacionais, orientar o desenvolvimento da educação básica e propor
soluções educacionais. Serão demonstradas as políticas públicas educacionais de educação
infantil em ordem cronológica, sendo que a LDB/96 e o Plano Nacional de Educação (PNE)
são políticas educacionais que tratam dos aspectos gerais da educação nacional.
A conhecida LDB/96 é a Lei nº 9.394 que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional sancionada em 20 de dezembro de 1996. A LDB visa estabelecer determinações que
garantam a efetivação da oferta educacional, assim como o pleno desenvolvimento da mesma
pautada na qualidade, quantidade e liberdade do ensino. Por isso, é admitida como uma
política educacional de Estado por ser um respaldo legal constituído por esclarecimentos,
determinações e ações sobre a educação pontuando os princípios e fins da educação nacional;
o direito à educação e o dever de educar; a organização da educação nacional; os níveis e
modalidades de educação e ensino; os profissionais da educação; os recursos financeiros e as
disposições gerais e transitórias.
Por ter tais funcionalidades, a LDB pode ser considerada a “salvação” da educação
nacional pelo fato de se mostrar como importante instrumento que reafirma o dever do poder
público em garantir a todos os cidadãos os direitos educacionais, já que a educação tem como
finalidade o pleno desenvolvimento do indivíduo além de prepará-lo para o exercício da
cidadania e qualificá-lo para o trabalho.
Como complemento das determinações legais da LDB tem-se o Plano Nacional de
Educação de 1998, que é o cumprimento da determinação do art. 214 da Constituição Federal
e do art. 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que incumbe a União de elaborar o
Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. O Plano visa definir as prioridades educacionais desdobradas em metas objetivas
e mensuráveis sobre cada grau e modalidade do ensino, sendo que as diretrizes e metas têm a
duração máxima de dez anos.
O Plano do ano de 2000 terminou sua vigência em 2010, ou seja, o atual ano de 2011
já está sob vigência do novo Plano Nacional de Educação; por isso será analisado o antigo
-
plano podendo fazer paralelos entre a realidade vivenciada e a teoria estabelecida de acordo
com determinado momento histórico.
O Plano Nacional de Educação de 2000 teve como objetivo assegurar a continuidade
das políticas educacionais já em vigor e articular as ações do Poder Público juntamente com
flexibilidade necessária às transformações sociais. Adota como prioridade a diminuição das
desigualdades sociais; a universalização da formação escolar; a elevação do nível de
escolaridade da população e a melhoria geral da qualidade do ensino. Como esses aspectos
são de responsabilidade do poder público, o Plano está voltado para a sua ação já que é seu
dever garantir o direito à educação.
Esse Plano estabeleceu metas para todos os níveis de ensino iniciando com a educação
infantil que está dividida em creche, foco deste trabalho, e pré-escola. As metas principais
para a creche foram ampliar a oferta em pelo menos 5% ao ano; elaborar no prazo de um ano
as diretrizes nacionais sobre condições mínimas de infra-estrutura para o funcionamento
adequado de creches; garantir que todos os dirigentes de creche possuam formação superior;
assegurar que as crianças com necessidades especiais tenham atendimento na rede regular de
creche; incluir as creches públicas no sistema nacional de estatísticas educacionais; entre
outras.
Pode-se considerar que as metas destacadas acima foram parcialmente alcançadas.
Parte-se do pressuposto que a oferta de vagas é sempre insuficiente e limitada pelo fato de se
ter um pequeno número de creches totalmente públicas sendo que as conveniadas são
insuficientes para suprir a demanda.
A pré-escola já alcançou o ápice da necessidade, ou seja, foi incluída na oferta
obrigatória e gratuita da educação institucionalizada atendendo crianças a partir de quatro
anos de idade. Porém, o fato de determinar legalmente não garante a efetivação da oferta e
qualidade do ensino infantil, proporcional à sua grande demanda.
-
1.4 - Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos
à educação.
Com o reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da educação básica,
ressaltada na LDB, tem-se movimentações para garantir a oferta e qualidade do atendimento
em creches e pré-escol