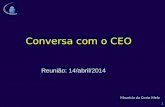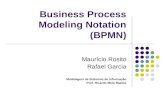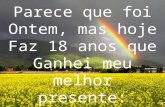UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL MAURÍCIO MELO DE...
Transcript of UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL MAURÍCIO MELO DE...

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
MAURÍCIO MELO DE BONI
LINGUAGEM E GÊNERO CINEMATOGRÁFICO: ANÁLISE FÍLMICA COMPARATIVA ENTRE O CINEMA BRASILEIRO E
ESPANHOL
CAXIAS DO SUL 2014

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
MAURÍCIO MELO DE BONI
LINGUAGEM E GÊNERO CINEMATOGRÁFICO: ANÁLISE FÍLMICA COMPARATIVA ENTRE O CINEMA BRASILEIRO E
ESPANHOL
Monografia de conclusão do curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade de Caxias do Sul, apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel. Orientador Professor Me. Ronei Teodoro da Silva.
CAXIAS DO SUL 2014

MAURÍCIO MELO DE BONI
LINGUAGEM E GÊNERO CINEMATOGRÁFICO:
ANÁLISE FÍLMICA COMPARATIVA ENTRE O CINEMA BRASILEIRO E ESPANHOL
Monografia de conclusão do curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade de Caxias do Sul, apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel.
Aprovado(a) em ___ /___ /___
Banca Examinadora _______________________________________ Prof. Me. Ronei Teodoro da Silva – Orientador Universidade de Caxias do Sul – UCS _______________________________________ Prof. Me. Myra Adam de Oliveira Gonçalves Universidade de Caxias do Sul – UCS ________________________________________ Prof. Dr. Alvaro Fraga Moreira Benevenuto Junior Universidade de Caxias do Sul – UCS

AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente à minha família. Aos meus pais por haverem
proporcionado tantas oportunidades de crescimento profissional e pessoal; Às
minhas irmãs por terem mantido o papel de minhas eternas melhores amigas.
Obrigado ao professor Ronei Teodoro por ter me acompanhado nestes
últimos meses trabalhosos. Minha evolução em tão pouco tempo foi resultado de
sua confiança nas minhas escolhas, seus ensinamentos extremamente valiosos e
nossas conversas descontraídas que afastavam o fantasma do tempo escasso.
Por fim, agradeço a todos que de alguma forma chegaram ao presente
trabalho (impresso ou eletrônico) interessados em abraçar seu conteúdo. A
intensão, por menor que seja, é o combustível necessário para o desenvolvimento
desta forma de arte única.

“É importante compreender que, em termos de cinema, a ambição primeira de um país é ter um cinema que fale sua língua, independentemente de um critério de maior ou menor qualidade comercial ou cultural. O espectador quer ver-se na tela de seus cinemas, reencontrar-se, decifrar-se”.
Gustavo Dahl

RESUMO Este trabalho tem como proposta a investigação da identidade cinematográfica contida em obras audiovisuais de diferentes países. Para isto, foram selecionados dois filmes, um espanhol e outro brasileiro, a fim de analisar fragmentos que evidenciassem a presença dessa identidade e que fosse reconhecível pelas suas escolas. Primeiramente, para um fundamento teórico que sustentasse a pesquisa, foi realizada uma pesquisa relacionada à história do cinema dos respectivos países, assim como sobre linguagem cinematográfica e gênero. Foi utilizado como método a análise fílmica comparativa na fragmentação destas obras. Por fim, os dados obtidos permitiram melhor compreender o uso de elementos que configuram tanto suas respectivas identidades cinematográficas quanto do cinema em geral. Palavras-chave: identidade cinematográfica, linguagem cinematográfica, gênero

LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1 – The Great Train Robbery: protagonistas e antagonistas...................16 Figura 2 – The Great Train Robbery: vilão em destaque......................................16 Figura 3 – Lonelly Villa: montagem paralela....................................................18-19 Figura 4 – The Birth of a Nation: montagem rítmica.............................................21 Figura 5 – Perseguidor Implacável.........................................................................26 Figura 6 – Bullit........................................................................................................27 Figura 7 – Operação França....................................................................................28 Figura 8 – Chinatown...............................................................................................29 Figura 9 – Seven: Os Sete Crimes Capitais...........................................................30 Figura 10 – O Cangaceiro........................................................................................34 Figura 11 – Os Fuzis................................................................................................35 Figura 12 – Terra em Transe...................................................................................37 Figura 13 – Central do Brasil..................................................................................39 Figura 14 – Cidade de Deus....................................................................................40 Figura 15 – Un Chien Andalou................................................................................42 Figura 16 – Viridiana................................................................................................43 Figura 17 – Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos.......................................45 Figura 18 – Os Outros.............................................................................................46 Figura 19 – Tropa de Elite: montagem paralela...............................................52-53 Figura 20 – Tropa de Elite: apresentação de Capitão Nascimento.....................54 Figura 21 – Grupo 7: sequência de perseguição.............................................55-57 Figura 22 – Grupo 7: Ángel e Elena...................................................................59-60 Figura 23 - Tropa de Elite: Nascimento e Rosane...........................................60-61 Figura 24 – Grupo 7: tiroteio e morte de Amador............................................62-63 Figura 25 – Tropa de Elite: morte de Baiano.........................................................64

SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO........................................................................................................10
2 SOBRE O CINEMA E OS PRIMÓRDIOS DE UMA LINGUAGEM.........................13 2.1 EXPERIMENTOS NO CINEMA...........................................................................14
2.2 MONTAGEM........................................................................................................16
2.3 RITMO..................................................................................................................19
2.4 ELIPSES..............................................................................................................20
2.5 VEROSSIMILHANÇA FILMADA..........................................................................21
3 O GÊNERO POLICIAL...........................................................................................23 3.1 O GÊNERO E SUA ÉPOCA.................................................................................24
3.2 A SEQUÊNCIA DE AÇÃO.. .................................................................................25
3.3 TRANSFORMAÇÃO DO GÊNERO.....................................................................27
3.4 O TEOR DA VIOLÊNCIA.....................................................................................29
4 HISTÓRIA CINEMATOGRÁFICA: BRASIL E ESPANHA.....................................31 4.1 CINEMA BRASILEIRO.........................................................................................31
4.1.1 Desenvolvimento de um mercado nacional.................................................32 4.1.2 Cinema Novo...................................................................................................33 4.1.3 Glauber Rocha.................................................................................................35 4.1.4 Crise e Leis Audiovisuais...............................................................................36 4.1.5 Latino-americano contemporâneo................................................................38 4.2 CINEMA ESPANHOL...........................................................................................40
4.2.1 Luis Buñuel e o Franquismo..........................................................................40 4.2.2 Diretores contra o Regime.............................................................................42 4.2.3 Cinema espanhol pós-Franco........................................................................43
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS...............................................................46 5.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO...................................................................................46
5.2 ANÁLISE FÍLMICA...............................................................................................46
5.3 ESTRUTURA DE ANÁLISE.................................................................................48

6 ANÁLISE DOS FILMES TROPA DE ELITE E GRUPO 7......................................50 6.1 SEQUÊNCIA 1.....................................................................................................51
6.2 SEQUÊNCIA 2.....................................................................................................57
6.3 SEQUÊNCIA 3.....................................................................................................60
7 CONCLUSÃO.........................................................................................................66
REFERÊNCIAS.........................................................................................................69

10
1 INTRODUÇÃO
O crítico francês Gérard Betton introduz em seu livro Estética do
cinema (Martins Fontes) a afirmativa de que “o cinema é, antes de mais
nada, uma arte, um espetáculo artístico” (1987, pg. 1). O escritor francês
André Malraux publicou em Esquisse d’une psychologie du cinema (Esboço
de uma psicologia do cinema) que “de qualquer forma, o cinema é uma
indústria” (MARTIN, 1990, pg. 14). Os dois escreveram manifestos que
representam a dualidade pertinente acerca do que define o cinema. Seja na
Hollywood dos conglomerados empresariais detentores dos estúdios de
cinema, seja na produção cinematográfica brasileira dependente dos
incentivos capitais disponibilizados pelo governo, o artístico e o político-
econômico estiveram associados ao longo da história da sétima arte. Mesmo
tomando como material de análise um filme que não pertença aos principais
mercados, é possível visualizar a presença pertinente destes dois pontos. A
realidade cinematográfica contemporânea permite esta aproximação por ser
globalizada, onde se apresentam mercados relativamente novos capazes
tanto de receber influência do cinema tradicional e economicamente superior,
como influenciar a partir de formatos e linguagem dissociados dos pré-
estabelecidos.
A ideia central para o desenvolvimento deste estudo surgiu a partir dos
conhecimentos adquiridos na oficina Iniciación al Lenguaje del Cine
(novembro de 2012), realizada na cidade de Granada (Espanha). Ministrada
por Juan de Dios Salas 1 , possuía um temário com noções básicas
fundamentais à compreensão da realização fílmica. Os encontros eram
preenchidos com a visualização de trechos de filmes a fim de exemplificar
cada detalhe contido na construção de uma obra cinematográfica como, por
exemplo, vocabulário, linguagem, técnica, estética e estilo. O objetivo
principal, exposto por Salas no primeiro encontro, era capacitar à visão crítica
de uma obra cinematográfica, desenvolver uma avaliação além da mera
opinião de “este filme é bom” ou “aquele filme é ruim”. Um dos encontros foi 1 Diretor do Cine Club Universitario da Universidad de Granada.

11
dedicado aos longas-metragens espanhóis da temporada, mais
precisamente, àqueles listados para a premiação dos prêmios Goya2 daquele
ano. À medida que mostrava os trechos, Salas expressava sua desilusão
com os filmes e levantou hipóteses, fundamentado no temário apresentado
na oficina, sobre o reflexo da má qualidade destes exemplos em todo o
mercado cinematográfico espanhol contemporâneo. Entre eles estava Grupo
7 (2012), ação/policial dirigida por Alberto Rodríguez. O longa-metragem
figura entre os gêneros menos explorados pelo cinema da Espanha, ao
contrário de outros mais recorrentes e melhor recebidos pelo público
espanhol. O caso de Grupo 7 se assemelha ao longa-metragem brasileiro
dirigido por José Padilha, Tropa de Elite (2007). Suas respectivas
repercussões nacionais e internacionais e avaliações críticas possuem pesos
diferentes, contudo, o que norteará o estudo a partir de seus exemplos será a
análise da estética e técnica presente nestes filmes.
Diante das informações apresentadas, é possível objetivar o trabalho
através da seguinte questão: quais os elementos estéticos e narrativos
utilizados nestes filmes que possam identificar uma identidade
cinematográfica própria?
Com base nessa questão, o presente trabalho terá como objetivo geral
investigar a presença de tal identidade nos longas-metragens citados. A partir
da análise das obras, pretende-se:
• Pesquisar o contexto histórico que justifique a presença de uma
identidade;
• Relacionar tópicos da linguagem cinematográfica e
características específicas dos gêneros presentes nas obras
para a análise fílmica;
• Encontrar as diferenças estéticas e narrativas presentes em
cada filme.
2 Premiação aos profissionais da sétima arte realizada anualmente (desde 1987) pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha .

12
Esta pesquisa pretende contribuir para a área da comunicação
ampliando o conhecimento sobre o campo da Indústria Cultural. Procura-se,
com este estudo, auxiliar estudantes e profissionais das áreas do cinema e
audiovisual, contribuindo para o conhecimento sobre a análise fílmica e suas
diversas possibilidades de pesquisa nos campos da estética, estrutura
narrativa, gêneros e formatos. Também pretende agregar conteúdo ao estudo
do cinema enquanto identidade, apresentar estas possibilidades em
mercados cinematográficos em desenvolvimento, buscando ampliar o
conhecimento sobre a área de um ponto de vista contemporâneo.

13
2 SOBRE O CINEMA E OS PRIMÓRDIOS DE UMA LINGUAGEM
Segundo Arlindo Machado, em seu ensaio sobre a arte
cinematográfica (2002), o cinema, em seus primórdios (1895 à primeira
década do séc. XX), era uma reunião de diversas modalidades de espetáculo
como o circo, o carnaval, a magia, a feira de aberrações, entre outras formas
da cultura popular. As salas de exibição exclusivas para a difusão dos filmes
ainda não existiam. Os filmes eram exibidos em teatros, circos e feiras como
atração para os intervalos das apresentações (MACHADO, 2002). Para fugir
destes espaços cedidos e instituir um exclusivo para o cinema foram criados
os nickelodeons, nome que deriva do fato de se pagar uma moeda de um
níquel para a entrada. Estas salas primitivas de exibição obtiveram
progresso paralelo à evolução do filme narrativo, que permitiu a longa
duração e a identificação e envolvimento da plateia.
Tanto nas casas de espetáculo, onde os filmes dividiam espaço com
outras atrações, como nos nickelodeons, o público constituía-se
principalmente das camadas proletárias dos cinturões industriais. Em
particular, nos Estados Unidos, onde o período inicial da indústria
cinematográfica, na primeira década do séc. XX, também foi o pico máximo
da imigração, majoritariamente vinda da Europa. As salas de exibição eram
frequentadas por estes estrangeiros (MACHADO, 2002), dado que os filmes
projetados advinham, em sua grande maioria, do estúdio de cinema
parisiense Pathé, dotado de um sistema pioneiro de produção e distribuição
em massa, estabelecendo seu maior mercado na América do Norte (ABEL,
2011). A hegemonia francesa acendeu a primeira guerra cinematográfica,
onde os estúdios norte-americanos pioneiros Edison, Biograph e Vitagraph,
perceberam que a condição para o desenvolvimento comercial
cinematográfico era a criação de um novo público. Segundo Machado (2002),
estas empresas buscaram a classe média e os seguimentos da burguesia, os
quais apresentavam-se como uma camada mais sólida, detentora de maior
poder econômico e com maior tempo para o ócio que os trabalhadores
imigrantes.

14
[...]Estava claro que o cinema deveria começar a perder sua inocência, a sua gratuidade, a sua libertinagem e encaixar-se na linha de evolução das artes “elevadas”, tal como a entendiam os homens de cinema da época[...] (MACHADO, 2002, pg. 83)
É dizer, na busca de um novo público, os realizadores organizaram
uma esfera estrutural para seus filmes, iniciando a ampliação de uma
linguagem do cinema mais desenvolvida. Seus primeiros trabalhos com tal
viés apareceram na ficção com efeito de realidade. Algumas das dificuldades
enfrentadas pelo cinema na ação de firmar-se como forma de arte foram,
segundo Jaques Aumont (1995), as críticas que repousavam na ideia de que
havia se tornado refém do “modelo hollywoodiano”.
Este estaria cometendo três erros: ser americano e, portanto marcado politicamente; ser narrativo, na estrita tradição do século XIX, e ser industrial, isto é, fornecer produtos equivalentes. (AUMONT, 1995, pg. 94)
Aumont (1995) defende que a marcação que identifica o cinema
americano é evidente, porém, é válido para qualquer produção
cinematográfica. Para abandonar a roupagem de simples atração
experimental para curiosos e de produto industrial, o cinema precisou
equiparar-se às artes nobres, que na passagem do século XIX para o século
XX eram o teatro e o romance. Portanto, para que pudesse provar-se como
contador de histórias dignas de interesse, ser reconhecido como arte,
empenhou-se em desenvolver sua capacidade narrativa (AUMONT, 1995).
2.1 EXPERIMENTOS NO CINEMA
O desenvolvimento de uma linguagem cinematográfica deu-se como
um processo de maturação do período de experimentação e aprendizado dos
primeiros anos do cinema. As primeiras imagens cinematográficas eram
consideradas confusas demais para um público viciado no discurso linear e
organizado do teatro e do romance romântico/realista (MACHADO, 2002).
Dois casos ocorridos nos primeiros anos do cinema exemplificam o

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
surgimento de uma linguagem própria. O clássico de Edwin S. Porter3, The
Great Train Robbery (1903), acompanhando uma tendência dos filmes em
ambientes externos, foi rodado inteiramente em planos gerais. O diretor
percebeu que a diferença entre os protagonistas (pelotão do xerife) e
antagonistas (bandidos) não seria perceptível ao público. O problema foi
resolvido com a retratação de um dos bandidos em um enquadramento
bastante próximo, com o propósito de este ser apresentado à audiência
(DANCYNGER, 2007).
Figura 1: The Great Train Robbery: protagonistas e antagonistas
Figura 2: The Great Train Robbery: vilão em destaque
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3 Edwin Stanton Porter (1870-1941), foi um cineasta norte-americano. Dirigiu filmes para a Edison Studios, de Thomas Edison, entre eles: The Great Train Robbery (1903) e Life of an American Fireman (1903).

16
Uma cena do filme Enoch Arden (1908), de D. W. Griffith4, mostra a
esposa à espera do marido. Com a intenção de aproximar o público da ação,
o diretor utilizou um enquadramento próximo do rosto da esposa5. Segundo
Dancynger (2007), à época, a transição sem precedentes incomodou os
executivos da Biograph, receosos da reação do público, que poderia
interpretar o corte como uma decapitação. A solução de Porter e Griffith
refletiu uma necessidade dos realizadores em reduzir a distância entre
câmera e personagens gerando um efeito de transgressão à mise en scène6
teatral.
2.2 MONTAGEM
A montagem tem como sua definição mais básica a organização dos
planos de um filme em certas condições de ordem e duração7. Conforme
mostrado anteriormente, Griffith e Porter fizeram parte da evolução deste
processo. A utilização de planos inéditos pelos diretores exemplificou o
surgimento de processos mais evoluídos na realização cinematográfica. Em
capítulo dedicado ao assunto, Martin (1990) estabelece como ponto de
partida a distinção entre a montagem narrativa e a montagem expressiva, a
partir das quais surgirão outras definições de processos de montagem mais
específicos. O autor define a primeira como de aspecto mais simples e direto,
a qual consiste em reunir em sequência lógica ou cronológica fragmentos
precisos, que unidos contribuem para o movimento do conteúdo dramático e
psicológico (encadeamento dos elementos da ação e compreensão do
espectador). A segunda repousa na justaposição de planos para produzir um
efeito direto no encontro de duas imagens. Todavia, não há, de forma nítida,
uma separação entre as duas definições.
4 David Llewelyn Wark Griffith (1875-1948), foi um cineasta norte-americano. Diretor de The Birth of a Nation (1915) e Intolerance (1916). 5 Um plano fechado na cabeça e ombros de uma pessoa ou um plano detalhe (ou primeiríssimo plano; inclui uma parte do rosto ou a mão, por exemplo) chama-se close-up. (DANCYGER, 2007, pg. 501) 6 Os elementos artísticos que contribuem para a aparência visual ou para o clima de uma tomada ou de uma cena, incluindo cenário, acessórios, figurinos e tipos de abordagem de câmera empregados (KEMP, 2011) 7 MARTIN, 1990, pg. 132

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Podemos exemplificar os primeiros avanços nas técnicas de
montagem a partir de uma estrutura lançada por Griffith quando dirigiu The
Lonelly Villa (1909) que mostra o tamanho da sua influência através dos
períodos de desenvolvimento do cinema. Chamada de “montagem paralela”,
o diretor intercalou cenas da invasão de ladrões à casa de uma família com
cenas do marido correndo para salvá-la. Griffith usou planos cada vez mais
curtos para aumentar a tensão e o drama até a solução do problema no
clímax final.
O suspense é forte, e o resgate, catártico. A intercalação de cenas também soluciona o problema do tempo, pois não é necessário apresentar ações completas para alcançar o realismo. O procedimento permite que as cenas possam ser fragmentadas e que apenas parte delas precisem realmente ser mostradas. O tempo dramático passa a substituir o tempo real como critério para a montagem (DANCYNGER, 2007, pg. 7)
Figura 3: Lonelly Villa: montagem paralela
montagem paralela
� �
� �

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��
�
� � �
� � �

19
O progresso cinematográfico cunhado no filme de Griffith inaugurou
apenas um dos processos da montagem narrativa. Segundo Martin (1990),
outros que surgiram posteriormente foram:
• Montagem linear – consiste no respeito ao tempo dramático
sem apresentar paralelismos de tempo que possam remover a
ação do tempo presente.
• Montagem invertida – subversão à cronologia, que transita
livremente entre os tempos passado, presente e futuro;
• Montagem paralela – fragmentos intercalados pertencentes à
duas ou mais ações a fim de relacioná-las em um ponto comum
na história.
2.3 RITMO
A montagem rítmica corresponde à duração dos planos escolhida para
definir diferentes graus de importância dramática e psicológica para o
espectador.
O ritmo é mais óbvio nas sequências de ação, mas todas as sequências são formatadas para um efeito dramático. A variação do ritmo guia os espectadores em suas respostas emocionais ao filme. O ritmo mais rápido sugere intensidade; o ritmo mais lento, contrário. (DANCYGER, 2007, pg. 413)
Ao estruturar cenas de perseguição8 em The Birth of a Nation (1915),
D. W. Griffith trabalhou o princípio da montagem rítmica, embora sua real
intenção residisse no clímax dramático. O ritmo começou a ser utilizado com
propósitos mais variados com Sergei Eisenstein9, onde desenvolveu uma
teoria da montagem original e própria, adotando o ritmo e a montagem
métrica como peças centrais de sua teorização e realização cinematográfica.
8 a sequência mostra a cavalgada de membros da ordem Ku Kux Klan para salvar uma jovem das mãos de escravos negros. 9 Cineasta e teórico soviético(1898-1948)

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Figura 4: The Birth of a Nation: montagem rítmica
O ritmo tornou-se muito utilizado por diretores especializados em
filmes dos gêneros thriller, policial, aventura, gângster e guerra, o que
traduziu-se na força de suas mensagens, como em Z (1969), de Costa-
Gavras, Operação França (1971), de William Friedkin e Riders of the Lost Ark
(1981), de Steven Spielberg, Scarface (1984), de Brian De Palma e
Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola. A montagem rítmica em
cada gênero e filme possui propósitos diferentes, contudo, é a mistura de
excitação e insight na psicologia fragmentada do personagem principal que
capta a intenção (DANCYNGER, 2007).
2.4 ELIPSES
Dentro do processo de montagem cinematográfico há a decupagem,
que, segundo Martin (1990) consiste na escolha dos fragmentos de realidade
que serão criados pela câmera. É dizer, do total de material recolhido das
gravações, o processo suprime os tempos ociosos e de ação pouco
montagem rítmica
��
�

21
significativos ao enredo dramático. Trata-se do processo de sugestão à
realidade apresentada, um recurso do cineasta à alusão e fazer-se entender
com meias-palavras (MARTIN, 1990). Se a sequência pretende mostrar um
personagem indo de sua casa para o escritório, por exemplo, a elipse servirá
para ligar seu movimento: fechando a porta de sua casa e em seguida
abrindo a do escritório, com a condição de que nenhuma ação relevante para
a história ocorra durante o trajeto.
Martin (1990) exemplifica o uso da elipse no que registra como o
primeiro caso do seu uso em um filme dinamarquês de 191110. Nele, uma
trapezista enciumada causa a morte de seu parceiro infiel não o segurando
durante um salto, mas tudo o que a cena mostra é apenas o trapézio a se
balançar sozinho. Além destas situações inerentes à forma dramática da
obra, há outras que, divididas em categorias, o autor denomina como
expressivas, ou seja, que contém um efeito dramático ou geralmente
carregadas de uma significação simbólica. Dentro destas categorias, cita a
“elipse de conteúdo” como a utilizada em razões de censura social. Situações
como morte, tortura, violência, relações sexuais, em suma, tabus sociais
proibidos de mostrar. Tais casos eram sugeridos no cinema por meio da
ocultação, alteração de ponto de vista, substituição por sombra ou reflexo ou
plano detalhe de ordem simbólica.
2.5 VEROSSIMILHANÇA FILMADA
Segundo Aumont (1995), o verossímil no cinema pode ser brevemente
definido como a relação de um texto com a opinião comum, mas também ao
funcionamento interno da história que ele conta. É dizer, constitui-se de um
dado número de regras reconhecidas pelo público que afetam as ações dos
personagens. Portanto, não importa a natureza da história, se o personagem
é humano, ele terá suas ações e consequências julgadas de acordo com as
máximas instituídas por sua sociedade.
10 Den Kvindelige Daemon (A Filha do Diabo), de Robert Dinesen (1874-1972).

22
O estabelecimento do verossímil no cinema não se dá propriamente
em função da realidade, mas dos textos de filmes já estabelecidos
(AUMONT, 1995). A criação de uma linguagem que não afetasse a atenção
do público, que não levasse ao estranhamento, foi trabalhada na repetição da
fórmula das convenções estabelecidas pelo próprio cinema. Aumont (1995)
se vale do exemplo do gênero western (faroeste) para explicar a presença do
verossímil. O espectador não se surpreende quando o herói se consagra ao
vingar-se de quem matou seu pai, pois, neste contexto configuram-se
máximas como “a honra da família é sagrada”. A própria linguagem
cinematográfica se vale desta repetição, como no emprego de procedimentos
narrativos secundários. No caso da subjetividade, temos a verossimilhança
psicológica, onde o enquadramento em primeiro plano habitou o público à
penetração na intimidade mental dos personagens. Assim como a presença
sonora de um personagem em sua ausência física, “fora-de-campo”,
processo denominado voice-over (AUMONT; MARIE, 2006). Segundo Martin
(1990) tratasse de um procedimento irreal, porém, visto com naturalidade,
desde que fundamentado do ponto de vista psicológico.

23
3 O GÊNERO POLICIAL
O Dicionário Teórico e Crítico do Cinema define a palavra “gênero”,
dentro do campo das artes, como uma categoria de obras com características
comuns. Sua existência depende da aprovação de seu sentido pelo público e
critica, o que dá um caráter temporal, aparecendo e desaparecendo segundo
a evolução das próprias artes (AUMONT; MARIE, 2006). Sua formulação
depende de uma intertextualidade que intervém nos processos referentes à
chegada da obra ao público, é dizer, reconhece que o espectador assiste a
qualquer filme num contexto de outro, tanto aqueles que viu pessoalmente
como os que ouviu falar ou viu representados em outros meios de
comunicação (TURNER, 1997).
A partir desta dependência para com o público, os gêneros
cinematográficos construíram moldes estéticos particulares que tornaram-se
referência no reconhecimento de cada um, ocorrendo, segundo Nogueira
(2010), a instauração do cânone do gênero. É dizer, o conteúdo presente que
representa as virtudes estéticas de maior destaque em dado tipo de obra, em
função das premissas ajustadas de acordo com estilo e tema determinados.
Os filmes de pouco vínculo em relação aos gêneros dependem em grande
medida de sua própria lógica interna, enquanto que os filmes de gênero tem
uma relação contínua com suas referências intertextuais (ALTMAN, 2000).
Cada filme varia os detalhes, deixando intacto o esquema básico, até o ponto
em que planos utilizados em um se reciclam com frequência em outra, por
exemplo, o mesmo tiroteio, o mesmo ataque sigiloso, a mesma perseguição.
A presença do cânone no gênero cinematográfico apresenta dois momentos
distintos na configuração do conjunto comum: o formal e o informal.
No primeiro caso, contemplando os triunfos artísticos do passado, assegura a consolidação estética e temática de um gênero e, muitas vezes, para a sua dignificação; no segundo, aceitando ou descrevendo a sua mutação e muitas vezes a sua parodização, assume o futuro como terra incógnita, cheia de possibilidades de experimentação, invenção e mesmo ruptura. (NOGUEIRA, 2010, pg. 11)

24
3.1 O GÊNERO E SUA ÉPOCA
Para representar o comportamento do gênero de acordo com o
contexto histórico de cada período, tomamos os exemplos de Power (2011)
do cinema hollywoodiano dos anos 70: O Poderoso Chefão (1972), e sua
sequência O Poderoso Chefão: parte II (1974) dirigidos por Francis Ford
Coppola, e Chinatown (1974), por Roman Polanski. Todos ambientados no
passado, denunciaram a falência moral presente na realidade norte-
americana (POWER, 2011). A saga mafiosa de Coppola reformulou os filmes
de gângster, mostrando a presença dos ítalo-americanos e da Máfia em solo
estadunidense. O filme de Polanski apresenta uma investigação às
organizações criminosas e à corrupção em uma Los Angeles dos anos 30.
Desilusão política, desconfiança nas autoridades e paranoia tornaram-se
presentes na temática destes filmes e de outros deste período, refletindo
sentimentos da sociedade americana contemporânea à eventos de respaldo
internacional11.
A tipologia de um personagem ou de uma série de personagens pode ser considerada representativa não apenas de um período do cinema como também de um período da sociedade. Assim a comédia musical americana dos anos 30 não deixa de ter relação com a crise econômica [...] (AUMONT, 1995, pg. 98)
Do ponto de vista teórico apresentado, a narrativa cinematográfica
corrobora o contexto realista dos filmes destacados anteriormente. Não
apenas o gênero em específico, mas todo o cinema, é estudado como
veículo de representação de uma sociedade criado por ela mesma.
Em Perseguidor Implacável (1971), de Don Siegel, o ator Clint
Eastwood interpreta Harry Callahan, um detetive da cidade de São Francisco
(EUA) de conduta moral peculiar que persegue um serial killer. Segundo
Power (2011), o filme não defende a política da justiça com as próprias mãos,
11 “A década de 70 começou com o julgamento de Carles Manson pelos assassinatos que abalaram a elite de Hollywood. O arrombamento do prédio Watergate manchou o mais alto posto do país e a impopular guerra do Vietnã foi encerrada com a vexaminosa evacuação das forças americanas de Saigon”. (POWER, 2011, pg.340)

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
conforme denunciaram os críticos da época, mas “seu tema é a destrutiva
sinergia entre o tira e o psicopata” (POWER, 2011, pg. 340). É dizer, a
criação de personagens para o gênero policial sob as marcações pertinentes
dos anos 70 levou à uma discussão dos valores seguidos por tais.
No período de tempo aqui considerado, registra-se uma dominância de um ou de outro subgênero, segundo uma lógica de desenvolvimento que, mesmo com a permanência de algumas características de fundo, mostra claramente as ligações do gênero com a evolução da sociedade americana e da instituição cinematográfica. (COSTA, 2003, pg. 102)
Figura 5: Perseguidor Implacável
3.2 A SEQUÊNCIA DE AÇÃO
Um fato da história do cinema revela que o primeiro gênero
cinematográfico legalmente considerado como uma unidade, e não mais
como um agregado de planos independentes, foi o “filme de perseguição”
(MACHADO, 2002). Logo, anterior à qualquer definição primária de gênero
no cinema, houve a classificação da sequência em montagem rítmica, a qual,
segundo Dancynger (2007), não restringe-se aos gêneros naturalmente
“acelerados” (ação, aventura, thriller), podendo sua utilização ser vista em
filmes de horror até a comédia, como, por exemplo, na série A pantera Cor-
de-Rosa (1964-1978), de Blake Edwards. Da montagem paralela lançada por
Griffith em 1915 surgiu a essência da sequência de ação, que nada mais é
que uma versão acelerada da tradicional cena do filme. A diferença entre
uma cena típica e uma cena de ação reside na natureza do choque de

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
objetivos entre os personagens. Ao pretender alcançá-los, na cena de ação,
a montagem rítmica acelerada torna a ação mais dinâmica e dramática. Elas
são, com frequência, pontos de virada ou clímax de cenas em um filme
(DANCYNGER, 2007). Assim, a sequência de perseguição, mesmo não
sendo exclusividade de certos gêneros, é precisamente nos filmes onde ela
recebe destaque que sofrerá evolução maior.
Dancyger (2007) analisou duas sequências de perseguição para
explorar sua importância narrativa no contexto do cinema contemporâneo. A
primeira aparece em Bullit (1968), de Peter Yates. A sequência, que dura 12
minutos, utiliza uma fotografia que remete à um cuidado técnico voltado para
a estética, levando beleza às cenas, o que diminui o sentido de realidade.
Logo, é a coreografia da sequência que chama a atenção e a quita do fator
humano envolvido (a perseguição entre dois criminosos e o policial Bullit,
interpretado por Steve McQueen). O segundo exemplo aparece em Operação
França (1971), de William Friedkin. Na sequência de 10 minutos, ao contrário
de Bullit, a realidade é mantida com o uso da câmera na mão, efeitos
sonoros rudes e violência. O autor afirma que ambos os casos possuem
destaque na montagem, e são modelos da marcação da perseguição em
gêneros de ação.
Figura 6 – Bullit

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Figura 7 – Operação França
3.3 TRANSFORMAÇÃO DO GÊNERO
Há filmes que apresentam situações narrativas cuja função dramática
figura em mais de um cânone de gênero. Para Nogueira (2010), o thriller e os
filmes de ação têm tendência a partilhar certas características, o que os torna
próximos com frequência, “pois em ambos os casos se trata de dilatar a
tensão e adiar a resolução de um conflito até aos limites” (2010, pg. 40). Tal
dualidade foi uma das primeiras características de definição de gênero. Foi
somente perceptível após o primeiro momento de classificação dos filmes
através dos limites que definiam o cânone de cada um. Segundo Turner
(1997), para muitos diretores, o gênero era uma convenção a ser desafiada.
“Inevitavelmente, foi preciso definir o gênero para entender suas variações”
(TURNER, 1997, pg. 46). No final dos anos 60 houve uma revisão ideológica
dos gêneros clássicos. Tal movimento pretendeu renovar e desmistificar os
formatos tradicionais, como o western (COSTA, 2003). Além disso, houve um
maior apelo à mistura dos gêneros somado ao incentivo à integração de
tecnologias em meados dos anos 70.
[...] e não só as fronteiras entre os gêneros se tornam menos precisas, mas sobretudo, se impõem megagêneros que englobam, talvez camufladas, muitas características dos gêneros clássicos. (COSTA, 2003, pg. 139)

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Um exemplo de gênero clássico que foi reformulado junto às
transformações do cinema é o noir. Trata-se de um gênero cinematográfico
surgido nos anos 40 substituindo os filmes de gângster que dominaram a
década anterior (COSTA, 2003). O nome tem origem francesa e remete à
romances de temática policial. Em seu período clássico, suas características
foram marcantes e homogêneas, tanto em estilo como em temática. A
exemplo da fotografia – contrastada, preto e branca, nitidamente influenciada
pelo expressionismo alemão – como um dos aspectos imediatamente
reconhecíveis (NOGUEIRA, 2010). Dada a abrangência de sua temática,
revelou vários subgêneros: policiais; filmes de gângster; histórias de
detetives; thrillers; etc. O gênero caiu em desuso a partir do final da década
de 50, mas seus subgêneros desenvolveram-se de modo mais específico e
as propriedades do noir continuaram sendo reutilizadas em outros gêneros,
como comédia e musical, além de retornar em outros períodos, como
sucedeu com aquele que comumente se designa por neo-noir, constituído por
obras como Chinatown (Roman Polanski, 1974), Veludo Azul (David Lynch,
1986), Seven: Os Sete Crimes Capitais (David Fincher, 1995), entre outros.
Figura 8 - Chinatown

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Figura 9 – Seven: Os Sete Crimes Capitais
3.4 O TEOR DA VIOLÊNCIA
A primeira demonstração de violência no cinema, segundo Smith
(2011), ocorreu em 1903, na cena final de The Great Train Robbery, onde o
personagem dispara sua arma na direção da plateia. Tanto o filme quanto o
fragmento tornaram-se marcos no rompimento da fronteira entre o real e o
imaginário, “uma demonstração precoce da relação explícita entre o cinema e
a violência” (SMITH, 2011, pg. 23). Os primeiros formatos desta relação eram
contidos em gêneros específicos, a exemplo dos filmes de guerra, onde o
campo de batalha era o espaço natural do conflito. Segundo Mongin (1997), o
cinema contemporâneo rompeu este modelo, transferindo a violência para a
própria realidade. Ou seja, os filmes substituíram a falta da violência da
guerra com a da sociedade em estado natural, a qual desconhece seu
princípio e seu fim (MONGIN, 1997). Passou a ser de uso livre em todos os
formatos de obras cinematográficas. Um filme de ação policial, por exemplo,
não detêm a exclusividade sobre o uso da violência, contudo, esta é uma
característica de seu gênero. Dentro dele há a transformação do seu formato,
levando periodicamente ao surgimento de subgêneros ou ao nascimento de
um novo. O que causa a reação desconfortável no espectador está
relacionado à esta transformação, assim como em The Great Train Robbery,

30
o teor da violência exibida à época deixou alguns espectadores aflitos
(SMITH, 2011). O cinema contemporâneo afasta-se da simplicidade desta
primeira demonstração, porém, a reação desconfortável da plateia reside
mais na novidade exposta que no teor apresentado.

31
4 HISTÓRIAS CINEMATOGRÁFICA: BRASIL E ESPANHA
Para falar de dois filmes de países diferentes é importante apresentar
uma contextualização histórica afim de mostrar a herança cinematográfica
particular destas duas escolas. Com base neste capítulo, para a análise dos
materiais deste trabalho, será possível verificar se existe influência dos
respectivos contextos históricos culturais em cada uma das obras.
4.1 CINEMA BRASILEIRO
Segundo Labaki (1998), o cinema chegou ao Brasil apenas sete
meses após a projeção inaugural ao público parisiense dos irmão Lumière. A
primeira exibição pública ocorreu em 1898, quando o imigrante italiano
Affonso Segreto rodou na cidade do Rio de Janeiro a película “Fortalezas e
Navios de Guerra na Baía de Guanabara” (LABAKI, 1998). A inauguração,
em 1907, da Usina de Ribeirão das Lajes, no estado do Rio de Janeiro,
segundo Gomes (1996), influenciou diretamente no nascimento da indústria
cinematográfica brasileira. No início do século XX, a rede elétrica no país não
era suficiente para iluminar todas as casas, assim como para sustentar a
exibição fílmica em salas cinema. Com ela, a população recebera energia
elétrica possibilitando, em poucos meses, a inauguração de cerca de vinte
salas de exibição na cidade do Rio de Janeiro (GOMES, 1996). A partir da
primeira década do século XX, o cinema brasileiro desenvolve-se, dotado de
sólido circuito de distribuição e exibição, e lança seu primeiro ciclo de filmes
de ficção do período mudo.
Os Estranguladores (1908), de Antônio Leal, é considerada a primeira
ficção brasileira12 (GOMES, 1996), quando a grande maioria das produções
eram curtas documentais de obras do governo ou turísticas. Além disso, foi a
primeira obra cinematográfica do país com duração de quarenta minutos
(setecentos metros de rolo), ao contrário dos quinze minutos que duravam os
12 Baseada em um crime hediondo ocorrido dois anos antes na cidade do Rio de Janeiro, onde uma quadrilha assaltou uma joalheria e estrangulou dois empregados durante a ação.

32
filmes à época, e estabeleceu um novo padrão de quantidade de exibições no
país, passando mais de oitenta vezes. Segundo Gomes (1996), os filmes de
crimes continuaram a ser explorados pelos produtores, porém, o Brasil
buscou especializar-se em toda a sorte de gêneros de espetáculo
cinematográfico: melodramas históricos, religiosos, carnavalescos e
comédias.
4.1.1 Desenvolvimento de um mercado nacional
Segundo Gomes (1996), a indústria cinematográfica brasileira
desenvolveu-se com a abertura dos estúdios cariocas Cinédia, em 1930, e
Atlântida, em 1941, e o paulista Vera Cruz, em 1949. Estes pioneiros lançam
filmes cujo tema popularizou um gênero próprio chamado Chanchada,
produções de baixo custo e forte apelo popular, e comédias musicais como A
Voz do Carnaval (1933) e Alô, Alô, Brasil! (1935), primeiros trabalhos da
cantora Carmen Miranda13.
O estúdio Cinédia firmou-se com a fórmula da comédia musical, o que
manteve a continuidade de produção do cinema brasileiro por quase vinte
anos (GOMES, 1996). O estúdio Atlântida buscou os temas brasileiros,
predominantemente chanchadas, como Nem Sansão nem Dalila (1955), de
Carlos Manga, e Aviso aos Navegantes (1950), de Watson Macedo. Vera
Cruz destacou-se ao realizar grandes investimentos, contratando técnicos
estrangeiros e renegando a chanchada, ambicionando produções mais
priorizadas. O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto, obtém sucesso
internacional e inaugura o ciclo de filmes sobre o cangaço nordestino. Foi,
também, responsável pelo lançamento da carreira de Amácio Mazzaropi,
conhecido pelo seu personagem Jeca Tatu, o mais exitoso do cinema
nacional. A crescente competição internacional e a falta de um sistema
próprio de distribuição fez Vera Cruz fechar suas portas quatro anos depois 13 Maria do Carmo Miranda da Cunha(1909-1955), cantora e atriz luso-brasileira. Alcançou o status de “estrela” em sua carreira artística entre os anos 30 e 50. Pode ser considerada a primeira artista de cinema brasileira à ter carreira de destaque internacional, Sempre acompanhada de seu figurino alegórico carnavalesco exportando a identidade brasileira para o mundo.

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
de sua inauguração. Tendo acumulado ao longo do curto período um arquivo
de vinte e duas produções cinematográficas, os diversos profissionais,
técnicos e artísticos, que trabalharam com o estúdio seguiriam fazendo parte
do mercado audiovisual brasileiro. O fracasso de Vera Cruz não chegou a
colapsar o cinema brasileiro, pois, segundo Gomes (1996), “durante a década
de 1950, o aumento da produção foi constante, chegando a se estabilizar em
torno de mais de trinta filmes anuais no fim do período” (GOMES, 1996, pg.
78).
Figura 10 – O Cangaceiro
4.1.2 Cinema Novo
São Paulo e Rio de Janeiro figuravam como os mais expressivos
centros produtores do cinema nacional, além de ciclos regionais que ocorriam
em outras regiões do país (LABAKI, 1998). No entanto, em pouco tempo foi
notável que o imenso território brasileiro continha diversos talentos desde
fora do eixo principal. Segundo Gomes (1996), os primeiros anos da década
de 1960 foram influenciados principalmente por um fenômeno baiano, um
movimento intelectual de jovens diretores. O Cinema Novo caracterizava-se
pelo slogan “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” (CARVALHO,
2006, pg. 290). Seus membros realizavam filmes de baixo orçamento com a
intensão de distanciarem-se das produtoras que detinham a grande fatia do

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
mercado cinematográfico. Os representantes do movimento retratavam
conflitos políticos e sociais, porém, empregando uma estética realista. Nelson
Pereira dos Santos dirigiu, em 1963, a adaptação da obra de Graciliano
Ramos, Vidas Secas, onde retrata a pobreza rural na paisagem desolada do
nordeste brasileiro (KEMP, 2011). Outros trabalhos de destaque deste diretor
foram Rio, 40 Graus e Memórias do Cárcere. O primeiro, de 1955, é um
retrato da vida no Rio de Janeiro desde o ponto de vista de cinco meninos da
favela carioca; O segundo, de 1984, é uma adaptação de outro livro de
Graciliano Ramos onde relata autobiograficamente seu período na prisão em
1936. Ruy Guerra, em 1964, rodou Os Fuzis, que conta a história de um
grupo de soldados com a missão de proteger um armazém dos camponeses
famintos. Por este recebeu o prêmio Urso de Ouro de melhor direção no
Festival de Berlim do mesmo ano. Joaquim Pedro de Andrade apresentou um
olhar diferente da sociedade com seu filme Macunaíma, de 1969. Uma
comédia selvagem que analisa questões de raça, sexualidade e política.
Figura 11 – Os Fuzis
Na década de 60 chegou ao cinema brasileiro um prêmio de
reconhecimento cinematográfico internacional. O Pagador de Promessas

35
(1962), de Anselmo Duarte (1920-2009), conta a história de um latifundiário
que promete carregar uma cruz nas costas até uma igreja em troca da saúde
de seu burro. O filme obteve Palma de Ouro no Festival de Cannes,
conquista até hoje única no país. Em Vereda da Salvação (1964), sobre um
homem que crê ser Jesus, Duarte trabalhou com temáticas religiosas
similares às de Os Fuzis. A crítica social presente nestes filmes levaram o
diretor à prisão por suspeita de trabalhar com os comunistas, além de ser
criticado por seus companheiros do cinemanovismo (KEMP, 2011).
4.1.3 Glauber Rocha
Glauber Rocha nasceu em Vitória da Conquista, Bahia. A infância no
interior baiano, onde cangaceiros, jagunços, beatos e políticos faziam parte
do cotidiano, proporcionaram ao jovem cineasta e escritor uma visão própria
sobre a realidade rural brasileira. Em 1964, aos 24 anos, Rocha lançou Deus
e o Diabo na Terra do Sol, seu primeiro longa-metragem. De visual
extraordinário, o filme retrata, através de uma narrativa poético-realista, os
violentos contrastes sociais e sua marca na vida dos trabalhadores rurais.
Seus tons de experimentalismo e de revolução artística, ao ignorar matrizes
da linguagem cinematográfica vigentes, expõem a influência do Neorrealismo
italiano e da Nouvelle Vague francesa. Não obstante, termina por definir a
própria identidade como “estética da fome”14 (CARVALHO, 2006), a qual foi
também utilizada pelos outros cinemanovistas e que serviu para a
popularização do movimento cinematográfico brasileiro.
A argumentação de Glauber Rocha baseia-se na crise de dependência crônica da América Latina – permanentemente colônia – para afirmar que o Brasil, tal como continente latino-americano, era um país subdesenvolvido, dominado pela fome. Em sua “tese”, as imagens da realidade brasileira de pobreza, injustiça social e alienação – ou seja, da “fome latina” – estariam sendo representadas e discutidas pelo Cinema Novo [...] (CARVALHO, 2006)
14 publicado na Revista Civilização Brasileira, ano I, n" 3, em 1965.

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Segundo Kemp (2011), mesmo com as censuras à indústria do cinema
impostas pelo Golpe Militar em 1964, Rocha respondeu às restrições com
Terra em Transe (1967), uma alegoria política sobre um país fictício chamado
República Eldorado. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969),
seu quarto longa-metragem, conta o relato de um pistoleiro contratado para
assassinar bandidos e que se converte em um revolucionário. Trabalho de
maior repercussão na carreira de Rocha que por este ganha o prêmio de
melhor direção no Festival de Cannes daquele ano (KEMP, 2011).
Figura 12 – Terra em Transe
4.1.4 Crise e Leis Audiovisuais
Em 1969, foi criada a Empresa Brasileira de Filmes, órgão estatal que
atuaria diretamente na produção do cinema brasileiro. A injeção de dinheiro
público trouxe mudanças na estética, política e economia da indústria
audiovisual. A produção nacional cresceu, assim como o interesse do público
(MICHEL, AVELLAR, 2012). Alguns títulos lançados neste período foram
Bye, Bye Brasil (1979), de Cacá Diegues; Pixote, a Lei do Mais Fraco (1981),
de Hector Babenco; Memórias do Cárcere (1984), de Nelson Pereira dos
Santos. Segundo Labaki (1998), o chamado “Novo Cinema Paulista” não teve

37
tempo para amadurecer, pois ao final da década de 1980, o modelo de
produção da Embrafilme encontrou-se falido. Seu fim foi consequência da
crise de legitimidade da empresa ligada às constantes denúncias de
favorecimentos, assim como pelo agravamento da situação econômica do
país (LABAKI, 1998). Este episódio simbolizou a entrada do Brasil em um
período de crise no setor, que viria a mostrar recuperação apenas após 1992.
Com o fim da Embrafilme na década de 1980, diversos mecanismos legais de caráter fiscal surgiram na década seguinte com o objetivo de viabilizar a retomada da produção cinematográfica brasileira. Estes, no entanto fizeram com que o segmento da produção se tornasse excessivamente dependente dos recursos governamentais, seja por meio da aplicação direta dos recursos orçamentários (via Fundo Nacional da Cultura), seja principalmente por meio dos instrumentos de renúncia fiscal criados. (GORGULHO et al. 2009, pg. 318)
Na primeira metade da década de 80, o cinema brasileiro produzia
uma média de 94 filmes ao ano. Seus anos mais produtivos foram 1984 até
1986, sendo lançados 108, 107 e 107, respectivamente. No ano seguinte a
produção sofreu uma forte queda, consequência da diminuição de
financiamento governamental para o setor. Em 1987, 37 títulos foram
lançados, em 1988, foram 17, e menores números nos anos seguintes até
somente 3 em 1992 (EARP; SROULEVICH, 2008). O ponto extremo da crise
precedeu a mudança das políticas e da estrutura do cinema no Brasil,
movimento que nos anos seguintes seria chamado de A Retomada. A
recuperação da identidade cinematográfica surgiu depois da aprovação da
Lei do Audiovisual (nº 8.685/93), de investimento na produção e coprodução
de obras cinematográficas e audiovisuais e infraestrutura de produção e
exibição, e da Lei do Incentivo à Cultura (nº 8.212/91), também conhecida
como Lei Rouanet, que institui políticas públicas para a cultura nacional como
o Programa nacional de Apoio à Cultura (PRONAC). Estas reformas
fortaleceram o mercado no final dos anos 90, com grande auxilio financeiro
de empresas públicas, como a petrolífera Petrobrás e os grandes bancos
estatais.

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Segundo Labaki (1998), lançamentos com Carlota Joaquina (1995), de
Carla Camurati e O Quatrilho (1995), de Fábio Barreto, foram responsáveis
pelo retorno do público às salas de exibição, sendo o primeiro um título
independente que ganhou publicidade por sua participação em mais de
quarenta festivais de cinema, e o segundo recebeu uma indicação ao Oscar
de melhor filme estrangeiro. O maior símbolo da restauração do cinema
brasileiro foi a repercussão de Central do Brasil (1998), de Walter Salles. O
filme ganhou o Urso de Ouro no festival de Berlim e concorreu ao Oscar de
melhor filme estrangeiro, e sua protagonista, Fernanda Montenegro, ganhou
Urso de Prata em Berlim e concorreu ao Oscar de melhor atriz.
Figura 13 – Central do Brasil
4.1.5 Latino-americano contemporâneo
O cinema latino americano começou o novo milênio com
reconhecimento mundial. Produzindo filmes de forte cunho autoral e de
identidade, seus principais representantes eram Brasil, Argentina, México,
Chile e Peru, que no entanto seguiam em processo de construção de suas
indústrias cinematográficas (KEMP, 2011). Parte desta evolução deteve-se

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
no combate à hegemonia do cinema norte-americano, o qual manteve seu
domínio através do financiamento pela exibição de seus filmes no mercado
externo, além de dispor pouco espaço para a projeção de filmes estrangeiros
em seu território. Tal ação levou países como Brasil e Espanha, cada um à
sua maneira, a estabelecer relações fortes com códigos de identificação de
sua nacionalidade, ou seja, referências estéticas e culturais que
caracterizassem a nacionalidade de um filme.
A produção cinematográfica brasileira, ainda que estabelecida em
diversas regiões, concentrava-se tal qual como quando surgiu, nos grandes
centros. Contudo, o número de produtoras aumentou graças ao maior
incentivo de cineastas que possuíam capital e reconhecimento na indústria,
tais como O2 Filmes, de Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus
(2002) e O Jardineiro Fiel (2005); Zazen, de Marcos Prado e José Padilha,
diretor de Tropa de Elite (2007); e VideoFilmes, de Walter Salles, diretor de
Diários de Motocicleta (2004) e Na Estrada (2012). Estes nomes receberam
em suas carreiras reconhecimento internacional e foram responsáveis pela
descoberta de novos talentos como Karim Ainouz (Madame Satã, de 2002, e
O Céu de Suely, de 2006), Daniela Thomas (Terra Estrangeira, de 1995, e
Linha de Passe, de 2008, co-dirigidos com Walter Salles), Cao Hamburguer
(O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de 2006), entre outros.
Figura 14 – Cidade de Deus

40
4.2 CINEMA ESPANHOL
Quando o Cinematógrafo chegou à capital espanhola, Madri, em 15 de
maio de 1896, o país vivia em uma regência monárquica, com uma indústria
mínima, população majoritariamente campesina e com altas taxas de
analfabetismo (MACÍAS, 2009). Apesar de ser lançado na Espanha apenas
cinco meses após a primeira exibição pública, em Paris, o cinema espanhol
não acompanhou o crescimento como em outros países de igual
oportunidade (Itália, por exemplo, em Roma e Turim). Para Belchí (1996),
esta carência se deveu à sua indústria cinematográfica ser composta de
pequenas produtoras economicamente precárias, governadas por estratégias
conservadoras e sem ambição artística. Segundo Macías (2009), além da
situação industrial, o cinema recebeu interpretações diversas, culturais e
morais, desde diferentes setores da sociedade espanhola.
[...] El cine es para unos espectáculo de moralidade dudosa y debe ser combatido desde postulados éticos y religiosos; para otros es un nuevo modelo de espectáculo al que debe potenciarse en sus facetas artísticas e incluso pedagógicas [...] (MACÍAS, 2009, pg. 43)
4.2.1 Luis Buñuel e o Franquismo
Segundo Buades (2006), Luis Buñuel (1900-1983) foi um dos
primeiros realizadores do “cinema de autor” da Espanha. Nascido em Aragão,
desde jovem Buñuel demonstra interesse pelo movimento artístico
surrealista, o que o leva a partir para Paris, aos vinte e cinco anos de idade,
após um período de estudos na Universidade de Madri. Na capital francesa
tem os primeiros contatos com o trabalho no cinema e conhece o artista
Salvador Dalí (1904-1989). Em 1929 é exibido o primeiro fruto da parceria,
Un Chien Andalou (br.:Um Cão Andaluz), sendo aclamado pela crítica,
lançando a carreira cinematográfica de Buñuel (BUADES, 2006). A dupla

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
retorna em 1930 com outro trabalho de temática surreal, L'âge d'or (br.:A
Idade do Ouro), obra que os estabelece como fiéis ao movimento artístico.
Figura 15 – Un Chien Andalou
Em 1933, Buñuel retornou à Espanha, onde realizou o documentário
Las Hurdes (br.:Terra Sem Pão), um retrato das condições miseráveis da
população de uma das regiões mais atrasadas do país. Segundo Buades
(2006), seu trabalho foi vetado para exibição pelo governo republicano. A
desilusão de Buñuel, que já era integrante do partido comunista, o levou à
trabalhar em Hollywood para fugir da Guerra Civil que iniciou em 1936. Após
um curto período nos Estados Unidos, emigrou com sua família para o
México, iniciando a fase considerada a mais criativa de sua carreira, onde
obteve maior reconhecimento internacional. Realizou Los Olvidados (br.:Os
Esquecidos), em 1950, uma descrição do cotidiano de crianças e
adolescentes da periferia da Cidade do México. Com este filme ganhou um
prêmio no Festival de Cannes e evidenciou sua fase voltada à crítica social.
Após duas décadas no exílio, Buñuel retorna à Espanha, em 1960.
Segundo Buades (2006), o Franquismo o fez perceber que sob um regime
totalitário, embasado nas crenças católicas, não teria possibilidades que se
desenvolver artisticamente (quando seu filme Viridiana (1961) foi proibido de

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
ser exibido em todo o território espanhol). Sucesso de crítica internacional e
ganhador da Palma de Ouro em Cannes, o filme causou a ira da Igreja
Católica considerando um ato de blasfêmia uma cena onde mendigos jantam
como se fosse a Santa Ceia (BUADES, 2006). Buñuel foi para Paris, onde
estabeleceu residência e continuou seu trabalho, ainda que retornasse ao
México periodicamente para o mesmo fim. Desta fase surgiu, entre outros
títulos, Le Charme Discret de la Burgeoisie (br.: O Discreto Charme da
Burguesia), de 1972, rendendo-lhe o Oscar de melhor filme estrangeiro,
convertendo-o no primeiro espanhol a receber tal premiação.
Figura 16 - Viridiana
4.2.2 Diretores contra o regime
�O período Franquista moldou a realização cinematográfica a partir de
um padrão estabelecido que atendesse às restrições e regras do regime
(BUADES, 2006). O tom das produções abusava do didatismo e imobilização.
Diretores como Luis García Berlanga (1951-2002) e Juan Antonio Bardem
(1922-2002) tiveram reconhecido esforço em trabalhar a linguagem para
manter o cinema como instrumento de denúncia contra o regime. Segundo
Buades (2006), apesar do empenho, o controle governamental e a
experiência americana em território espanhol levaram a população à
demonstrar pouco interesse pelo autêntico cinema nacional. A ditadura durou
até a morte de Franco, em 1975. O longo período de censura e restrições

43
deixou deficiente a estrutura do mercado cinematográfico espanhol, assim
como a referência do público quanto à sua relevância.
Segundo Stimpson (2011), Carlos Saura, diretor desde 1960, teve com
seu trabalho focado no engajamento social tanto reconhecimento da crítica
internacional como cortes e perseguições por parte do regime. Com o fim da
ditadura, abre as portas para uma fase inédita em sua carreira, abordando
temáticas de cunho humorístico e, mais tarde, uma fusão entre a dança e o
cinema como Carmen (1983) e El Amor Brujo (br.:O Amor Bruxo) (1986). A
liberdade artística proporcionada pelo fim da ditadura leva Saura à transitar
livremente por temáticas até então não exploradas (BUADES, 2006), dado o
fato que durante o franquismo seu interesse era voltado à combater o regime,
ação essa que, para artistas como Saura, trata-se da essência de seu
trabalho como cineastas.
4.2.3 Cinema espanhol pós-Franco
A estética do cinema espanhol ganhou força com Mujeres al Borde de
un Ataque de Nervios (br.:Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos) (1988),
de Pedro Almodóvar (n. 1942). Aproveitando cores saturadas do melodrama,
comédia e surrealismo, o diretor alcançou crescente notoriedade com Todo
Sobre mi Madre (br.:Tudo Sobre Minha Mãe) (1999) e La Flor de mi Secreto
(br.:A Flor do Meu Segredo) (1995), “dominando o cinema nacional com sua
visão exotérica e excêntrica da Espanha pós-Franco” (WHEATLEY, 2011, pg.
476), além de abordar temas sobre a homossexualidade, prostituição e
religiosidade representando o movimento de desvencilhamento às restrições
ao cinema que, por muito tempo, cortaram os trabalhos originais dos
realizadores. Contudo, Almodóvar ainda trabalhava com estéticas
fundamentadas nas raízes da cultura espanhola, algo que seria superado
pelos próximos destaques no cenário espanhol.

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Figura 17 – Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos
Segundo Macías (2009), a nova geração de cineastas de meados dos
anos 1990 enfrentou uma indústria do cinema que buscava projetos
concretos para realizar no lugar de acreditar em profissionais qualificados e
com olhar artístico desenvolvido. Estes jovens diretores obtiveram sua
formação fílmica através de uma sóbria cultura literária e de fontes de
informação audiovisuais como vídeo, televisão, computador, marcas da
infância de sua geração.
Su nacimiento en democracia les ha hecho conocer como un regalo las nuevas formas sociales; su desconocimiento del franquismo no les obliga a cuestionarse el pasado ni a pasarle factura; por ello, frente a las generaciones precedentes, no suele ser éste un tema cinematográfico, al menos predominante mientras que, al contrario, las historias del presente, las formas de vida actuales, se convierten en el entramado para desarrollar sus ficciones. (MACÍAS, 2009, pg. 165)
O diretor hispano-chileno Alejandro Almenábar, segundo Buades
(2006), representa a geração de profissionais do cinema espanhol
desvencilhados do período franquista. Reflexo percebido em sua abordagem
de temas, na instituição de estética, influenciados tanto por escolas
internacionais como pela experimentação original. Seu filme de 2004, Mar

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Adentro (2004), é um relato realista-poético da história de Spaniard Ramon
Sampedro (1943-1998), tetraprégico que lutou durante 30 anos pelo seu
direito à eutanásia.
O cinema de Almenábar supõe a homologação do cinema espanhol às correntes cinematográficas internacionais. Sempre com um estilo próprio e pessoal. Almenábar supera os complexos e as obsessões que limitariam o trabalho de muitos de seus antecessores. Não se sente ligado a uma determinada tradição espanhola e assume os riscos de adentrar em campos inexplorados em seu país. (BUADES, 2006, p.282)
Anterior à Mar Adentro, Almenábar rodou um longa de terror
sobrenatural, Os Outros (2001). Estrelado pela atriz australiana Nicole
Kidman, a obra trouxe à carreira do diretor um respaldo internacional
diferente do obtido por Almodóvar anos antes. Segundo Macías (2009),
Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos tornou-se o filme espanhol de
maior bilheteria até então, além de gozar de grande reconhecimento além de
suas fronteiras. Cineastas como o já citado Almenábar, Juan Antonio Bayona
(O Orfanato, de 2007, e O Impossível, de 2012), Jaume Balagueró e Paco
Plaza ([REC], 2007), trabalharam com temáticas menos reconhecíveis como
de identidade espanhola como nos anos de Almodóvar. Passaram a
representar seu cinema com grandes produções, sendo exibidos em circuito
comercial fora da Espanha, além de presentes e ganhadores de premiações
internacionais.
Figura 18 – Os Outros
� �

46
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento do presente trabalho foram combinados dois
métodos para a construção de um procedimento metodológico próprio que se
adequasse aos objetivos da pesquisa. São eles: Análise de Conteúdo e
Análise Fílmica.
5.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO
A Análise de Conteúdo, segundo Duarte e Barros (2005), baseia-se
num conjunto de procedimentos que podem ser igualmente aplicáveis a todo
e qualquer conteúdo analisável. Trata-se de um método confiável, pois
“permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as mesmas
categorias, podem chegar às mesmas conclusões” (DUARTE; BARROS,
2005, pg. 286). Logo, é possível analisar uma obra cinematográfica
específica e observar características aplicáveis ao cinema como um todo.
Para a utilização deste método, foram selecionadas somente técnicas de
interesse que fizeram cruzamento com os objetivos do trabalho. A Análise de
Conteúdo possui atualmente três características fundamentais: (a) orientação
fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a fenômenos reais e de
finalidade preditiva; (b) transcendência das noções normais de conteúdo,
envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e sistema; (c)
metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar e
avaliar criticamente um projeto de pesquisa com independência de
resultados. (DUARTE; BARROS, 2005)
5.2 ANÁLISE FÍLMICA
A Análise Fílmica, segundo Vanoye e Goliot-Lété (2002), consiste na
atividade de analisar uma obra cinematográfica a partir da desconstrução da
mesma. Sobre este método, o que diferencia o analista de um espectador
normal é o processo de distanciamento em relação à obra cinematográfica.
através de uma estrutura racional, o filme é analisado tecnicamente, e é

47
submetido aos instrumentos de análise e às hipóteses levantados pelo
trabalho (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002).
Um filme está relacionado com o resto do cinema além de sua
definição de gênero ou estrutura narrativa. A análise fílmica trabalha este
vínculo através da identificação de figuras de conteúdo ou expressões que
associem uma obra cinematográfica à dado movimento ou tradição.
Analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história. E, se considerarmos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das formas fílmicas. Assim como os romances, as obras pictóricas ou musicais, os filmes inscrevem-se em correntes, em tendências e até em “escolas” estéticas, ou nelas se inspiram a posteriori (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, pg. 23)
A prática da Análise Fílmica baseia-se em uma estrutura proposta por
Michel Marie (apud VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002) tendo em vista a
descrição do material a ser desconstruído. Alguns dos itens contidos na
estrutura da análise são:
• Numeração do plano, duração em segundos ou número de
fotogramas;
• Elementos visuais representados;
• Escala dos planos, incidência angular, profundidade de campo,
objetiva utilizada;
• Movimentos (no campo, dos atores ou outros, da câmera)
• Passagens de um plano a outro;
• Trilha sonora;
• Relações sons/imagens.
É importante destacar que esta pesquisa busca elementos específicos
das obras analisadas, portanto, a estrutura analítica construída considerou
informações que estivessem de acordo com o objetivo buscado.

48
5.3 ESTRUTURA DE ANÁLISE
Algumas etapas estiveram contidas na estrutura de análise.
Primeiramente definiu-se a delimitação para realizar pesquisa, a qual diz
respeito à escolha dos filmes que serviriam de base. Conforme explorado no
capítulo dedicado à História dos cinemas brasileiro e espanhol, os temas
contidos em suas produções mudaram a partir dos anos 90, década de
surgimento de uma nova onda de diretores desvencilhados das respectivas
escolas tradicionais que buscaram realizar filmes de gêneros menos
explorados em suas respectivas produções nacionais. Definido isto, foram
escolhidos dois filmes cujos elementos cinematográficos os identificam como
de gênero ação policial. São eles: o brasileiro Tropa de Elite (2007), de José
Padilha, e o espanhol Grupo 7 (2012), de Alberto Rodríguez.
Duas situações que justificam tais escolhas, além da delimitação
temporal e de gênero: (a) o protagonismo de atores conhecido pelo público
no cinema brasileiro (Wagner Moura) e espanhol (Mario Casas e Antonio de
la Torre); (b) casos de filmes exibidos em cinemas de circuito comercial que
foram selecionados para competir em festivais internacionais (Tropa de Elite
ganhou o Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Berlim de 2008, a
principal premiação do evento15; Grupo 7 foi selecionado para a competição
do prêmio de melhor narrativa do nova-iorquino TRIBECA Film Festival
201216).
Para a organização da coleta de dados foi necessário desconstruir as
obras para a observação de seus elementos empregados. Portanto, fez-se
útil a utilização da análise fílmica, que consiste, num primeiro momento, em
decompor uma obra cinematográfica em seus elementos constitutivos. Em
uma segunda etapa são estabelecidos elos entre esses elementos isolados
15 Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,tropa-de-elite-vence-urso-de-ouro-no-festival-de-berlim,125659> 16 Disponível em: <http://www.rtve.es/noticias/20120307/pelicula-grupo-competira-festival-tribeca/505419.shtml>

49
para a compreensão de como se associam e para a construção do todo
significante (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002).
Cada categoria foi analisa de acordo com os tópicos explorados nos
capítulos dedicados ao Gênero e à Linguagem Cinematográfica. Seguindo o
caminho dos objetivos da pesquisa, buscou-se estabelecer os padrões entre
os filmes escolhidos e o que os identificaria como pertencentes à uma
identidade cinematográfica nacional; e entre seus elementos
cinematográficos com os modelos apresentados em outros casos do gênero.
Identificou-se quais elementos da linguagem cinematográfica estão
presentes nas obras e de que modo isto os define no gênero; analisou-se os
elementos cinematográficos presentes e os padrões que estes estabelecem
entre os dois casos; por fim, foi verificado se as duas obras apresentam
estruturas narrativas que identifiquem uma identidade cinematográfica própria
de seus respectivos países.

50
6 ANÁLISE DOS FILMES TROPA DE ELITE E GRUPO 7
Tanto o brasileiro Tropa de Elite, dirigido por José Padilha, como o
espanhol Grupo 7, dirigido por Alberto Rodríguez, contêm características que
os definem como gênero ação policial quanto às estruturas narrativas,
linguagem e estética. Suas histórias tratam de diferentes realidades, porém,
ambas tem como base fatos reais1718.
Tropa de Elite é ambientado em 1997, na cidade do Rio de Janeiro. O
título faz alusão ao esquadrão do Batalhão de Operações Policiais Especiais
(BOPE), a tropa de elite da polícia da cidade carioca. Prestes a tornar-se pai
e com estresse e ansiedade crescentes devido à pressão da profissão,
Nascimento (Wagner Moura), o Capitão de um dos batalhões, intenciona
deixar o posto, mas antes precisa encontrar alguém que o substitua e
execute seu trabalho com dedicação equivalente. Em pouco tempo, sua
atenção se volta aos aspirantes André Mathias (André Ramiro) e Neto
Gouveia (Caio Junqueira), amigos de infância inscritos no curso de formação
para o BOPE após conflitarem com a corrupção percebida em uma breve
experiência na Polícia Militar. Nascimento os põe à prova para avaliar qual
estaria à sua altura enquanto entra em um dilema pessoal sobre se faria a
escolha certa sem prejudicar o alicerce incorruptível de sua unidade policial
frente à guerra ao tráfico e à corrupção policial.
A história de Grupo 7 se passa nos anos que antecedem a Exposição
Universal de Sevilha 1992, popularmente “Expo 92”. Um grupo policial
chamado Grupo 7 cumpre a missão de erradicar o tráfico de drogas do centro
da capital andaluza até a abertura do evento. O uso de violência, coerção e
mentiras como métodos acumula tanto êxitos e condecorações quanto
denúncias da mídia e o aumento da tensão entre os policiais e os locais que
17 A história de Tropa de Elite gira em torno de uma operação real do Batalhão que, para garantir a segurança do então Papa João Paulo II em visita ao Brasil, atuou nas favelas próximas à residência do arcebispo do Rio de Janeiro (BARRIONUEVO, 2007). 18 Rodríguez afirmou que o filme é um reflexo dos anos em que dois grupos de policiais (6 e 10) atuavam nas ruas de Sevilha sob o mesmo pretexto executado em Grupo 7 (PETIT, 2012).

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
�
testemunham seus abusos. O veterano Rafael (Antonio de la Torre) e o
ingressante Ángel (Mario Casas) transformam-se à medida que avançam em
sua missão. Rafael, que iniciou sua carreira durante a ditadura franquista,
contesta sua própria violência investida até então, ao mesmo tempo que
Ángel, único integrante educado na democracia, torna-se cada vez mais
habituado ao excessos empregados pelo grupo.
6.1 SEQUÊNCIA 1
O filme brasileiro começa na favela carioca Morro da Babilônia, em
uma noite de festa de música funk. Uma viatura da Polícia Militar com cinco
policiais sobe uma rua em direção à festa enquanto, em outro ponto da
favela, Neto, com um rifle, e Mathias deslocam-se em uma moto por uma rua
estreita. Abandonam o veículo e seguem a pé apressados. Os dois chegam
ao terraço de uma casa com uma visão panorâmica da festa. Avistam os
policiais da viatura conversando com os traficantes. Neto atira na direção
deles, a multidão se dispersa e os traficantes se exaltam. Neto e Mathias são
perseguidos e inicia-se um tiroteio quando encurralados em uma rua. O
conflito armado é cortado e substituído pela imagem de uma grande avenida
da cidade carioca (figura 20, frame 1). Nela, duas viaturas do BOPE
deslocam-se velozmente em direção à favela. Em uma, Capitão Nascimento
fala os detalhes da operação policial para os outros membros no veículo.
Eles param onde outras viaturas da Polícia Militar estão estacionadas.
Nascimento proíbe os policiais de subirem na favela e sua equipe fardada de
preto avança morro acima. A sequência de introdução é encerrada por um
corte que dá lugar ao título do filme acompanhado da trilha sonora principal.
Figuras 19 – Tropa de Elite: montagem paralela
montagem paralela
� �

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�
�
�
� � �� � �
� � �
�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��
O protagonismo da história divide-se entre os aspirantes Mathias e
Neto e o Capitão Nascimento. A apresentação destes personagens ocorre de
duas maneiras nesta sequência. No caso de Nascimento, seu destaque é
percebido quando, nos planos iniciais, dirige-se ao expectador, em voice-
over, com um discurso sobre a inviabilidade do trabalho policial em conflito
com um sistema corrupto. Seu personagem só será apresentado
pessoalmente no final da sequência, contudo, seu papel de narrador
permeará ao longo de toda a obra. Neto e Mathias são introduzidos através
desta narração e de uma montagem paralela que mostra simultaneamente as
ações da dupla e de uma viatura da Polícia Militar que se dirige ao baile funk.
Figuras 20 – Tropa de Elite: apresentação de Capitão Nascimento
�
�
�
�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Na sequência de abertura do filme espanhol, Ángel, à paisana,
acompanha um viciado pelas ruas estreitas de Sevilha a fim de encontrar um
ponto de tráfico de drogas. Os outros integrantes do grupo conversam dentro
de um carro estacionado. Ao avistarem o viciado e Ángel logo atrás, os
seguem em baixa velocidade. Próximos ao possível ponto de drogas, seu
carro é apedrejado pelos moradores dos prédios da rua. Os policiais
arrombam a porta e procuram pelos traficantes. Um suspeito corre escada
acima e é seguido por Ángel. A perseguição continua até o terraço de uma
antiga igreja. Encurralado, o suspeito tenta negociar e, aproveitando uma
distração do policial, saca uma navalha do bolso e aponta-a para seu
pescoço. Rafael chega e mesmo sob as ameaças de morte ao seu colega
investe contra o suspeito e o espanca.
Figuras 21 – Grupo 7 – sequência de perseguição
�
�
��
�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� �
� � �
� � �
� � �
� � �
�
� � �
� � �
� � �
� �

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
A primeira parte da sequência, antes da entrada no prédio, é
caracterizada por planos longos e curtos. Na segunda parte o ritmo torna-se
acelerado dada a intensidade da ação, o que configura a utilização
preferencial de planos curtos. Ao contrário de Tropa de Elite, este não opta
pelo voice-over. A apresentação dos personagens é identificada, em um
primeiro momento, na conversa dos três policiais dentro do carro. No final da
sequência ocorre o segundo momento quando, no terraço da igreja, a cena
mostra as diferentes condutas dos dois policiais, logo, condiz aos dois
personagens que dividirão o protagonismo (Plano 105 ao 122). Enquanto
Rafael espanca o traficante caído, Ángel está suando e com a mão tremendo
(o que mais tarde será explicado por sua condição de diabético) e observa
reticente à ação de seu colega. Este momento apresenta a dualidade dos
personagens: o experiente e o novato, a agressividade e a vulnerabilidade.
São conceitos que permanecerão como perfil dos dois até a primeira metade
do filme.
O realismo contido nestas duas introduções apresenta diferenças
assim como as visualizadas na comparação entre as sequências de
perseguição dos filmes Bullit e Operação França. No trecho da sequência
que mostra Neto e Mathias de um lado e os policiais militares de outro em
estrutura de montagem paralela, José Padilha misturou a técnica clássica
com sua visão documental19. Na intensão de aproximar-se da sensação de
realidade, o diretor priorizou a utilização de efeitos sonoros do ambiente no
lugar de uma trilha e o uso da câmera na mão, na maioria dos casos,
simulando um ponto de vista dos personagens ou de caráter jornalístico na
cena. Alberto Rodríguez não investe no experimentalismo em Grupo 7. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �19 Perceptível em seu trabalho anterior, o documentário Ônibus 174 (2002).
� � �� � �

57
Abastece suas sequências com um método convencional. A diferença das
duas técnicas é melhor visualizada no número de planos contidos no material
analisado. O de Tropa de Elite possui tempo maior e menor número de
planos que Grupo 7, 71 planos em 7 minutos e 40 segundos contra 122
planos em 5 minutos e 22 segundos. A opção de Padilha pela câmera na
mão permite que não haja tantos cortes e encurtamento de planos já que o
movimento inscrito na técnica trabalha por si o ritmo da sequência. Por outro
lado, Alberto Rodríguez trabalha com a montagem rítmica, onde integra
cortes cada vez mais breves somados à uma trilha sonora de auxílio.
6.2 SEQUÊNCIA 2
Mostrar o modus operandi dos personagens em seus trabalhos como
policiais é um dos fatores que configura os filmes analisados como do gênero
ação policial. Por outro lado, algumas sequências são dedicadas a mostrar
como estes conduzem suas vidas pessoais, ou seja, testemunham a relação
que Nascimento e Ángel têm com suas esposas, Rosane e Elena. Estes
momentos representam marcações na estrutura narrativa que não rompem
com a tradição do gênero, pelo contrário, a variação destes momentos com
os personagens ocorre na eleição do roteiro e direção sobre como, quando e
onde apresentar o lado pessoal do personagem.
Estes momentos representam marcações na estrutura narrativa ao
apresentar de que maneira a descarga emocional vinda da dedicação à
carreira afeta suas relações pessoais. É natural do estilo adotado durante as
sequências de ação, destaque das obras escolhidas e do gênero em geral, a
imposição do ritmo acelerado, cada um à sua maneira, conforme explicado
anteriormente. As sequências escolhidas que envolvem a relação dos
personagens principais com suas esposas pretende aclarar a influencia desta
montagem rítmica onde, de tal forma, possivelmente intensifica o fator
psicológico natural deste ponto na história.
Em Grupo 7, Ángel e Elena (Inma Cuesta) discutem em casa após ele
ter ido buscá-la na delegacia por ter sido detida com drogas no carro do

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
policial. Ele fica furioso porque já a havia advertido para não usar seu veículo
(o conteúdo encontrado havia sido apreendido por ele e seu Grupo). A
montagem desta sequência (dentro da casa) é composta de planos sem
movimento. O limite de espaço do cenário fechado, assim como o pouco
deslocamento dos personagens durante a ação, é semelhante ao ritmo de
cortes apresentado em outras sequências de ação, como a de perseguição
no início do filme. Aqui, a ausência de movimento da câmera na mão, porém,
de planos estáticos, é o que diferencia esta do resto. Em nenhum momento
há planos próximos do rosto dos personagens onde suas expressões seriam
destacadas. Pelo contrário, os planos transitam entre mostrar o corpo inteiro
ou desde a cintura. O afastamento da câmera é maior em duas situações:
visão externa, plano do casal discutindo na sala através do vidro que separa
a casa do jardim, vemos no reflexo o filho pequeno do casal com a babá no
pátio; visão a partir da cozinha através do acesso desta para a sala onde está
o casal, observamos Ángel falando ao telefone.
Figuras 22 – Grupo 7: Ángel e Elena
��������
�
�
�
�
�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�
Em Tropa de Elite, Nascimento, nervoso, discute com a esposa,
Rosane (Maria Ribeiro), sobre o erro que cometeu ao escolher um aspirante
(Neto) à substituto que não atende às suas expectativas. A câmera na mão
acompanha principalmente a Nascimento, em planos próximos de sua
cabeça, que testemunham sua carga emocional e o calor da discussão.
Alguns cortes presentes servem para que a câmera tenha um novo
posicionamento que permita a movimentação acompanhando a dos
personagens (sair de um ponto e chegar à outro; plano e contra-plano dos
dois). O processo de montagem, assim como em Grupo 7, é semelhante ao
utilizado nas sequências de ação, onde a câmera movimenta-se e sofre
cortes em pontos estratégicos. Comparando a análise anterior, onde fora
notada uma diferença entre número de planos, com esta, percebe-se uma
diferença menos significativa de número de planos. Enquanto a sequência de
Grupo 7 tem 12 planos contidos em 2 minutos, Tropa de Elite tem 8 em 1
minuto e 42 segundos. Justifica-se a diferença através do cenário, pois a
opção pelo uso da câmera na mão sofre perda de mobilidade em sequências
ambientadas em cenários de interior.
Figuras 23 – Tropa de Elite: Nascimento e Rosane
�
��

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� 6.3 SEQUÊNCIA 3
As seguintes sequências contêm os três personagem de maior
destaque em cada história: de Tropa de Elite ,Capitão Nascimento, Mathias,
e o traficante Baiano (Fábio Lago); e de Grupo 7, Ángel, Rafael, e o traficante
Amador (Alfonso Sánchez).
Na sequência de Grupo 7, Retorno à Candelária, 4 minutos e 3
segundos, 56 planos, Ángel e Rafael, planejam vingar-se de Amador que os
humilhou depois que o Grupo, traído por um informante, foi pego em uma
emboscada. Para isto, retornam à área da cidade, Candelária. dominada por
ele. A dupla mata dois atiradores em um tiroteio nas escadas de um prédio.
Enquanto examinava um dos quartos do apartamento onde estavam os
atiradores mortos, Rafael é surpreendido pelo traficante com um soco e cai
no chão. Ángel o salva matando Amador com quatro tiros. Nesta sequência,
a invasão ao prédio para encontrar o traficante resulta em um combate
armado, diferente dos outros conflitos do filme, onde os policiais correm atrás
de seus suspeitos e os espancam quando encontram resistência. Além desta,
outra diferença da sequência em relação às outras está na opção de mostrar
os personagens sendo feridos. A maioria dos planos, mesmo que curtos,
�
�
�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
revelam as partes do corpo no momento que são atingidas pelos projéteis.
Tomando como exemplo a primeira sequência analisada, onde as cenas são
realizadas com técnicas para ocultar o ato violento em si. A sugestão de
Grupo 7 à maioria de suas cenas de violência não escondem a brutalidade,
porém, não atingem o ponto de chocar o espectador (como nesta final) ou,
em maior grau, como no casos apresentados em Tropa de Elite, onde a
realidade é mostrada de modo mais explícito e com menos recursos de
ocultação.
�� Figuras 24 – Grupo 7: tiroteio e morte de Amador
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��
Tropa de Elite segue o caminho de outros longas-metragens de
destaque como Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Carandiru, de
Hector Babenco e Central do Brasil, de Walter Salles. Cada um destes
exemplos apresentam um tipo de violência identificável pelo público
brasileiro. O filme de Padilha, surgido após estes, apresentou o uso de
técnicas documentais e ficcionais, eliminando os limites que as separam.
Esta condução, através de um realismo explícito, configurou polêmicas ao
filme e acusações de postura fascista ao diretor, assim como ao seu
personagem principal, Nascimento (ARANTES, 2008). A presença de cenas
de tortura foram debatidas quanto à serem explícitas e excessivas, assim
mesmo mantiveram o filme dentro de uma estrutura do gênero de ação
policial. Na sequência de Tropas de Elite, Morte do Baiano, 2 minutos e 24
segundos, 14 planos, Nascimento e Mathias encontram o esconderijo de
Baiano no Morro dos Prazeres. O traficante é ferido por um integrante do
Batalhão ao sair. O Capitão entrega uma escopeta calibre 12 para Mathias
que, contrariando o pedido de clemência de Baiano no chão, atira em seu
rosto.
�
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Os momentos finais desta sequência contêm o primeiro plano do
traficante ensanguentado no chão, seguido de três planos de aproximação do
rosto de Mathias, ponto de vista de Baiano. O último plano é interrompido aos
cinco segundos por um fade out 20 para branco com duração de dez
segundos até os créditos finais. O som da arma de Mathias disparando só é
ouvido após este fade, sendo um dos raros momentos de todo o filme em que
a elipse é empregada para não mostrar alguma categoria de violência. A
opção pela ocultação repousa sobre o estabelecimento da violência
verossímil, buscada na realização da vingança de Mathias pela morte do
amigo Neto.
Figuras 25 – Tropa de Elite: morte de Baiano
���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �20 Técnica onde normalmente a cena começa normal e gradualmente converte-se em escura (DANCYGER, 2007). No caso, termina totalmente branca.
�
�
��
�
�

64
A visão dos diretores (e da equipe técnica envolvida) autentica a
verossimilhança ao localizar os personagens em seu próprio ambiente. O
cenário urbano é retratado de forma verídica, remontando locações reais ou
utilizando as próprias, configurando um fator de verossimilhança ao filme. O
que é mostrado nas histórias, além de basear-se em fatos reais, cria ações
policiais fictícias em ambientes reais, tais como as perseguições pelas ruas
estreitas da zona central de Sevilha ou pelas ruelas ramificadas das favelas
nos morros do Rio de Janeiro.
À época do lançamento de Tropa de Elite a violência exibida foi
debatida abertamente. Padilha faz o uso da narrativa e estética na
justificativa de seu propósito. Está de acordo com o meio urbano labiríntico e
atmosfera de cores fortes e quentes, ou seja, o ambiente gerado tornou-se o
campo onde esta violência é cabível. Estas críticas retomam o tema
explorado no capítulo sobre Gêneros. Sua particularidade surge ao ser
apresentado um formato novo onde até então existia o modelo vigente.
Grupo 7 apresenta elementos reconhecíveis do gênero e não rompe com
tais. Sua sequência final apresenta um teor mais explícito da violência,
porém, faz referência somente à própria obra.
De um ponto de vista da história cinematográfica, o retorno às
respectivas origens não segue o mesmo caminho. Padilha resgata
características da essência estética que fora apresentada nas obras de seus
antecessores. O filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol,
por exemplo, cuja presença de uma narrativa poético-realista, violentos
contrastes sociais e luta de classes eram conceitos trabalhados sob sua
camada estética revolucionária. São elementos visíveis em Tropa de Elite,
ainda que em diferentes níveis. O cunho fantástico é o ponto praticamente
inexistente no longa-metragem policial, ao contrário dos contrastes sociais e
choque de classes, conceitos que Padilha utiliza sob sua estética.
O diretor de Grupo 7 faz parte da geração que desvencilhou-se da
característica tradicional do cinema espanhol. Ainda que seja contemporâneo
da carreira de Almodóvar, ele apresenta elementos peculiares e muito

65
representativos da cultura espanhola, o que os novos diretores evitam nas
suas produções. Diferente de Padilha, Rodríguez não tinha à disposição
recursos históricos para resgatar no formato pretendido. Conforme analisado,
a influência repousa sobre o cinema norte-americano e sobre o próprio Tropa
de Elite21.
21 Afirmou o diretor em entrevista ao portal cinemania.es. Disponível em: <http://cinemania.es/noticias/video-mario-casas-antonio-de-la-torre-y-alberto-rodriguez-hablan-de-grupo-7/>

66
7 CONCLUSÃO
Este trabalho tinha como questão identificar a identidade
cinematográfica própria através dos elementos estéticos e narrativos
utilizados. Para tal, foram citados dois filmes como material para análise do
conteúdo contido em algumas sequências dadas como relevantes para o
objetivo da pesquisa. Através da questão norteadora, alguns objetivos
específicos foram explorados a fim de desenvolver a pesquisa. Neste sentido,
a partir dos dados observados na análise fílmica foi possível chegar às
seguintes conclusões.
A investigação contou com o desenvolvimento de uma pesquisa
histórica cujo objetivo era justificar a presença da identidade cinematográfica
própria de cada país. Conforme explorado nos capítulos teóricos do presente
trabalho, o cinema desenvolveu-se a partir das tentativas de seus
realizadores em afirmar seu ofício como arte. A história cinematográfica dos
dois países estudados revelou que as escolas pioneiras influenciaram a
formação dos alicerces de seu cinema nacional. Contudo, a invenção de
formatos originais surgiu do experimentalismo necessário à criação destes
novos mercados cinematográficos. Além da barreira geográfica, outros
fatores influenciaram o surgimento de formatos diferentes de sua identidade,
vez inspirada no modelo tradicional, vez pelo simples instinto de realizar o
que era essencial ao cinema em seu tempo. Foram encontrados, em
diferentes níveis, os traços identificáveis desta identidade nos filmes Tropa de
Elite e Grupo 7.
O caso brasileiro mostrou maior tendência em abraçar os elementos
que configuram sua identidade, dado tratar-se de uma obra vinculada à
denúncia da realidade, temática que representou o formato audiovisual
brasileiro em grande parte de sua história fílmica. No caso da Espanha, seu
cinema também serviu no retrato do real, porém, foi mais representado
através da influência artística, como, por exemplo, a obra de Buñuel inserida
no surrealismo e de Almodóvar de cunho fantástico.

67
Outro objetivo da pesquisa propôs relacionar elementos da linguagem
cinematográfica e características específicas do gênero presentes para
identificá-los nas obras. Através dos tópicos apresentados no capítulo
dedicado ao assunto, e tendo sido exploradas as sequências para a busca
destes itens representados em cada filme, é possível concluir alguns pontos.
A análise das obras escolhidas permitiu averiguar, no contexto
contemporâneo, quais elementos estéticos e técnicos utilizados configuram
uma identidade cinematográfica própria, estando fortemente presente ou
meramente sugerida em tais obras. É possível pensar que a influência de
Tropa de Elite e Grupo 7 recebida através das escolas tradicionais repousa
no que os define como gênero, ou seja, os elementos presentes que
configuram as obras como de ação policial.
As sequências de ação escolhidas para análise refletem momentos
recorrentes do gênero policial. No espanhol, as técnicas e estrutura utilizadas
equiparam-se mais a este modelo, o que torna menor o espaço para uma
identidade própria. Percebeu-se que, ao tomar como material de análise os
filmes Tropa de Elite e Grupo 7, obras cinematográficas pensadas para a
exibição em circuito comercial, a presença da identidade cinematográfica de
cada país apareceria de modo mais natural em sua narrativa. Diferente, por
exemplo, de um filme artístico, o qual registraria com mais compromisso seus
elementos fílmicos nacionais. Por outro lado, a estética e técnica identificadas
em cada obra fazem parte da visão e estilo dos diretores, algumas
indissociáveis de seus trabalhos. As sequências de ação analisadas são os
momentos onde a visão documental de Padilha destaca-se. Contudo, este
fator não deixa de representar uma identidade. Os filmes representam o
cinema de seu país, criados por e para seu público nativo.
Por fim, é possível dizer que, de acordo com o universo escolhido para
o presente trabalho, a investigação da presença de uma identidade
cinematográfica própria nestes dois filmes revelou alguns pontos importantes.
Dada a complexidade inscrita nos processos intrínsecos da realização

68
cinematográfica, os países selecionados apresentaram uma tendência a
implantar sua identidade de modo direto ou indireto na produção fílmica.
Mesmo em filmes de gênero onde esta presença é pouco recorrente, a
análise mostrou que os filmes apresentaram sinais identificáveis de sua
nacionalidade, de modo evidente ou sugestivo. A base para suas histórias
advinda de episódios reais dos respectivos países mostrou-se o elemento de
maior influência na identificação da identidade cinematográfica presente nas
respectivas obras. Portanto, é perceptível uma tendência destes mercados
cinematográficos em assumir suas respectivas realidades como material e
produzir filmes que contenham pontos de vista privilegiados em relação ao
exterior.

69
REFERÊNCIAS
ALTMAN, Rick. Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paídos Iberica,
2000.
ARANTES, Silvana. “Tropa de Elite gera mais ódios que amores”. Berlim:
Fola de S.Paulo, 2008. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/02/371897-tropa-de-elite-gera-
mais-odios-que-amores-em-berlim.shtml>. acesso em: 10 de out. de 2014.
AUMONT, Jacques et al. A estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995
AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. 2.ed. Campinas: Papirus Editora, 2006.
BARRIONUEVO, Alexei. A violent police unit, on film and in Rio’s streets. Rio de Janeiro: The New York Times. Disponível em:
<http://www.nytimes.com/2007/10/14/world/americas/14tropa.html?ref=americ
as&_r=1&>. Acesso em: 2 de out. de 2014.
BELCHÍ, Joaquín C.; 1896-1914. Primeros años del cinematógrafo en Madrid. In: MADRID, Juan Carlos de la (Ed.). Gijón: Apel, 1996.
BETTON, Gérard. Estética do cinema. São Paulo: M. Fontes, 1987.
BUADES, Josep M.; MORAIS, Marcus Vinícius de. Os espanhóis. São
Paulo: Contexto, 2006.
CARVALHO, Maria do Socorro. Cinema novo brasileiro. In: MASCARELLO,
Fernando (Ed.). Historia do cinema mundial. Campinas: Papirus Editora,
2006.
CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. (Org.). O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

70
COSTA, Antonio. Compreender o cinema. 3.ed. São Paulo: Globo, 2003.
DAHL, Gustavo. Mercado é cultura. Brasília: Cultura, v.VI, n.24, jan-mar
1977.
DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria
e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007
EARP, F.; SROULEVICH, H.; “O mercado de cinema no Brasil”. In: EARP, F.;
SROULEVICH, H.; SOUZA, R. G.; Dois estudos sobre economia do cinema no Brasil. Rio de Janeiro: Texto para Discussão, 2008.
EISENSTEIN, Sergei; AVELLAR, José Carlos. A forma do filme. Rio de
Janeiro: J. Zahar, 1990.
GOMES, Paulo Emilio S.; Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. 2.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GORGULHO, L. F. et al. (2009). “A economia da cultura, o BNDES e o
desenvolvimento sustentável”. In: BNDES Setorial, vol. 30, p. 229-335.
GRUPO 7. Direção: Alberto Rodríguez. Produção: José Antonio Félez.
Roteiro: Rafael Cobos López Espanha: ATIPICA FILMS, 2012. 95 min.
35mm. COR.
KEMP, Philip (Ed.). Tudo sobre cinema. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.
LABAKI, Amir. O Cinema brasileiro: de o Pagador de promessas a Central
do Brasil = The filmes from Brazil : from the Given word to Central station.
São Paulo: PubliFolha, 1998.
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas & pós-cinemas. 3.ed. São Paulo: Papirus,
2005.
METZ, Christian. A significação do cinema. São Paulo: Perspectiva, 1972.

71
MACÍAS, Rafael U. Cuatro passos por la historia y la estética del cine español. Sevilha: Cuadernos de EIHCEROA, n. 9-10, 2009.
MONGIN, Olivier. Violencia y Cine Contemporáneo: ensayo sobre ética e imagen. Buenos Aires: Paidos Ibérica, 1997.
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense,
1990.
NOGUEIRA, Luís. Manuais de cinema II: géneros cinematográficos. Covilhã: Livros LabCom, 2010.
PETIT, Quino. “Fuimos una máquina contra la droga”. Madri: El País,
2012. Disponível em:
<http://www.cultura.elpais.com/cultura/2012/04/28/acutualidad/1335638296_1
16872.html>. Acesso em: 9 de out. de 2014.
POWER, Dominic. Filmes Policiais de Hollywood. In: Kemp, Philip (Ed.) Tudo sobre cinema. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. pg.340-341.
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente,. El montaje cinematográfico: teoría y análisis.
Buenos Aires: Paidós, 2001.
SMITH, Ian H.; O Grande Roubo do Trem. In: KEMP, Philip (Ed.). Tudo sobre cinema. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. pg.23.
STIMPSON, Mansel. Cinema da Europa Ocidental. In: KEMP, Philip (Ed.).
Tudo sobre cinema. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. pg.316-319.
TROPA DE ELITE. Direção: José Padilha. Produção: José Padilha; Marcos
Prado. Roteiro: Bráulio Mantovani e outros. Brasil: Zazen Produções
Audiovisuais Ltda., 2007. 118 min. 35mm. COR.

72
TURNER, Graeme. Cinema como prática social. São Paulo: Summus
Editorial, 1997.
VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a Análise fílmica. Campinas: Papirus Editora, 1994.
WHEATLEY, Catherine. Cinema Europeu. In: KEMP, Philip (Ed.). Tudo sobre cinema. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. pg.474-477.