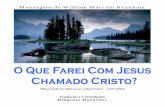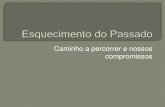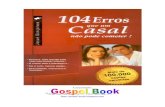Universidade de São Paulo Faculdade de Saúde Pública Uso ... · cometer o pecado da omissão ou...
Transcript of Universidade de São Paulo Faculdade de Saúde Pública Uso ... · cometer o pecado da omissão ou...
-
Universidade de So Paulo
Faculdade de Sade Pblica
Uso do flor em sade pblica sob o olhar dos
delegados 13 Conferncia Nacional de Sade
Regina Glaucia Ribeiro de Lucena
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao
em Sade Pblica para obteno do ttulo de
Doutor em Sade Pblica.
rea de Concentrao: Servios de Sade Pblica
Orientador: Prof. Dr. Paulo Capel Narvai
So Paulo
2010
-
1
Uso do flor em sade pblica sob o olhar dos
delegados 13 Conferncia Nacional de Sade
Regina Glaucia Ribeiro de Lucena
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao
em Sade Pblica para obteno do ttulo de
Doutor em Sade Pblica.
rea de Concentrao: Servios de Sade Pblica
Orientador: Prof. Dr. Paulo Capel Narvai
So Paulo
2010
-
2
Dedico esta tese minha famlia,
meu bem mais precioso.
-
3
AGRADECIMENTOS
A elaborao da seo Agradecimentos de uma tese de doutorado no
tarefa to simples, apesar de ser a parte menos formal do trabalho. Na hora de citar
nomes e instituies que, de algum modo, colaboraram com a construo da tese,
necessrio bastante ateno. So tantas as etapas, as pessoas envolvidas, o tempo
despendido, desde sua concepo at a defesa, que tememos esquecer algum, o que
seria, no mnimo, inadmissvel (ou mesmo imperdovel).
o que pretendo fazer agora, neste espao, mesmo sabendo que posso
cometer o pecado da omisso ou do esquecimento. No farei qualquer tentativa de
estabelecer uma ordem de importncia aos nomes citados, pois a tarefa ficaria ainda
mais difcil.
Quero agradecer de corao, com toda a energia que me move nesse
instante, s pessoas (e instituio) listadas a seguir e, ao mesmo tempo, desculpar-
me, se por acaso deixei de citar algum.
Ao professor Paulo Capel Narvai, exemplo de orientador, fio condutor deste
trabalho. No incio do doutorado (em 2007), eu o admirava por sua fabulosa
trajetria profissional e invejvel produo cientfica. Hoje, admiro-o por tudo isso,
mas, sobretudo, pela pessoa que , por seu carter, competncia e simplicidade. Foi
uma convivncia harmoniosa e produtiva.
Ao meu esposo, Francisco Jos (Kiko), e aos meus filhos, Marina e Jos
Carlos, por compreenderem meus momentos de ausncia e isolamento,
especialmente nos ltimos meses.
minha me, Tereza, que sempre foi exemplo de dedicao, f,
otimismo e esperana.
Aos professores Jlio Jorge DAlbuquerque Lssio e Adeliani Almeida
Campos, colegas da disciplina de Materiais Dentrios da Universidade Federal do
Cear, pelo apoio e incentivo inestimveis.
-
4
s colegas da Coordenadoria de Educao profissional da Escola de Sade
Pblica do Cear, pela colaborao, durante os perodos em que tive de me ausentar.
s professoras Regina Auxiliadora de Amorim Marques e Cludia Maria
Bgus, pelas valiosas sugestes ao projeto de tese, durante o exame de qualificao,
e tese propriamente dita, durante a pr-banca. Da mesma forma, agradeo s
professoras La Maria Bezerra de Menezes e Maria Tereza Pepe Razzolini, pela
relevante contribuio tese, durante a pr-banca. Agradeo a todas por me
acompanharem nessa jornada e pela ateno que dispensaram a este trabalho.
minha irm, Dulce, s colegas Ana Ceclia, Cristina, vina e Tnia e ao
meu cunhado, Edmilson, pela primorosa contribuio na coleta dos dados da
pesquisa.
Aos Presidentes da 13 Conferncia Nacional de Sade, nas etapas nacional
(Francisco Batista Jnior), estadual (Haroldo Jorge Carvalho Pontes) e municipal
(Ernesto Sales), por possibilitarem meu ingresso no espao da Conferncia, para a
realizao da coleta de dados.
Aos delegados 13 Conferncia Nacional de Sade (atores principais, neste
trabalho), por concordarem em participar da pesquisa e pelas valiosas informaes
prestadas.
Ao amigo Osmar, coordenador do Doutorado Interinstitucional em Sade
Pblica (DINTER), no Cear, pelo esmero com que conduziu esse curso, sempre
dedicado e atencioso para com alunos e professores.
Aos professores Eurivaldo e Pricles, da Faculdade de Sade Pblica da
Universidade de So Paulo (USP), pelo esforo, pela dedicao ao DINTER e pela
ateno que sempre nos dispensaram.
Aos professores da Faculdade de Sade Pblica da USP que vieram ao Cear
e nos deixaram usufruir um pouco do seu conhecimento e da sua experincia e
tambm queles que nos acolheram to bem, em So Paulo, quando fomos cursar
algumas disciplinas.
-
5
Aos funcionrios da Faculdade de Sade Pblica da USP que, mesmo
distantes, colaboraram para a realizao do DINTER.
Neila, funcionria dedicada e exemplar, pelo seu apoio ao curso.
s colegas e aos colegas de doutorado, pelo apoio e solidariedade nos
momentos alegres e tensos que passamos juntos.
Norma Linhares, bibliotecria da Universidade Federal do Cear, que
prontamente atendeu nossa solicitao e revisou cuidadosamente as referncias
citadas na tese.
Ao meu cunhado, Alexandre Csar, pela valiosa colaborao, na fase final
dos trabalhos.
Fundao Cearense de Apoio ao desenvolvimento Cientfico e
Tecnolgico (FUNCAP), pelo apoio financeiro, no primeiro ano do doutorado.
Os meus agradecimentos a todas as pessoas que, de alguma forma,
colaboraram com a construo desta tese e no foram aqui citadas.
Agradeo, sobretudo, a Deus, criador de todas as coisas. Deixei-o para o
final por uma nica e simples razo: queria finalizar os agradecimentos com algo
que suprisse as incompletudes, os deslizes ou as omisses cometidas nesta seo. A
f em Deus fundamental para mim. Sem Ele nada seria possvel. Sem sua presena
constante em minha vida, jamais conseguiria colher um dado qualquer, escrever uma
linha sequer. Jamais teria chegado aonde cheguei.
-
6
RESUMO
Lucena RGR. Uso do flor em sade pblica sob o olhar dos delegados 13 Conferncia
Nacional de Sade [Tese de Doutorado]. So Paulo: Faculdade de Sade Pblica da USP;
2010.
Introduo Sendo a crie dentria um grave problema de sade pblica para a maioria dos
indivduos que moram em pases do hemisfrio Sul e para as populaes com baixo status
socioeconmico dos pases de capitalismo desenvolvido, advoga-se o uso do flor em sade
pblica, como medida preventiva. Objetivo Descrever as percepes e opinies dos
delegados 13 Conferncia Nacional de Sade sobre o uso do flor em sade pblica, com
foco na fluoretao das guas de abastecimento pblico. Mtodo - Realizou-se pesquisa
exploratria, descritiva, com abordagem qualitativa, utilizando-se como tcnica de
processamento de depoimentos o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Ao todo, foram 310
respondentes. Os dados foram coletados por meio de questionrios semiestruturados e
analisados por meio da anlise do discurso. Resultados Constatou-se desinformao dos
delegados no tocante a vrios aspectos do uso do flor em sade pblica e os mesmos
sentem necessidade de meios de divulgao efetivos sobre a gua para consumo e sobre os
nveis de flor da gua. Consideraes Finais - Ideias equivocadas ou lacunas de
conhecimento acerca de vrios aspectos do uso do flor em sade pblica revelam a
necessidade de se melhorar o nvel de informao da sociedade sobre questes relativas
fluoretao. O desconhecimento dos delegados, aliado aos dados encontrados na literatura
sobre as deficincias no monitoramento e controle dos nveis de flor na gua so indicativos
da necessidade de se reavaliar o papel dos atores sociais e os mecanismos utilizados no
controle social.
DESCRITORES: gua, flor, fluoretao, fluoretao da gua, percepo, gestor de sade,
trabalhadores, sade pblica.
-
7
ABSTRACT
Lucena RGR. Use of fluoride in public health from the perspective of the delegates to the
13th National Health Conference [Thesis]. So Paulo (BR): Faculdade de Sade Pblica da
Universidade de So Paulo; 2010.
Introducion - As tooth decay a serious public health problem for most residents of countries
of the southern hemisphere and for populations of low socioeconomic status in developed
capitalist countries, the use of fluoride in public health is advocated as a preventive measure.
Objective - To describe the perceptions of the delegates to the 13th National Health
Conference on the use of fluorides in public health, focusing on the fluoridation of public
water supplies. Method - An exploratory and descriptive research was performed with a
qualitative approach and utilizing as the processing technique of statements the Discourse of
the Collective Subject (DCS). A total of 310 participants responded. The data was collected
using semi-structured questionnaires and analysed by the discourse analysis method. Results
- Misinformation of the delegates concerning several of the use of fluoride in public health
and the need of these delegates for effective means of disseminating information on water
suitable for consumption and the levels of fluoride in water was found. Final
Considerations - Erroneous ideas and knowledge gaps regarding the various aspects of the
use of fluoride in public health underscore the need to improve societys level of
understanding of questions relating to water fluoridation. The lack of knowledge of
delegates, together with the data available in the literature on the defective monitoring and
control of fluoride levels in the water, indicates the need to further evaluate the role of the
social actors and the mechanisms used in the societal control.
DESCRIPTORS: Water, fluoride, fluoridation, water fluoridation, perception, health
managers, workers, public health.
-
8
NDICE
APRESENTAO 9
1. PARTE 1 CONTEXTO E CARACTERSTICAS DA PESQUISA 10
1.1 INTRODUO 12
1.2 OBJETIVOS 14
1.3 CENRIOS E PARTCIPANTES 15
1.4 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS 18
2. PARTE 2 RESULTADOS DA PESQUISA 23
2.1 SIGNIFICADOS DA GUA E ACESSO GUA TRATADA SOB O
OLHAR DE LIDERANAS DE SADE
25
2.2 FLUORETAO DAS GUAS DE ABASTECIMENTO PBLICO
NO BRASIL SOB O OLHAR DOS DELEGADOS 13
CONFERNCIA NACIONAL DE SADE
65
2.3 ASPECTOS TICOS RELACIONADOS AO USO DE PRODUTOS
FLUORADOS NA VISO DE LIDERANAS DE SADE
89
2.4 MLTIPLOS ASPECTOS DO USO DO FLOR EM SADE
PBLICA NA VISO DOS DELEGADOS 13 CONFERNCIA
NACIONAL DE SADE
112
3. CONSIDERAES FINAIS 142
APNDICES
Apndice 1 - Questionrio impresso 145 146
Apndice 2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 152
ANEXOS
Anexo 1 - Aprovao do protocolo de pesquisa 155
Anexo 2 - Currculo lattes da autora pginas iniciais 157
Anexo 3 - Currculo lattes do orientador pginas iniciais 159
-
9
APRESENTAO
Esta tese composta pelas seguintes partes ou sees principais:
Contexto e Caractersticas da Pesquisa, Resultados da Pesquisa e Consideraes
Finais.
A primeira parte contm a introduo, os objetivos do trabalho, os
cenrios e participantes da pesquisa, os procedimentos metodolgicos e as
referncias da seo. Na Parte 2, encontram-se os resultados da pesquisa, sob forma
de artigos cientficos, ainda no publicados. Nesses textos, diversas vertentes da
temtica da fluoretao das guas de abastecimento pblico so analisadas. Cada
artigo tem como ncleo um dos temas descritos a seguir:
1. Os significados da gua e o acesso gua tratada Mostram-se as
percepes dos delegados com relao gua, enquanto elemento essencial vida, e
ao papel do Estado no provimento de gua de qualidade. A incluso dessa temtica
se justifica pelo fato de ser a gua tratada o veculo do flor na fluoretao das guas
de abastecimento pblico.
2. A fluoretao das guas de abastecimento pblico Mostram-se as
opinies dos delegados da 13 Conferncia Nacional de Sade sobre a
obrigatoriedade da fluoretao das guas de abastecimento pblico no Brasil.
3. Os aspectos ticos relacionados ao uso do flor Investigam-se as
percepes dos delegados quanto existncia de problemas ticos relacionados ao
uso de produtos ou substncias que contm flor.
4. Os mltiplos aspectos do uso do flor em sade pblica - Trata-se
das percepes dos delegados sobre alguns aspectos da utilizao do flor, a saber:
benefcios e malefcios do flor, mecanismos de monitoramento e controle do teor de
flor, necessidades individuais de flor, custos da fluoretao e polticas de
fluoretao.
A tese termina com as Consideraes Finais, que se referem s principais
concluses, limitaes e contribuies do estudo.
-
10
PARTE 1
CONTEXTO E CARACTERSTICAS DA PESQUISA
-
11
A primeira parte desta tese, de carter introdutrio, tem por finalidade descrever
alguns elementos da pesquisa que facilitam a compreenso das partes subsequentes.
So eles: o contexto em que o estudo se realizou, os objetivos, os cenrios, os
participantes e os procedimentos metodolgicos. Essa descrio essencial para que
se compreendam os resultados da pesquisa, os quais so apresentados e discutidos na
segunda parte da tese.
-
12
1. CONTEXTO E CARACTERSTICAS DA PESQUISA
1.1. INTRODUO
A crie dentria continua sendo um grave problema de sade pblica, no
campo da sade bucal, para a maioria dos indivduos que moram em pases do
hemisfrio Sul e para as populaes com baixo status socioeconmico dos pases de
capitalismo desenvolvido (RIBEIRO e col.28
2005).
A descoberta de que o mecanismo de ao do flor tpico conferiu
enorme importncia a veculos capazes de disponibiliz-lo por essa via. o caso das
solues para bochechos, dos vernizes e gis e dos dentifrcios. Esses ltimos, at os
anos 1960, tinham papel meramente cosmtico. Em todo o mundo ocidental, foi
crescente a incorporao do flor aos dentifrcios no tero final do sculo XX,
aceitando-se seu poder preventivo (em torno de 20 a 40%) e sua compatibilidade
com a fluoretao da gua, podendo ser utilizados, pois, concomitantemente
(NARVAI25
, 2000).
No Brasil, onde a desigualdade social intensa, a fluoretao das guas
vem a ser, muitas vezes, o principal meio de preveno crie para uma grande
parcela da populao que no tem acesso a outros mtodos preventivos, tais como
aplicaes tpicas de flor, bochechos com solues fluoretadas e dentifrcios
fluoretados.
Dessa forma, a continuidade da fluoretao das guas e a ampliao do
acesso a essa medida fazem-se necessrias, e sua segurana e efetividade tm sido
endossadas por agncias e associaes de odontologia em todo o mundo (CDC6,
2001; JONES e col.15
2005; PETERSEN e col.28
2008.).
No Brasil, a Lei 6.050, de 24 de maio de 1974 (BRASIL2, 1974),
regulamentada pelo Decreto 76.872 (BRASIL3, 1975), tornou obrigatria a
fluoretao das guas nos locais onde existe Estao de Tratamento de gua (ETA).
Segundo NARVAI25
(2000, p.385), naquele contexto histrico, o estabelecimento
-
13
de normas legais sobre o assunto foi decisivo para esclarecer dvidas, dar
sustentao ao processo de fluoretao em todo o pas e facilitar a alocao de
recursos a tais empreendimentos.
Na ltima dcada, essa lei foi questionada no Congresso Nacional
(BRASIL4, 2005), sob alegao de que o flor seria um elemento txico, podendo
ocasionar diversos males sade humana, dentre eles, a fluorose dentria. Para
Narvai25
(2005), esse questionamento suscitou amplo e aprofundado debate sobre o
assunto, proporcionando uma discusso que deveria ter acontecido em 1974, mas no
aconteceu.
Uma medida de tamanho alcance, como a fluoretao das guas, cujos
benefcios, eficcia, segurana e custo-efetividade foram comprovados
cientificamente, deve gerar amplos debates, antes de se decidir sobre sua possvel
manuteno ou suspenso.
Esse debate existe, em nvel mundial. Os que se posicionam contra a
medida, fazem questionamentos do ponto de vista legal e tico, tais como a violao
do princpio tico da autonomia, falta de liberdade de escolha e riscos para o ser
humano (CLEMMESEN7, 1983; HASTREITER
12, 1983; WATSON
30, 1985,
YIAMOUYIANNIS31
, 1987; ALRCON-HERRERA1, 2001; KALAMATIANOS e
NARVAI16
, 2006).
Devido a esses questionamentos, diversos pases, como Estados Unidos,
Austrlia, Dinamarca, Inglaterra, Itlia, Portugal e Espanha realizaram pesquisas,
junto populao, no intuito de se conhecer suas percepes, conhecimentos e
atitudes, no tocante fluoretao das guas de abastecimento (HELE e
BIRKELAND13
, 1974; SCHWARTZ e HANSEN29
, 1976; HASTREITER12
, 1983;
ISMAN14
, 1983; CAMPBELL e col.5 2001; LOWRY e ADAMS
21, 2004; GRIFFIN
e col.10
2008).
No Brasil, h uma lacuna quanto a essa temtica. No existem estudos
sobre o que pensa a populao acerca do uso do flor, como medida preventiva em
sade pblica, em especial, sobre a fluoretao das guas. O que se conhece ,
basicamente, a opinio dos profissionais de sade, que se manifestam quando se
questiona o assunto. H, pois, a necessidade de se conhecer a opinio dos cidados
brasileiros a respeito desse tema.
-
14
Os delegados s conferncias de sade so considerados atores sociais
qualificados, com insero social e poltica no contexto nacional, representando a
sociedade em processos decisrios de vrias naturezas, sobre sade e sistema de
sade no pas, por meio dos conselhos e das conferncias de sade. Enquanto os
conselhos de sade tm a funo de formular estratgias e controlar a execuo das
polticas, as conferncias se configuram como espao pblico de deliberao coletiva
sobre as diretrizes que devem guiar a estruturao e conduo do SUS, nas vrias
esferas de governo (DAL POZ e PINHEIRO9, 1997; GUIZARDI e col.
11, 2004).
Admite-se, pois, em termos metodolgicos, que as opinies e percepes
dos delegados s conferncias de sade sejam indicadores qualitativos da percepo
de uma parcela da populao brasileira a respeito do uso do flor em sade pblica,
do tratamento da gua e, especificamente, da fluoretao das guas de abastecimento
pblico, fornecendo importantes subsdios ao processo de planejamento em sade e
saneamento.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo Geral
Conhecer as percepes e opinies dos delegados 13 Conferncia
Nacional de Sade (13 CNS) sobre o uso do flor em sade pblica, com foco na
fluoretao das guas de abastecimento pblico.
1.2.2. Objetivos Especficos
1. Descrever as percepes dos delegados 13 Conferncia Nacional de Sade
sobre os significados da gua, no contexto da sade pblica;
2. Descrever as percepes dos delegados 13 Conferncia Nacional de Sade
sobre o papel do Estado na garantia do acesso gua tratada;
-
15
3. Verificar as opinies dos delegados 13 Conferncia Nacional de Sade sobre a
obrigatoriedade da fluoretao das guas de abastecimento pblico no Brasil;
4. Descrever as percepes dos delegados 13 Conferncia Nacional de Sade
sobre os mltiplos aspectos da utilizao de substncias e produtos fluorados.
1.3. CENRIOS E PARTICIPANTES
Esta pesquisa teve a fase de campo desenvolvida durante a 13
Conferncia Nacional de Sade, em suas etapas: municipal, em Fortaleza, estadual,
no Cear, e nacional, em Braslia. As etapas aconteceram, respectivamente, em
agosto, outubro e novembro de 2007, meses em que os dados foram coletados. As
etapas municipal e estadual contaram com aproximadamente 890 e 2.250 delegados,
respectivamente.
A etapa nacional realizou-se do dia 14 a 18 de novembro de 2007, com
4.700 participantes. Dentre esses, cerca de 3.000 eram delegados, representando
usurios, trabalhadores e gestores/prestadores de servios (13 CNS8, 2008).
Os participantes da pesquisa foram os delegados 13 CNS, nas trs
etapas da conferncia. Os delegados so eleitos por seus pares e representam trs
segmentos da sociedade: gestores/prestadores de servios de sade, trabalhadores de
sade e usurios do sistema de sade. Sua representatividade na conferncia de sade
tripartite e corresponde a 25%, 25% e 50%, respectivamente. Essa composio
corresponde quela dos conselhos de sade em nveis municipal, estadual e nacional.
A populao de estudo foi definida por convenincia, ou seja,
participaram aquelas pessoas que, ao serem abordadas e ouvirem os objetivos do
estudo, concordaram em responder ao questionrio. O critrio de escolha foi
participar da 13 Conferncia Nacional de Sade como delegado, e o critrio de
excluso ter participado da mesma pesquisa, em uma etapa anterior da conferncia.
-
16
Por motivos bvios, esse critrio de excluso no foi empregado na primeira etapa da
conferncia de sade (etapa municipal).
Ao todo, foram 310 participantes, distribudos da seguinte maneira: 56 na
etapa municipal, 143 na estadual e 111 na nacional. A distribuio dos delegados,
segundo o segmento que representam, e o seu perfil sociodemogrfico podem ser
vistos, respectivamente, nas tabelas 1 e 2.
Vale ressaltar que, entre os usurios, a idade mnima encontrada foi 18
anos e a mxima 76 anos. Entre os trabalhadores de sade e os gestores/prestadores
de servios de sade, as idades mnimas foram, respectivamente, 20 e 23 anos e as
mximas 63 e 62 anos.
Tabela 1 Distribuio dos delegados 13 Conferncia Nacional de Sade,
participantes da pesquisa, por segmento, segundo a etapa. Brasil, 2007.
Segmento
Etapa Gestor/prestador
n
Trabalhador
n
Usurio
n
Total
n %
Municipal 9 19 28 56 18
Estadual 32 47 64 143 46
Nacional 31 25 55 111 36
Total 72 (23%) 91 (29%) 147 (48%) 310 100
-
17
Tabela 2 Caracterizao dos delegados 13 Conferncia Nacional de Sade,
participantes da pesquisa, segundo o perfil sociodemogrfico. Brasil, 2007.
Segmento
Caractersticas Gestor/prestador Trabalhador Usurio Total
n % n % n % n %
Sexo Masculino
Feminino
34
38
47
53
34
57
37
63
74
73
51
49
142
168
46
54
Faixa etria
18-25 anos
26-35 anos
36-45 anos
46-55 anos
56 ou mais anos
No responderam
1
16
20
26
4
5
1
22
28
36
6
7
4
31
25
20
7
4
4
34
28
22
8
4
7
29
38
42
27
4
5
20
26
28
18
3
12
76
83
88
38
13
4
25
27
28
12
4
Regio
Norte
Nordeste
Centro-oeste
Sudeste
Sul
4
48
1
11
8
6
67
1
15
11
2
69
1
9
10
2
76
1
10
11
3
103
1
21
19
2
70
1
14
13
9
220
3
41
37
3
71
1
13
12
Escolaridade
At E.M. incompleto
E.M. completo
E.S. completo ou
incompleto
Ps-graduao
2
2
14
54
3
3
19
75
-
18
25
48
-
20
27
53
39
50
31
27
27
34
21
18
41
69
71
129
13
22
23
42
Ocupao
Sade bucal
Sade (no bucal)
Outros setores
No responderam
4
34
29
5
6
47
40
7
23
50
17
1
25
55
19
1
2
19
86
40
1
13
59
27
29
103
132
46
9
33
43
15
E.M.= Ensino Mdio
E.S.= Ensino Superior
-
18
1.4. PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
A investigao consistiu na aplicao de questionrios semiestruturados
contendo 19 questes sobre opinies e percepes acerca da gua de abastecimento
pblico, da fluoretao das guas e de vrios aspectos do uso do flor em sade
pblica (Apndice 1). Os entrevistadores foram treinados pela pesquisadora, em
reunies que antecederam a coleta de dados, e o questionrio foi testado previamente
junto a um grupo de participantes da etapa municipal da conferncia, que no haviam
sido eleitos delegados.
Um percentual de aproximadamente 10% dos representantes dos usurios
e dos trabalhadores de sade solicitou que os pesquisadores escrevessem suas
respostas. Isso foi feito preservando-se o estilo e os enunciados. Todos os
respondentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apndice
2). O projeto de pesquisa que deu origem a esta tese foi aprovado pelo Comit de
tica em Pesquisa da Faculdade de Sade Pblica (FSP) da Universidade de So
Paulo (USP).
Tendo em vista a natureza do objeto, optou-se por realizar um estudo de
natureza qualitativa, utilizando-se, como tcnica de processamento de depoimentos,
o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Aps a identificao das expresses-chave,
que so transcries literais de partes dos depoimentos que contm o essencial do
contedo discursivo, estas foram agrupadas conforme a ideia central que
expressavam. Em seguida, os discursos-sntese foram elaborados, a partir dos
depoimentos literais.
O DSC possibilita reconstituir um sujeito coletivo que fala como se
fosse um indivduo, mas veicula uma representao com contedo ampliado. uma
proposta explcita de reconstituio de um ser ou entidade emprica coletiva,
opinante na forma de um sujeito de discurso emitido na primeira pessoa do singular,
discurso este oriundo de depoimentos com sentidos semelhantes (LEFVRE e
LEFVRE19
, 2003; LEFVRE e col20
, 2009).
-
19
Para Lefvre e col.18
(2002, p.36), o DSC reflete os pensamentos e os
valores associados a um dado tema, presente numa dada formao sociocultural
num dado momento histrico. Em muitas situaes, isso o que se busca conhecer,
independente da expressividade numrica, maior ou menor, atribuda a determinados
pensamentos e valores, em certos contextos especficos.
Neste estudo, os discursos do sujeito coletivo foram analisados
utilizando-se, como estratgia metodolgica, a Anlise do Discurso, na qual se leva
em considerao a cultura, o contexto e as intenes dos sujeitos, que, impregnando
esses discursos, revelam sua viso da sociedade, da natureza, da historicidade, das
relaes, das condies de produo e reproduo social (MINAYO23
, 2004).
Para Monteiro e col.24
(2006), os discursos transcendem a linguagem e
sua anlise um processo de identificao de sujeitos, de argumentao, de
subjetivao e de construo da realidade, no qual sentidos so revelados e
determinados ideologicamente.
Neste estudo, a anlise dos DSC, que teve como ponto de apoio o
referencial terico das polticas pblicas de sade relativas ao acesso gua de
qualidade, iniciou com a leitura exaustiva do material, para, em seguida, proceder-se
interpretao dos resultados.
Nessa etapa, a aproximao da pesquisadora com esse material se
constituiu, como explicam Macedo e colaboradores22
(2008), num encontro entre
sujeitos historicamente contextualizados e socialmente determinados, com
diversidades culturais e subjetividades. A anlise do discurso permitiu a
compreenso do discurso coletivo, histrico e socialmente determinado,
evidenciando-se elementos que podem servir de subsdios para o redirecionamento
das prticas sanitrias.
-
20
REFERNCIAS
1. Alarcn-Herrera MT, Martn-Domnguez IR, Trejo-Vzquez R, Rodriguez-Dozalc S. Well water fluoride, dental fluorosis, and bone fractures in the
Guadiana Valley of Mxico. Fluoride. 2001; 34(2):139-49.
2. Brasil. Ministrio da Sade. Lei Federal n 6.050 de 24 de maio de 1974. Dispe sobre a fluoretao da gua em sistemas de abastecimento quando existir estao
de tratamento. [acesso em: 2007 set 5]. Disponvel em URL:
http://www.lei.adv.br/6050-74.htm.
3. Brasil. Ministrio da Sade. Decreto n 76.872 de 22 de dezembro de 1975. Regulamenta a Lei n 6.050 de 24 de maio de 1974. [acesso em: 2007 set 5].
Disponvel em URL:
http://drt2004.saude.gov.br/dab/saude/legislacao/decreto76842_22_12_75.pdf.
4. Brasil. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n 297. Apresentado em 24 de agosto de 2005. Determina que a utilizao de flor na profilaxia da crie dentria
s pode ser realizada pela aplicao tpica do elemento e probe a adio de flor
na gua, bebidas e alimentos [acesso em: 2007 set 5]. Disponvel em URL:
http://monkey.hostclass.com.br/~senadorv/pdf/upload/4efac986ee290be5a7bc34b
673e16dff.pdf.
5. Campbell D, Watson P, Holbrook L. Fluoridation what the public know and what they want. Aust N Z J Public Health. 2001; 25(4):346-8.
6. Center for Disease Control and Prevetion. Recommendations for using fluoride to prevent and control dental caries in the United States. MMWR Recomm Rep.
2001; 50(RR-14):1-42.
7. Clemmesen J. The alleged association between artificial fluoridation of water supplies and cancer: a review. Bull World Health Org. 1983; 61(5):871-83.
8. Conferncia Nacional de Sade, 13, 2007, Braslia. 13. Conferncia Nacional de Sade, Braslia 14 a 18 de novembro de 2007: Sade e Qualidade de vida:
polticas de estado e desenvolvimento: relatrio final. Braslia: Ministrio da
Sade, 2008.
9. Dal Poz MR, Pinheiro R. A qualidade dos servios de sade e os espaos de controle social. Rio de Janeiro: ABRASCO; 1997.
10 Griffin M, Shickle D, Moran N. European citizens opinions on water fluoridation. Community Dent Oral Epidemio. 2008; 36(2):95-102.
11 Guizardi FL, Pinheiro R, Mattos RA, Santana AD, Matta G, Gomes, MCPA. Participao da comunidade em espaos pblicos de sade: Uma anlise das
http://drt2004.saude.gov.br/dab/saude/legislacao/decreto76842_22_12_75.pdf.http://monkey.hostclass.com.br/~senadorv/pdf/upload/4efac986ee290be5a7bc34b673e16dff.pdfhttp://monkey.hostclass.com.br/~senadorv/pdf/upload/4efac986ee290be5a7bc34b673e16dff.pdfjavascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Community%20Dent%20Oral%20Epidemiol.');
-
21
conferncias nacionais de sade. PHYSIS: Rev Sade Coletiva. 2004; 14(1):15-
39.
12 Hastreiter RJ. Fluoridation conflict: a history and conceptual synthesis. J Am Dent Assoc 1983; 106:486-90
13 Hele LA, Birkeland JM. The public opinion in Norway on water fluoridation. Community Dent Oral Epidemiol 1974; 2(3):95-7.
14 Isman R. Public views on fluoridation and other preventive dental practices. Communnity Dent Oral Epidemiol 1983; 11(4):217-23.
15 Jones S, Burt BA, Petersesn PE, Lennon MA. The effective use of fluorides in public health. Bull World Health Organ. 2005; 83(9): 670-6
16 Kalamatianos PA, Narvai PC. Aspectos ticos do uso de produtos fluorados no Brasil: uma viso dos formuladores de polticas pblicas de sade. Cienc Sade
Coletiva. 2006; 11(1):63-9.
17 Lefvre F, Lefvre AMC. O discurso do sujeito coletivo: um novo enfoque em pesquisa qualitativa (desdobramentos). Caxias do Sul: EDUCS; 2003.
18 Lefvre AMC, Lefvre F, Cardoso MRL, Mazza MMPR. Assistncia pblica sade no Brasil: estudo de seis ancoragens. Sade Soc. 2002; 11(2):35-47.
19 Lefvre F, Lefvre AMC, Teixeira JJV. O Discurso do sujeito coletivo: uma nova abordagem metodolgica em pesquisa qualitativa. Caxias do Sul: EDUCS;
2000.
20 Lefvre F, Lefvre AMC, Marques MCC. Discurso do sujeito coletivo, complexidade e auto-organizao. Cinc Sade Coletiva. 2009; 14(4):1193-204.
21 Lowry RL, Adams G. Attitudes to water fluoridayion in general dental practice in the North East of England. Br Dent J. 2004; 196(7):423-4.
22 Macedo LC, Larocca LM, Chaves MMN, Mazza VA. Anlise do discurso: uma reflexo para pesquisar sade. Interface Comum Sade Educ. 2008; 12(26):649-
57.
23 Minayo, MC. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em sade. 8 ed. So Paulo: Hucitec; 2004.
24 Monteiro SL, Piovesan AMW, Mohr D, Forlin CM, Martinez JZ, Franco Z. A anlise do discurso e questes sobre a linguagem. Rev X. 2006; v.2: 1-18.
25 Narvai PC. Crie dentria e flor: uma relao do sculo XX. Cienc Sade Coletiva. 2000; 5(2):381-92.
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Interface%20comun.%20sade%20educ
-
22
26 Narvai PC. Vigilncia sanitria e fluoretao da gua. Rev Bras Vig Sanit. 2005; 1(4): 288-94.
27 Petersen PE. World health Organization Policy for improvement of oral health Worls Health Assembly 2007. Int Dent J. 2008; v.58: 115-121.
28 Ribeiro AG, Oliveira AF, Rosenblatt A. Crie precoce na infncia: prevalncia e fatores de risco em pr-escolares, aos 48 meses, na cidade de Joo Pessoa,
Paraba, Brasil. Cad. Sade Pblica. 2005; 21(6): 1695-1700 .
29 Schwarz E, Hansen ER. Public attitudes concerning water fluoridation in Denmark. Community Dent Oral Epidemiol. 1976; 4(5):182-5.
30 Watson ML. The opposition to fluoride programs: report of a survey. J Public Health Dent. 1985; 45(3):142-8.
31 Yiamouyiannis JA. Water fluoridation & tooth decay: results from the 1986-1987 National Survey of US Schoolchildren Fluoride. J Int Soc Fluoride Res.
1990; 23(2):55-67
-
23
PARTE 2
RESULTADOS DA PESQUISA
-
24
A segunda parte desta tese consiste na apresentao dos principais
resultados do estudo, descrevendo-se e discutindo-se as percepes e/ou opinies dos
delegados 13 Conferncia Nacional de Sade sobre alguns tpicos, que se
relacionam direta ou indiretamente com o uso do flor em sade pblica. So eles: os
significados da gua e o acesso gua tratada, a fluoretao das guas de
abastecimento pblico, os mltiplos aspectos da utilizao do flor em sade pblica,
optando-se por deixar em separado os aspectos ticos envolvidos na fluoretao.
Cada um desses tpicos originou um artigo cientfico, ainda no publicado.
-
25
ARTIGO 1
SIGNIFICADOS DA GUA E ACESSO GUA TRATADA NA VISO DE
LIDERANAS DE SADE
Regina Glaucia Ribeiro de LucenaI
Paulo Capel NarvaiII
I Departamento de Odontologia Restauradora. Faculdade de Farmcia,
Odontologia e Enfermagem. UFC. Fortaleza, CE, Brasil
II Departamento de Prtica de Sade Pblica. Faculdade de Sade Pblica.
USP. So Paulo, SP, Brasil
RESUMO
OBJETIVO: Descrever as percepes dos delegados 13 Conferncia
Nacional de Sade sobre os significados da gua, no contexto da sade pblica,
e o papel do Estado na garantia do acesso gua.
MTODO: Realizou-se pesquisa exploratria, descritiva, com abordagem
qualitativa, utilizando-se como tcnica de processamento de depoimentos o
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A populao de estudo foi definida por
convenincia, e o critrio de escolha foi participar da conferncia como
delegado. Ao todo, participaram 310 delegados, distribudos da seguinte
maneira: 56 na etapa municipal, em Fortaleza (CE), 143 na estadual (Cear) e
111 na nacional. Os dados foram coletados por meio de questionrios
semiestruturados e analisados pela anlise do discurso. Esse estudo foi
aprovado pelo Comit de tica em Pesquisa da Faculdade de Sade Pblica da
Universidade de So Paulo.
-
26
RESULTADOS: Os delegados percebem a gua como um bem essencial a
que todos deveriam ter acesso e, quando bem tratada, contribui para a sade e a
qualidade de vida da populao. Reconhecem o problema da crescente escassez
e degradao dos recursos hdricos, as deficincias no acesso e no tratamento
da gua e acreditam que o Estado deve ter, no provimento de gua tratada, um
papel protetor, negando a utilizao desse bem como mercadoria, e garantindo
a todo cidado gua em quantidade suficiente e qualidade adequada para
atender a suas necessidades bsicas. Detectam-se fragilidades no tratamento da
gua, na vigilncia sanitria e nos mecanismos de informao da sociedade
sobre assuntos relativos gua de abastecimento pblico.
CONSIDERAES FINAIS: So necessrias estratgias educacionais adequadas
para preparar a sociedade para lidar com o problema da escassez da gua. Para
universalizar o acesso, devem-se implementar polticas pblicas direcionadas s
populaes economicamente menos favorecidas . Os atores sociais qualificados que
representam a sociedade devem participar de maneira mais efetiva nos espaos
deliberativos que lhe so concedidos e exercer com mais propriedade sua cidadania.
necessrio tambm que se criem mecanismos de circulao das informaes junto
populao, efetivando-se aes de vigilncia sanitria das guas de abastecimento
pblico.
DESCRITORES: gua, gua potvel, qualidade da gua, percepo, gestor de
sade, trabalhadores, sade pblica.
ABSTRACT
OBJECTIVE: To describe the perceptions of the delegates to the 13th National
Health Conference on the importance of the water in the context of public health.
METHODS: An exploratory and descriptive research was performed with a
qualitative approach and utilizing as the processing technique of statements the
Discourse of the Collective Subject (DCS). The study population was defined by
-
27
convenience and the selection criterion was the participation at the Conference as a
delegate. A total of 310 participants responded, and were divided as follows: 56 in
the Municipal phase, in Fortaleza-CE, 143 in the State phase (Ceara) and 111 in the
National phase. The data was collected with semi-structured questionnaires e
analysed by the discouse analysis method. The study was approved by the research
ethics committee of the Faculdade de Sade Pblica da Universidade de So Paulo.
RESULTS: The delegates perceived the water as being an essential asset
accessible to all and, when appropriately treated, it improves the health and quality
of life of the population; they also recognize the growing problem of the lack and
degradation of the hydric resources. They recognize deficiencies in the access and
treatment of the water and believe that the role of the State in providing treated
water has to be protective, prohibiting the utilization of this asset as commercial
good, and guaranteeing that all citizens shall have water in sufficient quantity and
of good quality to fulfill their basic needs. There are weaknesses in the treatment of
water, in sanitary monitoring and in awareness mechanisms to the community
regarding the water that is consumed.
FINAL CONSIDERATIONS: Adequate educational strategies are needed to
increase awareness of the community to the growing problem of water shortage. In
order to broaden access, the implementation of public policies to benefit low
income populations is needed. The qualified social actors who represent the
community shall participate in a more effective way in all available discussion
channels and carry out effective citizenship. It is necessary to create channels to
disseminate information to the population, thus increasing effectiveness in their
actions of sanitary monitoring of the public water supply.
DESCRIPTORS: Water, drinking water, water quality, perception, health
managers, workers, public health
-
28
INTRODUO
Prenhe de significados, a gua um elemento da vida que a
encompassa e a evoca sob mltiplos aspectos, materiais e imaginrios. Se, por um
lado, condio bsica e vital para a reproduo, dependendo dela o organismo
humano, por outro, a gua se inscreve no domnio do simblico, enfeixando vrias
imagens e significados... assim que Cunha5 (2000 p.15) se refere gua, objeto
das cincias naturais e humanas que possui diferentes significados, tanto no plano
material como no imaginrio das pessoas, nas diversas sociedades e nos diferentes
contextos histrico-culturais.
A gua influencia modos de vida, ajuda a construir laos sociais entre os
homens e as comunidades e favorece o desenvolvimento da cooperao e da
solidariedade. Ora, vista como um problema, dada sua escassez, ora, como uma
ddiva divina e, no raras vezes, associada ao lazer e vida (FIGUEIREDO e
OLIVEIRA1, 2003). Ela se vincula e se imbrica ao processo de desenvolvimento
global, seja como insumo fundamental para a produo industrial ou agrcola, seja
pela sua influncia sobre a manuteno da sade e da qualidade de vida e sobre o
desenvolvimento sustentvel (UN/WWAP36
, 2003).
De forma preocupante, a gua do planeta tende a escassear em virtude do
crescimento populacional e da poluio dos recursos hdricos. Mesmo pases com
grande disponibilidade hdrica podem apresentar problemas de escassez de gua,
devido a causas naturais, excessiva demanda ou ao desperdcio.
A preocupao com a degradao e a escassez dos recursos hdricos
deixou de ser uma bandeira de luta de ambientalistas fervorosos, para assumir lugar
de destaque na agenda de autoridades, comunidade cientfica e sociedade, tornando-
se smbolo de equidade social (MORAES e JORDO18
, 2002; SELBORNE30
, 2002).
1 Figueiredo JBA, Oliveira HT. Educao Ambiental Popular e a Teia de Representaes Sociais da
gua na cultura residualmente oral do serto nordestino. In: 26 Reunio Anual da Associao
Nacional de Ps-Graduao e Pesquisa em Educao. Caxambu, MG, 2003
-
29
O acesso aos servios de saneamento bsico condio necessria
dignidade humana e sobrevivncia. Para que o indivduo tenha participao ativa,
sob o ponto de vista social e econmico, necessrio que ele tenha uma vida
saudvel e, para isso, fundamental que tenha acesso ao saneamento bsico,
moradia, sade e educao (TEIXEIRA e PUNGIRUM33
, 2005).
Uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milnio, do
Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento, consiste em reduzir pela
metade, at o ano de 2015, a proporo da populao sem acesso permanente e
sustentvel gua potvel segura e ao esgotamento sanitrio (PNUD22
, 2010).
Lamentavelmente, para muitas sociedades, esse acesso ainda precrio
ou mesmo inexistente, o que reflete diretamente na ocorrncia de enfermidades que
poderiam ser evitadas, como diarrias, clera, dengue e outras (TEIXEIRA e
PUNGIRUM33
, 2005).
Existem diversos nveis de acesso gua, cuja compreenso essencial
na avaliao de intervenes direcionadas populao que sofre com a escassez
desse recurso. So eles: sem acesso, com acesso bsico, com acesso intermedirio e
com acesso timo. Esses nveis so influenciados pela distncia percorrida e o tempo
gasto para se atingir a fonte de gua (RAZZOLINI e GNTHER27
, 2008).
O Brasil e outros pases que se encontram em processo de franca
urbanizao enfrentam problemas de falta de acesso da populao a servios bsicos
de saneamento, especialmente com relao oferta de gua, em qualidade e
quantidade satisfatrias. Aproximadamente 36% dos domiclios no recebem
abastecimento de gua por rede geral, enquanto 7,2% do volume de gua distribuda
no recebem tratamento e 47,8% dos municpios no tm servio de esgotamento
sanitrio (IBGE7, 2002).
Para Razzolini e Gnther27
(2008), uma possvel soluo seria pautada na
implementao de uma poltica integrada de gesto, envolvendo setores responsveis
pelo desenvolvimento urbano, sade, habitao e saneamento.
-
30
H muitos fatores que explicam essa situao, destacando-se a
fragmentao das polticas pblicas e a carncia de instrumentos de regulao. Desde
o final dos anos 1980, aps a extino do Plano Nacional de Saneamento, o Brasil
no dispe de uma poltica setorial consistente de gua e esgoto, sendo o principal
impasse para o estabelecimento dessa poltica a ausncia de definio (na
Constituio Federal) sobre a titularidade dos servios nos sistemas integrados e nas
regies metropolitanas (NASCIMENTO e HELLER20
, 2005).
Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domiclios (PNAD),
realizada em 2005, mostraram ainda que o abastecimento por redes maior nas
regies sul e sudeste, nos estratos de renda elevados e nas reas urbanas (IBGE8,
2005). Vale ressaltar que a pesquisa identifica os domiclios ligados rede de
distribuio de gua, no fornecendo informaes acerca da qualidade nem da
continuidade do abastecimento.
Com relao ao acesso desigual gua tratada, parcelas da sociedade tm
mostrado sua preocupao com esse assunto. Um exemplo disso a Moo das
guas, aprovada pela Plenria Final da 3 Conferncia de Sade Bucal, a qual
revelou o desejo dos delegados (usurios, gestores e trabalhadores da sade bucal)
em manifestar publicamente sua preocupao com a garantia do acesso gua
tratada e com a preservao e o uso racional da gua, dentre outros aspectos (3
CNSB3, 2004).
Como questo de sade pblica, o problema do acesso gua pode ser
abordado do ponto de vista da biotica de proteo, uma vez que o papel do Estado
no provimento de gua tratada envolve questes de contedo moral, que carecem de
uma anlise luz da tica aplicada (PONTES e SCHRAMM25
, 2004). A biotica de
proteo definida como sendo uma tica da responsabilidade social, em que o
Estado deve se basear para assumir suas obrigaes sanitrias para com as
populaes humanas, consideradas em seus contextos reais... (SCHRAMM e
KOTTOW29
, 2001).
As medidas que legitimam o papel do Estado como protetor da sade
pblica, no que se refere gua potvel, devem ser aquelas que possibilitem a todo
-
31
cidado dispor de gua em quantidade suficiente e qualidade adequada para atender a
suas necessidades bsicas. Para legitimar esse papel, o estado deve reconhecer as
situaes de desigualdades de acesso e desenvolver polticas pblicas para sua
resoluo (PONTES E SCHRAMM25
, 2004).
Nesse sentido, a implementao de polticas pblicas redistributivas
uma das solues apontadas por Galvo Jnior6 (2009), entretanto esse autor ressalta
que a efetividade de qualquer mecanismo redistributivo depende da participao da
Unio, estados e municpios. Infelizmente, questes institucionais, como
mecanismos de polticas pblicas, indefinio da titularidade e dificuldades na
regulao de servios tm dificultado a ampliao dos ndices de cobertura.
Tomando-se como base esse contexto, neste estudo, procurou-se
conhecer as opinies e percepes dos delegados 13 Conferncia Nacional de
Sade acerca da gua para consumo humano e do acesso gua tratada.
Esses delegados so atores sociais qualificados, diretamente envolvidos
em processos decisrios sobre sade e sistemas de sade no Brasil. As opinies e
percepes dessas pessoas so de fundamental importncia para que se
compreendam o papel e a responsabilidade dessa parcela da sociedade, enquanto
interlocutora do Estado no direcionamento de polticas pblicas de sade orientadas
para o bem-estar da populao e para o desenvolvimento sustentvel.
MTODO
Tendo em vista a natureza do objeto de investigao, optou-se por
realizar pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como populao de
estudo os delegados 13 Conferncia Nacional de Sade.
A populao foi definida por convenincia, ou seja, participaram aquelas
pessoas que, ao serem abordadas e ouvirem os objetivos do estudo, concordaram em
participar da pesquisa. O critrio de escolha foi participar da conferncia como
delegado, e o critrio de excluso ter participado da mesma pesquisa em uma etapa
-
32
anterior da conferncia de sade. Ao todo, foram 310 delegados, distribudos da
seguinte maneira: 56 na etapa municipal, 143 na estadual e 111 na nacional.
Para a coleta das informaes, utilizou-se um questionrio
semiestruturado, contendo 19 questes, o qual foi aplicado durante as etapas
municipal (Fortaleza), estadual (Cear) e nacional (Braslia) da 13 Conferncia
Nacional de Sade. Estas aconteceram, respectivamente, em agosto, outubro e
novembro de 2007, meses em que os dados foram coletados. O estudo foi aprovado
pelo Comit de tica em Pesquisa da Faculdade de Sade Pblica da Universidade
de So Paulo.
Como tcnica de processamento de depoimentos, utilizou-se o Discurso
do Sujeito Coletivo (DSC), que permite reconstituir um sujeito coletivo que fala
como se fosse um indivduo, mas veicula uma representao com contedo ampliado
(LEFVRE e LEFVRE11
, 2003; LEFVRE, LEFVRE E MARQUES12
, 2009).
Aps leitura das informaes contidas nos questionrios, identificaram-se
as expresses-chave, que so transcries literais de partes dos depoimentos, que
permitem resgatar o essencial do contedo discursivo. Estas foram agrupadas
conforme a ideia central que expressavam, formando os discursos-sntese ou os
discursos do sujeito coletivo, a partir dos depoimentos literais (LEFVRE,
LEFVRE e TEIXEIRA13
, 2000).
Os discursos do sujeito coletivo foram analisados utilizando-se, como
estratgia metodolgica, a anlise do discurso, que teve como ponto de apoio o
referencial terico das polticas pblicas de sade relativas ao acesso gua tratada.
A anlise iniciou-se com a leitura exaustiva do material, para, em seguida, se
proceder interpretao dos resultados.
A aproximao da pesquisadora com esse material constituiu-se num
encontro entre sujeitos historicamente contextualizados, com diversidades culturais e
subjetividades, permitindo a compreenso do discurso de um sujeito coletivo,
histrico e socialmente determinado, evidenciando-se elementos que podem servir de
subsdios para o redirecionamento das prticas sanitrias (MACEDO e Col16
, 2008).
-
33
RESULTADOS
Este artigo foi elaborado a partir das informaes advindas das respostas
aos questionamentos descritos a seguir:
Pergunta 1: Sabemos que, alm de ser indispensvel para a vida
humana, a gua importante para a sade. Voc gostaria de comentar sobre isso?
Pergunta 2: Na sua opinio, o que o Estado, os governos deveriam fazer
para garantir gua para todas as pessoas?
Pergunta 3: Voc gostaria de comentar alguma coisa sobre tratamento
da gua?
As ideias centrais que emergiram dos discursos dos delegados, relativas a
essas trs perguntas, esto descritas, respectivamente, nos Quadros 1, 2 e 3:
Quadro 1. Ideias Centrais relativas importncia da gua para a sade e a vida
1. A gua essencial a todos os seres vivos.
2. gua tratada e de boa qualidade contribui para a sade e a qualidade de vida da
populao.
3. A populao precisa preservar a gua.
4. A gua no uma mercadoria, ddiva da natureza, devendo ser direito de todos.
5. Apesar da importncia da gua para a sade e a qualidade de vida das pessoas,
esse assunto no prioridade do governo.
6. A gua deve ser fluoretada para prevenir a crie dentria
-
34
Quadro 2. Ideias Centrais relativas ao papel do Estado na garantia do acesso gua
1. Polticas direcionadas para a preservao do meio ambiente e o uso racional da gua
2. Polticas voltadas para a descoberta de fontes alternativas de abastecimento dgua.
3. Polticas pblicas voltadas para a no mercantilizao da gua.
4. Polticas pblicas voltadas para o saneamento bsico e a ampliao da rede de
abastecimento.
5. Investir no tratamento da gua
6. A gua uma questo multi e interdisciplinar e deve ter uma discusso coletiva
7. Fiscalizar as empresas responsveis pela distribuio e tratamento da gua e
monitorar a qualidade da gua.
8. Cumprir a legislao vigente e criar novas leis que favoream o acesso gua
tratada.
Quadro 3. Ideias Centrais relativas ao tratamento da gua
1. O tratamento da gua fundamental para a sade e a qualidade de vida.
2. O tratamento da gua no satisfatrio.
3. A populao no est bem informada sobre o tratamento e a qualidade da gua que
consome.
4. A oferta de gua tratada responsabilidade do governo, mas est havendo descaso.
5. Falta monitoramento e controle no tratamento da gua.
6. O tratamento da gua satisfatrio.
7. O tratamento envolve vrios processos e a adio de cloro e flor.
-
35
Por meio das idias centrais contidas nos quadros descritos, pode-se ver
que, de maneira geral, os delegados tm uma preocupao com a preservao
ambiental, com o tratamento e o uso racional da gua, estabelecem relao positiva
entre a qualidade da gua e a sade da populao, mas no vem esse assunto como
prioridade do governo.
No intuito de melhor apresentar os discursos, optou-se por agrup-los,
segundo a idia central e o segmento que o delegado representa: gestor/prestador,
trabalhador de sade e usurio dos servios de sade.
Das ideias centrais relativas pergunta 1, surgiram os seguintes DSC,
provenientes dos 72 gestores/prestadores de servios de sade, dos 91 trabalhadores
de sade e dos 147 usurios, os quais encontram-se no Quadro 4:
Quadro 4. Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos delegados 13
Conferncia Nacional de Sade acerca da importncia da gua para a sade e a
qualidade de vida. Brasil, 2007.
Ideia Central 1
A gua essencial a todos os seres vivos.
DSC (1) Gestor/Prestador
A importncia da gua indiscutvel. gua vida e alimento, indispensvel para a
vida humana e toda biodiversidade. Todo ser vivo depende deste lquido to valioso,
de importncia salutar e vital. importante como qualidade de vida, principalmente na
medida em que podemos sobreviver vrios dias sem comer, mas no sem gua.
responsvel por grande percentual da constituio corprea (nosso corpo constitudo
de 70% dela), responsvel por termo-regulao, hidratao, meio de conduo de
substncias; auxlio na higiene corporal e ambiental; promove o desenvolvimento de
plantas, influencia na regulao da temperatura do ambiente no planeta; promove
energia hidroeltrica. Por esta razo ela no pode faltar.
DSC (1) Trabalhador de sade
gua fundamental para a vida humana, sem ela no somos ningum, no haveria
-
36
vida no planeta. Nosso corpo tem 70% de gua; no conseguimos sobreviver sem gua.
O funcionamento dos nossos rgos depende muito da gua, boa para a nossa pele e
rins, para o equilbrio eletroltico do nosso organismo. Alm da questo fisiolgica,
importante para a higiene corporal, alimentao, hidratao, sendo sempre necessria a
sua reposio. Podemos passar o dia sem comer, mas no podemos ficar sem beber
gua, se isso acontece, ficamos totalmente desidratados e no resistimos. Em caso de
gripe e resfriado a gua considerada o melhor remdio. Sem gua no possvel se
ter sade, pois no h condies de boa higiene, consequentemente, as doenas se
disseminam muito mais, por isso temos que reivindicar o uso da gua. um elemento
bsico que favorece o funcionamento de diversos setores: economia, lazer, uso e fluxo
comercial, regula o equilbrio no ecossistema. A gua o bem maior da humanidade.
So poucas linhas para falar da importncia da gua.
DSC (1) Usurio
A gua essencial, como o ar que respiramos. Sem dvida, vital para qualquer
espcie, pois atravs da gua que flora a vida e a prova disso que a Terra coberta na
maioria por este lquido maravilhoso. Sem ela no h sade, no h desenvolvimento,
no h crescimento. indispensvel manuteno da vida humana e outras formas de
vida, pois somos 70% de gua. da gua que vem uma srie de outras substncias que
so essenciais ao metabolismo celular e, conseqentemente, tecidos, rgos e sistemas
orgnicos, alm de hidratar e evitar disfunes renais graves e bitos decorrentes. Ela
quem nos fortalece, energizando-nos, dando suporte ao funcionamento saudvel do
nosso corpo.
Ideia Central 2
A gua tratada e de boa qualidade contribui para a sade e a qualidade de vida da
populao.
DSC (2) Gestor/Prestador
Nenhum ser vivo sobrevive sem gua, mas a gua para consumo humano deve ter
qualidade atravs de um tratamento correto. Da a importncia do saneamento bsico, o
que se traduz na melhoria da qualidade de vida de todos, alm de uma significativa
-
37
economia para o governo, uma vez que, para trs reais aplicados em saneamento, so
economizados quinze reais com sade e atendimento hospitalar. O que o Estado deve
ter como poltica o disciplinamento na oferta da gua de qualidade a todos os
cidados. gua de boa qualidade implica em melhor qualidade de sade do povo,
evitando mortes em crianas e adultos, evitando assim vrios tipos de doenas, com
maior nfase mortalidade infantil. A gua pode trazer malefcios para sade se no
chega ao consumo humano com a qualidade devida. Como sabemos veculo de
transmisso de agravos. principal fonte de contaminao. O descaso com o
tratamento e a fiscalizao da gua muito grande nos municpios pequenos. Acredito
que o Vigigua deveria ser ampliado para todo o Brasil.
DSC (2) Trabalhador de sade
de vital importncia o ser humano consumir gua de boa qualidade, pois a
qualidade da gua que justifica a sade da populao. A gua por ser indispensvel
precisa ser limpa e bem tratada, do contrrio, podemos ter srios riscos, como por
exemplo, um vrus da hepatite. Dependendo de como ela tratada esta pode tornar-se
meio e veculo de propagao de vrias doenas e causar srios danos para a sade
individual e social. Com um fornecimento de gua de boa qualidade podemos evitar
uma srie de problemas e agravos sade, como diarrias, verminoses ou outras
doenas com transmisso hdrica. A gua potvel necessria para nossa sade,
todavia, no est chegando lmpida para o nosso consumo. importante garantir gua
para todos e de boa qualidade, bem como esclarecer s pessoas os cuidados necessrios
para se ter uma gua limpa e saudvel. Elas deveriam cuidar melhor, deixando mais
propcio para a sade.
DSC (2) Usurio
gua sinnimo de vida e a qualidade da gua reflete na qualidade de vida, na sade.
Poderamos dizer metaforicamente: somos, biologicamente, a gua que tomamos.
Isto posto, de vital importncia o ser humano consumir gua de boa qualidade. gua
e sade tambm esto intimamente relacionados, uma vez que muitas doenas so
transmitidas atravs da ingesto da gua contaminada. Ao mesmo tempo que
essencial para a manuteno dos processos vitais, pode veicular agravos importantes
-
38
como clera, diarrias, febre tifide, etc. Ela evita e previne doenas, se for tratada.
Indispensvel ao bom funcionamento do organismo, a gua de boa qualidade
regulador trmico e ajuda a eliminar impurezas. Sei que hoje o problema da gua
muito difcil e sei que todos juntos teremos que nos unir e lutar para garantir uma gua
saudvel.
Ideia Central 3
A populao precisa preservar a gua.
DSC (3) Gestor/Prestador
A gua essencial vida e devemos preserv-la. um recurso natural em processo
de escassez, se no tomarem medidas, poder ser bem difcil o futuro. Devemos ter a
conscincia de sua importncia, evitando o desperdcio. Devemos conscientizar a
populao quanto economia da gua, h necessidade de maior orientao para
manuseio da gua, e de penalidades para o desrespeito sua utilizao. Precisamos
trabalhar mais esse assunto com a populao. O desperdcio que feito pelo usurio
torna-se preocupante. Continuando a seguir neste ritmo, dentro de alguns anos o preo
de um copo d'gua ser igual ao de um carro popular. Tenho conscincia disso e me
preocupa a forma como o ser humano lida com esse precioso bem.
DSC (3) Trabalhador de sade
A gua um bem natural que deve ser respeitado para ser bem utilizado. essencial
para a vida, para a natureza. Diante dos acontecimentos presentes, de poluio em
massa, o que se percebe que este recurso vem sendo desperdiado sem critrios e a
cada instante a gua est ficando cada vez mais escassa, principalmente para o
consumo humano. muito importante procurar solues para esses problemas,
pensando no nosso futuro. Como um bem da humanidade e pode estar prximo do
seu fim, necessrio a preservao. Temos uma responsabilidade muito grande na
preservao de nossas matas, rios, lagoas, audes, barragens e mananciais. Se no
cuidarmos dos mananciais teremos muitos problemas, certamente, mas no h uma
conscientizao da populao sobre o risco de ficarmos sem gua, s se percebe
quando falta. Muito tem falado sobre a gua, muito tem divulgado sobre a importncia,
-
39
mas a conscientizao em forma de atos, cad? um bem importantssimo e precisa
ser amplamente discutido em escolas, estabelecimentos de sade, principalmente em
relao ao futuro. No se compreende j que essencial e indispensvel, por que tanto
descaso.
DSC (3) Usurio
gua potvel e de qualidade um bem que se torna muito valioso e cada vez mais
escasso. Temos muito desperdcio e falta de informao sobre o assunto de gua
potvel. As geraes futuras vo sofrer, as fontes j esto diminuindo devido queima
das florestas. Num futuro bem prximo, ns ficaremos sem gua, por haver tanto
desperdcio por pessoas incompreensveis. Precisamos promover muitas pesquisas no
sentido de propiciar gua no estado necessrio vida, encontrando meios de purificar,
dessalinizar e preserv-la utilizvel. Se a gente no se tornar um fiscal permanente da
nossa gua, vamos sofrer muito no futuro. Cuidar desse precioso lquido um desafio
para todos ns. Salvemos nossas guas, salvemos nosso planeta. Atualmente no h
bons sinais, o homem no est entendendo. Por qu?
Ideia Central 4
A gua no uma mercadoria, ddiva da natureza, devendo ser direito de todos
DSC (4) Gestor/Prestador
A populao deveria ter acesso gratuito gua prpria para o consumo humano. gua
potvel, clorada e fluorada. Deve ser um direito universal. Infelizmente, ainda existem
muitas cidades e localidades que ainda no tm esse acesso e oferta desse direito,
muitas famlias ainda no tm acesso gua. Devemos lutar para que seja de
propriedade pblica, que no haja preo e dono. Os governantes em todo o pas devem
praticar polticas voltadas para a questo da gua em nosso planeta.
DSC (4) Usurio
A gua deve ser entendida como um bem pblico onde todos devem ter acesso de
-
40
forma eqitativa, e no apenas quem tem poder aquisitivo melhor. A gua, enquanto
elemento indispensvel para produo e reproduo da vida humana, tem sido utilizada
como mercadoria, inclusive sob o discurso do cuidado sade. Embora seja a matria
majoritria na composio do organismo humano, a gua est sendo negada para o
consumo humano em boa parte do planeta, especialmente nas naes que compem a
periferia do capital. Por uma questo de tica devemos respeitar esse bem que a
natureza nos oferece e defender o direito de todos os seres vivos terem acesso a ela.
Os governos e os donos de empresas que trabalham com a gua esqueceram que a gua
indispensvel para a vida das pessoas e esto fazendo dela a maior fonte de renda. Se
voc tiver dinheiro para comprar gua, vive melhor, se no, fica arriscado. A gua o
bem mais precioso que Deus nos deu e Deus no deixou a gua para o ser humano
viver venda.
Ideia Central 5
Apesar da importncia da gua para a sade e a qualidade de vida das pessoas, esse
assunto no prioridade do governo.
DSC (5) Usurio
Apesar da importncia da gua para a sade e qualidade de vida, ainda no
prioridade dos governos municipais e estaduais. Muitas comunidades do interior ainda
sofrem com a falta d'gua potvel. Enquanto Sul e Sudeste tm enchentes, a regio
seca est se desgastando. A mdia mostra gado morrendo. Isto afeta desde o empresrio
at o empregado. Devem existir programas federais e estaduais. O governo deveria
tratar com mais respeito a questo da gua, cavando poos, fazendo audes e cuidando.
Hoje h um descaso. A gua indispensvel para a populao e a vida humana, mas
uma gua de qualidade, essa o governo no oferece e pagamos caro. Governantes!
Olhem para esta questo da GUA com carinho! gua sem qualidade! No d!
-
41
Ideia Central 6
A gua deve ser fluoretada para prevenir a crie dentria
DSC (6) Trabalhador de sade
Considero de fundamental importncia a adio de flor na gua de abastecimento.
a forma mais barata e de alcance do flor na preveno da crie dentria. Previne cerca
de 60% das leses cariognicas. Pela presena do flor, a gua muito importante no
combate s cries, de uma forma universal a toda a populao, com contribuio
histrica na reduo de cries no Brasil.
DSC (6) Usurio
A gua, acrescido o flor, previne a crie.
Das ideias centrais relativas pergunta 2, surgiram os seguintes DSC,
provenientes dos 72 gestores/prestadores de servios de sade, dos 91 trabalhadores
de sade e dos 147 usurios, expostos no Quadro 5:
Quadro 5. Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos delegados 13
Conferncia Nacional de Sade acerca do papel do Estado na garantia do acesso
gua. Brasil, 2007.
Ideia Central 1
Polticas direcionadas para a preservao do meio ambiente e o uso racional da gua.
DSC (1) Gestor/Prestador
Em primeiro lugar, lanar campanhas de conscientizao da sociedade, no sentido
de preservar, economizar e respeitar este bem, que coletivo e passvel de faltar ou
ser racionado, se no fizermos bom uso dele. Editar leis a serem cumpridas,
incentivando o uso racional da gua. Implementar poltica pblica para proteo das
nascentes e controle mais efetivo dos resduos industrializados antes de lanar na
gua. Investir em pesquisas, para preservao do meio-ambiente. Polticas pblicas
-
42
de preservao ambiental rigorosas e educativas permanentes.
DSC (1) Trabalhador de sade
Polticas de governo que conscientizem a populao sobre sua importncia e o uso
racional adequado e sobre tratamento de esgotos despejados em nossos rios.
Preservar as fontes, os mananciais e nascentes, cuidar do meio ambiente antes de
tudo, para garantir gua s futuras e atuais populaes. Distribuir informao sobre a
situao da gua e educar as pessoas a respeito do desperdcio de gua. Punir com
seriedade. Proibir o desmatamento e as queimadas e plantar mais rvores.
Desenvolver a mdio e longo prazo programas de educao permanente para os
consumidores. Garantir a sustentabilidade ambiental e humana em outro modelo de
desenvolvimento.
DSC (1) Usurio
Em primeiro lugar, garantir a preservao da gua. Ter uma poltica ambiental
firme. No deixar os interesses econmicos tomarem conta da poltica ambiental.
Incentivar e promover o uso racional da gua; exigir das empresas e grandes usurios
tratamento da gua utilizada para devolv-la limpa natureza. Promover leis que
incentivem a preservao. Efetivar uma poltica pblica de defesa do meio ambiente,
investir na agro-ecologia, defesa e conservao das nascentes, coibir a perfurao de
poos artesianos privados. Projetos e programas voltados conscientizao da
sociedade consumidora de recursos hdricos, haja vista o nvel preocupante de
desperdcio do bem e uma projeo desastrosa de racionamento de gua em 50 anos.
Investir maciamente no trabalho de educao em sade ambiental desde a pr-
escola, para que haja conscientizao das comunidades no sentido de se
considerarem co-responsveis. A educao ambiental deveria fazer parte da grade
curricular nas escolas para que nossas crianas aprendam a respeitar a natureza e
saber utilizar a gua com controle e respeito que ela merece. No s o Estado, nem
os governos, mas sim todos ns devemos preservar, racionar e valorizar este produto
to essencial para nossa sade.
-
43
Ideia Central 2
Polticas voltadas para a descoberta de fontes alternativas de abastecimento dgua.
DSC (2) Gestor/Prestador
Investir na formao de novas fontes de recursos hdricos, buscando alternativas de
fontes d'gua (exemplo: dessalinizao da gua.), ampliar pesquisas de novos
mananciais; incluir o e ensinar as pessoas a captao e armazenamento da gua de
chuva. Uma poltica voltada para isto.
DSC (2) Trabalhador de sade
Ns sabemos que, quando h inverno se perde muita gua. Como soluo, seria
construir reservatrios e procurar meios de reaproveitar as guas dos esgotos, mar,
rios poludos, tornando-as potveis novamente. Pensar projetos de aproveitamento de
fluxo de gua natural. Deveriam priorizar recursos e investimentos nesse setor. As
possibilidades so inmeras, desde construo de adutoras dessalinizao da gua.
O que falta ao incisiva sobre a questo.
DSC (2) Usurio
Deve-se desenvolver aes que garantam a permanncia da gua j existente em
nosso solo. Deveria, no planejamento, destinar uma parte do dinheiro para o
aproveitamento do lenol fretico. Gerir melhor as fontes de gua existentes, criando
mecanismos fiscalizadores mais srios e punitivos. Nas regies de mais dificuldade
deveriam fazer estudos para possibilitar gua ou captao da gua. Transposies dos
grandes rios at tentar dessalinizar a gua do mar. Procurar alternativas para o uso da
gua em segmentos onde a gua no precisa ser potvel. Muitos reservatrios com
tratamento para aproveitar as guas das chuvas, porque quando chove tem muita
gua.
-
44
Ideia Central 3
Polticas pblicas voltadas para a no mercantilizao da gua.
DSC (3) Gestor/Prestador
Proporcionar o acesso gua e encar-la como bem pblico. No mercantilizar.
Entendo que gua deveria ser fornecida gratuitamente ou com tarifas mais baratas,
taxas racionais, proporcionais ao tipo de uso e volume. Todos precisam desse bem
to precioso que a gua, mas para alguns de nossos estados brasileiros, gua luxo.
Sendo assim, o certo no privatizar o fornecimento, mas, criar um racionamento de
gasto.
DSC (3) Usurio
Primeiro, garanti-la enquanto patrimnio da humanidade, negando a possibilidade
de propriedade sobre ela, seja pelos estados nacionais e principalmente pelo capital
privado. Cabe aos estados nacionais a governana sobre o acesso a este patrimnio.
Pensar mais como o povo pobre sofre e baixar os impostos. Oferecer gua a baixo
custo. Baratear tarifas, tendo a gua como bem pblico e no produto capitalizado e
privatizado. Que gua no fosse paga e sim doada para toda a comunidade.
Ideia Central 4
Polticas pblicas voltadas para a universalizao do acesso.
DSC (4) Gestor/Prestador
Implementar polticas pblicas de saneamento que priorizem a distribuio
igualitria e com qualidade para todos. Instalao de estao: central de
abastecimento de gua e esgoto em todas as reas habitadas, universalizando o
acesso a todos os seres humanos porque se trata de um direito. Investir com
prioridade nos locais que sofrem com a seca. Depois, avaliar a implementao desse
financiamento junto ao controle social. Poderia tambm subsidiar o custo e fiscalizar
melhor os projetos j existentes nos municpios. A escassez de gua muito sria,
portanto necessita de um maior empenho dos governantes para esse srio problema
-
45
de sade pblica. Falta vontade poltica para a resoluo desse problema. Lembrar de
quem coloca no poder, pois a inteno se ter condies de vida melhor.
COMPROMISSO!
DSC (4) Trabalhador de sade
Efetivar polticas pblicas para que toda populao tenha acesso gua tratada e
gerenciar melhor o abastecimento desta gua e sua qualidade. Investir em bacias de
captao, estaes de tratamento e ampliao da rede de distribuio. Acabar com a
"indstria da seca" para melhorar a qualidade de vida e dar vida saudvel aos seus
usurios. A gua um bem universal. Todo cidado tem direito gua. Todos os
esforos de nossos governantes deveriam apontar para o acesso irrestrito a esse bem
maior, implantando programas para dar gua potvel a todos. Melhorando o acesso,
facilitando o abastecimento, principalmente no interior de muitas cidades que no
contam com gua potvel. Investir mais em obras hdricas e no tratamento da gua
oferecida populao, garantir estaes de tratamento de gua para manter e
promover a sade. Elaborar projetos para garantir a todos esse lquido precioso.
Dinheiro tem, s falta boa vontade dos governantes. Os governos tm obrigao de
investir em gua tratada e canalizar este produto para todo vivente, mas,
infelizmente, estamos muito distantes desta realidade.
DSC (4) Usurio
A obrigao de todos os governantes se comprometer em atender a demanda nas
necessidades prioritrias de todas as pessoas independente de classes sociais,
principalmente o interior do Estado, onde a escassez grande. Priorizar como
poltica pblica, fazendo o abastecimento de forma igualitria. Investir mais na infra-
estrutura dos postos de distribuio de gua., alm da construo de audes, represas,
barragens, entre outros. Criar mais reservatrios, fazer mais poos profundos nas
comunidades. Criar o plano: "gua para Todos". A igualdade humana seria o ponto
principal, porque a desigualdade muito grande e com isto as pessoas de classe
mdia e classe baixa sofrem as consequncias. Deveria haver um programa do
governo para garantir gua em garrafes (mineral) para as pessoas carentes. D-se
remdio nos postos, por que no gua pura para prevenir doenas? Alm disso, ser
-
46
menos burocrticos nas aprovaes de projetos relacionados GUA e
FISCALIZAR DE PERTO os gastos do DINHEIRO LIBERADO para os gastos com
os projetos. Penso que eles deveriam ser mais interessados, pois acredito que o poder
de resolver est em suas mos. Falta vontade poltica.
Ideia Central 5
Investir no tratamento da gua
DSC (5) Gestor/Prestador
Desenvolver polticas pblicas comprometidas com a qualidade e a melhoria do
tratamento. Elaborar projetos e disponibilizar recursos para que se trate a gua em
regies que tem facilidade de gua e levar gua tratada para os locais onde difcil a
gua. Projetos para purificao das guas contaminadas e estudos de adequao
qualidade para uso humano, animal e vegetal. Promover o tratamento da gua para
toda a populao. gua (limpa, potvel, fluoretada) um direito de todos, para a
preservao da sade.
Ideia Central 6
A gua uma questo multi e interdisciplinar e deve ter uma discusso coletiva
DSC (6) Gestor/Prestador
Difcil dizer o que fazer, pois no conheo esse nvel/tema de gesto (gua), mas
acho que, atualmente, qualquer tema de abrangncia coletiva deve ter tambm uma
discusso coletiva. Acho que a gua uma questo multi e interdisciplinar e que
deve ter enfoque em todos os eixos governamentais.
Ideia Central 7
Fiscalizar as empresas responsveis pela distribuio e tratamento da gua e
monitorar a qualidade da gua.
DSC (7) Trabalhador de sade
Acredito que devam aperfeioar e fiscalizar as empresas responsveis pela
-
47
distribuio e tratamento da gua. A empresa que cuida da gua no nosso Estado tem
obrigao de fornecer gua de boa qualidade, mas no est fornecendo.
DSC (7) Usurio
Monitorar a qualidade da gua. Nos casos em que ela no est adequada, trat-la.
Quando necessrio possvel, a gua pode ser um canal de preveno.
Ideia Central 8
Cumprir a legislao vigente e criar novas leis que favoream o acesso gua
tratada.
DSC (8) Usurio
Ter respeito pelo povo e cumprir a constituio. Aprovar leis no Congresso,
fiscalizar, aumentar a renda, dispensar mais dinheiro para essa questo. Projeto de
Lei obrigando os municpios a garantir gua tratada. Projetos de Lei que dem esta
garantia a todo cidado. Cumprir a recomendao da Portaria 518, assumindo suas
responsabilidades de gestores. Respeitando o cdigo do consumidor. Alguns passos
j esto sendo adotados como a criao da Agncia Nacional da gua.
Da mesma forma, das ideias centrais relativas pergunta 3, surgiram os
seguintes DSC, provenientes dos 72 gestores/prestadores de servios de sade, dos
91 trabalhadores de sade e dos 147 usurios, expostos no Quadro 6:
Quadro 6. Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos delegados 13
Conferncia Nacional de Sade, acerca do tratamento da gua. Brasil, 2007.
Ideia Central 1
O tratamento da gua fundamental para a sade e a qualidade de vida.
DSC (1) Gestor/Prestador
gua tratada sade e qualidade de vida a todos. Nos primrdios, no havia
-
48
necessidade de tratamento de gua para consumo, mas por causa de depredao do
prprio homem, hoje h necessidade de tratamento. Todos os municpios deveriam
ter estaes de tratamento porque garante populao uma gua saudvel, livre de
micrbios e doenas. preciso que a gua continue sendo tratada com muita
seriedade.
DSC (1) Trabalhador de sade
Uma gua de qualidade fundamental para a sade da populao. a forma de
diminuir as doenas causadas por gua contaminada. Por ex: diarrias, verminoses,
etc. um processo fundamental para garantir a potabilidade da gua. A gua para ser
consumida precisa passar por um tratamento. No toda gua que se encontra "in
natura" que serve para ser consumida. H muitas cidades em que no h tratamento
de gua adequado, o que acaba gerando um aumento do nmero de doenas. A gua
precisa ser tratada, mas com responsabilidade. preciso a participao de todos. A
famlia que bebe gua trata a sua gua; o governo tratando os centros de
abastecimento e juntos, fazendo valer o direito de todos: gua tratada.
DSC (1) Usurio
O tratamento de gua indispensvel para a sade humana, pois em sua forma
primitiva a gua contm microrganismos nocivos sade que causam uma srie de
doenas. Deve ser o mais eficiente possvel para garantir qualidade, visto que as
guas esto cada vez mais poludas. A qualidade da gua consumida pode definir,
junto a outros fatores, a qualidade de vida das pessoas. gua tratada um ato de
cidadania que garante uma vida mais digna e saudvel. fundamental que os
municpios faam tratamento de 100% da gua. O Estado (e a comunidade) deve
garantir isso. A gua tem que ser bem tratada para a melhoria da sade do povo
brasileiro. A gua sem ser tratada no serve para consumir, prejudica a sade. A gua
tratada a gente bebe sem susto, sem medo.
-
49
Ideia Central 2
O tratamento da gua no satisfatrio.
DSC (2) Gestor/Prestador
Atualmente, o tratamento da gua apresenta srias deficincias em muitos lugares
do pas. Sabemos que nem toda gua que chega s residncias esto tratadas
corretamente para o consumo humano, clorada e fluorada como orientado pelo
Ministrio da Sade. Considero que temos conhecimento e tecnologia maiores do
que a sua utilizao. Os municpios possuem autarquias responsveis pelo
abastecimento da gua e ns dependemos do empenho destas para a distribuio da
gua com qualidade. Muitos dispem de sistema de tratamento de gua precrio e at
mesmo em alguns lugares o mesmo inexiste totalmente. Em determinados locais,
ficam a desejar por desconhecimento e condies dos consumidores, o que acarreta
um risco ao usurio. muito baixo o ndice de residncias com tratamento adequado.
Temos muito que melhorar.
DSC (2) Trabalhador de sade
Infelizmente a grande parte da populao no tem acesso a uma gua pura para
consumir. Em muitos lugares, o tratamento da gua deixa muito a desejar. A
realizao de coleta e exames das guas consumidas nos mostram vrios tipos de
problemas. Ainda existem esgotos a cu aberto, cidades sem saneamento bsico,
poos no tratados onde famlias utilizam a gua suja e contaminada para higiene e
alimentao o que causa vrias doenas levando s vezes at morte. O tratamento
da gua ainda muito negligenciado, principalmente em pequenos municpios que
tm estaes de tratamento obsoletas e que no acompanharam o crescimento
demogrfico local, sendo incapazes de atender demanda de forma satisfatria.
Nossa gua no contm a quantidade de flor necessrio para o nosso consumo, tem
cloro demais e flor - que previne as cries - nada! Deveria ser mais rigoroso o
tratamento da gua, pois ela pssima, com gosto muito ruim, cor de ferrugem e
barro escuro. Em minha casa, compramos gua para beber, a falta de confiana
geral.
-
50
DSC (2) Usurio
O tratamento da gua muito falho, precisa ser melhorado. Tem muito a desejar,
ainda temos muito lugar com poo achando que melhor e termina sendo prejudicial
e no vejo meu Estado e meu governo preocupado com isto. E assim tem tanta gente
doente dando mais despesas ao Estado, nos hospitais. gua no tratada afeta:
turismo, sade pblica, infra-estrutura das cidades. Na minha cidade, s colocam
cloro, quando colocam. Alegam que a sujeira da caixa d'gua e canos. s vezes
abrimos as torneiras e sai gua da cor de leite e com gosto ruim. Sim! A gua tem
dias que est com o gosto de ferrugem e amarelada, como se viesse suja. O
tratamento de hoje pior que o de ontem.
Ideia Central 3
A populao no est bem informada sobre o tratamento e a qualidade da gua que
consome.
DSC (3) Trabalhador de sade
A gua tem que ser limpa para o consumo humano. Infelizmente no domino esse
assunto, no entendo o mtodo de tratamento, no sei muito a respeito. Gostaria que
fosse mais aberto comunidade, no nos deixam clareza sobre a qualidade dela. Que
fosse mais transparente e acessvel com relao ao flor e ao cloro.
DSC (3) Usurio
No possuo elementos tcnicos para discutir o tratamento, sinceramente, no sei
como feito, no nosso Estado. Ns usurios no temos clareza como se trata nossa
gua, no ensinam limpeza da caixa d'gua e nem fazem nos setores do executivo,
escolas e creches, etc. H necessidade de buscar e difundir com mais nfase as
solues encontradas para usar e tratar a gua. A empresa de abastecimento e o
governo precisam esclarecer a populao sobre os produtos que esto sendo
utilizados. A partir da, a populao vai se interessar mais.
-
51
Ideia Central 4
A oferta de gua tratada responsabilidade do governo, mas est havendo descaso.
DSC (4) Gestor/Prestador
Todos deveriam ter por direito o tratamento da gua, mas sabemos que isso no
acontece com os brasileiros. H um grande descaso dos governantes em ofertar para
sua populao gua tratada de qualidade, que assim como o po, no deve faltar na
mesa de cada cidado. O tratamento da gua distribuda para a populao uma
obrigao garantida por Lei Federal para os governos municipais (SAAE) ou
estaduais (companhias). Assim como o governo est levando a luz para todos os
locais bem difceis, assim tambm deveria levar a gua e destino dos dejetos. Os
governos sempre dizem que tratar a gua muito caro. Acredito que o preo das
tarifas faz com que as pessoas procurem outras formas de abastecimento. Est
havendo displicncia das autoridades. importante que o Estado no s fornea
gua, mas que o mesmo se responsabilize pelo tratamento da mesma. Sendo um bem
vital, direito do cidado, ento passa a ser dever do Estado.
DSC (4) Usurio
Sei que este servio deve ser obrigatoriedade estatal e deve ser feito segundo as
normas da OMS. Gostaria que o governo investisse com mais carinho no tratamento,
que os rgos responsveis colocassem pessoas mais responsveis para cuidar."
Ideia Central 5
Falta monitoramento e controle, no tratamento da gua.
DSC (5) Gestor/Prestador
previsto no SUS, a fiscalizao e promoo de tratamento das guas, a quantidade
de dosagem certa de ons para o sistema de abastecimento no tratamento das guas.
gua para consumo humano tem que ser tratada e os teores de cloro residual e de
flor tm que ser respeitados. O tratamento deve obedecer os padres de consumo e
segurana e tem que ser monitorado constantemente, no s os reservatrios, mas
-
52
sim na fonte das guas (captao). No h monitoramento e fiscalizao efetiva do
Estado. Acho que o Estado/governo no d conta de monitorar a qualidade. Vejamos
o exemplo da