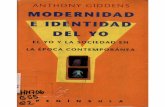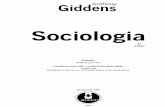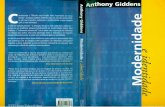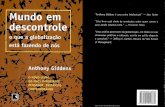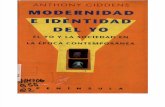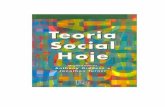UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ LORENA …siaibib01.univali.br/pdf/Lorena Macedo Rafael...
Transcript of UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ LORENA …siaibib01.univali.br/pdf/Lorena Macedo Rafael...

着诲 팡睄 睆�睆̮̮̮ ″UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ LORENA MACEDO RAFAEL DANTAS
A DIALÉTICA DA AVENTURA E DO RISCO NA PRÁTICA DO RAFTING:
Entre a reprodução e a criação da existência humana no turismo de aventura
Balneário Camboriú
2008

1
LORENA MACEDO RAFAEL DANTAS
A DIALÉTICA DA AVENTURA E DO RISCO NA PRÁTICA DO RAFTING:
Entre a reprodução e a criação da existência humana no turismo de aventura
Dissertação apresentada como requisito final para a obtenção do título de Mestre em Turismo e Hotelaria ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria, da Universidade do Vale do Itajaí, sob orientação do Prof. Dr. Paulo dos Santos Pires.
Balneário Camboriú
2008

2
LORENA MACEDO RAFAEL DANTAS
“A DIALÉTICA DA AVENTURA E DO RISCO NA PRÁTICA DO RAFTING:
Entre a reprodução e a criação da existência humana no turismo de aventura”
Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do título de Mestre em
Turismo e Hotelaria e aprovada pelo Curso de Mestrado Acadêmico em Turismo e
Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, Campus Balneário Camboriú.
Área de Concentração: Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria
Balneário Camboriú, 28 de março de 2008
________________________________________ Prof. Dr. Paulo dos Santos Pires – UNIVALI
Orientador
________________________________________________
Profa. Dra. Regina Célia Linhares Hostins – UNIVALI Membro
__________________________________________________ Profa. Dra. Raquel Maria Fontes do Amaral Pereira – UNIVALI
Membro
_________________________________________ Profa. Dra. Mary Jane Paris Spink – PUC- São Paulo
Membro

3
Às minhas avós, Florisbela e Alice (in memorian), e à
minha mãe, Eliene, grandes referências da minha
vida, mulheres fortes, guerreiras, crentes, nordestinas!
Ao meu pai, Carlos Alberto, homem de muito amor,
lealdade e alegria. Pai Coração!
Aos meus irmãos, Luana, Lucas e Luciano, amores
eternos. Laços Imortais!
Ao meu namorado, Rafael, companheiro dedicado,
pessoa de coragem e retidão. É uma Benção!

4
AGRADECIMENTOS
Ao pensar sobre todo esse caminho percorrido nesses dois anos, percebi que tenho
bons motivos para agradecer:
...À uma força Divina que me protege e me ilumina e que me faz crê no nosso poder
de renovação e criação.
...À minha família, pelo amor incondicional que me fortalece e me impulsiona, por
fazer de mim o que eu sou e por ser o motor da minha vida. Amo vocês!
...Ao Rafael, por me valorizar, apoiar e acompanhar, com muita cumplicidade,
sempre.
...Ao professor Paulo, orientador, por respeitar, confiar e incentivar o
desenvolvimento dessa pesquisa.
...À professora Regina, em especial, incentivadora e crítica do meu trabalho, que
com atenção, dedicação, paciência e amor me apontou os caminhos do pensamento
para o meu aperfeiçoamento intelectual.
...À professora Raquel, por auxiliar, com muita competência, o amadurecimento das
minhas idéias.
...À professora Mary Jane, pelas contribuições e advertências realizadas no exame
de qualificação e na defesa.
...Aos colegas de mestrado pela amizade e pela possibilidade de troca inteligente e
criativa. Em especial, à Daniela, Alessandra, Juliana, Elisiane, Rafaela e Zulamar.
...Aos professores e funcionários do mestrado, pelas reflexões e apoio.
...Às empresas Ativa Rafting e Aventuras – Base Vale do Itajaí e Alaya, por
autorizarem a realização das observações e das entrevistas com os turistas.
...À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela
bolsa de estudos que viabilizou a realização desse mestrado.
...Enfim, a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a concretização
desse sonho.
Obrigada de coração!

5
RESUMO
Considerando o avassalador desenvolvimento do turismo de aventura, a complexidade desse segmento turístico que envolve modalidades, práticas, tecnologias, motivações, símbolos, riscos e ambientes diversificados é que esse estudo visa a analisar os diferentes sentidos da aventura e do risco para os turistas de aventura que praticam o rafting nos municípios de Apiúna (SC) e Brotas (SP). A pesquisa configura-se como Dissertação de Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria e se caracteriza como qualitativa de caráter exploratória. Os instrumentos metodológicos para a coleta de dados centram-se na observação estruturada e na entrevista semi-estruturada com os turistas. Privilegia o indivíduo que pratica o rafting nos rios: Itajaí-Açú (Apiúna - SC) e Jacaré-Pepira (Brotas – SP) e suas significações e atitudes, por compreender que o entendimento do segmento do turismo de aventura pressupõe considerar a relação entre praticante, risco e aventura. A estratégia metodológica está orientada a partir das perspectivas histórico-cultural e lingüística e apoiou-se nas idéias de Anthony Giddens (1991; 1997; 2002; 2005), Ellen Meiksins Wood (1999), David Harvey (2002), Henri Lefebvre (1991), Karl Marx (1996; 1998), Mike Featherstone (1996; 1997), Nicolau Sevcenko (2003), Zygmunt Bauman (1999) e Ulrich Beck (2006) para a contextualização dos processos sociais que configuram a sociedade contemporânea e sua expressão na relação aventura-risco e nas abordagens de Mikhail Bakhtin (1995) e Mary Jane P. Spink (1999) para a compreensão da linguagem e da produção de sentidos na vida cotidiana. Toma-se a concepção dialética como orientação para a reflexão teórico-conceitual mediante a confrontação de diferentes idéias que se apresentam nos estudos do turismo de aventura, dada a complexidade inerente a este fenômeno. A análise da empiria se deu à luz do pensamento dialético, a partir da ênfase dos enunciados que sinalizam a contradição, a unidade, a mutação, o movimento e a história. A apreensão desses aspectos possibilitou a compreensão dos sentidos da aventura e do risco, atribuídos pelos turistas, como decorrentes do desenvolvimento da existência do indivíduo, permeada ora pelos valores de aceleração, de competitividade, de racionalização, de hedonismo e de consumismo, da sociedade contemporânea, ora por estímulos que fogem aos imperativos dessa realidade social, como a criatividade, a socialização e a sensibilidade. Tal dualidade evidenciou, portanto, um entrelaçamento entre a forma de dar sentido à aventura e ao risco, na prática do rafting, com a condição de existir e resistir do homem no mundo em que vive. Palavras-chave: Turismo; Aventura; Risco; Sentido; Rafting.

6
ABSTRACT
Considering the overwhelming development of adventure tourism, a complex tourism segment which involves a wide range of modalities, practices, technologies, motivations, symbols, risks and environments, this study seeks to analyze the different meanings of adventure and risk, for adventure tourists who practice rafting in the municipal districts of Apiúna (SC) and Brotas (SP). The research was carried out for a Master’s degree dissertation as part of the Postgraduate program in Tourism and Hotel Management, and is characterized as an exploratory study. The methodological tools used for the data collection were structured observation and semi-structured interviews with the tourists. The focus was individuals who practice rafting in the Itajaí-Açú (Apiúna - SC) and Jacaré-Pepira (Brotas – SP) rivers, and their meanings and attitudes, based on the idea that an understanding of the adventure tourism segment considers the relation between the tourist, risk and adventure. The methodological strategy is oriented towards the historical, cultural and linguistic perspectives, and is based on the ideas of Athony Giddens (1991; 1997; 2002; 2005), Ellen Meiksins Wood (1999), David Harvey (2002), Henri Lefebvre (1991), Karl Marx (1996; 1998), Mike Featherstone (1996; 1997), Nicolau Sevcenko (2003), Zygmunt Bauman (1999) and Ulrich Beck (2006) for the contextualization of the social processes that configure contemporary society and their expression in the relationship between adventure and risk. It also uses the approaches of Mikhail Bakhtin (1995) and Mary Jane P. Spink (1999) for the understanding of the language and the production of meanings in daily life. It takes the dialectic concept as an orientation for theoretical-conceptual reflection, through the juxtaposition of different ideas which are presented in the studies on adventure tourism, given the inherent complexity of this phenomenon. The analysis of the data emerged from the dialectic thought, based on the emphasis of the assumptions which signal contradiction, unity and mutation, movement and history. The aprehension of these aspects enabled an understanding of the meanings of adventure and risk, attributed by the tourists, as arising from the development of the existence of the individual, sometimes permeated by values of acceleration, competitiveness, rationalization, hedonism and consumerism of contemporary society, and sometimes by stimuli which are outside the imperatives of this social reality, such as creativity, socialization and awareness. This duality therefore revealed an interlinking between the form in which meaning is attributed to the adventure, and the risk involved in the activity of rafting, with the contradiction of man’s existing and resisting in the world in which he lives. Key words: Tourism; Adventure; Risk; Meaning; Rafting.

7
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Quadro teórico-conceitual-metodológico da pesquisa ]]]]]]..
18
Figura 2: Imagem da planilha – Corpus Vida cotidiana ..................................... 22
Figura 3: Mutabilidade da Forma Lingüística ]]]]]]]]]]]]]].. 54
Figura 4: Componentes das Análises do Risco ]]]]]]]]]]]]].. 65
Figura 5: A experiência da aventura ]]]]]]]]]..]]]]]]]].. 82
Figura 6: A viagem de aventura para a ATTA ]]]]]]]].]]]]]... 83
Figura 7: Espectro das atividades de turismo ]]]]]]]]]]]]]..... 87
Figura 8: Conjunto de Normas do Turismo de Aventura ]]]]]]]]]... 100
Figura 9: Características dos empresários do turismo de aventura no Brasil ... 103
Figura 10: Rafting em Brotas – SP .................................................................... 108
Figura 11: Rafting em Apiúna – SC ................................................................... 108
Figura 12: Quadro Analítico da Pesquisa .......................................................... 144

8
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO................................................................................................. 10
1.1 Problema de pesquisa................................................................................... 12
1.2 Objetivos........................................................................................................ 15
1.3 Percurso do estudo....................................................................................... 16
1.4 Procedimentos metodológicos....................................................................... 18
1.4.1 Procedimentos de análise..................................................................... 21
2 SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA ................................................................. 24
2.1 Modernidade ou pós-modernidade? ............................................................. 25
2.2 Natureza dos conflitos contemporâneos ...................................................... 28
2.2.1 Ideologia do consumo ........................................................................... 28
2.2.2 Globalização e reflexividade ................................................................. 36
2.3 Conseqüências dos conflitos contemporâneos ............................................ 41
2.3.1 Modernidade ambivalente..................................................................... 41
2.3.2 Sociedade de risco ............................................................................... 43
3 AFINANDO SIGNIFICAÇÕES: Linguagem e produção de sentidos .......... 50
3.1 Perspectiva lingüística .................................................................................. 51
3.2 Produção de sentidos ................................................................................... 55
3.2.1 Palavra como signo social .................................................................... 55
3.2.2 Os Sentidos .......................................................................................... 56
4 SENTIDOS DO RISCO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA .................... 62
4.1 Risco: um enunciado cada vez mais disponível ........................................... 62
4.2 Os caminhos das análises dos riscos ........................................................... 64
4.3 As múltiplas faces do sentido do risco .......................................................... 69
4.4 A positividade do conceito de risco: aventurar-se ........................................ 73
5 SITUANDO O TURISMO DE AVENTURA: Versões e Contradições 77
5.1 Conflitos com as terminologias ..................................................................... 79
5.2 Interfaces com outros segmentos turísticos ................................................. 86
6 DIMENSÕES DO TURISMO DE AVENTURA ................................................ 89
6.1 O Turismo de aventura e o risco .................................................................. 89
6.2 A Diversidade ............................................................................................... 91
6.3 A Interação do turista com as práticas de aventura ..................................... 95

9
6.4. Mercado do turismo de aventura ................................................................. 98
6.4.1 Contexto brasileiro do turismo de aventura .......................................... 99
7 A DIALÉTICA DA AVENTURA E DO RISCO ................................................. 105
7.1 A vida cotidiana ............................................................................................ 109
7.2 Experiência da aventura e do risco .............................................................. 120
7.2.1 A preparação ........................................................................................ 120
7.2.2 A experiência em si .............................................................................. 128
7.3 Definições da aventura e do risco ................................................................ 134
8 A AVENTURA E O RISCO: Entre a reprodução e a criação da existência
humana .............................................................................................................. 143
8.1 A reprodução da sociedade contemporânea ................................................ 145
8.1.1 A aventura e o risco como fetiche ........................................................ 146
8.1.2 A aventura e o risco como catarse ....................................................... 148
8.2 A criação de uma nova existência humana .................................................. 150
8.2.1 A aventura e o risco como forma de criação de uma nova existência
humana ............................................................................................................... 151
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................
153
REFERÊNCIAS .................................................................................................. 158
APÊNDICES ...................................................................................................... 164
APÊNDICE A: Roteiro de observação ................................................................ 165
APÊNDICE B: Roteiro de entrevista ................................................................... 166
APÊNDICE C: Consentimento livre e esclarecido – entrevista........................... 167
APÊNDICE D: Consentimento livre e esclarecido – pesquisa documental e
observação estruturada ...................................................................................... 168

10
1 INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo se amalgamam a natureza, a tecnologia e o
desenvolvimento do capital, e tomam novos significados pensamentos filosóficos,
teorias científicas e identidades culturais sob as influências da globalização, da
aceleração tecnológica e da instabilidade da vida. Mundo onde a avassaladora
revolução tecnológica permeia os valores e as racionalidades, evidenciando um
tempo marcado pela contradição e hibridação.
Ao discutir a condição do mundo atual, Sevcenko (2001, p. 13) toma o loop da
montanha-russa como imagem e inspiração básica para compreender o que significa
estar exposto às forças naturais e históricas deflagradas pelas tecnologias
modernas. “Aprendemos os riscos implicados tanto em se arrogar o controle dessas
forças, quanto em deixar-se levar de modo apatetado e conformista por elas”. A
metáfora da montanha-russa presta-se bem para sinalizar algumas tendências
desse tempo, em especial para enfatizar o processo de aceleração contínua e suas
repercussões na vida cotidiana do indivíduo.
A aplicação dos conhecimentos científicos na criação de novas tecnologias
revela-se como força propulsora dessa cadeia acelerada de mudanças. Estreado
com o advento de novos recursos energéticos, como a eletricidade e os derivados
do petróleo, esse processo atinge o ápice no momento atual, com a revolução
microeletrônica e das comunicações por satélite e cabo de fibra óptica. Alcança-se o
século XXI, como quem experimenta a vertigem do loop (SEVCENKO, 2001).
Nota-se uma convergência desse sentimento perturbador com as abordagens
de David Harvey (2002). Este apresenta a separação das relações entre tempo e
espaço articulada com a revolução das tecnologias, como responsáveis pela
aceleração generalizada dos tempos, refletindo na ampliação da volatilidade e
efemeridade das modas, produtos, processos de trabalho, idéias, valores e práticas
estabelecidas.
Tais efeitos repercutiram em toda a sociedade. No domínio da produção de
mercadorias, por exemplo, a conseqüência foi a ênfase nos valores e virtudes da
instantaneidade e da descartabilidade. Na perspectiva das relações sociais tais
aspectos são anunciados pelo abandono dos valores, estilos de vida,
relacionamentos estáveis, apego às coisas, lugares, pessoas e modos de agir e ser
(HARVEY, 2002).

11
Percorrendo caminhos semelhantes, o tempo livre e o lazer são moldados,
entre outros aspectos, pela aceleração, efemeridade e instabilidade da vida
cotidiana. Sob essa conjuntura, questiona-se como o indivíduo constituinte deste
contexto social, que é obrigado a assumir diversos papéis concomitantemente e é
submetido às pressões diárias da produtividade, da velocidade e da qualidade, dá
sentido ao lazer?
Nos nossos dias, de acordo com Krippendorf (1989), as viagens são
formatadas e influenciadas pelo cotidiano. As pessoas viajam porque precisam se
desfazer temporariamente do fardo da rotina, a fim de estarem em condições
melhores quando retomá-la. Essa idéia do autor se relaciona, por sua vez, com a
monotonia do cotidiano, com a fria formalidade dos ambientes de escritórios e
fábricas, com a mecanização e regularização das atividades e com o
enfraquecimento das relações humanas que, analogicamente às peculiaridades da
aceleração da vida, tornam a sociedade atual mais complexa.
O caminho indicado por Krippendorf (1989) ao defender que as pessoas
buscam nas viagens a evasão, dado o afastamento do cotidiano, nos aproxima do
conceito de “novo turista” desenvolvido por Poon (1993), apresentado por
Swarbrooke et al (2003). O novo turista é visto agora como mais experiente, mais
independente, mais flexível, possuidor de novos valores e estilos de vida. Ademais,
atribui maior relevância aos resultados de suas férias, especialmente à singularidade
da experiência.
Nesta perspectiva, as mudanças ocorridas na sociedade e no sujeito
repercutem, circunstancialmente, no surgimento de novas demandas, em função da
necessidade de novas satisfações que proporcionem experiências personalizadas,
fortes e intensas. Tais satisfações, segundo Betrán (2003), buscadas pelos novos
consumidores contêm um componente de hedonismo, vitalismo e auto-realização
que produzem excitação.
Essa prerrogativa do lazer contemporâneo por experiências marcantes
encontra seu denominador comum no turismo de aventura, que através de práticas
de atividades de aventura proporciona o contato com a natureza e com o patrimônio
cultural e suscitam emoções como o êxtase e a adrenalina.
Dessa forma, este segmento turístico pode ser considerado como uma
resposta às atuais demandas, mas, sobretudo está relacionado com a realização de
atividades que se contrastam ou se aproximam do trabalho diário e da vida

12
cotidiana, pois na busca por viagens diferenciadas, por desafios, a “aventura” é
cobiçada na tentativa de descartar-se da rotina, de recarregar as energias, de aliviar
o estresse, de reencontrar a natureza, de retorno às origens, ou até mesmo como
um aperfeiçoamento1 das habilidades de flexibilidade, rapidez e dinamismo que o
mundo contemporâneo, instável e acelerado, exige.
1.1 Problema de pesquisa
Em face da conjuntura que conforma o quadro social onde se engendrou a
busca exacerbada por emoções intensas, notadamente visível no âmbito do turismo
de aventura, o presente estudo apresenta discussões acerca da interação entre o
homem contemporâneo e essas vivências.
Na prática das atividades de aventura, o corpo do turista experimenta desde
efeito de fadiga e de exaustão até sensações de prazer e alegria, advindos da
vivência no ambiente natural e do esforço físico deliberado (MARINHO, 2003). Esse
misto de experiências emocionais e corporais torna o fenômeno ainda mais
complexo. Nesse sentido, a busca por aventurar-se em perigosas corredeiras, ou
escalar grandes montanhas, ou pular de uma ponte amarrada em uma corda pode
relacionar-se a inúmeros fatores como o retorno às origens, a fuga do cotidiano, ou
até mesmo o aperfeiçoamento espiritual.
A complexidade própria de um mundo globalizado e instável reflete na
problemática da definição da natureza e da amplitude desse fenômeno turístico. A
abrangência desse universo é muito grande, haja vista as diversas modalidades,
práticas, tecnologias, motivações, símbolos, riscos e ambientes que os esportes ou
atividades de aventura envolvem. Como decorrência desses aspectos, são
conformados conflitos entre as terminologias adotadas acerca das práticas de
aventura realizadas e entre as conceituações apresentadas para esse segmento
turístico, que possui fortes interseções com outros nichos.
Apesar dessas aparentes indefinições, o turismo de aventura cresce a passos
largos no mercado nacional e internacional. A sua atratividade como atividade
recreacional e de lazer configura-se num importante fator para o desenvolvimento de
1 Vide programas de treinamento Outdoor que articulam as práticas de aventura com o aperfeiçoamento profissional. A exemplo cita-se o TEIMA, Treinamento Empresarial Integrado ao Meio Ambiente, realizado pela Ativa Rafting e Aventuras Ltda, com a atividade do Rafting. www.ativarafting.com.br/valedoitajai.

13
destinos turísticos no sentido de diferenciá-lo e valorá-lo. Por essa razão, e em
decorrência da contemporaneidade do fenômeno do “turismo de aventura” ressalta-
se a relevância de estudos científicos que visem à compreensão da natureza e da
complexidade dessa atividade e do seu sentido para os turistas.
Inicialmente entende-se, para o presente estudo, que o termo turismo de
aventura está associado às práticas de atividades e/ou esportes de aventura
intimamente vinculados ao risco, à ecologia e à tecnologia, realizadas em ambientes
naturais e/ou urbanos. E sendo assim, as experiências de uma viagem de aventura
estão diretamente relacionadas com a exposição ao risco e à incerteza.
Apesar de serem riscos provocados, calculados, amparados por um
planejamento rigoroso e por um aparato tecnológico, a esta altura da discussão
anuncia-se um questionamento: Como o indivíduo moderno se relaciona com o
risco?
A resposta para esta pergunta é complexa, pois depende de várias nuances
inclusive das características psíquicas dos sujeitos. Mas pretende-se abordar esta
contradição evidenciada através do turismo de aventura, o que de fato justifica a
realização de estudos científicos, dado o volume de adeptos.
Ressalta-se que esse segmento turístico vem sendo referenciado ora como
propulsor de uma nova sensibilidade em relação ao outro e ao mundo2, em função
das práticas ocorrerem em sua maioria em grupos e necessitarem de uma íntima
relação de confiança e solidariedade, ora como salvador da pátria para os destinos
turísticos que possuem diversidade de ambientes naturais propícios para a prática
das atividades de aventura, enfatizando o resultado econômico deste segmento3.
Todavia, esse estudo privilegia o sujeito e suas relações com o mundo, suas
significações e atitudes, por considerar que para a compreensão dos complexos
problemas abordados é imprescindível entender a relação entre praticante, risco,
aventura.
A fim de realizar uma análise coerente com a prática do turismo de aventura
adotou-se uma distinção conceitual entre os praticantes regulares e os turistas. Pois,
entende-se que o primeiro possui conhecimentos técnicos das atividades e não
depende diretamente de guias, e o outro, o segundo, não detém conhecimento
específico e geralmente demanda a contratação de terceiros para a realização da
2 Assim propõem Villaverde (2003) e Marinho (2006). 3 O Ministério do Turismo (2001) trabalha o turismo de aventura sob essa perspectiva.

14
operação. Dessa forma, tendo em vista que se realizou um estudo no âmbito do
turismo foi que se impôs a realização das entrevistas somente com turistas.
Isto posto, é preciso esclarecer que o estudo está direcionado para os turistas
que praticam a modalidade de aventura denominada rafting, a qual corresponde à
descida de rios em botes infláveis. Justifica-se essa opção em função do rafting ser
uma das atividades mais praticadas e desenvolvidas no Brasil, haja vista o volume e
a organização das empresas que o operam4. Como espaço de delimitação do campo
da pesquisa optou-se pelos rios: Itajaí-Açú (Apiúna - SC) e Jacaré-Pepira (Brotas –
SP). A escolha por esses rios se baseou em critérios como a representatividade
destes no cenário nacional da aventura e a potencialidade dos municípios para esse
nicho turístico.
Ressalta-se que a localidade de Brotas (SP) integra o conjunto de quinze
destinos escolhidos como prioritários para o desenvolvimento do Programa Aventura
Segura do Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Associação Brasileira das Empresas de
Turismo de Aventura (ABETA). No entanto, a opção por Apiúna (SC) se deu,
essencialmente, pela qualidade do Rio Itajaí-Açú, considerado pelo mercado como o
melhor rio do Brasil para o rafting. Devido à diversidade de possibilidades de
operação, este rio se destaca por apresentar trechos que viabilizam a prática a
diferentes segmentos, desde os iniciantes aos profissionais.
Indubitavelmente, o crescimento acelerado deste segmento, no Brasil e no
mundo5, a prática dos esportes radicais aliada à vivência na operadora Ativa Rafting
e Aventuras do Vale do Itajaí contribuíram para o levantamento de questionamentos
referentes a este fenômeno e compuseram a motivação para o desenvolvimento
desta pesquisa.
Ademais, a percepção da problemática que permeia o turismo de aventura no
país, o risco inerente à atividade, as imprecisões e contradições nas definições e a
contemporaneidade justificam a necessidade de discutir este tema.
4 Essa prática possui um grupo de trabalho vinculado à ABETA, um espaço de discussões referentes ao processo de normalização e qualificação do segmento, para maiores informações ver: www.abeta.org.br 5 Durante a Adventure Sport Fair (2007) a ABETA anunciou alguns dados iniciais da primeira pesquisa sobre o mercado de turismo de aventura no Brasil. Foi anunciado que 1.700 empresas ofertam aventura, gerando direta e indiretamente 27 mil empregos. São aproximadamente 3 milhões de consumidores do turismo de aventura e ecoturismo por ano (o mercado não faz distinção conceitual entre essas modalidades), em um mercado que movimenta anualmente R$ 300 milhões de reias. Destaca-se ainda que a maioria das empresas surgiu nos últimos anos. O levantamento foi realizado entre maio e novembro de 2006 em 15 destinos nacionais.

15
Destaca-se que a pesquisa se apresenta como requisito para o título de
Mestre em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí e está vinculada à
linha de pesquisa: Gestão dos Espaços Turísticos.
Contudo, a presente discussão se interessa pela compreensão do turista de
aventura, na sociedade contemporânea e a busca exacerbada da aventura, podendo
apresentar pontos contributivos para a estruturação do recente segmento do turismo
de aventura e representar uma aproximação do discurso acadêmico com a prática
mercadológica.
Tomando como referência a problemática apresentada, pode-se indagar:
Quais os sentidos da aventura e do risco para os turistas que praticam o
rafting?
Desta questão, decorrem outras mais específicas:
• Como se manifestam na prática do rafting os processos sociais que
configuram a sociedade contemporânea?
• Quais as contradições que permeiam as definições e práticas do turismo
de aventura?
• Como os turistas praticantes do rafting vivenciam aventura e o risco?
1.2 Objetivos
Objetivo geral:
Analisar os diferentes sentidos da aventura e do risco atribuídos pelos turistas
que praticam o rafting nos municípios de Apiúna (SC) e Brotas (SP).
Objetivos específicos:
• Identificar as manifestações dos processos sociais contemporâneos na
relação do praticante com a aventura e o risco na prática do rafting;
• Analisar os pontos e contrapontos que permeiam a definição e as práticas
do turismo de aventura no Brasil;
• Examinar a relação dos turistas praticantes do rafting com a aventura e o
risco;

16
1.3 Percurso do estudo
O desenvolvimento de um estudo orientado para a análise dos sentidos
atribuídos à aventura e ao risco pelos indivíduos que praticam o rafting no Brasil
demanda, circunstancialmente, uma configuração qualitativa, definida não pelos
instrumentos ou pelos dados utilizados, mas, sobretudo pelos processos e pelas
formas de construção do conhecimento, para citar Rey (2002).
De acordo com Richardson (1999) a pesquisa qualitativa constitui uma
tentativa de compreender detalhadamente os significados e características
situacionais apresentadas pelos entrevistados. Já Minayo (1998) apreende a
Metodologia da Pesquisa Qualitativa como aquela capaz de agrupar a questão do
significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às
estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu aparecimento quanto
na sua transformação, como construções humanas significativas.
Tal perspectiva requer, circunstancialmente, um esforço do pesquisador em
compreender profundamente uma realidade, cujo pensamento deva ser
desenvolvido em um nível histórico e interativo, sempre vigilante aos processos
estruturais que tocam a raça, o gênero e a classe presenças potencialmente
repressivas no cotidiano (DENZIN et al, 2006).
Todavia, a tendência em se adotar atitudes pouco críticas das concepções e
consciência dos entrevistados, não articulados em um contexto histórico e estrutural,
tem se revelado um grande problema para a pesquisa qualitativa (RICHARDSON,
1999).
Por esse motivo, enfatizou-se a abordagem da dialética marxista, das
relações entre o indivíduo e a sociedade, entre as idéias e a base material, entre a
realidade e a sua compreensão pela ciência. Dessa forma, frente à problemática da
quantidade e da qualidade, a dialética admite que a qualidade dos fatos e das
relações constitui suas propriedades inerentes, e que quantidade e qualidade são
inseparáveis e interdependentes, ensejando-se assim a dissolução das dicotomias
quantitativo/qualitativo, macro/micro, interior/exterior com as quais se debatem
diversas correntes sociológicas (MINAYO, 1998).
Minayo (1998) ainda explica que diferentemente dos positivistas que
procuravam as leis invariáveis da estrutura social no sentido de mantê-la, a lógica
dialética insere na compreensão da realidade o princípio do conflito e da contradição

17
como algo constante e que elucida a transformação. Partindo desse olhar, da
unidade dos contrários, é que se desenvolveu o estudo acerca das relações dos
indivíduos com a aventura e o risco, no contexto turístico.
Sob essa concepção, ao realizar a reflexão sobre o sentido da aventura e do
risco na prática do rafting, fundamentou-se numa abordagem histórica, social,
cultural e lingüística, a partir do diálogo com teóricos como Anthony Giddens (1991;
1997; 2002; 2005), Ellen Meiksins Wood (1999), David Harvey (2002), Henri
Lefebvre (1991), Mike Featherstone (1996; 1997), Nicolau Sevcenko (2003),
Zygmunt Bauman (1999), Ulrich Beck (2006), Michael Bakhtin (1995), David McNally
(1999) e Mary Jane P. Spink (1999), autores que apresentaram importantes
contribuições para a discussão, conforme apresentado na figura 1.
Além disso, tendo em vista que uma pesquisa que envolve a análise dos
sentidos produzidos pelos turistas durante a experiência da aventura caminha para
uma construção de caráter complexo, dado a inserção da subjetividade, adotou-se
as idéias de Bakhtin que enfatiza a dialogia dos enunciados e que, portanto, dá
ênfase à relação entre sujeito, sociedade e história.
Em se tratando de subjetividade, Rey (2002, p. 28) ressalta que a ciência não
é só racionalidade, “é subjetividade em tudo o que o termo implica, é emoção,
individualização, contradição, enfim, é expressão íntegra do fluxo da vida humana”.
O autor considera que sem alusão subjetiva do sujeito foco do estudo, perde-se
significação na produção da informação e, por sua vez, objetividade, no sentido mais
abrangente do termo.
Nesta perspectiva, um estudo qualitativo foi proposto como forma de
satisfazer os pressupostos inerentes ao estudo da subjetividade como parte
constitutiva dos sujeitos e das respectivas significações. Acrescenta-se a tipologia
da pesquisa como sendo exploratória na medida em que a pesquisadora buscará
esclarecer e aprofundar determinados conceitos ainda pouco consolidados na área
do turismo de aventura, mediante o contato direto com o objeto de estudo e com a
situação que será investigada, bem como com os problemas que serão estudados
no ambiente em que eles ocorrem naturalmente (LÜDKE, 1986).
Vale destacar que a complexidade do objeto do estudo possibilitou uma
congruência de diferentes óticas disciplinares e diferentes níveis de realidade como
o intraindividual, o interindividual, situacional e o ideológico. Ressalta-se, portanto,
que as idéias com as quais se dialogou, as categorias que as expressaram e os

18
conceitos que se assumiu foram articulados, de forma dialética, entre os olhares da
história, da sociologia, da cultura e da lingüística, conforme ilustrado na figura a
seguir.
Figura 1: Quadro teórico-conceitual-metodológico da pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora (2007)
1.4 Procedimentos metodológicos
Por entender que a reflexão acerca dos sentidos conferidos à aventura e ao
risco, pelos turistas na prática do rafting, devam ser estudados a partir do contexto
que as engendraram e principalmente por buscar a conformidade com as exigências
metodológicas da pesquisa qualitativa buscou-se:
PESQUISA QUALITATIVA
CONTEXTUALIZAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO
ANÁLISE DOS SENTIDOS DA AVENTURA E
DO RISCO
SOCIAL
CULTURAL
HISTÓRICO
LINGÜÍSTICO
GIDDENS (1991-2005) FEATHERSTONE (1996/1997) BAUMAN (1999) BECK (1997; 2006)
SPINK (1999; 2006)
BAKHTIN (1995) MCNALLY (1999)
WOOD (1999) KOSIC (1976) HARVEY (2002) LEFEBVRE (1991) SEVCENKO (2003)
BASE CONCEITUAL E TEÓRICA DA PESQUISA PESPECTIVAS TEÓRICAS PERCURSO METODOLÓGICO

19
I) Contextualização dos processos sociais contemporâneos para analisar a
sua manifestação na relação do turista com a aventura e o risco na prática do
rafting;
II) Caracterização do turismo de aventura, realizada no intuito de identificar e
discutir os pontos e contrapontos que permeiam esse segmento;
III) Análise dos sentidos atribuídos à aventura e ao risco pelos turistas que
praticam o rafting nos rios: Itajaí-Açú (Apiúna – SC) e Jacaré-pepira (Brotas – SP).
Partiu-se da perspectiva lingüística adotada por Bakhtin (1995), para quem a palavra
é a arena onde se manifestam os conflitos sociais e as contradições da vida, para,
por conseguinte, examinar o conjunto de sentidos produzidos pelos praticantes na
experiência da aventura, à luz da concepção da dialética.
Referente às estratégias de busca de informação, a pesquisa se caracteriza
como documental (relatórios do Ministério do Turismo), bibliográfica e de campo. De
acordo com Spink (1995), observa-se atualmente uma tendência nas ciências
sociais do uso de múltiplas técnicas e instrumentos de pesquisa para cercar um
mesmo fenômeno a fim de reconhecer a validade da pesquisa qualitativa. Em
conformidade com tal tendência foram adotados procedimentos múltiplos que
visaram à compreensão em profundidade das mensagens.
É preciso esclarecer que a discussão de multimétodos data da década de
1970, quando Denzin denominou tal estratégia de triangulação. Todavia, o sentido
dado à triangulação vem sofrendo modificações, transferindo a conotação de
estratégia de validação para alternativa à validação. Ou seja, emerge como forma de
aprofundamento de análise, em contraposição ao sentido precedente de percurso
para o alcance da verdade objetiva (SPINK, 1995).
Triviños (1987) explica que a triangulação parte do princípio da
impossibilidade de se conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem
olhares históricos, culturais e sociais, o que corrobora para a ampliação das
dimensões dos estudos qualitativos.
Nesta perspectiva, na busca do rigor científico, adotou-se como instrumentos
de coleta de dados:
a) Pesquisa bibliográfica e documental para a análise da sociedade
contemporânea e contextualização do turismo de aventura no Brasil. É preciso
destacar a realização da análise dos termos de consentimento de risco das
empresas onde as entrevistas foram realizadas, assim como dos documentos

20
elaborados pelo Ministério do Turismo acerca do processo de qualificação do
turismo de aventura;
b) Observação estruturada realizada durante a pesquisa de campo, no intuito
de apreender as vivências dos turistas em relação à aventura e ao risco (apêndice
A). Compartilha-se com Vianna (2003) a idéia de que a observação, enquanto
técnica científica, pressupõe a definição criteriosa dos objetivos, o planejamento
adequado, o registro dos dados, o monitoramento da qualidade de todo o
desenvolvimento do seu processo e da confiabilidade dos resultados. Vale ressaltar
que para a realização das observações dos turistas foi assinado um termo de
consentimento informado (conforme apêndice D), no qual a empresa responsável
pela operação do rafting autorizava a permanência da pesquisadora e, por
conseguinte, a realização das observações, durante a vivência do turista.
c) Entrevista semi-estruturada com os turistas de aventura que praticaram o
rafting, para a análise dos sentidos da aventura e do risco (apêndice B). De acordo
com Triviños (1987), a entrevista semi-estruturada é aquela que parte de
questionamentos preliminares, embasados em teorias e hipóteses, que interessam à
pesquisa, e que consequentemente oferecem amplo campo de interrogativas. Spink
(1995) colabora ao destacar que dar voz ao entrevistado, sem a imposição das pré-
concepções do pesquisador, possibilita eliciar um rico material, em especial quando
se trata de práticas sociais relevantes ao objeto da investigação. Ressalta-se a
adoção da assinatura, pelos entrevistados, do termo de consentimento informado,
no qual esses tomavam ciência do objetivo da pesquisa, declaravam a livre-
espontaneidade em responder as questões, assim como autorizavam o uso dos
conteúdos manifestos para pesquisas científicas, conforme apêndice C.
A realização das entrevistas com os turistas de aventura se deu em campo,
enquanto os entrevistados estavam se preparando para a realização da atividade e
após a vivência, nas principais operadoras, nos destinos de Apiúna (SC) e Brotas
(SP). A seleção das amostras se caracteriza como aleatória não probabilística que
segundo Cozby (2003) é a amostragem na qual não se sabe a probabilidade de um
membro qualquer da população ser escolhido.
Por considerar, portanto, a produção de sentidos como decorrente de um
processo dialógico contínuo de significações “intra” e “inter” individual, ou seja, que
se realiza tanto internamente como externamente, que foi proposto a adoção de
formas mais flexíveis e espontâneas de coleta de dados (entrevista, observação), no

21
intuito de acessar o referido diálogo e alcançar a compreensão das vozes, das
enunciações, dos repertórios interpretativos, dos sentidos que o compõe.
1.4.1 Procedimentos de análise
Para empreender a difícil tarefa de análise dos dados coletados em campo
tomou-se como pressuposto teórico e metodológico a concepção dialética. Como já
apresentado, o pensamento dialético foi assumido pelo presente estudo, haja vista a
sua capacidade de apreender os conteúdos intrinsecamente conflitivos e
antagônicos, na medida em que ele se propõe a captar o movimento, as
contradições e os condicionamentos históricos (MINAYO, 1998).
A dialética, como explica Kosic (1976), não analisa o conjunto dos objetos
como algo originário e independente. Da mesma forma que não considera o mundo
das representações e do pensamento comum, não os percebe sob o seu aspecto
imediato, mas os submete a uma apreciação em que as formas reificadas do mundo
do objetivo e do ideal se dissolvem, perdem a sua fixidez, naturalidade e pretensa
originalidade para se revelarem como fenômenos derivados e mediatos, como
produtos da praxis6 social humana.
Nesse sentido, entende-se que essa abordagem teórica tem como
pressuposto a interpretação do discurso dos entrevistados em seu contexto, ou seja,
a partir do marco sócio-histórico onde foi produzido, o que se alinha com a
concepção da palavra apresentada por Bakhtin (1995). Em vista do alinhamento das
idéias de Bakhtin com a concepção dialética, até porque tais abordagens se valem
da perspectiva marxista, que se buscou o entrelaçamento entre as duas teorias
como orientação para o desenvolvimento da análise dos dados.
Dessa forma, foi a partir da constante realização do movimento entre a
realidade empírica e a teoria que se apreendeu o caminho de interpretação adotado,
o qual privilegiou o contraditório, o dinâmico, o complexo e a unidade, podendo ser
assim sistematizado:
6 A práxis é uma categoria da teoria dialética da sociedade, “a praxis é a esfera do ser humano. [...] a praxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade na sua totalidade). A praxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria; é determinação da existência humana como elaboração da realidade” (KOSIC, 1976, p. 202).

22
a) Organização dos dados: Tanto as entrevistas, que haviam sido gravadas
com um auxílio de um mp3, como o conjunto das observações realizadas em
campo, foram organizadas, a partir da transcrição, com auxílio do aplicativo
Microsoft Word 2003.
b) Classificação dos dados: Buscou-se sistematizar o conteúdo das
entrevistas e das observações de forma que possibilitassem a visualização das
dinâmicas e das relações do texto. A leitura sistematizada do material, mediante
uma relação interrogativa, indicou os seguintes eixos para a tabulação dos dados:
vida cotidiana, experiência do rafting e definição da aventura e do risco. Ressalta-se
que essa divisão proposta não nega a inter-relação e as conexões entre os
conteúdos, pelo contrário, consolida o seu encadeamento, na medida em que a
vertente vida cotidiana forneceu as bases para o texto, ou contexto, para a
experimentação e a significação da aventura e do risco no rafting. Dessa forma, a
operacionalização da composição desses “Corpus” da pesquisa se deu por meio das
planilhas eletrônicas do aplicativo Microsoft Excel 2003, conforme ilustrado na figura
2. Vale destacar que todas as 19 entrevistas realizadas com os turistas – 6 em
Brotas (SP) e 13 em Apiúna (SC) – foram consideradas.
Figura 2: Imagem da planilha – Corpus Vida cotidiana
Fonte: Elaborada pela autora (2007)

23
A Imagem da planilha do Corpus da vida cotidiana demonstra como os
conteúdos foram organizados, de modo que as relações entre os diferentes
entrevistados e temas forma privilegiadas. Destaca-se que as temáticas das
entrevistas foram dispostas nas colunas e os textos de cada entrevistado nas linhas
da planilha.
c) Análise dos dados: Nessa etapa, a realização constante do movimento
dialético (empiria-teoria) foi fundamental para a compreensão das falas dos
entrevistados no seu contexto: de onde falavam. Desse modo, a análise se iniciou
com uma imersão no conjunto das informações coletadas, sem encapsular os dados
em classificações e categorias definidas, e prosseguiu com a interpretação dos
temas narrados pelos entrevistados, à medida que eles afloravam do texto das
entrevistas. Esse processo de análise permitiu a emergência dos sentidos da
aventura e do risco de forma articulada com as representações da vida cotidiana e
com a experimentação do rafting de cada turista. Ressalta-se, portanto, que a
análise foi realizada a partir do propósito de se compreender os sentidos dos
enunciados aventura e risco para além do nível espontâneo e aparente das
mensagens, alcançando o seu conteúdo latente, o que, por fim, sinalizou uma íntima
relação entre o sentido atribuído e a prática social de cada indivíduo.
A realização do estudo à luz do princípio da unidade dos contrários, do
movimento da dialética, possibilitou a compreensão dos sentidos atribuídos, pelos
turistas, à aventura e ao risco como decorrentes da condição da atual existência
humana, sinalizando ora uma reprodução dos valores da sociedade contemporânea,
ora uma criação de uma nova forma de existir.
Contudo, é preciso ressaltar que o desejo de desenvolver uma reflexão
inserida na dinâmica da dialética constituiu, evidentemente, uma problematização, a
qual está refletida na adoção de várias linhas de pensamento e de diversas
abordagens que se evidenciam nos estudos das ciências humanas e sociais. Sob
essa perspectiva que se apresenta nos capítulos, a seguir, a discussão acerca da
sociedade contemporânea (capítulo 2), o referencial lingüístico adotado (capítulo 3),
os sentidos do risco (capítulo 4), os pontos e contrapontos do turismo de aventura
(capítulo 5), as análises da empiria (capítulo 6), a síntese analítica dos sentidos da
aventura e do risco apreendidos dos discursos dos turistas (capítulo 7) e as
considerações finais.

24
2 SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Para a compreensão do complexo fenômeno do turismo de aventura, faz-se
necessário apresentá-lo e contextualizá-lo no quadro social que o estabeleceu, no
intuito de identificar expressões que se inter-relacionam e justificam o seu
crescimento acelerado7. É preciso, sobretudo expor algumas transformações do
mundo moderno, ressaltando alguns aspectos intimamente ligados com processos
contemporâneos de consumismo, de exposição ao risco e de instabilidade da vida.
Nesse sentido, são escolhidos como interlocutores diversos teóricos que
apresentam análises fundamentadas do fenômeno da contemporaneidade.
A proposição desta discussão se baseia na necessidade de compreender as
relações interpessoais na sociedade atual e a predisposição e motivação dos
indivíduos para as viagens de aventura. Trata-se de discutir a experiência de
aventura na natureza a partir do quadro contemporâneo marcado, entre outras
coisas, pelo hibridismo nas denominações do modelo vigente de sistema social
como expõem os enunciados de sociedade de informação8, sociedade de risco9,
sociedade de consumo10, sociedade pós-industrial11, sociedade pós-moderna12,
entre outras.
Inicialmente, observa-se que parte dos termos adotados para caracterizar o
atual momento sugerem algumas transformações econômicas e ideológicas (como o
deslocamento de um sistema baseado na manufatura para outro baseado na
7 Apesar de ainda não existirem pesquisas que indiquem a taxa de crescimento desse segmento turístico, os índices crescentes de número de expositores e de negócios realizados durante a Adventure Sport Fair (2007), o maior evento latino-americano do mercado de aventura, certificam o seu ritmo acelerado. No ano de 1999, primeira edição da feira, houve 125 expositores e o volume de negócios estimado foi de dezenove milhões de reais. Já na nona edição, em 2007, o número de expositores chegou a 299 e o volume de negócios chegou a noventa e três milhões de reais. Observa-se um crescimento de 129% do número de expositores e de 389% do volume de negócios. Os números são surpreendentes, mas é preciso ressaltar que a feira agremia mercados que ultrapassa o turístico, como o de equipamentos de segurança, o de vestuários e de veículos esportivos. 8 Conceito adotado por Manuel Castells (1999) para enfatizar o papel da informação na sociedade, sendo informação no seu sentido mais amplo, como comunicação de conhecimentos. Ver: Castell, M. A Sociedade em Rede, 1999. 9 Termo cunhado pelo sociólogo alemão, Ulrich Beck, que sinaliza um mundo caracterizado pelas incertezas reforçadas pelas conseqüências da racionalização. Ver: Beck, U. La Sociedad del Riesgo, 2006. 10 A sociedade de consumo refere-se aos elevados padrões de consumo proporcionados pela elevação e
diversificação da produção de mercadorias da presente sociedade. Tal tema vem sendo discutido por sociólogos, filósofos e outros estudiosos. Pode-se citar Baudrillard e Touraine. Ver: BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo, 1995. 11 Este conceito foi inicialmente trabalhado por Daniel Bell e se assenta na constatação de que a presente
sociedade transformou-se predominantemente numa economia de serviços. Ver: Bell, D. O fim da Ideologia, 1980. 12 Esta expressão alcançou grande alcance, sendo bastante difundida nos dias atuais, designa basicamente uma
suplantação da modernidade por uma nova e diferenciada época. Segundo Giddens (1991), Jean-François Lyotard foi o autor responsável pela popularização da noção de pós-modernidade. Ver: Lyotard, The Post-Modern Condition, 1985.

25
informação), mas a outra parcela de denominações indica um encerramento do
tempo precedente (pós). Mais frequentemente, segundo Giddens (1991), os debates
têm se concentrado nas questões de filosofia e epistemologia13, o que o faz suceder
suas reflexões a partir de um olhar para a natureza da modernidade.
A partir das inúmeras transformações ocorridas na sociedade atual é que
estudiosos de referência, procedentes de várias especialidades científicas, vêm
investigando e avaliando as formações sociais e culturais vigentes. Dessa forma,
apresenta-se a seguir, brevemente, as argumentações acerca do conflito entre
sociedade moderna e pós-moderna baseadas em perspectivas diferentes, mas que
convergem ao caracterizar a vida social contemporânea.
2.1 Modernidade ou Pós-Modernidade?
Em virtude do extensivo debate que permeia os estudos das diferentes áreas
do conhecimento, em especial as ciências humanas e sociais, sobre as
características da sociedade atual, não se pode deixar de trazer à discussão os
argumentos que sustentam o embate da modernidade versus pós-modernidade.
Considera-se que a compreensão de tais argumentos possibilita situar o lugar de
onde se fala e os diferentes sentidos atribuídos às práticas sociais dos nossos dias
marcadas pela exposição ao risco, à incerteza e à aceleração da vida. As
abordagens de autores como Anthony Giddens (1991; 1997; 2002; 2005), Ellen
Meiksins Wood (1999), David Harvey (2002) e Zygmunt Bauman (1999) apresentam
relevantes apontamentos na agenda desta discussão.
Hoje, no engatinhar do século XXI, muitos autores argumentam que se vive
no limiar de uma nova era, por vezes denominada como pós-moderna. Mas, a
princípio, é preciso distinguir os projetos modernos dos pós-modernos.
Como ilustra Beck em entrevista a Danilo Zolo (2007), a modernidade se
afirmou na sociedade européia, por meio de revoluções políticas e industriais, a
partir do século XVIII, caracterizada como uma sociedade estatal e nacional, de
estruturas coletivas, pleno emprego e rápida industrialização. Para Wood (1999), a
era moderna parece ter sido lançada pelo seu divisor de águas, o Iluminismo,
mesmo que este tenha alcançado a fruição no século XIX. A denominada concepção
13 O autor concentra suas análises das transformações sociais nos processos de reflexividade e
destradicionalização que repercutem diretamente na filosofia do conhecimento e na epistemologia.

26
iluminista é também vista como representante do racionalismo, do tecnocentrismo,
da padronização do conhecimento e da produção, da confiança no progresso linear
e nas verdades absolutas. Já a concepção pós-moderna representa uma reação às
idéias anteriores – como um anúncio de morte – cuja prerrogativa é a rejeição ao
discurso totalizante, à metanarrativa14 e a quaisquer teorias abrangentes e
universalistas acerca do mundo e da história.
Ellen Wood (1999) em seus escritos sobre a pós-modernidade ilustra as
inúmeras mortes dadas à modernidade, como forma de demonstrar o processo de
constituição histórico e social desse discurso, consolidado nos dias atuais. Oswald
Spengler foi o primeiro a proclamar a finalização da civilização ocidental e seus
valores, durante a I Guerra Mundial, baseado no esfacelamento das tradições, do
pensamento e da cultura vigentes. Mais tarde, em 1959, foi C. Wright Mills, em
outras condições, quem apregoou a substituição da era moderna pela pós-moderna,
na qual a cultura ocidental perdera mais uma vez importância.
Entre as quatro décadas que separam estes anúncios de declínio de época
existem grandes divergências de ponto de observação. Pois, quando Spengler
lançou seu discurso, ele era partícipe de uma história de depressão, guerra e
genocídio, em contrapartida, Mills escreveu na tranqüila década de 50, numa fase da
prosperidade capitalista e num clima de indiferença política. Nos dias de Mills havia,
portanto, o nascimento do bem-estar e do capitalismo consumista (WOOD, 1999).
A autora ressalta que após as revoluções dos anos 60, no momento em que o
surto de prosperidade econômica havia acabado, foi anunciado mais uma morte da
modernidade. Apesar das largas influências de pensadores recentes como Lacan,
Lyotard, Foucalt e Derrida, o pós-modernismo atual descende da geração de 1960 e
seus estudantes.
Desse modo, Eagleton (1999) explica que o pós-modernismo conta com
várias fontes – o próprio modernismo; o denominado pós-industrialismo; o advento
de novas e importantes forças políticas; o reaparecimento da vanguarda cultural; a
perversão da vida social pela mercadoria; a diminuição do espaço independente
para a arte; entre outras.
A concepção pós-moderna corrente privilegia a heterogeneidade e a
diferença como forças essenciais na redefinição dos discursos culturais, desconfia
14 As metarrativas são interpretações teóricas de grande alcance, pretensamente de aproveitamento universal,
de acordo com Harvey (2002).

27
de todos os discursos universais, redescobre o pragmatismo na filosofia, enfatiza as
descontinuidades e a diferença na história, contudo assinala a morte das
metarrativas (HARVEY, 2002).
Assim, embora alguns autores não aceitem esta acepção, os pós-modernistas
proclamam o fim da história, ou a emergência de uma nova era, baseada na
negação das antigas ideologias. Para Wood (1999, p. 10), o diagnóstico da pós-
modernidade vigente, esta que nega qualquer discurso histórico por ser totalizante, é
que ele se assemelha às declarações mais antigas (Spengler e Mills) de morte da
modernidade, ou seja, para a autora o extraordinário é “a continuidade, ou pelo
menos a repetição, dessa história de descontinuidades. Se chegarmos a outro final
histórico, o que acabou, aparentemente, não foi tanto uma outra época, diferente,
mas a mesma outra vez”.
A despeito de todas as contradições cunhadas pelos pós-modernistas, Wood
(1999) ainda destaca que as concepções deles são reações a um mundo real, às
condições do mundo contemporâneo e à atual situação do capitalismo. Nessa
perspectiva, inúmeros autores que admitem a continuidade da modernidade vêm
desenvolvendo suas argumentações centralizadas nas mudanças das dimensões
sociais e culturais da experiência humana. Dentre eles podemos citar o sociólogo
inglês Anthony Giddens para quem
o fim do século tornou-se amplamente identificado com sentimentos de desorientação e mal-estar, a tal ponto que se pode conjeturar se toda essa conversa de finalizações, como o fim da modernidade – ou fim da história – simplesmente reflete esses sentimentos (GIDDENS, 1997, p. 73).
Ao invés de referir-se a um mundo pós-moderno, Giddens (1991) discute o
alcance de um período em que as conseqüências da modernidade estão se
modificando ao ponto de se tornarem mais radicais e universais do que antes.
Bauman (1999, p. 287), ao debater este processo de superação de uma era
por uma nova, explica que no percurso do tempo nada finaliza, nenhum projeto
jamais é acabado e abandonado. “Fronteiras nítidas entre épocas não passam de
projeções da nossa ânsia inexorável de separar o inseparável e ordenar o fluxo”. A
idéia da possibilidade de permanência e sobrevivência da modernidade, mesmo que
sob pressão das transformações sócio-institucionais, é, portanto, evidenciada pelos
autores supracitados.
Nessa linha de raciocínio Giddens (1991) realiza uma ressalva ao argumentar
que não se vive num mundo pós-moderno, mas pode-se observar, em alguns

28
poucos relances, a incidência de modos de vida e formas de organização diferentes
daqueles criados pela era moderna, fazendo sentido entender as rupturas do
pensamento filosófico como “a modernidade vindo a entender-se a si mesma” ao
invés da suplantação da modernidade enquanto tal (GIDDENS, 1991, p. 54).
2.2 Natureza dos conflitos contemporâneos
Um mundo polifônico de discursos, uma natureza artificializada15 e um
cotidiano competitivo e acelerado: eis a atmosfera contemporânea, na qual se
multiplicam inúmeras transformações que repercutem diretamente na vida humana.
Para Hobsbawn (1995), quando as pessoas se defrontam com elementos com os
quais o passado não as preparou para enfrentar, elas buscam nomear o
desconhecido, mesmo quando não podem defini-lo, nem entendê-lo. Foi dessa
forma que as mudanças mais rápidas e universais da história humana entraram na
consciência das mentes pensadoras que as viveram.
Conceitos como consumo, produção, signo, globalização e reflexividade
emergem como matéria fundante para a sustentação da difícil empreitada de
compreender o contexto atual. Assim, a partir de tais elementos, o presente estudo
propôs discutir a natureza dos conflitos contemporâneos.
2.2.1 Ideologia do consumo
A discussão acerca do moderno e do consumo aponta esses aspectos como
parceiros na construção da realidade social vigente. Featherstone (1997) cita Bell
(1976, 1980) ao argumentar que a celebração da transgressão e a erosão de todos
os valores, pelo modernismo16, abriram suas portas para a cultura contemporânea
por meio de uma aliança com o consumismo. Mais especificamente, ao contrastar o
15 O enunciado natureza artificializada está fundamentado na história das relações entre sociedade e natureza, cuja tônica é o processo de substituição de um meio natural por um meio cada vez mais artificializado, ou seja, continuamente instrumentalizado. Tal aspecto é discutido por Santos (1997) em sua obra: A natureza do espaço - Técnica e tempo. Razão e Emoção. 16 De acordo com Featherstone (1997), o modernismo refere-se aos movimentos culturais que se tornaram conhecidos na modernidade. O autor, amparado nas idéias de Bradbury e McFarlane, (1976) e Berman (1982), argumenta que enquanto a cultura da modernidade pressupunha o desenvolvimento de conhecimento que buscava a ordenação, o controle e a unificação progressiva da natureza e da vida social, por meio das empresas capitalistas e da administração pública, o modernismo lidava com os princípios da desordem e da ambivalência. De forma semelhante, Harvey (2002) explica que a história do modernismo como movimento estético o caracteriza por uma formulação dual, oscilando entre o efêmero e fugidio e o eterno e imutável, conformando, assim, sentidos conflitantes.

29
valor conferido à vida ordenada, à produtividade e à frugalidade, encaradas como
características essenciais da ética protestante, que fundaram as bases para a
modernidade capitalista, Bell afirma que, no século XX, observou-se uma
transformação em direção ao consumo, ao lúdico e ao hedonismo17. Como
conseqüência “a ética do trabalho foi substituída pela ética do consumo”
(FEATHERSTONE, 1997, p. 107).
Nesse sentido, alguns teóricos defendem que o projeto da modernidade
passa a ser ameaçado ou exaurido por fatos ocorridos na esfera cultural, os quais
presenciaram o estabelecimento dessa aliança entre cultura de consumo e
modernismo. A confiança numa vida social ordenada, típica anteriormente, se
reverteu aos valores de fragmentação, desordem, particularismo, e localismo
tomados pelos teóricos pós-modernos. O pós-modernismo18 emerge, pois, como um
direcionamento da atenção para mudança cultural que, consequentemente, atrelado
à cultura de consumo, será usualmente adotado como sinal das transformações
dramáticas que estão modificando a natureza do tecido social (FEATHERSTONE,
1997).
Em decorrência de tais generalizações, questiona-se: Qual a natureza e a
dimensão dessas mudanças? Será que essas crises ultrapassam as crises dos
artistas e intelectuais? Até que ponto elas alcançam a vida cotidiana? Para
Featherstone (1997), essas mutações estão associadas a um movimento em direção
a uma cultura de consumo simuladora, cujo brilho das imagens, projetado de
maneira alucinatória e interminável, ofusca a distinção entre a aparência e a
realidade e como conseqüência ocorre uma ruptura do senso de identidade do
indivíduo, por meio do bombardeamento de signos e imagens fragmentadas.
Baseado na descrição que Jameson (1984) faz da cultura de consumo, o
autor enfatiza o excesso de signos e de imagens do mundo atual, que acaba por se
17 Esse termo designa genericamente diversas doutrinas que situam o prazer como o soberano bem do homem ou que admitem a busca do prazer como o primeiro princípio da moral. Para Japiassú e Marcondes (1996), num sentido mais específico, o hedonismo pode se relacionar com um pensamento egocêntrico e egoísta, preocupado apenas com os prazeres. Os autores ainda destacam que o fenômeno atual do consumismo, frequentemente atrelado a uma inércia intelectual e moral, ilustram essa perspectiva de pensar. 18 O pós-modernismo é um movimento que se aparta das ambições universalísticas das narrativas mestras, cuja ênfase está na totalidade, no sistema e na unidade, e caminha em direção a uma ênfase no conhecimento local, na fragmentação, no sincretismo, na alteridade e na diferença (FEATHERSTONE, 1997). Isso significa que o pós-modernismo representa uma espécie de reação ao modernismo ou, ao menos, um afastamento dele. Outros o consideram como uma dimensão cultural relacionada ao desenvolvimento de uma nova etapa do capitalismo ou da modernidade como se encontram nas idéias de Jameson (1984), Harvey (1989) e Lash & Urry (1987), (FEATHERSTONE, 1996).

30
assemelhar a um mundo de simulação, alucinatório, cujas diferenças entre o real e o
imaginário se esvaeceram.
A esta altura da discussão parece haver a necessidade de compreensão dos
enunciados de sociedade de consumo e cultura de consumo. Ambos os termos
estão atrelados às transformações do sistema capitalista, como também da cultura
contemporânea.
Segundo Lefebvre (1991), os teóricos da sociedade de consumo declaram
que, em tempos precedentes, no início do sistema capitalista e da produção
industrial, a produção não era orientada pelas necessidades. Ao contrário, os
empresários desconheciam os consumidores. Hoje, os empresários não só afirmam
conhecer as necessidades do mercado, como também passam a orientar a sua
produção em função destas, o que então caracteriza a sociedade de consumo.
A articulação desses elementos já foi ressaltada por Marx (1996), em sua
obra intitulada: Para uma crítica da economia política. O autor afirma que a produção
não é apenas prontamente consumo e nem o consumo é prontamente produção.
Cada um dos termos não se restringe a ser imediatamente o outro, nem o mediador
do outro: mais do que isso, ao realizar-se, cria o outro, realiza-se sob a forma do
outro.
Além disso, o próprio termo produção reveste-se de um amplo sentido.
Quando fala de produção Marx não a restringe à confecção de produtos, estende à
produção num determinado nível de desenvolvimento social, refere-se à produção
de indivíduos que vivem em sociedade. Ou seja, trata-se da produção material e da
produção imaterial. Enfim, observado em toda a sua amplitude, o termo abarca a
reprodução. Nota-se, portanto, uma notória mudança: o consumo passa de mero
reflexo da produção para elemento de reprodução social.
No que se refere à cultura de consumo, Featherstone (1997) esclarece que
este termo não só sinaliza a produção e o relevo crescente dos bens culturais
enquanto mercadoria, como também o modo pelo qual a maioria das atividades
culturais e das práticas cotidianas passam a ser mediadas pelo consumo, sendo
esse progressivamente articulado ao consumo de signos e imagens. Destarte, falar
em cultura de consumo significa falar do deslocamento do modo de consumo como
apropriação de um valor de uso para consumo de signos e imagens.
A expressão valor de uso aqui explicitada é bem trabalhada por Marx (1998).
O autor discute o conceito de valor, a partir da análise da mercadoria, elaborando

31
diferenças entre o valor de uso e o valor de troca da mesma. Marx explica que cabe
ao valor-de-uso designar a utilidade de um objeto, a qual nada tem de vago e
indeciso. Já o valor-de-troca representa a relação quantitativa, a proporção em que
valores-de-uso de espécie diferente se trocam entre si. Assim, os valores-de-uso
que só se realizam pelo uso ou pelo consumo, são os suportes materiais do valor-
de-troca, ao passo que os valores-de-troca, mutáveis constantemente com o tempo
e o lugar, parecem ser arbitrários e relativos.
Dessa forma, a discussão da apropriação de bens e serviços, mais
precisamente da lógica do consumo, ultrapassa a lógica de produção, encerrando
determinantes que vão além da simples aquisição de mercadorias pela sua utilidade.
Sob essa concepção que Featherstone (1995) chama atenção para os modos
socialmente estruturados de utilização de bens para demarcação das relações
sociais.
Já Baudrillard (1995) insere na lógica da economia política uma discussão
semiológica ao argumentar que na sociedade do capitalismo tardio há uma
revolução nos valores. Essa revolução tem como pressuposto não apenas a
substituição do valor de uso pelo valor de troca, mas também, consequentemente, a
sobreposição de ambos pelo valor de signos. Na análise da mercadoria realizada
pelo autor observa-se que o signo e a mercadoria se uniram resultando no signo-
mercadoria. Desse modo, o consumo engloba a manipulação ativa dos signos, ao
ponto de negar o consumo dos objetos, enquanto mercadoria, e reafirmar o
consumo dos signos.
Esse raciocínio baseia-se na concepção de que os objetos de consumo são
representações de trabalhos simbólicos, as quais acabam constituindo uma moral do
consumo, baseada em valores sociais, como o ter, a ostentação e a distinção. Ou
seja, o objeto-signo é um instrumento para sustentar e consolidar relações de
consumo e de diferenciação social sobrevindas (BAUDRILLARD, 1973).
Não se consome o objeto em si, porque ele é útil, e sim pelo que ele simula,
pela sua habilidade de diferenciação e de relacionar o consumidor a uma
determinada posição, a um determinado status. Sob esse ponto, a característica
sígnica do objeto se aproxima da arbitrariedade e da relatividade dos valores-de-
troca citados por Marx.
Partindo de um pensamento convergente Featherstone (1996, p. 110) analisa
a mensagem cultural contida na “mcdonaldização”. “O hambúrguer não é só

32
consumido fisicamente como substância material, ele também é consumido
culturalmente como uma imagem e um ícone de determinado estilo de vida19”. Isso
porque o hambúrguer é representante do “american way of life”, além de ser
procedente de uma potência global. Dessa forma, para os indivíduos que se
encontram na periferia, o objeto oferece vantagens psicológicas de se aproximar do
poder. Assim, o McDonald’s associado a outros ícones como Coca-Cola, Hollywood,
Nike, representa ícones do estilo de vida americano, como também se relacionam a
temas centrais da cultura de consumo como: juventude, beleza, luxo, romance e
liberdade.
Observa-se que essas abordagens direcionam a reflexão acerca do consumo
para a relação indivíduo-sociedade, especialmente para a significação social de um
objeto. As idéias de Douglas e Isherwood (1996), apresentadas por Lima (2003, p.
96), contribuem para essa discussão, ao extrapolar as razões de mercado e
alcançar as relações interpessoais. Eles defendem que as mercadorias compõem
veículos de interação e conformam fronteiras de inclusão e exclusão entre grupos.
Nessa perspectiva, o consumo é entendido como um ritual, cuja principal função é
dar sentido aos eventos: “os objetos são, assim, acessórios rituais dos quais o
consumidor se serve para construir um universo inteligível a sua volta”.
Entende-se que o consumidor age sobre o objeto que adquire e o redefine a
partir de seu universo de significados. Porém, como argumenta Campbell (1995),
citado por Lima (2003), o apetite do consumidor moderno é insaciável em relação
aos produtos novos. Ao colocar as emoções e o prazer no centro das motivações, o
indivíduo impulsiona uma demanda progressiva por novidades, promotora do
espírito consumista.
Contrariamente às versões expostas, Lipovetsky (1989) opta por discutir o
consumo a partir de uma perspectiva mais positiva. Para o autor, as práticas
consumistas podem contribuir na educação de vários aspectos da vida humana.
Uma multiplicidade de oferta gera uma multiplicidade de escolha. As pessoas são
estimuladas a pesquisar seus gostos, costumes, personalidade e investir em si, por
suas próprias características e não segundo a dos outros.
19 De acordo com Featherstone (1997), o estilo de vida na cultura de consumo contemporânea significa individualidade, auto-expressão e uma consciência de si estilizada. Nesse sentido, o indivíduo se expressa por meio da roupa, do carro, das opções que toma e do comportamento que adota.

33
Todavia, questiona-se em quais condições sócio-econômicas essa lógica
consumista pode colaborar para a formação do indivíduo. Será que num país em
que a concentração de renda é uma marca e os índices de educação não são dos
melhores, as pessoas podem realmente ser superiores à lógica do mercado? Será
que as pessoas mais humildes que vivem com recursos limitados podem investir em
si, de acordo com seus gostos e personalidade, e não em função do orçamento que
elas detêm? Essa idéia de Lipovetsky (1989) parece não levar em conta sérios
problemas sociais existentes no mundo atual, todavia traz um novo olhar para a
relação de consumo.
Sob o aspecto da aliança do consumo com a busca de prazer para si mesmo,
o autor se aproxima do pensamento de Campbell. O gozo íntimo, as qualidades do
objeto, a sensação, o espetáculo, o culto ao corpo, o novo, o apetite crescente de
qualidade e estética caracterizam o atual processo de consumo (LIPOVETSKY,
1989).
Campbell (1987), exposto por Featherstone (1997), argumenta que a
atividade fundamental do consumo não é a seleção, a compra ou o uso real dos
objetos, mas a busca fantasiosa do prazer a que se serve a imagem do produto. O
consumo constitui, em grande parcela, a conseqüência do hedonismo da mente.
Como se observa, tais abordagens enfatizam o caráter hedonístico, ou seja, o
prazer em si de consumir, como um dos componentes de satisfação do homem
contemporâneo, o que conforma uma visão de um homem mais atuante na relação
de consumo e não subjugado a ela.
Lipovetsky (1989) ainda ressalta a interferência da moda no homem.
Conforme o autor, a hiperescolha, a sedução e a instabilidade que fundamentam os
processos da moda prepararam o indivíduo continuamente para o desprendimento
do que foi adquirido. Os objetos são dissolvidos pela moda por meio da utilidade e
da novidade.
Tal condição, gestada no contexto da moda, é referenciada pelo autor,
analogamente ao que se imagina, dada a exacerbação da descartabilidade como um
aspecto positivo da relação de consumo. Uma vez que, na sua concepção, a moda
instiga o indivíduo a autoconformar-se, a ser mais sujeito de sua existência, mais
ativo na sua vida, por intermédio da superescolha na qual está imerso. Ele destaca,
pois, a idéia de autonomia do homem em oposição ao distanciamento social pelo

34
consumo. Como se vê nessa visão, há uma ênfase na superioridade das
necessidades e escolhas individuais.
Sob outra perspectiva, Baudrillard (1995) afirma que é imposta ao indivíduo
uma necessidade de acompanhar as mudanças da moda, cada vez mais efêmeras,
como um caminho para se alcançar a realização pessoal. As referências das novas
tendências trocam constantemente de objetos, assim como retornam ao que, antes
foi tido como ultrapassado. Ao contrário da coerência, vê-se contradição. O valor da
moda é reversível, a percepção de utilidade e distinção está em diversos objetos, em
diversos lugares.
Nesse sentido, fica evidente a diferença de enfoques tomados pelos autores
expostos, cujo destaque permanece no posicionamento do homem na relação de
consumo, apresentado ora como superior às imposições do mercado, em função de
suas necessidades, ora como inferior às imposições da moda que o obriga a manter-
se atualizado, sob uma dinâmica bastante transitória.
No entanto, uma reflexão sobre o consumo que não peque pela ingenuidade,
não pode ignorar o papel mediador da publicidade e dos recursos de comunicação,
os quais disseminam uma variedade de discursos, imagens e signos, que
evidentemente, interferem no aspecto das necessidades e escolhas dos indivíduos.
Lefebvre (1991, p. 64) chama atenção para a ocorrência de uma:
[...] liberação de enormes massas de significantes mal ligados a seus significados ou separados deles (palavras, frases, imagens, signos diversos). Eles flutuam à disposição da publicidade e propaganda: o sorriso torna-se símbolo da felicidade cotidiana, o do consumidor esclarecido e a idéia de pureza aderem à brancura obtida pelos detergentes. Quanto aos significados deixados de lado (os estilos, o histórico etc.), eles se cuidam como podem.
Aliado a este posicionamento pode-se expor as idéias de Serrano (2006) para
quem a atual sociedade ocidental é caracterizada pelo excesso de estímulos. A
mídia não representa um meio de comunicação entre indivíduos que desejam
manifestar-se em prol de trocas interpessoais. Ao contrário, é um mecanismo de
transmissão de imagens, as quais, ao serem veiculadas, ficam soltas e circulam sem
destinatário certo, alcançando distraidamente quem se voltar a ela.
Ao analisar a forma de organização do consumo e da produção, Santos
(2001) alega que é a produção da informação e da publicidade que antecede tais
operações. O autor tem, pois, em vista um mundo cercado, por todos os lados, por

35
um sistema ideológico traçado em torno do consumo e da informação ideologizada
que acaba por orientar as ações públicas e privadas.
Visto pelo prisma de Santos (2001), o consumo representa um veículo de
narcisismos20 através de estímulos estéticos, morais e sociais e provocam a
emergência do grande fundamentalismo do tempo presente. Por esse aspecto, a
sua compreensão a despeito da conformação do mundo relaciona-se com o
consumo e com a competitividade, ambos instituídos no mesmo sistema ideológico.
Conforme Santos (2007, p. 23), o consumismo se transformou em uma “outra
religião [...] ele é o grande emoliente dos homens, aquilo que nos dissolve, aquilo
que nos convida a ser menos homens”.
Sob este aspecto, a concepção de Santos (2001; 2007) se aproxima das
idéias de Lefebvre (1991) e de Baudrillard (1995) que desacreditam no enunciado de
sociedade de consumo. Entretanto, não se pode negar a passagem de uma
sociedade alicerçada na restrição das necessidades, na economia e na
administração da escassez à nova realidade social fundada na abundância da
produção e na magnitude do consumo; e sim anunciar, a partir dessa conjuntura, a
transformação da ideologia da produção em ideologia do consumo (LEFEBVRE,
1991).
Como Baudrillard (1995) ressalta, o termo sociedade de consumo é uma
construção enganosa, pois, na realidade, trata-se de uma instituição, de uma moral
e de um artifício da estratégia do poder. A sociedade se apresenta como ingênua e
conivente, pois adota a ideologia do consumo como o próprio consumo.
Segundo Lefebvre (1991, p. 64) tal ideologia:
[...] apagou a imagem do homem ativo, colocando em seu lugar a imagem do consumidor como razão de felicidade, como racionalidade suprema, como identidade do real com o ideal (do “eu” ou “sujeito” individual, que vive e que age, com o seu “objeto”). Não é o consumidor nem tão pouco o objeto consumido que têm importância nesse mercado de imagens, é a representação do consumidor e do ato de consumir, transformado em arte de consumir. Ao longo desse processo de substituição e de deslocamentos ideológicos, conseguiu-se afastar e até apagar a consciência da alienação, acrescentando-se alienações novas às antigas.
A partir dos diferentes enfoques dado à reflexão exposta, observa-se que
culturas, identidades, necessidades e práticas cotidianas são constantemente
20 O conceito de narcisismo está relacionado ao mito de Narciso (personagem famoso pela admiração da própria beleza) e significa o amor excessivo a si mesmo, a própria imagem.

36
tomadas pelo consumo de produtos, o que pode ter motivações diversas e incluir
uma multiplicidade de discursos, signos, utilidades e conceitos como beleza, luxo,
juventude, status. Portanto, fica evidente que na sociedade contemporânea a
ideologia do consumo se manifesta em diversas esferas da vida humana, o que a
torna um dos indicadores das mudanças na realidade social.
Contudo, diante de tal contexto global de transformações, urge atentar para
as múltiplas determinações21 do processo de consumo e pensá-lo, conforme Lima
(2003), como uma prática na qual se organiza grande parte da racionalidade
econômica, sociopolítica e psicológica nas sociedades. Porém, atrelado a essa
ideologia observa-se a permanência de outros processos intervenientes na
conformação da sociedade atual como a globalização e a reflexividade, discutidos a
seguir.
2.2.2 Globalização e reflexividade
Para pensar as transformações na modernidade, o presente estudo toma as
idéias de Anthony Giddens22, preferencialmente, por estas permitirem discutir as
mudanças ocorridas na ação humana cotidiana e articulá-las com os processos de
globalização, reflexividade e destradicionalização da sociedade atual. Essa
perspectiva aproxima-se do objetivo da presente pesquisa em entender o indivíduo
moderno frente às avassaladoras mudanças, pois dá conta de identificar as
conseqüências dos conflitos modernos e compreender suas dimensões na vida
pessoal.
Diferentemente dos autores que trabalham com o foco nas instituições, as
abordagens de Giddens se orientam pelas formas de mudança social, partindo da
premissa da continuidade da vida social, não do indivíduo ou da sociedade. Ademais
as transformações na intimidade são significadas pelo autor como uma revolução
histórica no mundo, tão importante quanto as revoluções políticas. Tal argumentação
21 Tal expressão refere-se ao pensamento de Marx (1996), o qual concebe a realidade concreta como síntese de múltiplas determinações. 22 As abordagens de Giddens tentam realizar uma alternativa ao funcionalismo e ao marxismo ortodoxo vigentes quando começou seus estudos. Inicialmente, o sociólogo adotou alguns aspectos de Marx como inspiração, o que gera uma conexão filosófica-histórica, pois trabalha com uma dialética entre o sujeito e o objeto. Por outro lado, embora ele também tenha sido influenciado pelo estruturalismo, não o aceita, e nem ao pós-estruturalismo como corpo teórico geral (GIDDENS, 1992).

37
pode ser comprovada pela ênfase dada aos efeitos da globalização na experiência
de vida de cada um23.
Hoje, a vida cotidiana está interligada à ordem global – influencia e é
influenciada. Do mesmo modo em que o desenvolvimento das instituições modernas
também é influenciado pela experiência global da modernidade. Não só a
comunidade local, mas também as características íntimas da vida pessoal e do eu
tornam-se interconectadas a relações de ilimitado alcance no tempo e espaço.
“Estamos todos presos às experiências do cotidiano”. Tais experiências referem-se
às questões ligadas ao eu e à identidade, como também envolvem uma
multiplicidade de mudanças e adaptações na vida da humanidade (GIDDENS, 1997,
p. 77).
A esta altura da discussão é essencial a introdução da temática da
globalização, no entanto é preciso encará-la como um conjunto complexo de
processos que operam de modo contraditório e antagônico. A globalização é um
assunto do presente que, segundo Giddens (1997), afeta até os pontos mais íntimos
da vida humana – ou, preferivelmente, está interligada com ela de maneira dialética.
Na realidade, o que hoje em dia intitulamos de intimidade – e sua importância nas
relações pessoais – foi cunhado em grande medida por influências globalizadoras.
Para Giddens (2005), um equívoco ao pensar a globalização é achar que ela
influencia apenas os grandes sistemas, como a economia mundial, pois seus
impactos também são percebidos nas esferas íntimas e pessoais da vida24. Dessa
forma, as forças globalizantes são responsáveis por transformações profundas nas
experiências cotidianas intrapessoal, pessoal e interpessoal.
Entre todas as mudanças que estão se dando no mundo, nenhuma é mais importante do que aquelas que acontecem em nossas vidas pessoais – na sexualidade, nos relacionamentos, no casamento e na família. Há uma revolução global em curso no modo como pensamos sobre nós mesmos e no modo como formamos laços e ligações com os outros (GIDDENS, 2005, p. 61).
23 Devido à importância dada por Giddens aos indivíduos reflexivos, sistemas e estruturas, alguns autores argumentam que existe uma brecha em sua teoria referente aos conceitos de ação coletiva. Porém, o sociólogo contra-argumenta que há também circunstâncias nas quais grupos fazem coisas, mas é um erro tratar grupos como se fossem análogos a indivíduos, pois esta questão parece intrínseca ao que ele discute. (GIDDENS, 1992). 24 A família moderna é um exemplo das transformações que ocorreram na vida dos indivíduos modernos.
Segundo Giddens (2005) na família tradicional, o casal unido pelo casamento era somente uma parcela do sistema familiar, pois os laços com os filhos e os demais parentes eram do mesmo modo significantes, ou até mais, na condução diária da vida social. Atualmente, o casal, casado ou não, está no coração do que forma a família, ou seja, “o casal passou a se situar no centro da vida familiar à medida que o papel econômico da família declinou e o amor, ou o amor somado à atração sexual, se tornou a base da formação dos laços de casamento” (GIDDENS, 2005, p. 68).

38
No contexto do que a globalização fez com os meios de vida locais habituais,
o autor ressalta o processo de destradicionalização, cujo significado não é o
desaparecimento da tradição, mas sim uma reorganização, uma retratação da
tradição. É sob essa concepção, que o autor vem desenvolvendo a idéia de que se
vive numa sociedade pós-tradicional, referindo-se das grandes às pequenas
transformações, como as ocorridas com o gênero, com a sexualidade e com a
família.
Ainda sentindo as seqüelas da turbulência que esta época promoveu, é
possível agora avaliá-la fria e criticamente, à luz do seu novo estágio, mas não da
sua difamação ou da sua rejeição e sim da sua maturação. Na visão de Bauman
(1999, p. 288) “a pós-modernidade é a modernidade que atinge a maioridade, a
modernidade olhando-se à distância e não de dentro”. Talvez seja sob esta
concepção que autores como Beck e Giddens se referem ao versar sobre “alta
modernidade” ou “modernidade tardia”.
Os modos de vida lançados pela modernidade desvencilharam as pessoas de
todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma forma que não encontra
precedentes na história. Existem, obviamente, continuidades entre o tradicional e o
moderno, mas as mudanças ocorridas nos últimos três ou quatro séculos foram tão
abrangentes quanto dramáticas em seu impacto, a ponto de não se dispor, para
interpretá-las, senão de uma ajuda bastante limitada do conhecimento sobre
períodos precedentes de transição (GIDDENS, 1991).
Em face dos processos de transformação da sociedade, o referido autor
sugere, para a compreensão adequada da natureza da modernidade, a identificação
das fontes do seu extremo dinamismo, que são: a separação do tempo e do espaço;
o desencaixe dos sistemas sociais; e a ordenação e reordenação reflexiva das
relações sociais à luz das contínuas entradas de conhecimento que afetam as ações
dos sujeitos e dos grupos.
A fim de compreender as inter-relações entre a modernidade e as
transformações no tempo e no espaço é preciso lembrar que, para a maioria das
pessoas na pré-modernidade, o cálculo do tempo vinculava tempo e natureza, pois
ninguém poderia dizer a hora do dia sem tomar como referenciais outros
marcadores sócioespaciais. Observa-se, desse modo, que nas condições sociais
precedentes o espaço e o tempo coincidem amplamente, uma vez que as

39
dimensões de espaços da vida das pessoas eram marcadas pela presença
(GIDDENS, 1991).
A chegada da modernidade arrebata paulatinamente o espaço do tempo,
promovendo relações sem presentes, ou seja, entre os ausentes, localmente
afastados das interações face a face. “Em condições de modernidade, o lugar torna-
se cada vez mais fantasmagórico: isto é, os locais são completamente penetrados e
moldados em termos de influências sociais bem distantes deles” (GIDDENS, 1991,
p. 27).
Analogamente ao pensamento de Giddens (1991), Harvey (2002) aponta o
processo de compressão do tempo-espaço da sociedade atual e o define como o
estreitamento dos horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública. A
difusão imediata dessas decisões, possibilitada num espaço cada vez mais amplo,
foi permitida pela comunicação via satélite e pela queda dos custos dos transportes.
O processo de distanciamento do tempo-espaço é fundamental para o
entendimento do desencaixe que, conforme Giddens (1991), refere-se ao
deslocamento das relações sociais dos contextos locais de interação e sua
reestruturação a partir de extensões indefinidas de tempo-espaço.
Já o processo de ordenação e reordenação reflexiva, citado por Giddens,
relaciona-se com a modernidade no seu aspecto de revisão crônica do pensamento
e da ação das relações sociais. Porém, a reflexividade não se limita ao
monitoramento reflexivo da ação, e sim:
[...] à suscetibilidade da maioria dos aspectos da atividade social, e das relações materiais com a natureza, à revisão intensa à luz de novo conhecimento ou informação. Tal informação ou conhecimento não é circunstancial, mas constitutivo das instituições modernas [...] (GIDDENS, 2002, p. 25-6).
Isto significa mencionar que na vida moderna as práticas sociais são
constantemente analisadas e reparadas à luz de informação renovada sobre estas
próprias práticas. Vale destacar que nas culturas precedentes também ocorriam
transformações na vida social em virtude das descobertas que passam a realizar,
mas, contudo, somente na modernidade esta revisão é radicalizada e aplicada a
todos os aspectos da vida humana. “Nenhum conhecimento sob as condições da
modernidade é conhecimento no sentido antigo, em que conhecer é estar certo”
(GIDDENS, 1991, p. 46).

40
Isto denota que a reflexividade da modernidade acaba por sabotar a certeza
do conhecimento em geral, em função da possibilidade das progressivas revisões
teóricas e práticas descobertas nas áreas “movediças” do conhecimento25
(GIDDENS, 1997).
O que parece ser uma questão unicamente intelectual, ressalta Giddens
(1997) – o fato de todas as reivindicações de conhecimento serem passíveis de
correções – transformou-se numa condição existencial na sociedade atual. Dessa
forma, as conseqüências para as pessoas leigas e para a cultura são,
concomitantemente, libertadoras e perturbadoras. Libertadoras, porque a submissão
a uma única autoridade é opressiva; provocadoras de ansiedade, porque os
referenciais são alterados constantemente.
Em conformidade com este raciocínio, no que se refere à grandiosidade das
transformações lançadas pelo referido processo, Beck (1997) argumenta que a
reflexividade da modernidade causa, não somente, um conflito cultural de
orientação, mas um conflito institucional essencial e mais extensivamente intenso na
sociedade industrial tardia.
Para Giddens (2002), a modernidade institucionaliza o princípio da dúvida
radical e postula que todo conhecimento tome a forma de hipóteses, afirmações
possivelmente verdadeiras, mas que, a priori estão sempre abertas à revisão e
podem ser, em algum momento, abandonadas.
Entendida a dimensão da reflexividade na configuração da presente época é
preciso enfatizar que “a modernidade é constituída por e através de conhecimento
reflexivamente aplicado, mas a equação entre conhecimento e certeza revelou-se
erroneamente interpretada”, o que nos revela o motivo da sensação de insegurança,
dado o fato de que todo conhecimento será revisto e, por conseguinte, renovado
(GIDDENS, 1991, p. 46). Observa-se, assim, a influência da reflexividade para o
caráter instável e mutável do mundo.
Tomadas, de forma conjunta, as fontes dominantes responsáveis pelo
dinamismo da modernidade, as três características explicadas por Giddens (1991),
pode-se desenhar o incontrolável mundo moderno como sugere o autor:
25 Giddens (1997) adota a palavra movediça para caracterizar o conhecimento baseado na concepção de Popper, a qual defende que a ciência é construída sobre areia movediça - não tem nenhum fundamento estável. Entretanto, Giddens expande essa idéias, pois acredita que atualmente não é apenas a investigação científica que esta metáfora se aplica, mas, em maior ou menor grau, a toda a vida cotidiana.

41
A apropriação reflexiva do conhecimento, que é intrinsecamente energizante mas também necessariamente instável, se amplia para incorporar grandes extensões de tempo-espaço. Os mecanismos de desencaixe fornecem os meios desta extensão retirando as relações sociais de sua situacionalidade em locais específicos (GIDDENS, 1991, p. 59).
Dessa forma, entende-se a sinergia existente nos fatores propulsores da
dinâmica da sociedade contemporânea na conformação da vida social e pessoal do
homem atual, do mesmo modo que se demanda o aprofundamento dessas
interferências nas relações sociais. Assim, propõe-se, a seguir, uma exposição das
principais transformações ocorridas nesse contexto.
2.3 Conseqüências dos conflitos contemporâneos
Considerando os processos responsáveis pela lógica da vida humana nos
dias de hoje, apresentados pelos autores supracitados, como ideologia do consumo,
globalização, destradicionalização, reflexividade, deslocamento do tempo-espaço,
insegurança, contingência, entre outros, há espaço para contextualizar uma
pluralidade de trajetórias divergentes e convergentes de modernidade. Desse modo,
é preciso ressaltar que entre essas trajetórias e suas conseqüências há algumas
questões que merecem ser mais compreendidas por serem fundantes para a
discussão da aventura e do risco.
2.3.1 Modernidade ambivalente
Alguns pensadores iluministas e seus sucessores passaram longe do que
representaria a modernidade ao designarem que o crescente conhecimento sobre o
mundo social e natural repercutiria num controle cada vez maior sobre os mesmos26.
As conexões entre desenvolvimento do conhecimento humano e auto-entendimento
humano se mostraram mais complexas do que essa idéia sugere. Vê-se na
modernidade um mundo aberto e contingente, e isso ocorre exatamente por causa
do acúmulo de conhecimentos sobre a vida humana e o ambiente material. “É um
mundo em que a oportunidade e o perigo estão equilibrados em igual medida”
(GIDDENS, 1997, p. 75).
26 Inclusive para Max Weber a humanidade estaria condenada a viver num futuro previsível. O teórico adotou a metáfora da “jaula de ferro” para sinalizar a prisão domiciliar de conhecimento técnico que os homens iriam se instalar. (GIDDENS, 1997).

42
Como se vê na argumentação do autor, os sentimentos de insegurança e
imponderabilidade são exacerbados nesta época, pois a própria era caracteriza-se
pelo contingente. No entanto, alguns descrentes poderiam questionar que a vida
humana foi sempre marcada pela contingência e nesse ponto Giddens (1997)
esclarece que a distinção básica verificada atualmente refere-se à origem da
imprevisibilidade, uma vez que muitas incertezas observadas hoje foram produzidas
pelo desenvolvimento do conhecimento humano.
As palavras de Giddens (1991, p. 16) que auxiliam na compreensão do
mundo moderno são bastante elucidativas e merecem destaque.
A modernidade, como qualquer um que vive no final do século XX pode ver, é um fenômeno de dois gumes. O desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua difusão em escala mundial criaram oportunidades bem maiores para seres humanos gozarem de uma existência segura e gratificante que qualquer tipo de sistema pré-moderno. Mas a modernidade também tem um lado sombrio, que se tornou muito aparente no século atual.
Ao tratar do lado obscuro da modernidade, o autor se refere às suas
características já mencionadas, mas também a algumas especificidades deste
tempo, não previstas por pensadores sociais no final do século XIX, como a
invenção do armamento nuclear e, por conseguinte a ameaça de um confronto
nuclear e a erradicação da humanidade.
Desse modo fica claro que hoje encaramos circunstâncias mais ambíguas –
como enfatizaram os protagonistas do pós-modernismo – a ponto de não
visualizarem mais caminhos claros de desenvolvimento.
Um universo social de reflexividade expandida é um universo marcado pela redescoberta da tradição tanto quanto da sua dissolução; e pela destruição frequentemente excêntrica daquilo que, durante algum tempo, pareceu serem tendências estabelecidas (GIDDENS, 1997, p. 220).
Observa-se, desse modo, uma conexão do raciocínio de redefinição das
estruturas sociais na presente época, no caso de Giddens de redescoberta da
tradição, com a abordagem do sociólogo polonês, Bauman27, por considerar a idade
da contingência como análoga à idade da comunidade. Para Bauman (1999), a
contemporaneidade é balizada pela ânsia, busca, invenção e imaginação da
comunidade e esta é vista como uma combinação incomum de diferença e
companhia, com especificidades que não é restituída com a solidão.
27 Zigmunt Bauman é sociólogo e filósofo que sugeriu a metáfora da liquidez da modernidade para designar o aspecto temporário, mutável da sociedade (BURKE, 2004).

43
Esse raciocínio justifica o nascimento das “neotribos”28, cujos indivíduos
ostentam os traços simbólicos sinergicamente em favor da fidelidade tribal. Nas
palavras de Bauman (1999, p. 263), “as neotribos são, em outras palavras, os
veículos da auto-definição individual”. Além dessas características, o autor ressalta o
advento de novos valores como: a substituição da agressão da natureza pela
preocupação com a sua preservação; a artificialidade da razão, característica da
modernidade, é substituída pela sabedoria da natureza.
Por esses motivos, Giddens (1997, p. 76) argumenta que, no nível global, a
modernidade se transformou em experimental.
Queiramos ou não, estamos todos presos em uma grande experiência, que está ocorrendo no momento de nossa ação – como agentes humanos -, mas fora de nosso controle, em um grau imponderável. Não é uma experiência do tipo laboratorial, porque não controlamos os resultados dentro dos parâmetros fixados – é mais parecida com uma aventura perigosa, em que cada um de nós, querendo ou não, tem de participar.
Evidencia-se, dessa forma, a presença da aventura como tema manifestado
em todas as esferas da vida humana, haja vista que o homem contemporâneo é
obrigado a conviver diariamente com um mundo em constante mutação, como foi
ressaltado anteriormente. Esse estudo, particularmente, está interessado em
conhecer o modo como se expressa tal característica na opção de lazer dos turistas
de aventura e compreender a manifestação dessa realidade nos sentidos que estes
sujeitos atribuem a essa experiência, em especial a relação entre aventura e risco.
2.3.2 Sociedade de risco
Em busca das discussões centralizadas nas transformações sociais da vida
cotidiana, abalizadas pela sensação de insegurança, recorreu-se ao conceito de
sociedade de risco proposto pelo alemão Ulrich Beck que, por sua vez, apresenta
aproximações com as abordagens do risco defendidas por Giddens.
Esses sociólogos transformaram substancialmente a reflexão sobre os riscos
ao apresentá-los como centrais para uma nova formação social. E, ao invés de
posicionarem suas análises no plano das percepções, como muitos teóricos do
28 De acordo com Bauman (1999), Michel Maffesoli (1988) sugeriu o conceito de neotribalismo e neotribos a fim de descrever o mundo atual, um mundo que tem como característica notável a busca obsessiva da comunidade.

44
risco, eles enfatizam as especificidades dos riscos contemporâneos, diferenciando-
se das discussões de Mary Douglas29 e seus colegas (GUIVANT, 1998).
Ao analisar as idéias desses autores, Lash (1997) explana que o problema da
insegurança aparece de maneira significante nas estruturas conceituais de ambos,
todavia com preocupações diferenciadas: Beck com a mudança e Giddens com a
ordem.
Ulrich Beck, a partir de uma análise das dimensões ecológicas da mudança
social na modernidade reflexiva, tornou visível a simbiose dos problemas ambientais
com os demais conflitos da vida. As suas idéias fundamentam-se na concepção de
que as conseqüências da socialização (industrialização) da natureza produziram a
socialização das destruições da natureza, sua transformação em ameaças sociais,
econômicas e políticas do sistema da sociedade mundial superindustrializada
(BECK, 2006).
No entanto, a centralidade do conceito de sociedade de risco está no
descontrole em que se vive hoje. Quando fala em sociedade de risco o autor refere-
se às “incertezas fabricadas”, ou seja, às verdadeiras incertezas reforçadas pelas
aceleradas inovações tecnológicas. É só pensar que com as decisões passadas
sobre energia atômica e decisões presentes sobre o uso de tecnologia genética,
genética humana, nanotecnologia e ciência informática, desencadeiam-se
conseqüências imprevisíveis, incontroláveis e seguramente até incomunicáveis que
ameaçam a vida na Terra.
Guivant (1998) argumenta que tanto Beck como Giddens reconhecem na
sociedade contemporânea a radicalização dos princípios que orientaram a
modernização industrial, marcando a passagem da sociedade moderna para a alta
modernidade, nos termos de Giddens, para a modernização reflexiva, segundo
Giddens, Beck e Lash, ou para a sociedade de risco tomada por Beck.
A despeito da origem deste quadro social, Beck (1997) esclarece que, no
significado de uma teoria social e de um diagnóstico de cultura, a concepção de
sociedade de risco indica um estágio da modernidade em que começaram a se
evidenciar as ameaças causadas até então na sociedade industrial. Na realidade, a
29 Mary Douglas é uma renomada antropóloga inglesa que juntamente com seus colegas, no final dos anos 60, formulou a teoria cultural dos riscos. Tal teoria caracteriza-se pela ênfase no caráter cultural na forma de pensar o risco. Desse modo, a autora coloca-se na contramão dos analistas técnicos e quantitativos do risco, apresentando distintas pluralidades de racionalidades do relacionamento dos atores sociais com os riscos. Ressalta-se que esse aspecto das diferentes correntes teóricas do risco será exposto, posteriormente, quando os sentidos do risco assumirem o centro da discussão.

45
sociedade industrial se transforma numa sociedade progressivamente saturada,
repleta de imponderações e efeitos não-intencionados.
Inicialmente, o conceito de risco pode parecer não conter relevância para o
nosso tempo, em relação aos anteriores, afinal a vida para a maior parcela das
pessoas que viveram na Idade Média européia era penosa, violenta e breve – como
é atualmente para as populações pobres do globo (GIDDENS, 2005). Mas quais
são, então, as especificidades dos riscos da alta modernidade? A natureza e
dimensão dos riscos. Eles são novos, artificialmente manufaturados, decorrentes do
desenvolvimento científico e tecnológico, em oposição aos naturais. Portanto, não
há como negar que a noção de risco para a sociedade atual assume papel de
destaque, pois em diversos aspectos da vida humana, seja individual ou coletiva,
tem-se de realizar previsões futuras tendo em mente as incertezas desta época.
Isso significa dizer que não é a quantidade de risco, mas a sentida
impossibilidade de controle das conseqüências das decisões da civilizações que
acarreta a diferença histórica. Por isso, o autor adota o termo “incertezas
fabricadas”. A expectativa institucionalizada de controle, mesmo as idéias-chave de
“certeza” e “racionalidade” estão em esgotamento. Não são as mutações climáticas,
os desastres ecológicos, ameaças de terrorismo internacional, entre outros males,
que cunham a originalidade da sociedade de risco, mas a crescente percepção de
que se vive num mundo interligado que está se descontrolando (BECK; ZOLO,
2007).
Pode-se citar a catástrofe de Chernobyl30, que provocou um choque
antropológico nas populações das sociedades industrializadas ocidentais em relação
ao desenvolvimento tecnológico, como marco de surgimento da sociedade de risco
(GUIVANT, 1998).
30 O acidente de Chernobyl ocorreu no início da madrugada do dia 26 de abril de 1986, em decorrência de uma
explosão num reator central da usina de Chernobyl, na extinta União Soviética, que liberou uma nuvem radioativa contaminando pessoas, animais e o meio ambiente de uma vasta expansão da Europa. Levada pelos ventos, a nuvem radioativa ligeiramente se alastrou pela Ucrânia, Belarus, Federação Russa, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia. Posteriormente, contaminou a Europa Central principalmente a Áustria e regiões dos Bálcãs, Itália, França, Reino Unido e Irlanda. Foram aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados de solo europeu contaminado. O total de mortos até hoje ainda é motivo de discussão. Para a ONU foram quatro mil mortos, porém os sobreviventes do acidente sofreram graves doenças sendo o câncer de tireóide a mais freqüente, mais de quatro mil casos, dada a inalação de grande quantidade de iodo 131. Como medida de contenção e isolamento do material radioativo foi construída uma espécie de sarcófago de concreto e aço sobre o reator que explodiu. Tal acidente levantou questionamentos acerca do uso da energia nuclear e consequentemente provocou uma redução dos projetos nucleares de alguns países.

46
Apesar de hoje em dia, os mundos social e natural estarem totalmente
influenciados pelo conhecimento humano reflexivo tem-se uma sensação de
descontrole do destino.
O futuro se parece cada vez menos com o passado e, em alguns aspectos básicos, tem se tornado muito ameaçador. Como espécie, não temos mais uma sobrevivência garantida, mesmo a curto prazo – e isto é uma conseqüência de nossos próprios atos, como coletividade humana (BECK, GIDDENS, LASH, 1997, p. 8).
Revela-se, portanto, uma sociedade na qual a preocupação com a satisfação
das necessidades materiais básicas é transposta, paulatinamente, pela preocupação
com o risco potencial de autodestruição da humanidade.
Tais riscos vividos na contemporaneidade alcançam os níveis individual e
global. Os riscos individuais sempre estiveram presentes, porém distinguem-se dos
riscos que a modernidade-tardia carrega consigo. Já a disposição de perigos
expressada pelas ameaças nucleares, assim como as questões ambientais, atinge
proporções globais. Além disso, o autor destaca a desigualdade na distribuição dos
riscos, a qual não adota como parâmetros norteadores as propagadas dicotomias:
ricos x pobres; desenvolvidos x subdesenvolvidos; centro x periferia; ela é
simplesmente desigual. Na realidade, os riscos desconhecem fronteiras, classes
sociais, enfim, eles relativizam posições de classes, índices econômicos e níveis
culturais (BECK, 1997).
A sociedade de risco, argumenta Beck (1997), não é uma alternativa que se
pode eleger ou abandonar no transcorrer de disputas políticas. Ela nasce na
continuidade dos processos de modernização autônoma. De maneira cumulativa e
concentrada, esses processos produzem ameaças que questionam e finalmente
destroem as bases da sociedade industrial.
O conceito de sociedade de risco transforma, de forma sistêmica e evidente,
as relações da sociedade moderna com os recursos da natureza e da cultura, as
relações da sociedade com as ameaças e os problemas por ela gerados, dada a
extrapolação das idéias sociais de segurança, e as bases de significados coletivas e
específicas de grupo. As pessoas estão sendo emancipadas da sociedade industrial
para a turbulência da sociedade de risco global. “Espera-se que elas convivam com
uma ampla variedade de riscos globais e pessoais diferentes e mutuamente
contraditórios” (BECK, 1997, p.18).

47
Em face da sociedade global de risco, três dimensões de perigo podem ser
distinguidas, cada uma adotando uma diferente lógica de conflito: primeira, crise
ecológica; segunda, crise financeira global; e terceira – a partir de 11 de setembro
de 2001 – o perigo causado pela rede transnacional de terrorismo. (BECK; ZOLO,
2007).
O autor explica que, com o aparecimento da sociedade de risco, os conflitos
da repartição dos “bens”, que eram o conflito fundamental da sociedade industrial,
são transpostos pelos conflitos de distribuição de malefícios, os quais podem ser
decifrados como conflitos de responsabilidade distributiva. Eles influenciam o modo
como os riscos que seguem a produção dos bens (megatecnologia nuclear e
química, pesquisa genética, a ameaça ao ambiente) podem ser difundidos, evitados,
contidos e legitimados.
Apresentam-se hoje situações de risco que ninguém teve de enfrentar na
história passada da humanidade – das quais o aquecimento global é apenas um
exemplo. Muitos dos novos riscos e incertezas afetam as pessoas onde quer que
estejam ou vivam, não importa quão privilegiados ou carentes são. Eles estão
inexoravelmente atrelados à globalização (GIDDENS, 2005).
Nessa perspectiva de raciocínio observa-se que a sociedade de risco
evidencia as conseqüências sistemáticas da excessiva racionalização dos recursos
naturais e, por conseguinte, as necessidades de uma nova reflexão.
Na sociedade de risco, o reconhecimento da imprevisibilidade das ameaças provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial exige a auto-reflexão em relação às bases da coesão social e o exame das convenções e dos fundamentos predominantes da racionalidade. No autoconceito da sociedade de risco, a sociedade torna-se reflexiva (no sentido mais estrito da palavra), o que significa dizer que ela se torna um tema e um problema para ela própria (BECK, 1997, p. 19).
Na argumentação de Giddens (1997), o risco e a confiança assim como seus
vários opostos, necessitam ser avaliados em conjunto nas condições da
modernidade tardia.
A “primeira sociedade global” é certamente unificada de uma maneira negativa, como diz Beck, pela geração de riscos comuns. [...] Esta sociedade, não obstante, não é apenas uma “sociedade de risco”. É uma sociedade em que os mecanismos da verdade se modificam – de maneiras interessantes e importantes. O que pode ser chamado de confiança ativa torna-se cada vez mais significativo para o grau em que emergem as relações sociais pós-tradicionais (GIDDENS, 1997, p. 221).

48
Nesse sentido, o autor argumenta que o problema de relacionamento com o
risco é, justamente, como devem ser encarados não tanto as ameaças ambientais,
mas as psíquicas e as sociais, e manter níveis razoáveis de ordem e estabilidade
nas personalidades e no convívio social.
Na sociedade de risco, o lado imprevisível e os efeitos secundários da
demanda por controle conduzem ao reino da incerteza e da ambivalência. Em face
da distinção ambígua dos riscos, Beck (1997) considera que as questões de risco
recorrem para o reconhecimento da ambivalência.
É relevante destacar que as abordagens de Beck, em relação à configuração
de uma nova formação social orientada pelo risco, têm sido identificadas como
catastróficas por alguns críticos de seu trabalho.31 Guivant (1998), a partir de uma
crítica mais pontual à concepção de Beck, esclarece que o referencial baseado nas
sociedades altamente industrializadas leva o autor a menosprezar a possibilidade de
existência simultânea de diversos tipos de sociedades (sociedade de classes e
sociedade de riscos)32. Como exemplo toma-se a sociedade brasileira que enfrenta
problemas da sociedade de escassez, na qual a distribuição da riqueza é desigual, e
ao mesmo tempo, problemas da sociedade de risco, da qual não há como fugir.
É sob essa concepção que Brüseke (2001) apelida a idéia de sociedade de
Beck de “sociologia territorializada”, pois determinados fragmentos territoriais
organizados em Estados e geralmente dos países industrializados podem confundir
o que ocorre em contextos locais com processos de âmbito global, já que
dificilmente se pode falar que a população global superou o problema da escassez e
da distribuição desigual dos bens.
Embora não seja adotada a idéia de deslocamento de uma sociedade de
classe para uma sociedade de risco, como também de uma nova formação social
fundamentada, exclusivamente, nos riscos presentes no contexto atual, conforme
Beck defende, assume-se, a partir das idéias de Giddens (2002, p. 109), a
centralidade da noção de risco para o recente quadro social: “viver no universo da
alta modernidade é viver num ambiente de opções e riscos, concomitantemente,
31 Ver Adams (1995) e Mol e Spaargaren (1993; 1995). 32 Tendo em vista o caráter global dos riscos, os quais perpassam fronteiras de classe e nação, Beck considera que o novo quadro social que está se formatando já não pode ser denominado como sociedade de classes, haja vista, que antes os riscos eram tidos como pessoais, agora passam a ser globais com alcance de todas as classes. Por esse aspecto, o autor anuncia o fim da sociedade de classes e o início da sociedade de risco (GUIVANT, 1998).

49
inevitáveis de um sistema orientado para o domínio da natureza e construção
reflexiva da história”.
Deste modo, a partir dos argumentos expostos, toma-se como parâmetro da
sociedade atual a permanência do processo de radicalização da modernização, a
ideologia do consumo, a modernidade tardia, para citar Giddens, notadamente
influenciada pela descartabilidade, imprevisibilidade, imponderabilidade e
complexidade que permeiam as experiências cotidianas contemporâneas. É sob
essa concepção que se propõe pensar, para o presente estudo, a relação com a
aventura e o risco no trabalho, na vida pessoal e no lazer das pessoas, em especial
nas práticas do turismo de aventura.

50
3 AFINANDO SIGNIFICAÇÕES: Linguagem e produção de sentidos
Considerando os objetivos e os pressupostos desta pesquisa, a proposta
neste capítulo é apresentar as abordagens acerca da linguagem, da produção de
sentidos no cotidiano e, de maneira mais específica, dar sustentação conceitual para
a análise dos discursos dos turistas que constituem a empiria deste estudo. Retoma-
se, dessa forma, a questão: Quais os sentidos do risco e da aventura para os
turistas que praticam o rafting?
Mesmo tendo em vista que dar sentido ao mundo é uma força inevitável da
vida, propor a compreensão da relação desses turistas com o risco e a aventura
proporciona o alargamento dos horizontes de discussão do turismo de aventura e a
consideração de novas perspectivas teórico-conceituais, agora relacionadas à
lingüística. Para o entendimento de alguns conceitos suscitados por tal arcabouço
conceitual, o presente estudo se apoiou em Bakhtin33(1995), articulando-o com as
idéias de McNally34 (1999) e Spink35 (1999) que compartilham das idéias do primeiro
autor, cujo estudo da linguagem dá-se atrelado à prática social que a produz.
Ao se notar a palavra como o canal privilegiado da comunicação na vida
cotidiana, pois é especialmente nesta propriedade que a conversação e suas formas
discursivas se situam (BAKHTIN, 1995)36, percebe-se o uso deste domínio e sua
captação como um desafio, dado o seu caráter multifacetado, uma vez que uma
palavra pode apresentar diferentes significações em diferentes contextos. “A
multiplicidade das significações é o índice que faz de uma palavra uma palavra”
(BAKHTIN, 1995, p. 130).
Para o aprofundamento desse aporte teórico, inicialmente, busca-se situar a
perspectiva lingüística com a qual se encaminha a investigação.
33 Mikhail Bakhtin (1895-1975), pensador russo, diplomou-se em história e filologia em 1918, trabalhou como professor e participava de um pequeno grupo de intelectuais freqüentado, entre outros, por Marc Chagall, P. N. Medviédiev e V. N. Volochínov (BAKHTIN, 1995). 34 David McNally leciona ciência política na Universidade de York, Toronto, e é autor de Against the Market:
Political Economy, Market Socialism and the Marxist Critique (1993) (MCNALLY, 1999). 35 Mary Jane P. Spink é doutora em Psicologia Social pela London School of Economics and Political Science, Universidade de Londres, professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora do CNPq e coordenadora do grupo de pesquisa que versa sobre as práticas discursivas do cotidiano (SPINK, 2007). 36 Originalmente esta obra foi publicada com a assinatura de V. N. Volochínov, em Leningrado, em 1929-1930, mas acabou-se atribuindo a autoria desta obra e algumas outras a Bakhtin. Ao que parece, o pesquisador recusava-se a fazer concessões à fraseologia da época e a certos dogmas impostos aos autores e seus discípulos e adeptos como Volochínov graças a alguns retoques obrigatórios no texto tentaram um compromisso que permitia preservar o essencial do grande trabalho do pesquisador (BAKHTIN, 1995).

51
3.1 Perspectiva lingüística
Tem-se em mente que as pesquisas realizadas na área das ciências
humanas e sociais e, sobretudo as que focalizam os discursos dos indivíduos, estão
imbricadas sobremaneira com a compreensão da linguagem. Todavia, falar de
linguagem nos remete a uma arena complexa dada a multiplicidade de abordagens,
o que significa uma diversidade de sistemas de referência teórico-metodológico
específicos.
A proposta aqui não é fornecer uma visão aprofundada da Filosofia da
linguagem contemporânea, até porque isso excederia o escopo da pesquisa, mas
fornecer subsídios para compreender o estilo polifônico37 que formam a concepção
lingüística adotada.
Partindo de uma abordagem de linguagem como um complexo intrincado,
Bakhtin (1995) expõe que mesmo lançando mão das esferas física, fisiológica e
psicológica da realidade ainda não se alcançaria a linguagem. Ao se isolar o som
como fenômeno puramente acústico projeta-se o elemento físico, ao se relacionar o
processo fisiológico da produção do som à percepção sonora contempla-se a
propriedade psíquica e ao integrar a ação mental do locutor e do ouvinte têm-se dois
processos psicofísicos ocorrendo em indivíduos diferentes, todavia todas as etapas
descritas ainda não abarcariam a linguagem.
Ressalta-se a necessidade de inserir esse conjunto de múltiplas facetas e de
numerosos elementos no domínio da relação social organizada, pois para definir a
presença da linguagem é necessário situar o emissor e o receptor do som e até
mesmo o próprio som no seu meio social. Para que o complexo físico-psíquico-
fisiológico apresentado possa vincular-se à língua, à fala e até tornar-se um fato de
linguagem, o autor (BAKHTIN, 1995, p. 71) defende como condições imprescindíveis
a “unicidade do meio social e a do contexto social imediato”.
Como se vê na abordagem de Bakhtin (1995) o principal eixo de suas
análises é o sociolingüístico, aliado à valorização da fala, da enunciação38 e do seu
caráter histórico e social, não individual, ou seja, a fala é vista como
indissoluvelmente pautada pelas condições de comunicação que, por sua vez,
37 A característica polissêmica da linguagem será exposta no decorrer do texto, mas ressalta-se que esta visão alinha-se fundamentalmente com o pensamento bakhtiniano. 38 De acordo com Bakhtin (1995), a enunciação é entendida como uma réplica do diálogo social e constitui a unidade de base da língua, ou seja, são as expressões (palavras e sentenças).

52
articula-se com as estruturas sociais. Bane-se a idéia de abstração da língua e sua
apresentação como sistema homogêneo e defende-se, ao contrário, a concepção da
materialidade e mutabilidade da forma lingüística.
De forma convergente com essa abordagem, a língua na perspectiva de Marx
não é vista como um campo apartado e apático à existência humana e sim uma
dimensão significativa dessa existência, pois representa a consciência real. Desse
modo, a língua é permeada pelos conflitos, tensões e contradições da vida
(MCNALLY, 1999).
Ao versar sobre a teoria de Bakhtin, Hostins (2000) relaciona-o com Vygotsky
e considera que ambos os autores realçam a presença de uma unidade dialética
entre sujeito e objeto e ponderam a experiência dos indivíduos concomitantemente
em sua totalidade e em sua singularidade, sendo este homem representado por um
sujeito histórico, datado, concreto, marcado por sua cultura. Bakhtin e Vygotsky para
Hostins (2000) partem da dialética e levantam uma visão da realidade, não
fragmentada, porém intrincada com a história, que procura compreender o homem
estabelecido no conjunto das relações sociais.
McNally (1999) argumenta que a teoria de Bakhtin (Voloshinov)39 sobre a
língua é notadamente histórica, pois nos projeta para o campo real da comunicação,
da interação verbal entre indivíduos permeados pelas contradições sociais. É por
esse aspecto que a teoria bakhtiniana representa uma correção das idéias estáticas
e a-históricas que predominam nas concepções pós-modernas.
Vale lembrar as palavras de Bakhtin (1995, p. 109, 127), que apreendem a
língua como “um fenômeno puramente histórico” e “um processo de evolução
ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos locutores”.
Considerando a palavra como o domínio privilegiado da comunicação na vida
cotidiana e enfatizando sua ubiqüidade social, Bakhtin (1995, p. 41) sublinha:
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. [...] A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais.
39 McNally procura não entrar no debate sobre quem escreveu Marxismo e Filosofia da Linguagem, porém, mesmo reconhecendo a influência das idéias bakhtinianas, atribui este livro principalmente a Voloshinov.

53
Não obstante, pode-se perceber que a palavra é a arena onde se afrontam os
valores sociais contraditórios, o que torna a variação inerente à forma lingüística. Em
contrapartida, se tratada como sistema gramatical abstrato, a língua pode ser
apresentada como singular, isolada das transformações sociais.
É a partir desse pensamento que Bakhtin (1995) explica que o sentido da
palavra é inteiramente influenciado pelo seu contexto, ou seja, há tantas
significações plausíveis quantos forem os contextos. Ademais, as formas lingüísticas
se apresentam aos locutores num contexto ideológico preciso, o que faz com que a
palavra esteja sempre impregnada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou
vivencial.
Estes e outros conceitos bakhtinianos constituem um campo fértil para a
compreensão dos processos de produção de sentidos das pessoas que praticam o
turismo de aventura, uma vez que as condições da organização de seus discursos,
marcados pelos valores sociais, serão vistos como fundamentais para o
entendimento da experiência, da percepção e da significação da atividade em
estudo: o rafting.
Resgatando a abordagem de Bakhtin (1995, p. 109) acrescenta-se a idéia da
dupla face da palavra, pois ela é o território comum do locutor com o interlocutor:
Na realidade, o ato da fala, ou, mais exatamente, seu produto a enunciação, não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo; não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de natureza social.
É sob este aspecto que a concepção bakhtiniana evidencia uma característica
fundamental de seu pensamento: o dialogismo. Este processo refere-se à interação
contínua no ato da pessoa que fala com a outra ouvinte. Toda enunciação é
“socialmente dirigida”.
Antes de mais nada, ela é determinada de maneira mais imediata pelos participantes do ato da fala, explícitos ou implícitos, em ligação com uma situação bem precisa. [...] A situação e os participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação. Os estratos mais profundos da sua estrutura são determinados pelas pressões sociais mais substanciais e duráveis a que está submetido o locutor (BAKHTIN, 1995, p.113-114).
Fica evidente nas argumentações do autor a predominância do ato social e
não do ato individual interior. Observa-se assim a natureza sociológica da estrutura
da enunciação e da atividade mental. “O centro organizador de toda enunciação, de

54
toda expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve
o indivíduo. [...] A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social”
(BAKHTIN, 1995, p. 121).
Voltando ao problema do complexo da linguagem entende-se agora que sua
substância não é constituída pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo
fenômeno social da interação verbal (dialogia), alcançada por meio da enunciação
ou das enunciações. Em vista desses aspectos o autor (1995, p. 123) ressalta que
“a interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua”.
Concebendo a evolução da língua como um processo ininterrupto o autor
delineia o seguinte quadro:
[...] as relações sociais evoluem (em função das infra-estruturas), depois a comunicação e a interação verbais evoluem no quadro das relações sociais, as formas dos atos de fala evoluem em conseqüência da interação verbal, e o processo de evolução reflete-se, enfim, na mudança das formas da língua (BAKHTIN, 1995, p. 124).
Como se vê, na abordagem de Bakhtin persiste a relação contínua das
transformações sociais com as produções das formas lingüísticas, em especial das
enunciações. Com vista na idéia da circularidade evidenciada nas palavras do autor
foi elaborada a figura 3 no intuito de fortalecer a idéia da mutabilidade lingüística.
Figura 3: Mutabilidade da Forma Lingüística
Fonte: Elaborado pela autora com base nas idéias de Bakhtin (1995).
As formas dos atos de fala evoluem
As relações sociais evoluem
A comunicação e a interação
verbais evoluem MUDANÇA
DAS FORMAS DA LÍNGUA

55
Dessa forma, atendo-se a esta interseção do território social no ato da fala e
na linguagem dos indivíduos convalida-se a importância dada à perspectiva sócio-
histórica na discussão acerca da sociedade contemporânea, realizada no capítulo
anterior da presente pesquisa. Isto sinaliza, mais uma vez, a necessidade de
entendimento dos sentidos da aventura e do risco para os turistas que praticam o
rafting à luz das práticas sociais que permeiam, atualmente, a vida cotidiana.
A dimensão da linguagem não é, portanto, aqui tomada como uma única
estrutura de relações e significados gramaticais, como “sistema abstrato”, mas pelo
contrário como uma imersão em um campo social e histórico de temas, a partir de
uma “interanimação dialógica”, reportando-se a Bakhtin.
A este ponto da discussão confirma-se a posição de destaque assumida pelos
estudos em linguagem, uma vez que foi observada sua importância nos processos
de comunicação dos fenômenos. Neste item, sobre a perspectiva lingüística, foram
apresentados aspectos essenciais que fundamentam o diálogo da pesquisa com os
diferentes campos do conhecimento e especialmente no que se refere à abordagem
da produção de sentido.
3.2 Produção de sentido
3.2.1 Palavra como signo social
Partindo do pressuposto da necessidade de uma abordagem marxista para a
filosofia da linguagem, pode-se observar na obra de Bakhtin (1995), o diálogo entre
diversos domínios das ciências humanas como a psicologia, a pedagogia, a
comunicação e a lingüística devido à complexidade da linguagem destacada pelo
próprio autor. Todavia este emaranhado de visões é complementado com a
semiologia, quando a dimensão semiótica da palavra é introduzida.
O autor explica que todo produto natural, tecnológico ou de consumo pode
transformar-se em signo e adquirir, desse modo, um sentido que excede suas
próprias particularidades. E estes signos são produzidos num “terreno
interindividual”, ou seja, entre indivíduos socialmente organizados. Mas é na
linguagem que o aspecto semiótico aparece claramente como fator condicionante.
“A palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 1995, p. 36).

56
É preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social para compreender seu funcionamento como instrumento da consciência. É devido a este papel excepcional de instrumento da consciência que a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, seja ela qual for (BAKHTIN, 1995, p. 37).
De acordo com o autor, a ideologia é a representação do real que é dotado de
sentido, ou seja, é a maneira como cada grupo refrata o mundo. Um produto
ideológico integra uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico,
ferramenta de produção ou produto de consumo. Tudo que é ideológico tem um
significado e aponta algo situado fora de si mesmo. Em outras palavras, tudo que é
ideológico tem um valor semiótico.
É sob esta concepção que a análise da experiência de aventura – no presente
estudo decorrente da prática de atividades “radicais” - na sociedade atual aproxima-
se da idéia bakhtiniana de signo ideológico. Tomado como um fragmento material de
uma realidade, o signo da aventura penetra na vida cotidiana contemporânea,
alcançando desde as esferas de lazer, turismo, vestuário aos estilos de vida.
Em função, portanto, do acelerado alastramento desse signo que este estudo
propõe analisar os sentidos da aventura e do risco atribuídos pelos turistas que
praticam o rafting, a partir de um olhar pautado na dialogia dos processos sociais,
implícita na linguagem e no ato da fala.
3.2.2 Os Sentidos
Mary Jane Spink (1999) juntamente com outros pesquisadores publicou o livro
intitulado Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano, cujo objetivo foi
sistematizar propostas teórico-metodológicas desenvolvidas pela autora, mas que
ganharam impulsos com as pesquisas desenvolvidas pelos participantes do Núcleo
de Estudos e Pesquisas sobre Práticas Discursivas e Produção de Sentidos40.
De acordo com Spink e Medrado (1999) o sentido é uma construção social,
uma iniciativa coletiva, mais detidamente interativa, por meio da qual as pessoas –
marcadas pela dinâmica das relações sociais historicamente datadas e
culturalmente localizadas – edificam os meios a partir dos quais entendem e lidam
com as circunstâncias e fenômenos da sua realidade.
40 Grupo de pesquisa do CNPq, coordenado pela professora Mary Jane Spink e composto por mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da PUC de SP.

57
Como se vê na perspectiva desses autores a produção de sentido extrapola a
atividade cognitiva intra-individual abarcando a arena sociolingüística, uma vez que
em suas argumentações é enfatizada a interação entre os indivíduos que são
socialmente organizados e historicamente contextualizados.
Vygotsky (1989) chama atenção para a distinção entre significado e sentido e
define o primeiro como sendo o produto de uma construção social, relacionado às
definições tais como se apresentam no dicionário. Em contrapartida, o sentido
refere-se ao sistema complexo, fluido, dinâmico, que é construído a partir de uma
conjuntura de interlocução centrada no tempo e no espaço, cujas possibilidades de
significação lhe são devidas.
Manifesta-se aqui uma convergência entre o pensamento desses autores com
a visão bakhtiniana no que diz respeito ao diálogo entre as dimensões social e
histórica, necessárias à compreensão da fala dos indivíduos. Esta característica
evidencia-se notadamente quando Bakhtin (1995) expõe que para entender uma
enunciação de outrem é preciso orientar-se em relação a ela, de forma a localizar
adequadamente seu contexto correspondente. Significados, por conseguinte, são
também históricos, estão imersos num processo no qual o passado e o presente se
interligam.
Por outro lado, considerando a diferenciação entre significado e sentido
realizada por Vygotsky, Bakhtin (1995, p. 129) propõe uma distinção entre tema e
significação. O tema é um “sistema de signos dinâmico e complexo, que procura
adaptar-se adequadamente às condições de um dado momento da evolução”
influenciado não só pelas formas lingüísticas que o compõem (as palavras, as
formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entonações), mas igualmente pelos
elementos não verbais da situação, ou seja, o tema é tão concreto quanto o instante
histórico ao qual pertence. Já a significação se define como um “aparato técnico
para a realização do tema”, ou seja, a significação de uma enunciação pode ser
entendida como um conjunto de significações relacionadas aos elementos
lingüísticos que a compõem. Somente o tema significa de maneira determinada, pois
a significação não diz nada em si mesma, ela é apenas uma possibilidade de
significar no interior de um tema concreto. Todavia, é impossível separá-los, pois
não há tema sem significação e vice-versa.
Referindo-se aos discursos de outrem Bakhtin (1995, p.146) esclarece que o
texto, “quando sabemos lê-lo”, sinaliza não os processos subjetivo-psicológicos

58
efêmeros e fortuitos de quem falou ou de quem o recebeu, mas “as tendências
sociais estáveis, características da apreensão ativa do discurso de outrem que se
manifestam nas formas da língua”. Ou seja, o autor evidencia a localização do
processo de apreensão na sociedade e não no indivíduo.
Na abordagem teórico-metodológica apresentada por Spink e Medrado (1999)
a centralidade está no sentido produzido no cotidiano e o objetivo é entender tanto
as práticas discursivas que permeiam a vida humana (narrativas, argumentações e
conversas) como os repertórios empregados nessas produções discursivas. A idéia
lançada por práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano pressupõe a
articulação de três dimensões básicas: linguagem, história e pessoa.
O conceito de linguagem adotado na referida proposta teórico-metodológica é
a de linguagem como prática social na interface com os seus aspectos
performáticos41 e suas condições de produção, compreendidas tanto como contexto
social e interacional, quanto no sentido foucaultiano de construções históricas. Como
os autores enfatizam a linguagem em uso, eles adotam diferentes terminologias,
referentes a distintos níveis de análise, como discurso e práticas discursivas.
O discurso denota as regularidades lingüísticas e o uso institucionalizado da
linguagem42. Distintos grupos sociais apresentam seus discursos próprios. Devido
ao seu caráter institucionalizado, ele possui uma tendência em permanecer no
tempo, mas com as devidas interferências do contexto histórico. Entendidos dessa
forma, os discursos aproximam-se da idéia de linguagens sociais bakhtiniana que
são definidas como discursos peculiares a um segmento específico da sociedade
num determinado contexto e momento histórico. Ademais, o referido contexto
influencia a forma e o estilo eventual das enunciações, o que Bakhtin chama de
speech genres43 (SPINK; MEDRADO, 1999).
Se de um lado o discurso, a linguagem social ou speech genre enfatizam o
habitual gerado pelos processos de institucionalização, por outro lado o conceito de
práticas discursivas focaliza os momentos de ressignificação, de ruptura, de
produção de sentido, isto significa que as práticas discursivas são referentes aos
41 Essa é a esfera da pragmática da linguagem e refere-se às condições de uso dos enunciados, têm a ver com quando, em que condições, com que intenção e de que modo se fala. Cita-se como representantes dessa vertente John Austin (1962) e John Searle (1969). (SPINK, 1999). 42 A idéia de uso institucionalizado da linguagem apresentada por Spink e Medrado baseia-se em Bronwyn Davies e Rom Harré (1990). (SPINK; MEDRADO, 1999). 43 De acordo com Bakhtin (1995), os speech genres – gêneros dos discursos – são as formas mais ou menos estáveis contidas nos enunciados e que procuram coerência com o contexto, o tempo e os interlocutores.

59
momentos ativos do uso da linguagem, nos quais coexistem a ordem e a diversidade
(SPINK; MEDRADO, 1999).
Podemos definir, assim, práticas discursivas como linguagem em ação, isto é, as maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas. As práticas discursivas têm como elementos constitutivos: a dinâmica, ou seja, os enunciados orientados por vozes; as formas, que são os speech genres; e os conteúdos, que são os repertórios interpretativos (SPINK; MEDRADO, 1999, p. 45).
Esta linha de argumentação possui efetivamente uma conexão com as
abordagens de Bakhtin, haja vista a adoção dos termos “enunciados” e “vozes”44
trabalhado pelo autor e que se referem ao processo essencial de seu pensamento: o
dialogismo, o qual representa a interanimação existente entre os enunciados e as
vozes.
Já os repertórios interpretativos citado por Spink e Medrado (1999) constituem
as unidades de construção das práticas discursivas – conjunto de termos,
descrições, lugares-comuns e figuras de linguagem – que balizam o rol de
potencialidades de construções discursivas. De forma mais simples, eles
representam o substrato para a argumentação.
Os autores (1999, p. 48) ainda ressaltam a importância desse conceito para o
entendimento da variabilidade encontrada nas comunicações cotidianas, pois o foco
dos estudos que o adotam passa ser a diversidade e a polissemia. No entanto,
admitir a polissemia das práticas discursivas não significa negar a possibilidade de
hegemonia, pelo contrário, “a natureza polissêmica da linguagem possibilita às
pessoas transitar por inúmeros contextos e vivenciar variadas situações”.
Retomando a segunda dimensão da abordagem de Spink e Medrado (1999,
p. 49), a história, justifica-se a aproximação da temporalidade dos repertórios pela
problemática dos contextos de sentidos. “O sentido contextualizado institui o diálogo
contínuo entre sentidos novos e antigos”. Desse modo, o contexto discursivo é
desenvolvido na interface de três tempos históricos:
44 As vozes compreendem os interlocutores presentes nos diálogos, são como negociações que se realizam na produção de um enunciado entre duas ou mais pessoas. Quando um entrevistado, por exemplo, fala: “Me lembro da minha casa, quando minha mãe...”, nesse momento foi trazida para a dialogia a voz da mãe. Portanto, a compreensão dos sentidos é circunstancialmente um confronto entre inúmeras vozes (BAKHTIN, 1994 apud SPINK; MEDRADO, 1999).

60
1) tempo longo que representa o espaço dos conhecimentos produzidos e
reinterpretados por distintas áreas do conhecimento, ou seja, constitui os conteúdos
culturais, definidos ao longo da história da civilização;
2) tempo vivido corresponde às experiências da pessoa na sua história, como
também o ponto de referência afetivo, é o tempo de memória traduzida em afeto, é
pois nesse nível que dá-se o aprendizado das linguagens sociais, adentra-se no
terreno do habitus45, isto é, dos arranjos resgatados a partir da pertença a
determinados grupos sociais;
3) tempo curto que é o tempo do acontecimento e da interanimação dialógica,
é justamente o tempo que dá condições para o entendimento da produção de
sentidos, pois se refere às interações face-a-face, em que há a comunicação entre
os interlocutores, é nesse momento que se fazem presentes as combinações das
vozes ativadas pela memória cultural do tempo longo, ou pela memória afetiva do
tempo vivido.
De acordo com os autores, para compreensão da produção de sentidos é
necessário articular as interfaces desses tempos (longo, vivido, curto). Essa linha de
raciocínio alinha-se com Bakhtin que considera os textos como além das fronteiras
de qualquer tempo.
Contentar-se em compreender e explicar uma obra a partir das condições de sua época, a partir das condições que lhe proporcionou o período contíguo, é condenar-se a jamais penetrar as suas profundezas de sentido. [...] As obras rompem as fronteiras de seu tempo, vivem nos séculos, ou seja, na grande temporalidade, e, assim não é raro que essa vida seja mais intensa e mais plena do que nos tempos de sua contemporaneidade (BAKHTIN, 1992, p. 364 citado por SOUZA, 1997, p. 344).
Assume-se assim uma convergência com o pensamento bakhtiniano, cujo
entendimento dos sentidos demanda um olhar sócio-histórico e, por conseqüência,
um esforço transdisciplinar de ajustamento ao contexto cultural e social que ocorre
um dado fenômeno social.
Resgata-se agora a terceira dimensão da abordagem apresentada: pessoa. A
partir do conceito de pessoa os autores buscam enfatizar a centralidade na dialogia,
em oposição ao individualismo ou à condição do sujeito. Tal noção ressalta a
característica relacional do homem, pois é determinada pela relação.
45 De acordo com Sérgio Miceli (1987), o habitus é definido como um conjunto de esquemas percebidos desde a infância e constantemente atualizados ao longo da trajetória social da pessoa (SPINK; MEDRADO, 1999).

61
Ademais, Spink e Medrado (1999, p. 55) ressaltam a relação direta desta
idéia com o próprio processo de produção de sentidos nas práticas discursivas do
cotidiano, pois a pessoa, no curso das relações sociais, está inserida num
permanente “processo de negociação, desenvolvendo trocas simbólicas, num
espaço de intersubjetividade ou, mais precisamente, de interpessoalidade”.
Pode-se observar na formatação da abordagem das práticas discursivas e
produção de sentidos no cotidiano a permanência da linguagem verbal, todavia os
autores ainda destacam a relevância da linguagem não verbal – expressões faciais,
gestos, posturas, silêncios – na dinâmica das práticas discursivas e justificam a
observação de tais elementos como fator enriquecedor das análises, bem como a
concessão do aprofundamento para a descrição do contexto em que as práticas
discursivas se desenvolvem.
É também com base nessa visão que se adotou para o presente estudo o
método de observação estruturada, juntamente com a entrevista. Pois, a
compreensão do sentido da aventura e do risco tomados pelos praticantes do rafting
demanda um conjunto de elementos capazes de agremiar e apreender as
idiossincrasias de cada pessoa e, por conseguinte, deste grupo social.
Considerando que a fonte principal da empiria são as entrevistas a serem
realizadas com os turistas que praticam o rafting, observa-se que o foco da análise
são as relações face-a-face. Desse modo, os textos produzidos nas entrevistas são
assumidos como práticas discursivas permeadas pelas conceituações de
enunciados, vozes, speech genres que articulados com as observações e os
estudos do contexto sócio-histórico representarão o discurso desse grupo, dotado de
sentido.

62
4 Sentidos do risco na sociedade contemporânea
É inegável a presença do risco no discurso e na fala das pessoas do presente
tempo. Seja onde for, a vida contemporânea está permeada pela exposição a
diversos riscos, de maneira voluntária ou involuntária, por indivíduos ou grupos, em
nível local ou global. Basta olhar para o cotidiano, onde o risco é incorporado a
variadas esferas e responsável por preocupações constantes, tais como o risco de
epidemias, o risco de ingestão de alimentos com agrotóxicos, o risco de falência, o
risco de contaminação, o risco de assalto, entre outros.
Tendo em mente a propagação da temática do risco e seu alinhamento com
os objetivos deste estudo, propõe-se, nesse capítulo, apresentar e discutir tal
enunciado, buscando, inicialmente, compreender as diversas faces do risco,
lembrando que as diversas formas da palavra dependem das múltiplas valorizações
sociais que lhe são atribuídas. De maneira mais particular e pragmática, procura-se
fornecer referencial conceitual para fundamentação das análises da empiria.
4.1 Risco: um enunciado cada vez mais disponível
Para Brüseke (2007), um dos aspectos motivadores do alastramento da
noção de risco foi a existência de afinidades entre o discurso do risco com os
sentimentos da população mundial. Para o autor, o clima de crise e incerteza que
procedeu e seguiu a bancarrota do comunismo soviético e o concomitante
desenvolvimento tecnológico, em nível global, deparou-se com um público, também,
progressivamente mais inseguro e disposto a abraçar novos paradigmas. Essa
situação é entendida, então, como sintomas de um estado de espírito marcado pela
consciência da contingência46 da modernidade e pela crescente descrença nas
metarrativas, defendida por Lyotard.
Observa-se que a discussão acerca do risco ultrapassou os contextos
biomédicos/epidemiológicos, da saúde ocupacional e das ciências atuariais,
alcançando o mass media. Percebe-se, também, que as esferas particulares da vida
46 O autor discute a contingência, como valor próprio da modernidade. Diferentemente do senso comum que confunde o conceito de contingência com o acaso e o imprevisto, Brüseke (2007) enfatiza que a idéia de contingência não se limita, simplesmente, às idéias de acaso, imprevisto, inesperado, ou algo parecido. Nesse sentido, a partir da definição de Luhmann (1992, p. 96), considera tal conceito como resultado de uma dupla negação: “Tudo é contingente que nem é necessário, nem impossível”.

63
humana foram influenciadas, em alguma medida, pela idéia de risco. Mesmo que as
respostas comportamentais tenham se revelado distintamente: seja respeitando-a e,
dessa forma, procurando administrar os modos de viver - comer, beber, exercitar-se,
expor-se ao sol, manter relações sexuais; seja desafiando-a, abraçando estilos de
vida tidos como arriscados (CASTIEL, 1996).
A partir de uma pesquisa que objetivava compreender o papel da mídia na
circulação e consolidação da linguagem dos riscos, baseada nas matérias
jornalísticas da Folha de São Paulo, Spink et al (2002) verificaram que, entre os
anos de 1994 e 1997, houve um crescimento da ordem de 27,7% no uso das
palavras associadas a risco47. Os autores ressaltam a possibilidade do crescimento
vegetativo das matérias do jornal ter acompanhado, ou ultrapassado, essa taxa de
crescimento. Porém, a palavra risco, particularmente, apresentou taxa de
crescimento de 50,8%, enquanto que as demais palavras (com exceção de aventura
que obteve 85%) não ultrapassaram a faixa de 30%. Mesmo considerando a
ressalva, é destacada a propagação do termo risco na mídia estudada, o que
confirma a permanência, com maior incidência, desse enunciado na vida das
pessoas nos últimos anos.
Há divergências entre os pesquisadores em relação ao marco de emergência
dos estudos científicos acerca do risco. Para Castiel (1996) a expansão da análise
dos riscos ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial, no campo da engenharia,
em função da necessidade de avaliar e estipular danos decorrentes do manuseio de
materiais perigosos (radiativos, explosivos, combustíveis).
No âmbito das ciências de saúde, o autor argumenta que há um grande
volume de investigações sobre tal temática acumulada nas últimas três décadas.
Mesmo considerando, como hipótese para tal quadro, o aumento do acesso à
tecnologia computacional e a pacotes estatísticos, o crescimento acentuado da
permanência desse conceito nos estudos científicos ultrapassa sobremaneira o
crescimento das produções proporcionado pelas facilidades trazidas pela
informática. Para comprovar essa acepção, Castiel (1996) menciona a pesquisa de
Carter (1995) que demonstra como a incidência da palavra risk pula, das referências
47 Para tal procedimento, os autores consideraram um conjunto de palavras passíveis de serem empregadas para falar sobre a possibilidade de ocorrência de algum evento, idealizado como ocasião para ganhos e perdas, como: ameaça, chance, perda, sorte, perigo, entre outros, além da própria palavra risco.

64
citadas na base de dados Excerpta Medica, de 5.500 vezes em 1980 para cerca de
15.000 vezes em 1993.
Nas ciências sociais, a discussão acerca do risco não é nova, pois uma vasta
produção acadêmica tem sido desenvolvida, confirmando-a como uma dinâmica
área subdisciplinar. Todavia, nesta última década, o conceito de risco foi transferido
para o centro da teoria social. Beck e Giddens cooperaram decididamente para tal
situação, ao conceberem a temática do risco como central para o entendimento das
características, dos limites e das mudanças no projeto histórico da modernidade
(GUIVANT, 1998).
Guivant (1998) também destaca os diferentes enfoques dados aos estudos
sobre os riscos nas ciências sociais, pois enquanto Beck e Giddens consideravam a
centralidade do risco na teoria social, outras análises conservaram o caráter
reservado dos estudos dos riscos e, assim, enfocavam a sua perspectiva cultural e
social (Turner e Wynne, 1992; Krimsky e Golding, 1992; Renn, 1992).
As tendências teóricas socioculturais compartilham a crítica às análises
técnicas e quantitativas dos riscos, pois essa última menospreza as mediações das
experiências e interações sociais nas causas e conseqüências do dano. Além disso,
inversamente à prática do analista técnico dos riscos, que destaca a opinião
individual, as análises oriundas das ciências sociais não se questionam sobre as
crenças particulares das pessoas, mas sobre as teorias e princípios que organizam
seu mundo, construídos e repartidos socialmente (GUIVANT, 1998).
Inaugura-se, desse modo, um campo fértil de investigação sobre a temática
do risco, o qual congrega múltiplas disciplinas e estudiosos como psicólogos,
sociólogos, antropólogos, engenheiros, matemáticos, entre outros. Abre-se, assim,
um debate entre as vertentes tecnicistas e socioculturais sobre o risco.
4.2 Os caminhos das análises dos riscos
Os estudos técnicos e quantitativos dos riscos foram realizados
predominantemente nos anos 60, por várias disciplinas, sobretudo a Toxicologia, a
Epidemiologia, a Psicologia e as Engenharias. Sob a perspectiva dessas áreas, o
risco é entendido como um evento adverso, uma atividade, um atributo físico com
determinadas probabilidades objetivas de gerar danos, e que pode ser estimado por
meio de cálculos quantitativos de níveis de aceitabilidade, adotando diversos

65
métodos (predições estatísticas, estimação probabilística do risco, comparações de
risco/benefício, análises psicométricas) (GUIVANT, 1998).
Em que se pesem as diferentes tentativas de classificações dos temas de
pesquisa dessa corrente teórica, que transitam pelos cálculos de estimativa às
estratégias de gestão dos riscos48, a abordagem apresentada por Slovic (2002) tem
em comum os enunciados classificatórios, porém organizados distintamente. Há um
entrelaçamento entre as duas categorias, mediada por uma terceira, conforme
exposto na figura 4.
Figura 4: Componentes das Análises do Risco
Fonte: Adaptado de Slovic (2002)
Como se observa, são os processos de estimativa e gerência dos riscos que
estão interligados, mediante a interseção da política de riscos. A estimativa de riscos
consiste na identificação dos efeitos adversos, a quantificação da probabilidade de
ocorrência e a caracterização da magnitude de seus resultados. Já a gerência de
riscos compreende os procedimentos relacionados à tomada de decisão, à
aceitação do risco, ao seguro, à comunicação e à mitigação dos riscos.
Segundo Slovic (2002), a gerência dos eventos extremos olhará,
indubitavelmente, a estimativa dos riscos a título de orientação. Porém, a análise
48 Guivant (1998), baseada no National Research Council (1996), expõe que o estudo técnico e quantificativo dos riscos abrange três temas: estimação, comunicação e administração. Já para Spink (2006), esse campo engloba o cálculo do risco, a percepção do risco e o gerenciamento do risco. Desse modo, observa-se algumas divergências no que se refere aos enunciados das classificações, como também, aos tipos de categoriais estabelecidas, entretanto, entende-se que as bases dessa tipificação encontram-se nos processos de estimação ou cálculo do risco e na administração ou gerenciamento do risco, os quais convergem nas abordagens das autoras.
Risco Estimativa Identificação Quantificação Caracterização
Política do Risco
Percepção do risco Valores Processos: Quem decide? Poder/Confiança Conflito/controvérsias
Gerência de Risco Tomada de decisão Aceitação do risco Seguro Comunicação Mitigação

66
dos riscos é uma empreitada política assim como científica, e a percepção pública
do risco assume também um papel importante nesse processo, introduzindo valores,
poder e confiança, representando a relação entre as pessoas e o que elas tomam
por riscos.
No que se refere ao estudo da percepção de risco, o autor descreve três
abordagens: paradigma axiomático, paradigma sócio-cultural e paradigma
psicométrico. As investigações realizadas dentro do paradigma axiomático focalizam
a maneira em que os povos transformam subjetivamente a informação objetiva do
risco, isto é, o modo como refletem o conhecimento dos riscos bem delineados como
taxa de mortalidade, probabilidade de ocorrência de perda financeira, nas vidas das
pessoas. Já o paradigma sócio-cultural examina os efeitos das variações do grupo e
da cultura na percepção de risco. E a pesquisa dentro do paradigma psicométrico
busca compreender as distintas reações emocionais das pessoas frente às
situações de risco.
Para Slovic (2002), uma boa estratégia para estudar o risco percebido é
desenvolver uma taxonomia para os perigos, a qual pode ser usada para
compreender e predizer as respostas aos riscos. A aproximação mais comum desse
parâmetro foi construída pelo paradigma psicométrico (Fischhoff, Slovic,
Lichtenstein, Read & Combs, 1978; Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1984), que usa
escala psicológica e técnicas multivariáveis49 de análises para construir
representações quantitativas das atitudes e das percepções do risco.
Justifica-se a exposição da abordagem teórica de Slovic (2002), pelo seu
alinhamento com as demandas de análises das entrevistas do presente estudo, nas
quais os aspectos de percepção de risco e de respostas à exposição dos riscos
serão destacados.
Na concepção do paradigma psicométrico, referentes às discussões acerca
da percepção do risco realizadas por Slovic (2002), as pessoas fazem julgamentos
quantitativos acerca do risco de diversos perigos e o nível desejado da
regulamentação de cada um. Os numerosos estudos realizados nessa área
demonstraram que o risco percebido é quantificável e predizível. Além de terem
mostrado que o conceito do risco significa coisas diferentes para pessoas diferentes
e que todos os perigos apresentam um único padrão específico que parece estar
49 Tal análise estatística é definida por Reis (1997) como um conjunto de métodos estatísticos que permite analisar, de forma simultânea, as medidas múltiplas das variáveis consideradas.

67
relacionado ao risco percebido. Insere-se aqui um dos elementos responsáveis pela
natureza diversa do risco, o elemento da subjetividade, que fornece a introspecção
da complexidade nas percepções públicas.
Slovic (2002) ainda explica que muitas das especificidades características dos
riscos que compõem um perfil do perigo tendem a ser altamente correlacionadas
entre si. Por exemplo, os perigos avaliados como voluntários tendem a ser avaliados
como controláveis e bem conhecidos, já os perigos que parecem ameaçar as
gerações futuras tendem a ser vistos como de potencial catastrófico.
Embora o autor e seu grupo de pesquisa tenham procurado aprofundar a
análise do risco por meio da identificação de atributos extras na percepção do risco,
dentre eles aspectos como voluntariedade, familiaridade, controlabilidade, efeitos
imediatos e certezas de morte, Guivant (1998) ressalta que eles não se esquivaram
das críticas provenientes das ciências sociais à corrente técnica e quantitativa dos
riscos.
O próprio Slovic (2002) reconhece uma limitação na aplicabilidade dessa
metodologia ao esclarecer que muitos dos conflitos entre peritos e leigos, a respeito
da aceitabilidade de riscos particulares, são resultados de definições diferentes do
conceito de risco e assim de avaliações frequentemente diferentes do valor do risco
de uma dada ação ou tecnologia, repercutindo nas diferenças das opiniões sobre
níveis aceitáveis do risco.
Uma das primeiras críticas a essa abordagem metodológica dos estudos dos
riscos foi concebida a partir da contribuição da teoria cultural dos riscos, formulada
no final dos anos 60 pela antropóloga Mary Douglas e seus colegas. Tal teoria se
caracteriza pela ênfase no aspecto cultural de todas as definições de risco, o que
repercute na dissolução das diferenças entre leigos e peritos50 e na distinção de uma
variedade de racionalidades dos atores sociais na maneira de lidar com os riscos
(GUIVANT, 1998).
50 A distância apresentada entre a percepção dos leigos e dos peritos é um ponto discutido pela abordagem sócio-cultural, haja vista que os leigos tendem a ser identificados como receptores passivos de estímulos independentes, percebendo os riscos de maneira não científica, mal informada e irracional, demonstrando que os riscos percebidos por estes não necessariamente correspondem aos reais, analisados e calculados pela ciência e por sua vez pelos peritos. A perspectiva da circularidade dos discursos, ou da interanimação dialógica, apresentada por Bakhtin, tomada pelo presente estudo, também auxilia na dissolução da distância entre os leigos e peritos, uma vez que entende a influência recíproca entre o locutor e o interlocutor, apresentando todo ato de fala a partir da sua natureza social.

68
A autora argumenta, citando as idéias de Douglas e Wildavsky (1982), que
como não se pode conhecer tudo sobre riscos, não pode haver garantias de que os
riscos que as pessoas buscam evitar sejam, efetivamente, os que objetivamente
acarretariam mais danos. Desse modo, observa-se a necessidade de lidar com
conhecimentos carregados de incertezas, perspectiva que a abordagem técnica não
considera ao supervalorizar o conhecimento especializado e quantificativo. Entende-
se, também, que a atenção dada pelas pessoas a determinados riscos, em oposição
a outros, integra um processo sociocultural, que dificilmente tem uma afinidade
direta com o aspecto objetivo dos riscos. Na verdade, ao se compreender que os
riscos são percebidos e administrados em função de princípios referentes à
organização social, inviabiliza-se a neutralidade no tratamento dos riscos, dada
pelas ferramentas metodológicas quantitativas.
A determinação da aceitabilidade dos riscos constitui-se noutro
questionamento da perspectiva culturalista em relação às teorias objetivistas. Para
Douglas (1985), citada por Guivant (1998), os níveis aceitáveis de risco são apenas
um dos fatores que devam ser pesquisados, pois a forma pela qual se determinam
os níveis aceitáveis de qualidade de vida, bem como os de moralidade e decência,
também deva ser relacionada à discussão. Nesse sentido, uma análise mais
completa considera a influência dos valores sociais e culturais na percepção dos
riscos como variável determinante na configuração da relação do indivíduo com os
riscos.
A partir dessa acepção, reforça-se a contribuição da perspectiva cultural aos
estudos do risco, destacando o argumento de que as políticas de regulação e
prevenção devem pressupor o reconhecimento de uma pluralidade de
racionalidades entre os nomeados leigos e de uma tênue diferença entre estes e os
peritos (GUIVANT, 1998).
Em paralelo à abordagem cultural, há também estudos que enfatizam os
valores e influências sociais na análise dos riscos e que também se apresentam
como críticos dos trabalhos técnicos e quantitativos. A autora supracitada esclarece
que essas investigações vêm aumentando significativamente desde a década de
1980, com enfoques e temas teóricos diversificados, notadamente, a partir das
análises dos dois mais reconhecidos teóricos sociais contemporâneos, Ulrich Beck e
Anthony Giddens.

69
Tais sociólogos adotam o conceito “sociedade de risco” para discutir os
processos sociais típicos da contemporaneidade, em função da radicalização dos
princípios que orientaram a modernização industrial. Mais especificamente, os
riscos, típicos da modernidade tardia, não são meramente entendidos como efeitos
colaterais do progresso, mas concebidos como centrais e constitutivos dessa
formação social51.
Considerando a compatibilidade entre as diferentes correntes teóricas das
análises dos riscos, Guivant (1998) apresenta as argumentações de Short e Clarke
(1992) que não descartam a importância das contribuições técnicas, mas
consideram as teorias da psicologia cognitiva, os estudos dos contextos
organizacionais e institucionais de tomada de decisões e os processos de
construção social dos riscos como complementares. Assim, os discursos dos riscos
ultrapassam as percepções e as influências sociais, incorporando as implicações
objetivas como componentes fundamentais dos processos sociais de riscos.
Sob essa perspectiva é que o presente estudo analisa os diferentes sentidos
que as pessoas atribuem aos riscos e à aventura na prática do rafting. Toma-se,
contudo, o entrelaçamento das correntes teóricas como coerente com o arcabouço
conceitual e metodológico que a investigação está construindo.
Observa-se, ainda, que no afã de congregar todas as especificidades das
análises dos riscos, noções como cálculo, estimativa, probabilidade e valores
socioculturais se consolidam como enunciados-chave e fundantes nas diferentes
abordagens. Reconhece-se, desse modo, uma formalização científica que reúne
uma multiplicidade de linguagens e que, por sua vez, alinha-se com a idiossincrática
polissemia da noção de risco.
4.3 As múltiplas faces do sentido do risco
No que se refere à origem desse termo, Spink (2007) declara sua juventude
por se tratar de uma noção essencialmente moderna52, relacionada a uma
reorientação das relações pessoais com os eventos futuros. Não se nega a
51 Vale ressaltar que tal abordagem já foi exposta, anteriormente, no item 2.3.2 desse estudo, dada a sua relevância para a discussão das características da sociedade contemporânea. Nesse sentido, vê-se como dispensável a repetição das argumentações acerca dessa temática. 52 Como já foi discutido anteriormente, na Idade Média a vida podia ser perigosa, penosa, mas não foi permeada pela noção de risco, assim como não ocorreu em nenhuma outra cultura tradicional (GIDDENS, 2005).

70
existência de experiências de perigo precedente à modernidade, mas se afirma a
ressignificação desses perigos a partir de uma “domesticação do futuro”.
A emergência da palavra risco tem seu primeiro registro no século XIV, em
castelhano, riesgo, sem incidências no grego, no árabe e no latim clássico. Nesse
período, porém, não assume ainda a significação de perigo que se corre, o que vai
acontecer apenas no século XVI. Na língua inglesa, por sua vez, encontra-se a
incidência da palavra risk a partir de meados do século XVII (SPINK, 2007).
Conforme a autora, etimologicamente, tal palavra gera mais hipóteses do que
certezas. A mais difundida, a espanhola, é que risco teria derivado de resecare
(cortar), cuja adoção relacionava-se a descrição de penhascos submersos que
cortavam os navios. Assim, o termo entra em uso a partir de uma associação com a
vida marítima, num período em que a navegação constituía importante base da
atividade comercial. Emerge daí, portanto, o uso moderno de risco como
possibilidade – mas não como evidência imediata. Tal versão possibilita, ainda,
entender o uso singular de risco em português, para referir-se a uma linha
desenhada, talvez uma linha originária de um corte de navalha.
Spink (2007) destaca que a articulação da idéia de risco com perigo e
incerteza diante de obstáculos, nem sempre bem definidos, proporcionou expressar
a cosmovisão53 emergente de pensar o futuro como passível de controle. Nesse
sentido, Costa (2000) baseia-se em Bernstein (1997) para esclarecer que até a
época do Renascimento, quando as condições da vida eram ligadas à natureza, o
futuro era percebido como uma questão de sorte ou resultado de variações
aleatórias do ambiente, o que distingue, por completo, a noção de risco do passado
com o presente. Portanto, confirma-se o entrelaçamento do conceito de risco com a
mudança na forma de relacionar-se com o futuro.
A combinação entre risco, perigo e controle fica mais fácil de ser entendida no
contexto de outros termos adotados, no século XVI, para falar de futuro: fatalidade,
fortuna, sorte, chance, acaso e perigo (SPINK, 2007). A tabela que se segue ilustra
as especificações e diferenciações de tempo e espaço desses termos.
53 Cosmovisão (do gr. Kosmos: mundo, e lat. Visio: visão) denota a concepção global, de caráter intuitivo e pré-teórico, que um indivíduo ou uma comunidade formam de sua época, de seu mundo. Também pode significar a forma de considerar o mundo em seu sentido mais geral, pressuposta por uma teoria ou por uma escola de pensamento, artística ou política (JAPIASSÚ, H. e MARCONDES, D. 1996).

71
Tabela 1: Enunciados disponíveis para falar de futuro
Fatalidade* Fortuna Sorte Chance Hazard** (Acaso)
Perigo
Origem Grego e Latim Latim Islandês /
holandês Latim Vulgar / Francês Antigo
Francês Antigo - vindo do árabe
Latim Tardio / Francês Antigo
Período Grécia Clássica Século XV Século XVIII Século XII Século XIII
Contexto Inicial
Relações dos humanos com os Deuses
Relações dos humanos com os Deuses
Jogos de azar
Jogos de azar Jogos de azar Adversidades em geral
Significado
Destino definido pelos deuses; a sorte que cabe a cada um; o que é predestinado
A sorte (boa ou má) de cada um na vida ou em um aspecto específico dela
A boa ou má fortuna
A queda do dado; a partir do século XVIII, uma possibilidade ou probabilidade
Um jogo de dados (séc. XIV), a chance ou ventura (séc. XVI), agrega noções de risco e perda.
Perigo
Fonte: Adaptado de Spink (2007).
Como se observa, os termos fatalidade (que no grego clássico remete à
predestinação, sorte e destino) e fortuna (originário do latim com sentido de boa ou
má sorte) expressam relações entre deuses e pessoas54. Já as palavras sorte,
chance e hazard (acaso) surgem associadas ao contexto dos jogos. E, por fim, o
termo perigo emergiu do latim e do francês antigo, sendo adotado em situações de
adversidades em geral.
Spink (2007) ressalta que a ambigüidade inaugural do conceito de risco
(possível e provável; positividade e negatividade) foi notadamente favorável à
inserção de novos significados, quando passou a ser adotado na língua inglesa do
século XVII, possibilitando, assim, a síntese entre fortuna, sorte e chance, palavras
que já continham o sentido de incerteza de resultados, de ordem favorável ou
desfavorável.
A este ponto, pode-se ressaltar que a noção moderna de risco além de ter
sido impulsionada pela idéia de controle de futuro, também foi estimulada pela
racionalidade humana e pelas transformações tecnológicas, haja vista a conjunção
entre possibilidade e probabilidade, especialmente decorrente do cálculo de risco, a
partir da emergência da teoria da probabilidade (SPINK, 2006).
A grande influência da negatividade no conceito de risco é justificada pela
autora em função da ancoragem do risco na idéia de azar, ao passo que o termo
migrou de noção-chave da teoria da probabilidade para a disciplinarização do corpo
social.
54 À medida que os riscos contemporâneos aumentam de complexidade, observa-se a diluição da confiança no gerenciamento de riscos, ocasionando a tomada de novos sentidos para a fatalidade, hoje, especialmente no contexto dos riscos decorrentes das novas tecnologias (SPINK, 2007).

72
Relacionado ao perigo, o termo passa a apresentar os imperativos das ordens
morais, particularmente quando a idéia de risco se amplia, de maneira a somar aos
riscos pessoais as conseqüências dos produtos globalizados da moderna ciência e
tecnologia. E em função desse aspecto ele torna-se cada vez mais politizado
(SPINK, 2007).
Para Brüseke (2001, p. 36), o risco percebido transforma-se facilmente num
perigo, pois o perigo possui algo nitidamente ameaçador, o que o risco nem sempre
contém. No entanto, todos os tipos de perigo têm as características de um risco. “Um
perigo realizado é um desastre, terminando o percurso perigoso. O risco, pelo
contrário, é algo que abre uma dada situação e bifurca o percurso da história de
forma imprevisível”. A imprevisibilidade destacada em tal conceito é responsável
pela afinidade entre risco e sorte.
Há ainda uma distinção entre esses termos realizada por Luhmann (1990),
mencionada por Brüseke (2001). Destarte, fala-se de riscos quando os possíveis
danos são conseqüentes da própria decisão, enquanto que se fala de perigo quando
os danos ou perdas estão arrolados com motivos fora do próprio controle.
No entanto, a análise dos distintos temas contidos na noção de risco deve
estar atrelada, intrinsecamente, à definição do que vem a ser risco. Na concepção
de Spink (2007), o risco é definido como a possibilidade de perda de algo que possui
valor para as pessoas. Nota-se aqui a permanência de mais um aspecto que
constantemente aparece relacionado à linguagem do risco: a perda.
Nesse sentido, o risco faz referência a algo ou estado de coisa que se pode
perder. Ele é concebido a partir de uma base de expectativas e de possibilidades de
que elas se realizem. Logo, pode-se dizer que o risco abarca a chance de catástrofe,
ou seja, a expectativa da perda (BRÜSEKE, 2001).
As múltiplas concepções do risco também são reconhecidas por Slovic
(2002), ao expor que um texto escrito por um perito pode utilizar a palavra risco
diversas vezes, cada vez com significado diferente não reconhecido pelo escritor.
Como exemplo cita risco como perigo (Que riscos nós devemos superar?); risco
como probabilidade (Qual o risco de contrair AIDS de uma agulha infectada?); risco
como conseqüência (Qual o risco de deixar o seu cartão de estacionamento
expirar?); risco como advertência ou ameaça potencial (Qual o grau de risco de
andar de motocicleta?).

73
Embora Slovic considere que a palavra risco pode se apresentar significando
distintas coisas, entende-se, diferentemente, que há no conceito de risco diversas
faces, as quais apresentam múltiplos significados, fato que o complexifica e o
particulariza no contexto das análises.
Nesse sentido, pode-se dizer que o foco do conceito de risco é definido em
função da configuração da sociedade. Confirma-se tal acepção ao resgatar os
distintos momentos históricos e, consequentemente, os diferentes valores atribuídos
aos riscos: sob a égide do higienismo, no início do século passado, correr riscos era
sinônimo de ignorância, também após a Grande Guerra, quando a racionalidade
constituía um valor hegemônico, correr riscos demonstrava sinal de irracionalidade;
já nos anos sessenta, a partir dos movimentos de liberação política e pessoal, a
positividade do risco emergiu novamente, intervindo, por exemplo, no pensamento
da educação – como nas abordagens de Paulo Freire – e da psicologia – nas
correntes humanistas influenciadas por Abraham Maslow (SPINK, 2007).
Ao retomar a definição desse termo pela autora, aponta-se para o caráter
cumulativo dos riscos. Há riscos específicos conseqüentes dos imponderáveis da
ciência e da tecnologia, mas também a segurança, mais do que a igualdade,
transformou-se no valor base da sociedade contemporânea. Crê a autora que os
riscos, ou a consciência dos riscos, são cumulativos. E desse modo, os novos riscos
somam-se aos antigos, motivando uma polissemia de sentidos e posições de
sujeitos.
Sob esse prisma, argumenta-se que o conceito de risco herdou significados
de outros enunciados então disponíveis para dar sentido às relações das pessoas
com o futuro. Confirma-se, portanto, o caráter polissêmico do termo que na
concepção de Bakhtin, remete à multidão de fios ideológicos com as quais são
tecidas as palavras e que servem de trama a todas as relações sociais em diferentes
contextos.
4.4 A positividade do conceito de risco: aventurar-se
Ao pensar na classificação do risco pelas pessoas na contemporaneidade,
Spink (2007) defende duas posições, as quais estão articuladas ao caráter negativo
e positivo desse conceito.

74
Para a autora, existem riscos advindos do imponderável, da imprevisibilidade
da modernidade tardia. Estes são exteriores à regulação da esfera pública, pois não
é fácil identificar suas causas, tal como: o risco de exposição à radiatividade, ou para
ser mais atual, o risco do aquecimento global. Nessa esfera vive-se o risco querendo
ou não.
Tal concepção de risco converge com as abordagens dos sociólogos Giddens
e Beck, para quem o atual estágio da modernidade testemunha a disseminação dos
riscos, determinando uma sociedade de risco, na qual a característica fundamental é
o caráter incomensurável e o alcance global dos riscos.
Por outro lado, há também os riscos assumidos individualmente que estão
ancorados na racionalidade clássica. Ou seja, valoriza-se positivamente a ousadia
de enfrentar certos riscos. Essa dimensão exibe conotações que fazem do
enfrentamento do risco uma prática necessária para alcançar determinados ganhos.
Alinham-se a essa perspectiva, os riscos vividos nos investimentos pessoais do
mercado financeiro55, os riscos adotados para a formação de caráter56, como nos
empreendimentos de educação através da aventura, e os riscos inerentes aos
esportes radicais (SPINK, 2006; 2007).
A autora revigora uma velha conexão entre risco e aventura, valorizada pela
ousadia passível de descobrir, ao destacar a ressignificação dos riscos na
experiência das atividades de aventura57. Nessas modalidades também se procura a
manutenção do valor de fortalecimento de caráter, mas há o predomínio da busca de
emoções radicais.
Conforme Costa (2000), os riscos vividos pelos novos aventureiros, os
praticantes das atividades de aventura, são livremente elegidos como valor. Trata-se
de uma aventura revestida de sentido lúdico, visto que a atitude dos indivíduos que a
experienciam é concebida como um risco no qual ousam jogar, a si próprios, com a
confiança no domínio progressivo da técnica. Exprimem uma audácia no
enfrentamento do risco, aprovada pela confiante idéia de serem capazes de atirar-se
55 Como exemplo, pode-se citar a disposição em realizar investimentos de riscos e o cotidiano da bolsa de valores. 56 Cita-se a organização Outward Bound que descreve seu projeto da seguinte maneira: “Até mesmo num ambiente pouco domesticado como a natureza selvagem há método na nossa loucura. Todos os conteúdos de um curso outward bound o auxiliam primeiramente a conhecer-se melhor, depois o ensinam a abrir-se e ajudar os outros em sua equipe” <http://www.outwardbound.org>. Além disso, há também os treinamentos empresariais outside que adotam atividades de aventura como ferramenta de desenvolvimento e aperfeiçoamento do perfil das pessoas nas empresas. 57 É nessa dimensão que se encaixa a vivência do risco experienciada pelos turistas que praticam o rafting nos Municípios de Brotas (SP) e Apiúna (SC), objetos do presente estudo.

75
no espaço, na profundidade, na imersão, na batalha contra os obstáculos da
natureza, e atrelada a um excitante e reconfortante prazer de conseguir
desempenhar a atividade e de tê-la realizado com muita competência.
Na perspectiva de atribuir novos valores à vivência dos riscos intrínsecos a
essas práticas, Spink (2007, p. 10) ultrapassa a significação realizada por Costa e
ressalta, como aspecto central para a compreensão da relação entre risco e
aventura na sociedade contemporânea, a busca de sentido para a existência. Nessa
idéia reaparece a antiga figura do risco como possibilidade de crescimento pessoal,
onde o comportamento de risco representa, pois, uma procura individual de
identidade, ou de confirmação de si, por meio do afrontamento da morte. Dessa
forma, “correr riscos assume assim a positividade da energia e das emoções que
fazem emergir o sentido da existência”.
Destaca-se, portanto, a ambivalência do conceito de risco que ora pode
significar negatividade no seu enfrentamento, ora pode apresentar positividade e
encontrar ressonância nas práticas sociais. Entende-se que abordar a temática dos
riscos pressupõe uma heterogeneidade de enunciados e sentidos como indicam as
distintas correntes teóricas (a técnica-quantificativa e a sociocultural), ou as múltiplas
faces do risco, que demonstraram afinidades entre os estudos e as diferentes
formas de conceber a sociedade contemporânea.
Não há como negar o vigor do risco na vida atual e diante desse alcance é
que se necessita ter em mente a dimensão múltipla da relatividade do risco: como
construto concebido na modernidade, ele está, invariavelmente, atrelado a uma
particular visão de mundo, de modo a influenciar os diferentes enfoques teóricos,
conceituais e metodológicos, tomados na sua avaliação; as pessoas se relacionam e
percebem seus riscos (e de outros) de maneira variada, abarcando aspectos que
extrapolam os saberes científicos e conjugam dimensões simultaneamente
biológicas, psicológicas e sócio-culturais (CASTIEL, 1996).
A partir desse pensamento que se propõe analisar os sentidos atribuídos aos
riscos e à aventura pelos turistas que praticam o rafting nos municípios de Apiúna
(SC) e Brotas (SP), chamando a realidade vivida pelo indivíduo, suas
especificidades, para o diálogo com a representação do risco no contexto da
aventura experienciada.
Assume-se, contudo, com Guivant (1998), a necessidade de acolher as
incertezas, ambigüidades e zonas desconhecidas e não previstas em torno dos

76
riscos. Trata-se de um desafio a ser enfrentado por todos os atores sociais, mas que
dever ser superado a partir da compreensão da configuração da sociedade
contemporânea, do reconhecimento da ambivalência e, por conseguinte, da
abnegação de soluções definitivas.

77
5 SITUANDO O TURISMO DE AVENTURA: Versões e Contradições
No contexto da sociedade atual, balizada pela acelerada mudança
tecnológica, pela globalização e pela excessiva racionalização, onde formas mais
complexas de relações sociais são fundadas e influenciadas pela aceleração do
cotidiano e pela instabilidade da vida, observa-se significativas transformações em
praticamente todos os campos da experiência humana e em todos os âmbitos da
vida no planeta.
Como foi apresentado no primeiro capítulo (do texto), tais mudanças
caracterizam-se pelo grande alcance e dimensionamento. E como não podia deixar
de ser, as formas de lazer e especialmente o turismo vem se desenvolvendo à luz
dessas novas demandas.
Hoje, observa-se uma tendência de crescimento das formas de turismo que
proporcionam uma aproximação com o meio ambiente e, conseqüentemente,
experiências autênticas e singulares. O homem urbano está em busca daquilo que,
talvez, seja a necessidade de um reencontro consigo próprio, até mesmo a
necessidade de rever valores ou de construir uma nova identidade, dentre outras
possibilidades (MARINHO; BRUHNS, 2003).
Para Beni (2003), apresentam-se novas visões que influenciam o consumo
turístico e acabam por revelar exigências e comportamentos pelo menos
contraditórios como ligação à família e individualismo, desejo simultâneo de
liberdade individual e atividades coletivas. Nessa perspectiva, o debate acerca da
autenticidade em contraposição às tendências de padronização e previsibilidade nas
viagens encerra mais uma contradição.
Todavia, toma-se para o presente estudo a abordagem que privilegia as
experiências diferenciadas e marcantes, justamente por justificar o crescente
desenvolvimento do turismo de aventura. Swarbrooke et al. (2003) destaca que este
segmento turístico conforma um fenômeno cada vez mais florescente no novo
milênio e atrai uma proporção cada vez maior da população que está em busca de
auto-realização e prazer através da participação em atividades físicas e mentais
estimulantes, viajando para destinos remotos ou participando de atividades de
intensa adrenalina, como parte de suas experiências turísticas.
Levado incessantemente a provar seu valor, numa sociedade em que as
referências são complexas e contraditórias, num mercado de instabilidade e

78
competições profissional e econômica, o indivíduo encontra no turismo de aventura
uma via de experimentação radical, onde seus sentidos são exercitados. Talvez
essa concepção justifique a multiplicação das atividades de aventura, no Brasil e no
mundo, exatamente por, como forma de lazer, caminhar em conformidade com o
quadro social, cujo número cada vez maior de indivíduos clama pela exacerbação da
vida.
Ao dar ênfase às mudanças ocorridas nas motivações das práticas na
natureza, Bruhns (2003) se alinha com as idéias discutidas anteriormente. Se antes
se conservava certa distância (contemplação do por do sol, por exemplo), hoje o
objetivo é uma fusão com o ambiente. Ou seja, procura-se literalmente um mergulho
na natureza em busca de experiências intensas.
O advento de novas formas de esportes de ação, na década de 1970, integra
esse movimento, sendo a Whitbread Ocean Race a precursora, iniciada em 1973.
Datada da mesma época, emergem as modalidades de aventura que utilizam
veículos motorizados, em especial nas disputas de veículos off-road, tendo destaque
o Rali Paris-Dakar, iniciado em 1979, e o Camel Trophy, a partir de 1980. Além
dessas provas, a década de oitenta vê surgir modalidades de risco-aventura
diferenciadas, agora personificadas, os ralis humanos58. O Raid Gauloise foi a
primeira competição multi esportiva de longa duração, com formações de equipes
mistas, idealizada por um jornalista francês, Gérard Fusil, e realizada pela primeira
vez na Nova Zelândia em 1989. E o Eco-Challenge Lifestyles Inc., criado por Mark
Burnett em 1992, inova ao relacionar aventura e ecologia (SPINK et al, 2005).
Pode-se constatar que essa caça pela emoção se materializa em outras
esferas da vida cotidiana, como nos rachas59 de automóveis, nas acrobacias
arriscadas de motocicletas ou no consumo de drogas60, e também de outra forma no
lazer, como nos parques de diversões. Mas, diferentemente destes últimos que
possuem controle sobre toda a operação, as atividades de aventura dispõem de um
arsenal de especificidades que corroboram para a produção de uma vivência
diferenciada, onde os riscos não deixam de existir.
58 Essas práticas constituem competições que envolvem múltiplas modalidades de esportes: canoagem, escalada, rapel, mountain bike e longas caminhadas. Elas têm como prerrogativas o trabalho em equipe, a resistência, o espírito de aventura, mesclados com a consciência ecológica. 59 Os rachas constituem disputas entre veículos, em alta velocidade, geralmente ocorridas em vias públicas. 60 Refere-se às drogas lícitas e ilícitas, pois o exagero das drogas como álcool produzem também as sensações de liberdade e coragem citadas.

79
Tais características que serão posteriormente discutidas contribuem para a
construção de uma problemática de imprecisões que interferem no entendimento
desse segmento. Uvinha (2005) apresenta, como exemplo dessa situação, a
diversificada lista de nomeações referentes aos pacotes turísticos temáticos
comercializados como ecoturismo, turismo ecológico, turismo verde, turismo exótico,
entre outros, além das indefinições, também quanto aos termos: atividades de
aventura ou esporte radical.
Desse modo, o estudo do turismo de aventura requer orientação para sua
complexidade. Por isso, as múltiplas abordagens são aqui privilegiadas e
incorporadas no intuito de delinear um núcleo coeso e coerente de informações
capazes de fundamentar as análises das práticas de aventura, no contexto turístico.
Convém ressaltar que a existência de diversas contradições e paradoxos
vinculados a essas vivências de aventura corrobora para sua apresentação ora
como potencializadora de transformações e renovações das relações do homem
consigo mesmo e com a alteridade (VILLAVERDE, 2003), ora como estratégia
mediadora do incremento do turismo brasileiro, tanto como propulsora do
desenvolvimento local como diferencial para as ações de marketing internacional
(BRASIL, 2005b).
Nessa perspectiva, propõe-se uma discussão acerca das versões e
contradições evidenciadas no turismo de aventura, a partir de pontos chaves para tal
condição, como os conflitos com as terminologias adotadas e a interface com outros
segmentos turísticos.
5.1 Conflitos com as terminologias
É notória a problemática de definição do turismo de aventura. O mercado
turístico adotou o termo de forma entusiástica, mas não pensou num consenso para
defini-lo. Para muitos autores, o turismo de aventura é um nicho da indústria turística
que partilha características com vários outros como o ecoturismo e o turismo de
natureza. Swarbrooke et al. (2003, p. 4) considera que o “turismo de aventura é um
tópico complicado e, por vezes, ambíguo!”.
O principal conflito que se confirma ao tratar da conceituação deste setor
baseia-se na dificuldade em unificar a percepção de aventura do grupo, pois ela é

80
subjetiva, cultural e social e sua compreensão apresenta variações de indivíduo para
indivíduo com base em suas histórias, tradições e culturas.
Com o objetivo de alcançar o âmago da palavra aventura para, por
conseguinte, compreender o elemento diferenciador do turismo de aventura dos
demais segmentos turísticos, Swarbrooke et al (2003, p. 9) apresenta um conjunto
de características inerentes ao fenômeno por ele definido como “qualidades
essenciais da aventura”.
De forma interligada e interdependente os pontos como: desafios incertos;
perigo e risco; desafio; expectativa de recompensas; novidade; estímulo e
entusiasmo; escapismo e separação; exploração e descoberta; atenção e
concentração; e emoções contrastantes configuram uma experiência de aventura
(SWARBROOKE et al, 2003).
De acordo com Swarbrooke et al. (2003), a incerteza dos resultados
fundamenta a aventura, pois a ausência de conclusões garantidas à experiência
auxilia no estímulo da emoção do participante. Outro elemento de relevante
contribuição para a incerteza é a novidade; sem a experimentação de algo novo,
como uma vivência previsível, não se alcança a aventura. Por sua vez, a incerteza
associa-se fortemente ao risco e ao perigo, já que é ela a responsável pela produção
dos riscos. Mas como a percepção da possibilidade de uma situação de risco e a
sua avaliação é variável de pessoa para pessoa, a formatação de uma experiência
de aventura é fortemente influenciada pelas percepções dos riscos. Tais elementos
conjuntamente combinados criam o desafio, cuja natureza pode ser intelectual,
moral, espiritual, emocional ou física. Já o grau do desafio, que é determinado pelo
perigo e pelas habilidades e aptidões dos participantes, afeta a intensidade da
aventura, variando da escala extrema à moderada.
Pode-se dizer que as características de resultado incerto, risco, perigo e
desafio constituem a essência da aventura, uma vez que esses aspectos são
fortemente destacados na definição de Spink et al. (2005, p. 8) – “a aventura refere-
se à busca de desafios relacionados com imponderabilidade e imprevisibilidade”.
A expectativa entre os aventureiros de que a experiência produzirá algum
benefício é outro componente da aventura. A meta pode ser intangível, como a
sensação de vitória, ou uma satisfação por ter se esforçado ao máximo, e tangível
como fotografias, jornais e diários. Ademais, o crescente conhecimento e a
autoconsciência, frutos das motivações de exploração e descoberta que envolvem a

81
aventura, representam uma recompensa como anteriormente mencionada, sendo
que a jornada de descoberta pode se referir ao progresso mental, emocional ou
espiritual advindos com a experiência (SWARBROOKE et al, 2003).
O autor ainda destaca a aventura como uma experiência permeada pelo
estímulo e entusiasmo, pois durante essas práticas o praticante vê seus sentidos,
seu intelecto e seu corpo estimulados, desencadeando a sensação de entusiasmo.
Tais aspectos associados e articulados com a novidade também contribuem para
deslocar a experiência cotidiana, conferindo-lhe um caráter de escapismo e
distanciamento (separação) da realidade.
Observa-se, dessa forma, a existência de diversos estados mentais e
emocionais, incluindo a atenção e concentração, uma vez que a aventura é uma
experiência emocional. Por esse aspecto, em especial, nota-se a relação com
emoções intensas e muitas vezes contrastantes como o contentamento e o
desespero, a ansiedade e o prazer, produzidos pelos elementos da incerteza, do
risco, do perigo e da novidade. Portanto, reforça-se a variação do conceito de
aventura, de pessoa para pessoa, o que provoca o entendimento da aventura a
partir do estado mental e emocional do praticante, o qual necessita está envolvido
mentalmente e fisicamente (SWARBROOKE et al, 2003).
No intuito de contextualizar a dimensão das características apresentadas para
a formatação da experiência de aventura e reforçar a idéia de interdependência,
apresenta-se a seguir a figura 5 adaptada de Swarbrooke et al. (2003), concernente
aos estágios da aventura e das percepções e sensações do praticante.

82
Figura 5: A experiência da aventura
Fonte: Adaptado de Swarbrooke et al (2003).
Considerando a complexidade da aventura, entende-se que a definição do
segmento turístico que agremia essa experiência não é uma tarefa muito fácil.
Ademais, destacam-se como fatores contributivos para essa problemática a
contemporaneidade do segmento e a diversidades das práticas.
Swarbrooke et al. (2003) enfatizam que o caráter inovador da viagem de
aventura necessita de uma abordagem extensiva, desobstruída das limitações
contidas nos conceitos habituais. “As fronteiras que o turismo de aventura está
forjando nos obrigam a reavaliar o valor das definições tradicionais”
(SWARBROOKE et al, 2003, p. 7).
A Organização Mundial do Turismo (2003, p. 89) expõe que
o turismo de aventura baseia-se em características naturais e ambientais, como montanhas, rios, florestas, etc. diferentemente dos passeios tradicionais, onde os recursos naturais são apreciados por sua beleza visual, o turismo de aventura leva a pessoa a um contato íntimo com o ambiente e torna-o algo a ser desafiado o enfrentado.
Partindo de uma diferenciação do turismo na natureza, a OMT (2003)
relaciona o turismo de aventura com a interação do homem com o ambiente natural,
a partir de atividades que envolvem desafios.
Atenção
Desafio Risco
Escapismo Incerteza
Entusiasmo Perigo
Estímulo Novidade
Emoções contrastantes
Processo de engajamento
na aventura
1. Pressuposição e preparação (antever perigos e recompenses, praticar habilidades).
2. Desafio
(aplicar habilidades para desafios).
3. Descoberta
(desenvolver e aprender com a experiência).
4. Benefício
(sentir que realizou algo).

83
Por outro lado, a definição proposta por Millington et al. (2001) citada por
Swarbrooke et al. (2003, p. 27), apresenta a viagem de aventura como:
[...] uma atividade de lazer que ocorre em um destino original, exótico, remoto ou selvagem. Tende a ser associada aos altos níveis de atividade participante, especialmente em ambientes ao ar livre. Os viajantes têm a expectativa de enfrentar vários níveis de risco, emoções, tranqüilidade e de serem pessoalmente testados. Mais especificamente, eles são desbravadores de partes intocadas e exóticas do planeta e também estão em busca de desafios pessoais.
Sob essa abordagem conceitual o turismo de aventura apresenta-se
conjugando a atividade com o espaço onde esta se realiza (ambiente que
proporcione a exploração e a descoberta) e o nível de dificuldade da ação a ser
exercida pelo turista (expondo o desafio) com as emoções que a viagem
proporciona, a partir do risco e da condição incerta.
Dessa forma, evidenciam-se como componentes essenciais para a definição
deste segmento turístico a necessidade de ação e de engajamento por parte do
viajante61, a exposição ao risco e perigos e a imersão em emoções fortes.
Sob uma perspectiva diferenciada, a Adventure Travel Trade Association –
ATTA - (2007), associação internacional que agremia operadoras e destinos de
aventura, concebe as viagens desse segmento a partir da interconexão entre o
ambiente natural, a atividade física e a imersão cultural, conforme apresentada na
figura 6. Revela-se então um novo componente, as relações preconizadas entre os
praticantes e as populações das localidades visitada.
Figura 6: A viagem de aventura para a ATTA
Fonte: Adaptado de ATTA (2007).
61 Para alguns autores esta característica do turismo de aventura lhe remete ao segmento do turismo ativo (SWARBROOKE et al, 2003).
Imersão cultural
Atividade física
Interação com meio ambiente
Viagem de Aventura

84
No Brasil, a definição de turismo de aventura inicialmente adotada foi produto
de uma Oficina para a Elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável do Turismo de Aventura, realizada em Caeté – MG, em abril de 2001. O
turismo de aventura, de acordo com o documento aprovado, pode ser considerado:
Segmento do mercado turístico que promove a prática de atividades de aventura e esporte recreacional, em ambientes naturais e espaços urbanos ao ar livre, que envolvam riscos controlados exigindo o uso de técnicas e equipamentos específicos, adoção de procedimentos para garantir a segurança pessoal e de terceiros e o respeito ao patrimônio ambiental e sócio-cultural (BRASIL, 2001, p. 3).
Observa-se, na abordagem adotada pelo Ministério, aspectos relativos à
operação do segmento, haja vista as preocupações com a integridade física do
turista e com a conservação do patrimônio natural e cultural. Estes fatores revelam
as particularidades das viagens de aventura, na medida em que destacam a
necessidade de gerenciamento de riscos, de tecnologia e a ecologia.
Todavia, a atual definição apresentada pelo Ministério do Turismo (BRASIL,
2005b, p. 10) expõe como turismo de aventura “as atividades turísticas decorrentes
da prática de atividades de aventura de caráter não competitivo”. Percebe-se que o
enfoque dado pelo Ministério reduz as particularidades deste segmento turístico às
práticas de aventura.
Por entender a complexidade e a multidimensionalidade inerente a este
fenômeno, compartilha-se do olhar de Swarbooke et al (2003) que considera que o
turismo de aventura sugere atividades contratadas a partir da expectativa de
produção de uma experiência de aventura recompensadora, cuja experimentação
revele intensidade e emoções, resulte em risco e desafios de natureza intelectual,
espiritual, física e emocional. Pois, compreende-se que a natureza subjetiva da
aventura possibilita ou abarca uma série de atividades e contextos infinitos de
turismo de aventura.
A esse ponto da discussão revela-se um outro alvo de contradições, o
elemento principal, propulsor de todas as sensações e emoções: as atividades de
aventura. Mas o que são as atividades de aventura?
O conjunto de vivências realizadas em cenário natural ou urbano que
proporcionam emoções fortes, sensação de risco e configuram a experiência de

85
aventura apresenta diversas denominações, sendo predominantemente chamado de
esportes de aventura ou atividades de aventura62.
Betrán (2003, p. 163) explica alguns dos termos e significados adotados como
sinônimos deste elemento constitutivo do turismo de aventura: “esportes de
aventura”, referem-se à busca de incerteza e risco; “esportes em liberdade”,
relaciona-se à inexistência de entidades oficiais responsáveis pela regulamentação e
à ampla possibilidade de práticas na natureza; “esportes californianos”, sinaliza a
origem de algumas destas práticas; “esportes selvagens”, indica o aspecto natural,
aberto e incerto de sua prática.
Todavia, o autor supracitado defende a utilização de um termo que possa
identificar essas práticas em todo o mundo e propõe a adoção da expressão
“Atividades Físicas de Aventura na Natureza” (AFAN), em oposição aos esportes de
aventura, por considerar que essas diferem do modelo corporal em que se baseiam
os esportes, pela motivação e condições da prática, pelos objetivos e pelo meio
onde são desenvolvidas. O espaço natural evidenciado na concepção de Betrán
justifica-se pela predominância deste sobre o urbano na prática de aventura.
Para Villaverde (2003) o termo proposto por Betrán não parece atender
satisfatoriamente às exigências semânticas desejáveis, pois as palavras conjugadas
“atividades físicas” parece-lhe ter significação limitada, além de não remeter à
diversidade de ações motoras presentes nestas práticas corporais. Dessa forma,
Villaverde (2003) sugere, mesmo que provisoriamente, a adoção da expressão
“práticas corporais de aventura na natureza”; cuja representação teórica das
palavras práticas corporais sinalizam diretamente para uma ação intencional, na
qual encontra-se expressa a dimensão corporal e motriz do indivíduo envolvido. A
complementação “de aventura na natureza” indica o espaço preponderante, como já
foi exposto, e o sentido de aventura e risco.
Nota-se, portanto, que os conflitos conseqüentes da indefinição de um núcleo
semântico para a representação das práticas corporais de aventura fundamentam-se
na ausência de fronteiras claramente definidas entre este segmento turístico,
algumas técnicas esportivas e as atividades físicas. Nesse sentido, o consenso
definitivo sobre o termo requer a participação da população, do trade e das
62 O presente estudo privilegia o termo atividade de aventura por ser mais comumente utilizado na academia e no mercado, todavia, afinando-se com a polissemia característica desse segmento, também adota as expressões esportes de aventura ou práticas de aventura.

86
instituições e/ou federações envolvidas e deve atentar para um significado universal,
em ambiente de operação, em abrangência e particularidades das práticas.
Outro problema de terminologia observado diz respeito à conceituação do
sujeito que viaja (segundo a OMT - Organização Mundial do Turismo (2003) – o
turista corresponde ao visitante que desfruta de pelo menos um pernoite, já o
visitante de um dia, excursionista, é aquele indivíduo que não pernoita), pois no
contexto turístico da aventura muitas atividades são buscadas e oferecidas perto de
casa, o que necessariamente anula a hospedagem e define o praticante como um
excursionista. Porém, atenta-se para o uso das empresas de turismo na
comercialização e operação das atividades. Dessa forma, considerando a definição
da OMT, para o presente estudo serão privilegiados os turistas.
5.2 Interfaces com outros segmentos turísticos
A tentativa de compreender as diferenças entre o segmento de aventura das
demais formas de turismo, embora não seja dada muita importância a esse tipo de
pragmatismo, representa uma iniciativa que objetiva identificar as idiossincrasias
desse complexo segmento, fundamentais para os processos de organização e
comercialização desse tipo de viagem.
De modo mais abrangente o turismo de aventura vem sendo frequentemente
associado com o turismo de natureza, haja vista a predominância do ambiente
natural nas práticas de aventura. Para Cebalos-Lascuráin (1996) o turismo de
natureza se caracteriza pelo usufruto dos recursos naturais como paisagens,
cachoeiras, matas e agremia os segmentos turísticos da pesca, da aventura e do
ecoturismo.
Mesmo admitindo a forte relação do turismo de aventura com o de natureza,
ressalta-se que um não se limita ao outro, pois lançar-se na natureza representa
apenas um dos enfoques da aventura, igualmente desafiadores. Além disso, uma
viagem de aventura pode destinar-se ao ambiente urbano, como também uma
viagem à natureza pode não contemplar desafios e emoções intensas.
Há ainda autores como Marinho (2003) que concebem o turismo de aventura
a partir do ecoturismo. Para o presente estudo toma-se a definição de ecoturismo
apresentada por Rodrigues (2003, p. 31) que o considera como:

87
atividade econômica, de baixo impacto ambiental, que se orienta para áreas de significativo valor natural e cultural, e que através das atividades recreacionais e educativas contribui para a conservação da biodiversidade e da sociodiversidade, resultando em benefícios para as comunidades receptoras.
Dessa forma, observa-se que as viagens ecoturísticas possuem
comprometimentos com a conservação ambiental e pressupõem uma relação
harmoniosa com a população visitada. Tais características não são negadas pelo
segmento da aventura, mas, no entanto não são representativas de sua realidade.
Assume-se que há traços entre essas formas de turismo, até mesmo uma interface,
pois ambos implicam numa forte aproximação com a natureza e uma experiência
emocionante, todavia também apresentam distinções, já que uma viagem de
aventura pode revelar-se descomprometida com o respeito à preservação ambiental.
Swarbrooke et al. (2003) apresentam um “espectro das atividades do turismo”
criado por Fennel e Eagles (1990), ilustrado abaixo na figura 7, para explicar as
similaridades e diferenças observadas entre turismo de aventura e ecoturismo. A
análise é realizada em função de três categorias de viagem – turismo de aventura,
ecoturismo e pacote de viagem – que dispõem diferentes graus de variáveis como
risco, resultado certo/incerto, certeza/segurança, preparação/ treinamento.
Crescente grau de certeza/ segurança e resultados conhecidos
Viagem de aventura (ex. montanhismo)
Ecoturismo (ex. observação de pássaros)
Pacote de viagem (ex. pacote de férias)
• Falta de certeza/segurança da experiência de aventura
• Motivada pela auto-aprendizagem e realização pessoal
• A responsabilidade pessoal e a preparação mental/física são importantes
• Abarca a aventura e a viagem de pacote
• Mescla pesquisas educacionais com atividades físicas
• A responsabilidade pessoal e a preparação mental/física são importantes
• Alta experiência pessoal; as pessoas se beneficiam em diferentes níveis
• Baixo nível de preparação
• Alto grau de segurança
• A organização do grupo é efetuada para o viajante
Crescente grau de preparação/treinamento/resultados incertos e riscos
Figura 7: Espectro das atividades de turismo
Fonte: Adaptado de Fennel e Eagles (1990) citado por Swarbrook et al (2003)
Observa-se, portanto, que o caráter singular do turismo de aventura se baseia
no grau de treinamento e preparação requisitados antes da experiência, no grau de
resultados incertos produzidos e no envolvimento com o risco. No presente estudo,
tais fundamentos aliado à diversidade intrínseca desse nicho turístico são

88
compreendidos como os responsáveis pelos seus contrapontos e serão analisados
no capítulo seguinte.
Ainda que sejam observadas as características do produto turístico, os
aspectos relativos à oferta, ressalta-se a necessidade de considerar a demanda,
pois a natureza da viagem, seja ela ecoturística ou não, dá-se na mente dos turistas.
Ademais, o interesse dos consumidores também pode abarcar dois ou mais nichos
contribuindo, assim, para o aumento da dificuldade em se estabelecer limites entre
eles.
Portanto, sugere-se que sejam observados os dois lados da moeda: o lado da
oferta do segmento turístico, pois para a sua comercialização é necessário que ele
seja possível de ser fornecido, operado; e o lado da demanda turística motivada pela
aventura, pois são os consumidores que de fato definem as suas sensações e
emoções.

89
6 DIMENSÕES DO TURISMO DE AVENTURA
Ao se pensar o sistema de aventura, no contexto turístico, por meio das suas
contradições e dos seus paradoxos, é possível vislumbrar novos espaços de
contrapontos e confirmar a prerrogativa em analisá-lo à luz dos esforços para
abranger as suas múltiplas interpretações, ou seja, a sua riqueza e ambivalência.
Entende-se que o risco inerente a esta forma de turismo, aliado à diversidade
das práticas e à interação e o engajamento dos turistas, constituem aspectos
essenciais na produção das contradições e por isso são aqui tomados como
categorias de análise.
6.1 Turismo de aventura e o risco
Inicialmente, nota-se que a presença do risco no turismo de aventura é um
consenso. A incerteza própria do ambiente natural aliada às inversões corporais e
sensações insólitas de desequilíbrio63, resultante das práticas de aventura, implicam
na determinação do nível do risco das atividades e, conseqüentemente, na
configuração da aventura.
Não obstante, este elemento (risco) compõe a motivação de muitos turistas
por causar a descarga de emoções fortes como a adrenalina. Por outro lado,
algumas pessoas precisam perceber um dado controle desse aspecto para poderem
desfrutar das sensações advindas dessas práticas.
Considerando que é a presença do perigo que determina o risco e assegura a
imprevisibilidade do resultado, toma-se a conceituação desses elementos
apresentada pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2005b, p. 19) baseada na norma
OHSAS 18.001 (Occupational Health and Safety Assestment Series), no contexto da
Saúde e Segurança Ocupacional (SSO).
Perigo: fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho ou uma combinação destes. Risco: combinação de probabilidade de ocorrência e da(s) conseqüência(s) de um determinado evento perigoso.
63 Refere-se às condições de inversão, instabilidade, velocidade, desequilíbrio que as práticas de aventura proporcionam e que são análogas às condições corporais e percepções cotidianas. Pode-se citar como exemplo as sensações advindas das ações de pular de uma ponte amarrada numa corda ou descer uma corredeira em botes infláveis.

90
Tal diferenciação auxilia na realização do gerenciamento dos riscos, haja vista
que, mediante diversas estratégias e procedimentos de prevenção, os riscos podem
ser minimizados. No âmbito do turismo, para que a atividade continue sendo uma
aventura comercializável64 é essencial o processo de gerenciamento de risco, o qual
determina níveis aceitáveis de exposição dos clientes, das empresas e do meio
ambiente, garantindo a experimentação das fortes emoções.
Nesse sentido, os fornecedores de aventura precisam identificar e prezar pelo
equilíbrio ideal entre a exposição de seus clientes aos riscos e o seu controle, de
modo a não prejudicar a experimentação das emoções intensas, como também a
não transformar seus clientes em vítimas por conseqüência de uma má operação.
Nessa perspectiva, evidencia-se a necessidade de uma legislação eficaz
aliada a um sistema de fiscalização eficiente da operação destas práticas de
aventura, que objetive assegurar a integridade física dos turistas, identificar as
responsabilidades jurídicas, garantir a idoneidade das empresas responsáveis e, por
conseqüência, a sobrevivência do segmento.
Em face desses aspectos o Ministério do Turismo em parceria com o Instituto
de Hospitalidade e a Associação das Empresas de Turismo de Aventura (ABETA)
vem desenvolvendo o processo de normalização e certificação, por meio das
normas técnicas elaboradas no âmbito da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT)65. Dentre as normas definidas e já publicadas, destaca-se a ABNT
NBR 15331 – Turismo de Aventura – Sistema de Gestão da Segurança – Requisitos,
por enfatizar a relação risco e segurança. Dessa forma, ressalta-se os seguintes
conceitos necessários para a compreensão do referido processo de gestão:
Acidente: evento não planejado que resulta em morte, doença, lesão, dano ou outra perda. Perigo: fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes. Identificação de perigos: processo de reconhecimento de que um perigo existe, e de definição de suas características. Incidente: evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente. Avaliação de riscos: processo global de análise de riscos e de comparação dos riscos estimados em relação a um critério pré-estabelecido para determinar a sua aceitação. Segurança: isenção de riscos inaceitáveis de danos. (ABNT NBR 15331).
64 Considerando as implicações do Código de Defesa do Consumidor, em especial no que se refere à segurança do cliente. 65 Este tema será aprofundado posteriormente.

91
Todavia, a segurança no turismo de aventura66 é um fator complexo por
abarcar diferentes variáveis como: pessoas; equipamentos; procedimentos; sistemas
de gestão das empresas prestadoras de serviços; leis e sistemas de fiscalização e
controle existentes em cada município; articulações e logísticas locais disponíveis
para buscas e salvamentos e atendimentos médicos; aspectos climáticos; e,
particularmente, os perigos inerentes a cada atividade associados às condições
naturais do ambiente onde as atividades das distintas modalidades de aventura são
realizadas (BRASIL, 2005b).
Além desses fatores, a ausência de um histórico de ocorrência de acidentes
nessas práticas de aventura dificulta a compreensão do problema da segurança
nesse nicho turístico. De acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2005b), há
no mercado uma consciência equivocada de que tais eventos não devam ser
registrados e conhecidos.
Vale ressaltar que o levantamento das ocorrências de acidentes no turismo de
aventura, de forma a configurar uma base de dados nacional, possibilitaria a
caracterização, a identificação das principais causas e pontos críticos, ao mesmo
tempo em que orientaria as ações corretivas e preventivas. Porém, o incipiente
registro das ocorrências de acidentes nesse nicho turístico, conforme apresentado
pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2005b), constitui um complicador na gestão de
segurança.
Dessa forma, ao pensar a relação risco e atividades de aventura, no contexto
turístico, é preciso ter em mente o zelo pela integridade do cliente, da empresa e do
meio ambiente, de forma a equacionar as fortes emoções, a adrenalina, a
descoberta com a segurança de todos.
6.2 A Diversidade
Embora o turismo de aventura possa ser realizado no espaço urbano, o
ambiente natural predomina como cenário destas viagens. As condições de
incerteza e instabilidade que a natureza oferece e que potencializam as sensações
de adrenalina e de aventura justificam a predominância das práticas de aventura
66 No contexto da temática de segurança nas viagens, vale destacar a atuação da Organização não governamental, Associação Férias Vivas, fundada em 24 de julho de 2002, com o objetivo de disseminar a cultura de segurança no turismo. Para mais informações: www.feriasvivas.org.br

92
neste ambiente. Ademais, as belezas naturais, a aproximação e a vivência no
espaço natural valorizam a experiência turística.
Dessa forma, locais de natureza virgem, intocada ou exótica são possíveis
destinos por apresentarem elevado potencial para a realização das práticas de
aventura, dada à presença de animais selvagem, as dificuldades de acesso e
locomoção nos lugares remotos e as intempéries da natureza.
A complexidade do sistema turístico da aventura se fundamenta também na
diversidade de espaços naturais, de modalidades de práticas de aventura e de
técnicas adotadas. As variações topográficas, as conjunções de rios e cachoeiras, a
heterogeneidade faunística, ou seja, a abundância de elementos naturais distintos
influencia diretamente na oferta do turismo de aventura. Tendo em vista que as
atividades de aventura podem realizar-se em diferentes planos físicos: água, terra,
ar, aproveitando as energias que os recursos naturais liberam ou energias
produzidas por equipamentos, compõe-se assim a unidade complexa do segmento.
Neste contexto, observa-se a interdependência dos componentes espaço,
atividade e técnica, na medida em que as variações nas partes implicam em
transformações nas suas características de organização. Tal nuance interfere,
principalmente, em dois aspectos: o primeiro, no leque de possibilidades de oferta
dos produtos; o outro, na complexidade do processo de planejamento, gestão e
promoção desse tipo de turismo.
Para exemplificar esta idéia é preciso observar a dificuldade em elencar todo
o conjunto de práticas de aventura, ao mesmo tempo em que se desenvolvem
diariamente novas tecnologias e descobrem novos ambientes. A partir da
compreensão de que a diversidade das atividades fundamenta-se nas variações dos
equipamentos, das habilidades e técnicas, dos territórios em que são operadas e
nos riscos que envolvem, o Ministério do Turismo (BRASIL, 2006, p. 12) apresentou
uma lista das práticas mais conhecidas, agrupadas em função dos elementos da
natureza que elas abarcam67.
1) Terra
Arvorismo – locomoção por percurso em altura instalado em árvores e outras
estruturas construídas.
67 Tem-se ciência de que algumas das atividades podem envolver mais de um elemento e ainda ocorrer em ambientes distintos, fechados, ao ar livre, em espaços naturais ou artificiais.

93
Atividades ciclísticas – também conhecidas por cicloturismo, percurso em vias
convencionais e não convencionais em bicicletas.
Atividades em cavernas – também denominados de caving e espeleoturismo,
observação e apreciação de ambientes subterrâneos.
Atividades eqüestres – ou turismo eqüestre, percursos em vias convencionais
e não convencionais em montaria.
Atividades fora-de-estrada – também tratadas como turismo fora-de-estrada
ou off-road, percursos em vias convencionais e não convencionais, cm
trechos de difícil acesso, em veículos apropriados.
Bungue jump – salto com uso de corda elástica.
Cachoeirismo – descida em quedas d’água utilizando técnicas verticais,
seguindo ou não o curso da água.
Canionismo – descida em cursos d’água transpondo obstáculos aquáticos ou
verticais com a adoção de técnicas verticais. O curso d’água pode ser
intermitente.
Caminhadas – percurso a pé em itinerário pré-definido.
Curta-duração – caminhada de um dia, também conhecida como hiking
Longa-duração – caminhada de mais de um dia, também conhecida
com trekking.
Escalada – ascensão de montanhas, paredes artificiais, blocos rochossos,
adotando técnicas verticais.
Montanhismo – caminhada, escalada ou ambos, praticada em ambiente de
montanha.
Rapel – técnica vertical de descida em corda.
Tirolesa – deslizamento entre dois pontos afastados horizontalmente em
desnível, ligados por cabo ou corda.
2) Água
Bóia-cross – descida em corredeiras com bóias infláveis, também
denominado acqua-ride.
Canoagem – percurso aquaviário utilizando canoas, caiaques, ducks e remos.
Mergulho – imersão profunda ou superficial em ambientes submersos,
praticado com ou sem o uso de equipamento especial.
Rafting – descida em corredeiras utilizando botes infláveis.

94
3) Ar
Balonismo – vôo com balão de ar quente e técnicas de dirigibilidade
Parapente – vôo de longa distância com o uso de aerofólio (semelhante a um
pára-quedas) impulsionado pelo vento e aberto durante todo o percurso, a
partir de um determinado desnível.
Pára-quedismo – salto em queda livre com o uso de pára-quedas aberto para
aterrissagem, normalmente a partir de um avião.
Ultraleve – vôo em aeronave motorizada de estrutura simples e leve.
Vôo livre ou Asa delta – vôo com aerofólio, estrutura rígida em forma de asa,
impulsionado pelo vento.
No que se refere às tecnologias, vale ressaltar a sua condição essencial para
a realização das atividades de aventura. O desenvolvimento da pesquisa científica,
tanto no melhoramento do desempenho técnico como na produção de material, que
proporcionaram maior e melhor performance, tornou as práticas de aventura num
exemplo de experimentação tecnológica avançada (COSTA, 2000).
Nessa linha de raciocínio, Marinho (2003) também enfatiza o avanço
tecnológico como provedor, ao ser humano, das experiências inéditas em meio
natural, como também propulsor do surgimento de novas práticas esportivas.
Ademais, conforme Marinho (2003) e Costa (2000), esta íntima relação com as
tecnologias também se configura como um fator diferenciador das práticas
esportivas de aventura das tradicionais.
A tecnologia, dessa forma, é compreendida como facilitadora das aventuras,
ou até mesmo mediadora entre as experimentações do risco, do ambiente natural,
das atividades físicas e as sensações de transposição dos limites e rompimento com
as barreiras da vida cotidiana.
Nessa perspectiva, pode-se observar em que medida o turismo de aventura
se desenvolve dentro de um quadro de mudanças estruturais na sociedade
contemporânea numa lógica dialética. Sendo assim discute-se, em seguida, a
relação do indivíduo (o turista), permeado pelas características da sociedade atual, e
o segmento do turismo de aventura.

95
6.3 A Interação do turista com as práticas de aventura
Considerando o pensamento de Pena-Vega (2003, p. 70): “ao enfocar a ação
do homem, caminha-se inexoravelmente para um aumento da complexidade”
admite-se a problemática da discussão quando realizada sob o enfoque do turista de
aventura.
De acordo com Costa (2000), o homem da era atual prossegue imbuído do
espírito de aventura tão presente nas grandes conquistas da humanidade, em
especial as do século XVI, quando desbravaram os mares ao encontro de outras
civilizações. Esse espírito aventureiro, evidenciado nas atuais práticas de aventura,
possibilita ao homem apostar com as oportunidades de conquistar, com o destino e
com os infortúnios, transmitindo outros sentidos que podem, em alguns momentos,
se aproximar ou se afastar dos antepassados do século XVI.
Se os primeiros eram motivados em suas conquistas pelos interesses
econômicos expansionistas, ou se, para poucos, pelos sonhos de desbravações,
estes hoje conquistam de modo simbólico, a si mesmos, por meio da extrapolação
de seus próprios limites, ou buscam a experimentação da aventura sob a influência
do espírito consumista.
Partindo do pressuposto que essas práticas são originárias de uma “cultura
híbrida”, para citar Costa (2000, p. 11), pois se revelam tanto como um afastamento
quanto uma aproximação do atual quadro social, dada à permanência de alguns
valores sociais contemporâneos como o consumismo, a efemeridade, a
imponderabilidade, a reflexividade, entre outros, é que se propõe à análise da
relação turista e experiência de aventura, no âmbito do turismo.
Conforme Sevcenko (2001), a aceleração dos ritmos do cotidiano, em
concordância com a invasão dos aparatos tecnológicos, proporcionou uma mudança
na sensibilidade e nas formas de percepção sensorial das populações
metropolitanas que representou uma ampliação da visão como fonte de orientação e
interpretação. Ou seja, o olhar é supervalorizado em detrimento dos demais
sentidos, o que acaba influenciando e modificando a percepção do mundo físico.
Sob esse prisma, o turismo de aventura apresenta-se como uma
possibilidade de discussão desta questão de sensibilidade da sociedade
contemporânea, ao passo que nas práticas de aventura a experiência sensível
mostra-se mais pessoal e duradoura: um conjunto de sensações se evidencia –

96
olfativas, táteis, visuais, auditivas – através do contato com o meio ambiente e com o
rompimento com as regras de equilíbrio cotidianas.
Bruhns (2003) destaca que caminhar por uma trilha mantendo contato íntimo
com o ambiente natural, incluindo todas as dificuldades e obstáculos presentes
nessa experiência, talvez possa ser um exercício dos sentidos. A partir de uma
concepção semelhante, Spink et al (2005) discutem a exacerbação dos sentidos no
encontro com a natureza através das práticas de aventura.
Dessa forma, pode-se inferir que a busca por uma experimentação dos
sentidos, através do contato com a natureza, pode ser uma das possibilidades
orientadoras da opção pelo turismo de aventura. Procura-se literalmente um
“mergulho na natureza”, o que revela uma “emoção à flor da pele”, experimentando
a aventura ou captando-a através de todos os poros do corpo (BRUHNS, 2003).
Bruhns (2003) destaca que esse aprendizado da experimentação, que induz a
sensibilização, desvenda um modo de conhecer especial, ou seja, o conhecimento
do ambiente decodificado via informações do corpo. E este corpo passa a ser um
campo informacional, concebido como receptor e emissor de informações
(MIRANDA, 1995 apud BRUHNS, 2003).
Betrán (2003) compartilha da idéia de corpo informacional, mas acrescenta o
corpo acrobático. Segundo o autor, os equilíbrios complexos e as acrobacias se
popularizaram, contando com o desenvolvimento das atividades de aventura. Estas
deram origem a novos conceitos corporais que reinterpretam o corpo, não só como
um meio para alcançar um objetivo, mas também como um fim em si mesmo.
O corpo acrobático trata de inversões corporais, percepções e sensações insólitas, equilíbrios e desequilíbrios, acrobacias e reequilíbrios. As acrobacias [...] referem-se às ações motrizes conscientes que provocam a perda momentânea das condições estáveis do indivíduo e, portanto, uma modificação das referências perceptivas (BETRÁN, 2003, p. 160).
Observa-se, assim, que as práticas de aventura se baseiam em atividades
que estabelecem a perda momentânea do equilíbrio e segurança corporal, induz a
uma modificação na relação do indivíduo com o seu corpo e até mesmo produz um
novo conceito de corpo: “o corpo acrobático” sugerido por Betrán. Dessa forma, a
sensibilização e a relação corporal provocadas pelas viagens de aventura ilustram a
multiplicidade de efeitos resultantes dessa moderna prática de lazer.
Para complementar esta discussão vale acrescentar a dicotomia acerca da
individualização – sociabilização originadas nas práticas de aventura. Em oposição

97
ao pensamento de Betrán (2003), que as caracteriza como atividades
individualizadas, Villaverde (2003) considera que as formas de sociabilidade
exercitada podem ser bastante intensas e qualificadas.
Tendo em vista que a atividade turística oportuniza um abastado locus de
relações interpessoais, de vivência e de relações com o mundo, ressalta-se o
turismo de aventura por inovar na relação com o corpo e com a natureza e por
possibilitar ao praticante o exercício de uma nova relação consigo mesmo, a
vivência diferenciada do mundo e a experiência de formas renovadas de
sociabilidade e subjetividade (VILLAVERDE, 2003).
Destaca-se que, diferente do que ocorre nos esportes tradicionais, nos quais
há uma separação por sexo e idade, tem-se nas práticas de aventura uma
mesclagem de crianças aos idosos, de atletas aos portadores de necessidades
especiais68, de homens e mulheres. Todavia, a seleção do público ocorre em função
das dificuldades que algumas atividades impõem.
A combinação de indivíduos heterogêneos revela uma grande possibilidade
de troca de experiências nas aventuras, haja vista que são exigidos comportamentos
adaptativos em beneficiamento da união do grupo, em prol da qualidade e da
segurança da vivência. Confiança, integração, experimentação, cooperação,
composição e respeito são sentimentos relacionados com as viagens de aventura e
que possibilitam a sua aproximação com a discussão contemporânea acerca da
subjetividade e da sociabilidade.
Segundo Villaverde (2003), a configuração assumida pela dinâmica das
práticas de aventura vividas coletivamente na natureza, sob a pressão da
intensidade e das composições interindividuais, parecem criar novas formas de
sociabilidade, em especial nas relações de amizade, percebida como forma de
subjetivação coletiva.
Nesse sentido, ressalta-se, portanto, que o que demonstra evidenciar-se nas
experiências de aventura, no contexto do turismo, e que as caracteriza pelas
renovações e transformações, é a relação do indivíduo consigo mesmo, com o meio
ambiente e com a alteridade, conformando, assim, uma dimensão rica de análises
do fenômeno contemporâneo da aventura.
68 A ONG “Aventura Especial” trabalha em prol da inclusão dos portadores de necessidades especiais na prática de esportes de aventura.

98
6.4 Mercado do turismo de aventura
Conforme foi anteriormente exposto, o turismo de aventura é um campo
complexo e mal compreendido dado à infinidade de interpretações da aventura, a
contemporaneidade do segmento, a relação com o risco, a carência em pesquisas,
entre outros aspectos. Assim, admite-se a dificuldade em mensurá-lo e compreende-
lo.
Swarbrooke et al (2003) apresentam os dados do mercado internacional
desse nicho turístico, citado por Millington (2001), cujo volume de viagens girou em
torno de quatro e cinco milhões no ano de 2000, representando cerca de 7% de
todas as viagens internacionais realizadas no mesmo ano.
A Adventure Travel Trade Association (ATTA), uma associação internacional
do segmento das viagens de aventura, que possui membro em todos os continentes,
apresentou dados interessantes acerca dessa forma de viagem no mundo no –
Adventure Travel Indutry Survey (2006). A pesquisa foi realizada entre os dias dois e
dezessete de outubro de 2006, por meio de questionários enviados via e-mail para
as empresas em todo o mundo. Como participantes, a pesquisa contou com 222
respondentes, oriundos de 35 países, sendo que os EUA e Canadá representaram
64,4% da população, seguidos da Ásia (10,6%) e América do Sul (6,4%). Tal
condição pode não demonstrar algumas aproximações com a realidade brasileira,
mas de qualquer modo apresenta uma visão geral do setor.
As empresas pesquisadas iniciaram as atividades preferencialmente nas
décadas de 1980 (30,9%) e 1990 (30,9%), o que confirma a contemporaneidade do
segmento. No ano de 2005, 21,4% (maior parcela) das organizações tiveram
arrecadação bruta entre $50.000,00 e $250.000,00 (em dólares). Ainda referente à
renda, nota-se que 83% dos participantes declaram aumento dos valores, em
oposição ao decréscimo de 17%, do ano de 2004 para o de 2005 (ATTA, 2007).
Quanto aos destinos oferecidos, ressalta-se que a América do Norte assume
a liderança com 13%. Tal dado pode ser explicado por 64% dos pesquisados serem
desse continente, como já foi exposto. A América do Sul fica na segunda colocação
como destino oferecido (10%), o que acena como uma esperança para o mercado
brasileiro que dispõe de diversidade de práticas e destinos. Ademais, observa-se
que o continente sul-americano está na frente das pioneiras desse segmento que
são a Austrália e a Nova Zelândia, com 5,9% (ATTA, 2007).

99
Considerando, dessa forma, o crescimento mundial desse mercado aliado ao
cenário positivo para os países da América do Sul, no qual o Brasil se destaca pela
potencialidade, que parte-se para a discussão do mercado brasileiro de aventura, no
âmbito do turismo.
6.4.1 Contexto brasileiro do turismo de aventura
No Brasil a expansão mercadológica do turismo de aventura foi espontânea e
relativamente recente, pois as primeiras iniciativas de atividades comerciais datam
do início da década de 90, de forma articulada com o turismo de natureza, como
conseqüência de uma consciência crescente sobre as definições e práticas do
desenvolvimento sustentável, a qual foi intensamente estimulada pela realização do
Rio-9269 (BRASIL, 2005b).
Hoje o turismo de aventura está amplamente disseminado e uma grande
variedade de empresas e prestadoras de serviço se estabeleceram em todo território
nacional. O documento do Ministério do Turismo que realiza uma análise da oferta
de atividades de turismo de aventura no Brasil do ano de 2003 registra a existência
de mais de 2000 empresas que oferecem serviços neste nicho (BRASIL, 2005b).
A partir da compreensão da importância estratégica do turismo de aventura
para o desenvolvimento turístico do país, tanto como fator de desenvolvimento social
local como diferencial para estratégias de marketing internacional, o poder público
decidiu introduzir um marco regulatório de qualidade e segurança para este
segmento.
Em conformidade com as tendências internacionais, cujo desenvolvimento de
normas técnicas tem sido adotado como ferramenta de organização e
desenvolvimento do segmento turístico, o Ministério do Turismo, desde dezembro de
2003, vem desenvolvendo, em parceria com o Instituto de Hospitalidade70, o Projeto
de Normalização em Turismo de Aventura. Tal iniciativa visa a identificar os fatores
críticos da operação responsável e segura desse nicho turístico e dar subsídio para
69 A cidade do Rio de Janeiro foi a sede da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada de 3 a 14 de junho de 1992. A reunião ficou conhecida como Rio-92, e a ela compareceram delegações nacionais de 175 países. Ver: http://www.mre.gov.br 70 O IH – Instituto de Hospitalidade brasileira é uma organização não-governamental criada em 1997 que objetiva
contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil por meio do aprimoramento do setor de turismo. Atua em todo território nacional, elaborando e implementando projetos para o desenvolvimento e a qualificação de pessoas, empreendimentos e destinos turísticos. Para mais informações ver: www.hospitalidade.org.br

100
o desenvolvimento das normas técnicas referentes às distintas atividades
integrantes do setor (IH, 2007).
Para o projeto estão sendo elaboradas 24 normas técnicas, no âmbito da
Associação Brasileira de Normas Técnicas71 – ABNT – que contemplam temas como
as competências mínimas para condutores das diferentes atividades de turismo de
aventura, as particularidades dos produtos utilizados nessas atividades, a gestão da
segurança e as informações mínimas para clientes, necessárias para iniciar a prática
de uma atividade de turismo de aventura.
Tomadas conjuntamente, as normas técnicas do turismo de aventura se inter-
relacionam, conformando um quadro semelhante a uma espinha de peixe, conforme
ilustra a figura 8, cuja espinha central é tomada pela norma da gestão de segurança,
permeando todas as outras, dada a sua importância para o processo de
normalização desse nicho turístico e sua abrangência para todas as práticas. As
demais normas apresentam-se como transversais que, por sua vez, definem
aspectos mais específicos.
Figura 8: Conjunto de Normas do Turismo de Aventura
Fonte: Adaptado de ABETA (2007) - Oficina Normas Técnicas do Turismo de Aventura
71 No Brasil, a ABNT desempenha o papel de organismo nacional de normalização, reconhecida formalmente pelo Estado Brasileiro. Ver: www.abnt.org.br

101
O processo de normalização dá-se de forma dinâmica, a partir do
envolvimento e da participação de diversas partes interessadas, englobando
empresas envolvidas, consumidores, governo, institutos de pesquisa e
universidades, organizadas em 13 comissões de estudo (CE). Após o alcance do
consenso na CE, o projeto de norma é submetido à Consulta Nacional, depois
aprovado e por fim publicado pela ABNT (BRASIL, 2005b).
Por meio deste conjunto de normas pretende-se implementar um processo de
avaliação de conformidade (certificação) de profissionais, organizações, produtos e
equipamentos relacionados ao turismo de aventura e desenvolver capacitação e
qualificação do segmento, baseada nas normas brasileiras.
Destaca-se que a principal meta desta iniciativa do Ministério é colocar o
Brasil no circuito internacional de destinos de aventura atraindo um fluxo relevante
de turistas estrangeiros para o país (BRASIL, 2005a). E para tanto é importante que
o segmento se estruture, aumente sua competitividade e opere de forma
responsável e segura.
Pode-se destacar a organização das empresas que operam esse nicho
turístico como divisor de águas para a estruturação do segmento. Em agosto de
2004, durante a Adventure Sports Fair, em São Paulo, foi fundada a Associação
Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura (ABETA) que tem como missão
transformar esse nicho e o ecoturismo em atividades econômica, social e
ambientalmente viáveis (ABETA, 2007).
Reafirma-se, a partir da missão apresentada, a interseção do turismo de
aventura com outros nichos turísticos. Ademais, em termos de agrupamento de
esforços, observa-se a relação ecoturismo e turismo de aventura como uma
estratégia para a gestão do segmento, dada as diversas afinidades.
A partir dos esforços do Ministério do Turismo, em parceria com o SEBRAE
Nacional e convênio com a ABETA, surgiu o Programa de Qualificação e
Certificação do Turismo de Aventura – Programa Aventura Segura – iniciado em
janeiro de 2006 e realização até dezembro de 2008, com o objetivo de fortalecer,
qualificar e estruturar o segmento do turismo de aventura no Brasil realizando
iniciativas voltadas para o desenvolvimento com qualidade, sustentabilidade e
segurança. (ABETA, 2007).
De forma a concentrar e maximizar as ações, foram escolhidos inicialmente
quinze destinos turísticos a serem trabalhados a partir do Programa de

102
Regionalização do Ministério do Turismo. Destaca-se que a seleção ocorreu com
base em critérios como o potencial e a diversidade das atividades ofertadas, a
concentração de empresas, a capacidade de articulação, dentre outros.
Os quinze destinos priorizados foram: Bonito e Serra da Bodoquena – MS;
Brotas – SP; Chapada Diamantina – BA; Chapada dos Veadeiros – GO; Manaus –
AM; Florianópolis – SC; Fortaleza Metropolitana – CE; Foz do Iguaçu – PR; Lençóis
Maranhenses – MA; Vale do Alto Ribeira – SP; Recife – PE; Rio de Janeiro – RJ;
Serra do Cipó – MG; Serra dos Órgãos – RJ; Serras Gaúchas – RS.
De acordo com a ABETA (2007), o Programa Aventura Segura está
desenvolvendo um conjunto de ações integradas, divididas em seis metas:
1) Geração e Disseminação de Conhecimento do Turismo de Aventura;
2) Estímulo ao associativismo – a união do Turismo de Aventura;
3) Qualificação Profissional - Qualidade e Aperfeiçoamento para Guias e
Condutores;
4) Qualificação de Empresas – Gestão Segura para o Negócio Turismo de
Aventura;
5) Subsídio a Certificação – Certificado de segurança para Empresas e
Condutores;
6) Formação e Capacitação de Grupos Voluntários de Busca e Salvamento
(GVBS).
Nessa perspectiva, ressalta-se a iniciativa de conhecer e entender a realidade
do turismo de aventura no país. O produto dessa ação, o Relatório Diagnóstico do
Turismo de Aventura, constitui um estudo científico de caráter exploratório-descritivo,
a partir do levantamento de dados secundários, de entrevistas telefônicas com os
precursores do segmento, de entrevistas com empresários e poder público, além
das entrevistas com especialistas atividades ofertadas no país, realizado nos
destinos que são foco do programa, entre os meses de maio a novembro de 2006.
Com base nos dados iniciais apresentados no painel “Turismo de Aventura –
choque de realidade e estratégias para a mudança”, na abertura do 4º Simpósio
Brasileiro de Turismo de Aventura, realizado durante a Adventure Sport Fair - 2007,
em São Paulo, destaca-se que quase 2 mil empresas comercializam
aproximadamente 25 atividades de aventura no país. Embora a oferta caracteriza-se
pela diversidade, o mercado de aventura é formado por mais de 25% de empresas

103
informais, sendo que 60% enfrentam dificuldades para viabilizar investimentos em
seus negócios turísticos.
O trabalho também mapeou e identificou qualitativamente as empresas que
operam as atividades de aventura, a partir de quatro estágios de desenvolvimento,
de forma a conformar um quadro da realidade da oferta brasileira, conforme figura 9
abaixo.
Figura 9: Características dos empresários do turismo de aventura no Brasil
Fonte: Elaborado pela autora baseado no Diagnóstico do Turismo de Aventura – ABETA (2007)
As classificações ocorrem em função das particularidades da gestão das
empresas, sinalizando o posicionamento de cada agrupamento frente ao mercado
brasileiro. O grupo do Pelotão de Elite, que assume o topo da pirâmide, é constituído
por empresas que trabalham na vanguarda do segmento, caracterizadas pela
solidez e profissionalização empresarial, porém representada somente por 5% das
organizações. Já a condição de ascendente, observada em cerca de 10% do setor,
denomina um bom grau de profissionalização e qualificação relacionada com baixa
instabilidade, devido principalmente à limitação financeira. O outro grupo, os
empreseiros, é assim conceituado pela predominância de empresários que eram
aventureiros e que decidiram enveredar pela comercialização da aventura,
representam a maior parcela do mercado, cerca de 60%, demonstram baixa
qualificação empresarial e constituem negócios formais e informais. Por fim, os
oportunistas que são 25% do segmento, caracterizam-se por grande amadorismo,
ilegalidade total da empresa e ausência de visão empresarial (ABETA, 2007).
Pelotão de Elite
Ascendentes
“Empreseiros” (Empresários aventureiros)
Oportunistas

104
Além desses dados, foi também evidenciada, durante a Adventure Sport Fair
– 2007, a percepção de uma redução da procura por alguns destinos e algumas
atividades. Considerando, portanto, a contradição entre elevação da oferta e
redução da demanda das práticas de aventura, configura-se um quadro de
instabilidade para o mercado, de forma a comprometer a sobrevivência das
empresas, e assume-se definitivamente a prerrogativa de qualificação empresarial
para a devida organização do segmento.
Nesse sentido, outra ação do Programa Aventura Segura que merece ser
referenciada é a elaboração do Planejamento Estratégico. Esse estudo corrobora da
acepção do desequilíbrio existente entre a oferta e a demanda, ressalta a fragilidade
financeira (ausência de fluxo de caixa e incapacidade de investimentos) e apregoa a
qualificação empresarial como estratégia de fortalecimento do setor, com vistas no
mercado internacional.
Portanto, ao pensar o turismo de aventura no Brasil evidenciam-se
contradições, desequilíbrios, instabilidades, dificuldades, nos destinos e nas
empresas, como também ações, planos, programas, enfim, iniciativas que clamam
pela organização e profissionalização do segmento, porém como estratégia para a
inserção do país no mercado internacional de aventura. Assume-se a potencialidade
e até mesmo a vocação do Brasil como destino de aventura, dada à diversidade de
ambientes naturais e ressalta-se o longo caminho a ser percorrido em direção à
qualificação requisitada.

105
7 A DIALÉTICA DA AVENTURA E DO RISCO
Faz-se necessário, antes de adentrar nas análises das entrevistas, apresentar
as característcas da modalidade de aventura escolhida como objeto desse estudo: o
rafting; e as características dos rios escolhidos como campo da pesquisa: o Jacaré-
Pepira (Brotas – SP) e o Itajaí-Açú (Apiúna – SC).
Como já foi apresentado, o rafting é uma atividade de aventura que se
desenvolve na água, mais especificamente em rios, e corresponde à descida de
corredeiras em botes infláveis. São tais embarcações que definem a atividade, pois
a origem do nome rafting reside na palavra inglesa raft que signifita balsa.
Juntamente com o bote, o colete, o capacete e o calçado fechado são equipamentos
obrigatórios para a prática (ATIVA, 2007).
A atividade se caracteriza pelo alto grau de colaboração existente entre os
componentes do bote, que pode variar de 4 a 8 pessoas, de acordo com o tamanho
da embarcação, pois é preciso que todos os integrantes remem para poderem
transpor as corredeiras do rio.
As corredeiras, por sua vez, aliadas ao volume de água definem o nível de
dificuldade que variam das classes I a VI. A ABNT NBR 15370 apresenta as
especificades dessa classificação, que segue o sistema utilizado pela Federação
Internacional de Rafting (IRF), da seguinte forma: classe I é fácil e corresponde ao
fluxo de água com pequenas ondulações; classe II é moderada com corredeiras
mais evidentes; classe III é difícil, pois possui corredeira com ondas irregulares que
podem ser defíceis de evitar, além de haver saltos e obstruções; classe IV é muito
difícil com corredeira intensas, as quais podem conter ondas severas, quedas,
refluxos e outras obstruções; classe V é extremamente difícil com intensa presença
de refluxos, ondas, correntezas e quedas; e classe VI é extrema com corredeiras
instransponíveis, sendo somente possíveis de transpor em condições específicas.
Para indicar classes intermediárias acrescenta-se o sinal de soma que significa que
a classificação tem um plus, como: III+ ou IV+.
Os trechos dos rios para a prática do rafting são definidos com base nessa
classificação, da seguinte forma: predomínio das classes II a III considera-se o
rafting como ideal para iniciantes e predomínio das classes IV a V considera-se o
rafting como ideal para pessoas que já tenham experiência na atividade. Vale

106
lembrar que tais classificações se alteram conforme o volume de água do rio (ABNT
15370).
Ademais, destaca-se que para a realização do rafting comercial é obrigatória
a presença de um condutor, o qual se responsabiliza em dar a direção certa para o
barco e em realizar uma descida segura para todos os integrantes. Porém, a ação
dos clientes também é requisitada, tanto para as remadas como para as estratégias
de resgate. Para tanto, antes de entrarem no rio, os clientes são instruídos pelo guia,
no que se refere às características das corredeiras, às medidas de segurança, às
formas de resgate e aos comandos de remadas que poderão ser solicitados.
Quanto à realização das entrevistas, ressalta-se que essas foram iniciadas
em Brotas, no mês de novembro de 2007. O munípio de Brotas está localizado na
região central de São Paulo, com 20.000 habitantes, a 242 Km de distância da
capital do Estado. A localidade se caracteriza por temperatura média anual de 220C,
clima tropical, relevo plano a ondulado, vegetação típica do cerrado e dos campos,
altitude 661 metros acima do nível do mar e clima tropical (BROTAS, 2008).
É preciso destacar que Brotas já é um sólido destino de aventura do país,
haja vista a sua propagação na mídia especializada72 e seu destaque no segmento,
pois a sua legislação e organização são referenciais para o processo de qualificação
do turismo de aventura, encabeçado pela ABETA, em parceria com o Ministério do
Turismo (ABETA, 2007).
Obvervou-se, nesse sentido, uma variedade de empresas que ofertam e
operam diferentes práticas de aventura. O rafting, em especial, ocorre no rio Jacaré
Pepira73 que tem sua nascente na divisa dos municípios de Brotas e São Pedro, na
Serra de Itaqueri, e sua desembocadura no rio Tietê no município de Ibitinga
(BROTAS, 2008).
As corredeiras do rio Jacaré-Pepira, onde o rafting é operado, possuem
classes III a IV, conforme classificação já apresentada. Tais níveis possibilitam a
prática do rafting para aventureiros iniciantes a experientes, de crianças a idosos. O
rafting em Brotas dura em média duas horas, percorre 5Km de rio e é a atividade
mais realizada pelas operadoras.
72 Além de constante presença em Revistas e programas de TV, o município de Brotas participa anualmente da Adventre Sport Fair, com stand exclusivo. 73 Segundo os instrutores da operadora de rafting, onde as entrevistas forma realizadas, Jacaré-Pepira é um nome indígena – Tupi-guarani – que significa jacaré ralado.

107
Já o município de Apiúna, onde as entrevistas foram realizadas nos meses de
novembro e dezembro de 2007, se situa na região do Médio Vale de Itajaí, no
estado de Santa Catarina, a 187 km da capital, Florianópolis. Apiúna tem como
características o clima mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média
anual de 19,70C, altitude 87m acima do nível do mar, morfologia acidentada, com
bastante declividade, e vegetação formada por floresta ombrófila densa e ombrófila
mista (floresta com araucária) (APIÚNA, 2008).
Devido às condições naturais, essa região possui um elevado potencial para a
prática de atividades de aventura, em todos os ambientes (ar, terra e água):
parapente, trekking, ciclismo, canionismo, cachoerismo, rapel, escalada e rafting.
Mas, diferentemente, de Brotas que já possui uma demanda consolidada e um
mercado de turismo de aventura organizado (em Apiúna só existe duas operadoras
de atividades de aventura), essa região apresenta ordenação mais incipiente no que
se refere aos serviços turísticos (hospedagem, alimentação, guias, agências).
Porém, ressalta-se que essa distinção existente entre os mercados turísticos
de Brotas e de Apiúna não ocorre em função da data de início de operação, pois as
duas localidades iniciaram as operações dessas atividades concomitantemente, mas
pode estar relacionada a fatores como distância de grande centro emissor de turista,
disponibilidade de investimentos, aspectos culturais e econômicos.
O rafting na região de Apiúna é realizado no rio Itajaí-Açú, exceto em
períodos que o nível de volume de água ultrapassa o recomendado para uma prática
segura. O rio Itajaí-Açú é formado pela junção dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste,
no município de Rio do Sul e ainda recebe as águas do Itajaí do Norte na cidade de
Ibirama e Itajaí Mirim na cidade de Itajaí, desembocando no Oceano Atlântico entre
os municípios de Navegantes (SC) e Itajaí (SC).
Em virtude da extensão e da diversidade de desníveis e corredeiras desse rio,
a prática do rafting comercial74 ocorre em dois trechos diferentes entre os Municípios
de Ibirama e Apiúna75. A sessão morro da cruz é recomendada para iniciantes na
atividade, possui 7,5 Km de extensão, possui corredeiras com nível de dificuldade
classe III+ e se situa no município de Apiúna. Já a sessão Ilha das Cutias é um
74 O rio possui um trecho para a prática do rafting somente para profissionais ou praticantes com muita experiência, pois o nível de dificuldade é muito alto, assim como a probabilidade de lesões. Tal sessão é chamada de paraíso. Notou-se que o rafting nesse rio é, além de recomendado entre os praticantes brasileiros, muito respeitado entre os instrutores e operadores. 75 Cabe aqui esclarecer que as entrevistas foram realizadas em Apiúna, pois as empresas que operam o rafting estão localizadas nesse município, mais precisamente na localidade de São Pedro.

108
trecho para pessoas com experiências no rafting, pois tem corredeiras extensas e
com classes IV e IV+, está localizada entre os municípios de Ibirama e Apiúna e
possui 7,5 Km de percurso (ATIVA RAFTING, 2007).
Apesar de algumas diferenças do rafting de Apiúna e de Brotas (algumas
podem ser observadas nas fotos a seguir), em função das características do rio,
como volume de água, distância entre as margens, desnível, presença de pedras,
idade mínima para a prática da atividade76, vegetação das margens, notou-se uma
relativa convergência entre os perfis dos turistas. A divergência notada estava
relacionada ao tamanho dos grupos que chegavam até as operadoras, pois em
Brotas eram pequenos e, predominantemente, grupos familiares.
Figura 10: Rafting em Brotas - SP
Foto: Lorena Macedo Rafael Dantas, 2007.
Figura 11: Rafting em Apiúna – SC
Foto: Acervo da Ativa Rafting, 2007.
76 Tal critério varia em função do volume de água no rio e das classificações das corredeiras, mas, mesmo considerando essa variação, a idade mínima para a prática em Brotas é menor do que a de Apiúna.

109
Todavia, ressalta-se que essa condição distinta não se manifestou,
efetivamente, nos conteúdos das entrevistas, o que possibilitou a realização de uma
análise conjunta dos textos. Cabe aqui destacar que, à medida que a análise foi
sendo realizada, as falas dos entrevistados foram transcritas de acordo com a
afinidade que possuíam com a discussão, dispostas da seguinte maneira: a letra T,
que indica a palavra turista, precedia o número do entrevistado na ordem das
entrevistas. Foram realizadas dezenove entrevistas, sendo que as seis primeiras
ocorreram em Brotas e as demais em Apiúna.
Dentre os entrevistados, a faixa etária variou de dezoito a quarenta e sete
anos, sendo que a maioria, onze, possuía idade entre vinte a trinta anos. Quanto ao
estado civil observou-se o predomínio dos solteiros, em número de doze. E o nível
de formação oscilou entre a graduação e a pós-graduação, com o predomínio do
nível superior.
Em virtude das temáticas evidenciadas, foi possível construir a análise em
função de três eixos, os quais se apresentaram intimamente articulados: vida
cotidiana, experiência do rafting e definições da aventura e do risco; de forma que os
textos manifestados na discussão da vida cotidiana deram o contexto para a
representação da experimentação do rafting, assim como para as definições da
aventura e do risco construídas pelos turistas.
Nessa perspectiva, a partir desses eixos temáticos e da orientação da
concepção dialética, da unidade dos contrários, é que se desenvolveu a reflexão que
se segue.
7.1 Vida cotidiana
A partir da compreensão que a análise do material coletado em campo deve
orientar-se pelo marco teórico-epistemológico até aqui traçado, confirma-se a
necessidade de interpretação dos discursos pelo caminho da cotidianidade. Isso
implica na reflexão, no entrelaçamento da discussão sobre o contexto sócio-
histórico, desse grupo social, a partir das representações dos turistas, acerca do seu
cotidiano, manifestadas nas entrevistas.
Assume-se com Lefebvre (1991) que o estudo da vida cotidiana proporciona
um ponto de encontro para as ciências parcelares, pois aponta o lugar dos conflitos
entre o racional e o irracional na nossa sociedade, determina, assim, o lugar em que

110
se formam os problemas concretos da produção em seu sentido amplo: a maneira
como é produzida a existência social do homem.
Há ainda uma correlação entre a cotidianidade e a modernidade, o que
reafirma a centralidade do primeiro conceito nos estudos sociais atuais, uma vez
que o cotidiano, conjunto de insignificantes, responde e corresponde ao moderno,
conjunto de signos pelos quais essa sociedade se significa, se justifica, e que integra
sua ideologia (LEFEBVRE, 1991).
Dessa forma, tem-se em mente que a vida cotidiana está associada às
vivências do dia-a-dia, à rotina, às experiências repetitivas, está, nas palavras de
Featherstone (1997, p. 83), relacionada ao “universo do mundano, ordinário,
intocado por grandes acontecimentos e pelo extraordinário”.
Assim, tomando como ponto de partida a análise da cotidianidade busca-se,
nos discursos dos turistas entrevistados, os principais argumentos utilizados para
incluir ou excluir o enfrentamento dos riscos e a aventura, relacionados à prática do
rafting, nas suas vidas.
A análise das falas que objetivava situar os atores em seu mundo social
cotidiano demonstrou, em maior número das entrevistas, a constância da aceleração
dos ritmos de vida de cada um deles. Mais especificamente, doze dos dezenove
turistas caracterizaram a própria rotina como movimentada, ou acelerada e por
vezes estressante, em oposição aos que declararam a rotina como equilibrada ou
tranqüila (sete entrevistados).
Perguntados acerca do dia-a-dia, T2, T5, T13 e T17 responderam:
T2 - Eu tenho bastante convívio com a família porque eu gosto, mas é mais
voltada para o fim de semana. Durante a semana eu trabalho bastante. Saio de casa
de manhã e volto à noite... Foco bastante na minha filha e no trabalho, [tenho] pouco
lazer. Tenho muitas atividades no dia. Trabalho em cinco lugares diferentes.
Trabalho na USP, trabalho numa escola, trabalho em clínica, dou aulas assim... Em
faculdade... Eu tenho uma rotina bem puxada durante a semana. É uma rotina
estressante.
T5 – [É] bem corrido, com bastante estresse, a gente corre o dia inteiro,
trabalho e estudo... Rotina acelerada o dia inteiro. Sou do departamento comercial,
faço visitas... Então eu nunca estou parada, [fico] na rua o dia inteiro, correndo o dia
inteiro. [É, portanto] estressante e muito acelerada.

111
T13 – [É] corrido, faculdade e serviço. Das cinco da manhã às oito da noite,
de segunda a sábado... Depende, às vezes é estressante, mas é mais
movimentada.
T17 – [É] estressante, no trabalho, São Paulo é estressante né. [A rotina]
começa as 7:30 e termina as 11:30 e meia noite, [segunda a sexta] sábado também.
Observa-se que as declarações dos entrevistados relacionam o ritmo do dia-
a-dia com a espécie e quantidade de atividades que desenvolvem, como também
com o espaço em que vivem, a exemplo o turista que relacionou o estresse do
cotidiano com a atmosfera da cidade de São Paulo. Além disso, percebe-se que o
tempo para os entrevistados é um tempo acelerado, onde os compromissos
referentes ao trabalho, à família e ao aperfeiçoamento pessoal comprimem o tempo
de lazer, de descompromisso e de liberdade.
A menção à corrida realizada diariamente pelas pessoas em busca da
sobrevivência evidencia e comprova as características de reflexividade, globalização
e aceleração da vida cotidiana, apresentadas pelo quadro social contemporâneo,
discutidas nos capítulos anteriores.
Vale reafirmar que a revolução tecnológica ocorrida nos últimos cem anos
assume a centralidade nas discussões acerca das transformações ocorridas em
todas as dimensões do planeta, especialmente, no que tange à velocidade das
mudanças na esfera da vida humana. Sevcenko (2001) argumenta que para se ter
uma idéia dessa conjuntura basta somarmos todas as descobertas científicas,
invenções e inovações técnicas realizadas pelos homens, desde a sua origem, e
então chegaríamos à conclusão de que mais de oitenta por cento, das mesmas,
ocorreram nos últimos cem anos.
Tais mudanças, ressalta o autor, alteraram todo o processo de produção, pois
a partir do aperfeiçoamento dos mecanismos e das técnicas, foi possível ampliar o
potencial produtivo do sistema econômico, seja pelo incremento da sua capacidade
de produção e consumo, seja pela multiplicação de suas riquezas. Entretanto, essas
transformações também alcançaram a estrutura social, pois em função do
surgimento dos complexos industriais – como usinas elétricas, fundições,
siderúrgicas, indústrias químicas e refinarias de petróleo – ocorreu a aglomeração
da massa operária, possibilitando o aumento dos poderes de pressão, barganha e
contestação dessa classe. Em decorrência desse fato, foi possível observar a

112
formação dos primeiros movimentos e partidos que representaram os interesses dos
operários no quadro político.
Com a globalização, o elemento velocidade passa a ser exacerbado, uma vez
que pela briga de uma porção do capital, os mercados externos passam a
pressionar os mercados internos com suas exigências de competitividade. E, nesse
sentido, o sistema técnico hegemônico surge como algo indispensável e a
velocidade resultante como um componente desejável por todos que pretendem
participar projeto da modernidade atual (SANTOS, 2001).
Assim, da mesma forma que as inovações tecnológicas alteraram as
estruturas econômica, social e política, modificaram também a condição de vida das
pessoas e, consequentemente, as suas rotinas.
É interessante destacar que nos imaginários de alguns entrevistados,
encontra-se a idéia da aceleração do cotidiano e da velocidade, amplamente
difundida, como materialização de uma realidade predominante. Indagados sobre
seu cotidiano, T1 e T16 responderam:
T1 - Corrido, estudo hoje em dia ainda. Bastante trabalhoso... [...] Eu estudo a
noite, acordo cedo. É um dia de brasileiro, corrido, normal, porque muita gente aqui
no Brasil trabalha dessa forma, correndo o dia inteiro pra lá e para cá, tenho muitas
atividades durante o dia.
T16 - Normal, tranqüilo. Eu acordo cedo e vou para o trabalho, lá a gente tem
muito trabalho, então é bem corrido, é bem agitado... Vou pra casa na hora do
almoço, tem pouco tempo, então eu volto logo... [...] Ah! Eu acho que todo mundo
hoje tem uma rotina um pouco atarefada, então eu acho que é normal né.
Fica claro nas falas dos entrevistados a influência do ritmo acelerado,
propagado pela sociedade atual, em suas experiências cotidianas, ao ponto de
associarem a agitação diária com o padrão de normalidade para a vida de todos, ou
seja, esse padrão passa a ser considerado natural. A euforia da velocidade é
tomada como modelo de vivência, estendendo-se a diversas esferas da vida
humana. Vale lembrar a ampla disseminação dos serviços rápidos (just in time, fast-
foods, self service) que oferecem aos consumidores produtos e atendimentos em
tempo real, para que os sujeitos desse ritmo estejam liberados para outras
atividades.

113
Todavia, a intolerância com a lentidão, o compromisso com a aceleração e a
necessidade de produtos que subtraiam o tempo próprio dos objetos, como
alimentos pré-fabricadas, comida de descongelamento rápido, produtos
descartáveis, repercutem diretamente na qualidade de vida das pessoas desse
tempo, tornando-as reféns de um tempo sem tempo.
Resgata-se os argumentos de Santos (2001), ao afirmar que a velocidade
atual e tudo que a acompanha, e que dela decorre, não é inelutável nem
imprescindível. Na verdade, ressalta o autor, ela não beneficia nem interessa à
maior parcela da humanidade, haja vista as crises atuais decorrentes do movimento
do capital especulativo. A velocidade, dessa forma, está também relacionada aos
índices de desemprego, aos altos níveis de competitividade e de depressão
aspectos esses que, igualmente, determinam as experiências do homem
contemporâneo.
Mesmo reconhecendo a dificuldade em deter o próprio tempo, haja vista os
imperativos da ordem capitalista, de desigualdade e competitividade, há, porém, a
necessidade de distinguir as pessoas que caminham por trilhas distintas das da
aceleração, como as seguintes entrevistadas:
T3 - A rotina hoje está mais para equilibrada... Eu presto serviço, eu tenho
uma micro-empresa, então eu tenho um dia-a-dia muito variado... Então, assim,
voltando daqui eu vou viajar, vou dar treinamento em Campinas. Eu dou treinamento
no Brasil inteiro e tem época que eu não tenho nada, então eu fico na minha casa.
Tenho curso e tal, mas eu não tenho aquela rotina de ir pro escritório, já tive muito
tempo, mas agora não, eu não tenho mais.
T14 - Acho que ela [a rotina] é equilibrada. Ela é bem variada, porque agora
eu tô terminando o doutorado né... Eu tenho mais a parte de pesquisa né. Então a
maior parte do dia fica reservado para isso... [essas] atividades até eu concluir... Aí
no final do dia, acabo fazendo natação... Aí eu dou aula também, tem uns dias.
Observa-se que o ritmo da rotina dessas turistas se diferencia da correria do
dia-a-dia assumida pelos demais. Porém, é preciso destacar que as condições de
vida que possibilitaram um equilíbrio de seus cotidianos são possivelmente
diferentes das condições de vida dos outros entrevistados, mas nem por isso,
menospreza-se a permanência da tranqüilidade, em contraposição ao estresse da

114
velocidade, presente em seus discursos. Pelo contrário, essa conjuntura confirma as
contradições evidenciadas pelo atual quadro social onde as questões de escolha
sobre o ritmo da vida dividem-se entre: os que podem e os que não podem (conflitos
decorrentes do sistema econômico); e os que querem e os que não querem
(conflitos decorrentes das ideologias dominantes).
No que se refere à reflexão acerca das influências das mudanças ocorridas
na sociedade contemporânea, na esfera pessoal dos indivíduos, foi possível
observar no discurso de um turista as transformações ocorridas no seu núcleo
familiar.
T16 - Hoje eu posso te dizer que eu conseguir equilibrar um pouco [a rotina].
Parte da família ainda não está bem estabilizada, minha esposa mora em outra
cidade, mas a gente passa uns quatro dias semanais juntos, não é o ideal, mas de
resto está ok.
A família tida como uma instituição fixa no espaço de uma única residência,
agora assume, diferentemente da concepção de tempos precedentes, para o
entrevistado e para outras pessoas que vivem na mesma condição, uma aparência
fluídica. Sob os ditames da sociedade contemporânea a formação familiar assume
posturas diferenciadas. Além da moradia em residências separadas, há ainda as
famílias que não estão mais ligadas pelo casamento, como os pais e mães
separados e/ou divorciados, e que mantiveram os laços familiares.
A partir da discussão realizada por Giddens (1991), já apresentada no
presente estudo, as transformações ocorridas na esfera pessoal são as mais
significativas, pois para o referido autor a família é uma arena para as lutas entre
tradição e modernidade, como também uma metáfora para elas.
Dessa forma, não há como negar a dimensão inovadora das mudanças
ocorridas na vida cotidiana do presente tempo, como também a extensão do seu
alcance, o qual abrange desde as esferas pessoais como as do grupo.
No entanto, as análises das falas referentes ao cotidiano dos turistas
revelaram outro aspecto, igualmente, relevante: a reprodução constante das
atividades diárias, como foi explicitado nos textos a seguir.

115
T4 - Geralmente eu vou para a faculdade de manhã, fico lá até o final da
tarde... Aí, volto para casa ou estudo alguma coisa e faço curso de inglês. Ela [a
rotina] é equilibrada e repetitiva, não muda muito.
T10 - Uma rotina bem cansativa eu diria né. Passo o dia todo trabalhando,
saio do trabalho vou para a faculdade... Chego em casa, dorme (sic) e no outro dia
começo tudo de novo... Semana bem rotineira. Segunda a sexta.
Observa-se que essa condição de repetição diária das atribuições dos
entrevistados alinha-se com a discussão do controle tecnológico e mecanização da
vida humana. Pode-se resgatar, como imagem ilustrativa, o clássico “Tempos
modernos”, onde o artista, Charles Chaplin, expõe não só o modo como as
transformações tecnológicas alteram os comportamentos dos indivíduos, como
também afetam as suas relações pessoais.
Na realidade, como explica Sevcenko (2001), na atual sociedade altamente
mecanizada são os homens e mulheres que são obrigados a se adaptar ao ritmo e à
aceleração das máquinas, e não o contrário. Ressalta-se, assim, que a mecanização
trouxe a abundância juntamente com a negação da autonomia do homem. Como
conseqüência dessa situação, a alma criadora humana é negada em função da
artificialização e da automação.
No âmbito das vivências cotidianas, como reação a uma demasiada
ordenação da cotidianidade, as pessoas acabam buscando práticas que se
diferenciem das atividades que desenvolvem rotineiramente, no intuito de
exteriorizarem os desejos oprimidos no cotidiano. As falas dos seguintes
entrevistados ilustram esse ponto de vista:
T9 – [...] tenho uma rotina bem pesada, trabalho de segunda a sexta,
trabalhando até as 6:00 horas. Procuro sempre estar na academia após o trabalho,
fazendo atividade física e relacionamento com família e amigos, normal [...] Durante
a semana ela [a rotina] é bem acelerada e bem estressada por motivos de trabalho,
mas finais de semana eu consigo quebrar bem esse ritmo e trazer ela (sic) para uma
rotina bem calma, sempre buscando fazer atividade física... Alguma coisa, seja uma
pedalada, seja uma prática do surf, seja uma caminhada, seja alguma coisa assim...
Eu sempre consigo quebrar isso daí.

116
T10 – Sábado a gente procura fazer uma atividade que possa trazer um
pouco de prazer, alguma atividade diferente do dia-a-dia para começar a semana
um pouco melhor.
T11 – Eu levanto 7:00h da manhã, chego no trabalho por volta das 8:00h,
acabo o expediente por volta das 6:00h e depois tô (sic) em casa [...] já não dá mais
tempo pra nada... Eu vou dormir direto, não faço muito mais que isso. Fim de
semana, normalmente, procuro ir à praia, fazer alguma coisa diferente... Eu estou
sempre buscando fazer alguma coisa diferente.
Confirma-se, assim, o interesse por atividades diferenciadas das realizadas
diariamente, seja para equilibrar a experiência cotidiana, entre o trabalho e o tempo
livre, seja para revitalizar as forças para começar melhor o trabalho ou para livrar-se
da pressão repetitiva do dia-a-dia. De qualquer modo, o que se evidencia é a fuga
da rotina.
Tal aspecto também foi revelado nas falas dos entrevistados quando
questionados acerca das atividades de lazer que desenvolviam, no tempo livre,
como se pode observar nos seguintes trechos das entrevistas:
T10 – [...] às vezes tento fazer uma... Alguma coisa diferente que vale bem
mais a pena do qualquer outra coisa. Algum passeio... Tá [sic] em contato com a
natureza mesmo, acho que renova. Dá uma caminhada, dá um novo ânimo, assim...
Tá (sic) em contato com outras coisas, do que ficar sempre na correria do dia-a-dia,
só cidade, cidade, fica cansativo.
T16 – Eu gosto muito de ler [...] e eu gosto de assistir filmes, de ir pra praia. E
o rafting assim... É o nosso programa anual. Então, uma vez por ano a gente acaba
vindo. Ah! É um relaxamento né, é uma forma de sair da rotina, de fazer alguma
coisa diferente.
Fica claro que o enunciado “fazer alguma coisa diferente” aparece como
elemento motivador das atividades de lazer, ora como antagônico ao ritmo corrido
do dia-a-dia, que pode ser decorrente da atmosfera urbana, ora como renovador das
forças. A cidade é, também, trazida para a discussão da cotidianidade, por alguns
entrevistados, em função da negação de aspectos, como a aceleração, a automação
e a artificialização, que determinam à vida nesses espaços.

117
Nas abordagens de Friedmann (1972), expostas por Ouriques (2005), o
imperativo da evasão cunhado pela rotina desgastante da vida de trabalho é tomado
como impulso desesperador para o lazer. Para o primeiro autor, as condições
modernas de trabalho oprimem a personalidade, de uma forma que os lazeres ativos
– o lazer ligado à prática de alguma atividade – constituem uma resposta, ou até
mesmo uma fuga encontrada ao mundo do trabalho.
Essa perspectiva se alinha com as opções de lazer de alguns entrevistados,
como pode ser observado nas falas citadas, anteriormente, especialmente
representadas pela prática de caminhadas. Mas também se percebeu, em alguns
discursos, a associação direta do lazer com as atividades físicas:
T2 - Eu sempre caminho, eu gosto muito da natureza, então eu sempre faço
alguma atividade física, eu nunca tô (sic) parada, não sou uma pessoa sedentária.
Eu sempre busco atividades que me coloquem em contato com a natureza e que eu
me sinta em harmonia com a natureza, porque eu tenho uma rotina cotidiana muito
estressante, muito exigente intelectualmente, então quando eu vou escolher alguma
coisa para descansar... O meu jeito de descansar é fazendo atividade física, é
fazendo desafios ou fazendo outras atividades que descansem a minha cabeça,
porque a minha cabeça é muito desafiada, então eu gosto de desafiar o corpo
quando eu estou descansando.
T9 - No tempo livre... Sempre final de semana eu procuro sair para dá uma
pedalada, ou tá (sic) indo fazer uma viagem para praia, fazer o surf....
Fica claro, nessas falas, a exposição da realização das atividades físicas
como forma de lazer, seja para extravasar-se ou desafiar-se. Em especial nas
argumentações da segunda entrevistada, em que a busca por essas atividades foi
bem justificada, evidencia-se a articulação direta das condições do trabalho com as
motivações do lazer.
Há ainda, como se pode observar, a emergência do ambiente natural como
lugar onde as práticas se realizam predominantemente. Na perspectiva do lazer
ativo, contudo, que Ouriques (2005) procura compreender o atual movimento de
retorno à natureza.

118
A partir de um prisma diferente, Lefebvre (1991b) apresenta o “direito à
natureza”, em favor dos lazeres, como contraponto ao barulho, ao estresse, à fadiga,
à agitação do universo que tem transformado as cidades.
Para T15 a fuga da cidade constitui uma motivação para deslocar-se e
exercitar-se no seu momento de lazer:
T15 – [faço] bicicleta, caminhadas... Gosto de andar bastante pela mata, o
que aparecer na verdade. A gente procura sempre sair e ir a lugares novos, ou
visitar lugares que a gente já conhece, depois de muito tempo... A gente foge da
cidade. Busco sair da cidade.
Aqui, ainda, emerge o aspecto do deslocamento como componente do lazer
que também foi manifestado em outras entrevistas:
T1 – [Faço] Viagens, por exemplo, passeios em parques, parques que eu falo,
depende, pode ser que seja aquático, pode ser que seja um parque do Ibirapuera,
seja o Hop Hari, playcenter, essas coisas.
T3 – Em termos de turismo a gente sempre fez muita viagem em família, a
gente vai para Disney, e gosta de tudo. A gente vai muito para Bahia nas férias, [...]
vai muito para o exterior [...] gosta muito desse tipo de viagem de natureza, [...]
estava agora numa fazenda em Dourados... A gente fez cavalgada de 4 horas...
Então a gente procura fazer, de vez em quando, esse tipo de viagem também e com
coisas radicais.
Com base nas representações dos turistas, pode-se observar que o lazer
emerge então como um conceito idealizado, como sendo um suposto tempo e
espaço de evasão e ruptura com o cotidiano. Por outro lado, há mais um aspecto
presente no lazer na modernidade que é preciso considerar e que igualmente se
manifesta no discurso dos entrevistados: a sua relação com a cultura de consumo.
Tendo em mente que se vive numa sociedade capitalista, parece óbvio que
ele seja percebido como um campo de investimento e negócios altamente lucrativo,
como o é. Featherstone (1997) destaca que os locais mais frequentemente
relacionados com os signos e códigos do consumo são os parques temáticos
(Disneyworld cabe como ótimo exemplo), os locais turísticos e os shoppings centers.

119
Nesse sentido, observa-se nas falas dos entrevistados que na experiência de
evasão eles são convocados a assumir o posto de consumidor, cujo ato do consumo
aparece como essencial, como desejo quase vital. Para Pellegrin (2006), o sujeito
nem consome mais pelo sentido ou valor de uso que os produtos, bens culturais ou
experiências assumem para ele e sim pela sensação de que ele pode, no seu tempo
livre, comprar objetos e serviços no intuito de alcançar uma felicidade e uma suposta
liberdade, que no fundo são muito subjetivas, individualizadas e limitadas.
Portanto, a experiência de lazer pode estar diretamente relacionada ao poder
de compra do indivíduo, como revelou este entrevistado:
T11 – Depois que eu comecei a trabalhar eu procuro fazer coisas que eu
nunca tinha feito ainda, por exemplo, rafting. Com o tempo livre e com dinheiro eu
tenho a possibilidade de fazer esse tipo de coisa.
Há ainda outras atividades desenvolvidas pelos entrevistados, no momento
de lazer, que são mediadas por relações de consumo e que foram citadas durante
as entrevistas, como os produtos oferecidos pela conhecida indústria de
entretenimento: os filmes, os jogos e os shows.
Fica claro, portanto, que no contexto da sociedade contemporânea, o tempo
livre, ou melhor, o tempo destinado ao lazer, define-se não só como um tempo de
evasão ou renovação das energias dos indivíduos, mas também se apresenta como
um tempo de consumo.
Krippendorf (1989) questiona a concepção de lazer na modernidade
justamente por estar diretamente relacionada ao trabalho. O autor argumenta que,
no presente tempo, quando existe tempo livre, ele tem como principais atribuições a
condição de servir ao trabalho, por meio do tempo de renovação da forma física e
psíquica para nova jornada, ou a condição de tempo disponível para consumir, ou
ainda, para o aperfeiçoamento profissional.
Essa crítica ao lazer contemporâneo se alinha com as abordagens de Chauí
(1999). Para a autora, a sociedade além de controlar o corpo e a mente dos
trabalhadores por meio da organização científica do trabalho também controla o seu
tempo de descanso, ou melhor, o seu tempo livre, uma vez que a indústria cultural, a
indústria da moda e do turismo e a indústria do entretenimento consomem todo o
tempo de não trabalho. Dessa forma, apesar de não estar no trabalho, os indivíduos

120
acabam servindo a ele, dada a cadeia de consumo e produção de mercadorias que
se estabelece.
Todavia, reconhece-se, a partir das análises das entrevistas, a possibilidade
de compreensão do lazer como um fenômeno multifacetado, que pode apresentar-
se como um tempo e um espaço de consumo, a serviço de um sistema econômico, e
igualmente, como uma oportunidade de vivência de outros valores nesse mesmo
contexto. Valores como a socialização e a amizade.
Tais perspectivas foram manifestadas nos discursos dos entrevistados, ora
comprovadas pela realização de atividades permeadas pelo consumo, como cinema,
show, shopping, ora materializadas pelo encontro com os amigos e familiares, pelo
estar junto com as pessoas que se quer bem.
Contudo, observa-se que a representação da vida cotidiana, realizada pelos
entrevistados, cabe como ilustração para a discussão acerca dos conflitos
contemporâneos, sinalizando o flagrante impacto da modernização exacerbada, nas
relações pessoais e interpessoais. Se, por um lado, a modernidade tardia, por meio
da aceleração da vida cotidiana, impulsionou o desejo pelo reencontro com a
natureza, por uma busca de equilíbrio e renovação das forças, por outro, estimulou a
ideologia de consumo, intrínseca a presente sociedade produtora de mercadorias,
símbolos e signos, disseminando valores como a descartabilidade, a volatilidade e o
modismo. É a partir dessa perspectiva que se propõe analisar a experiência da
aventura e do risco advindas da prática do rafting.
7.2 Experiência da aventura e do risco
Tendo em vista que contradições e paradoxos regem a contemporaneidade e
permeiam todas as esferas da vida humana, buscou-se compreender a experiência
de aventura e risco vivida pelos turistas na prática do rafting.
7.2.1 A preparação
Para se ter uma idéia geral, acerca da aproximação do indivíduo com as
práticas de aventura na natureza, questionou-se a vivência anterior desse tipo de
atividade pelos entrevistados. Observou-se entre os turistas que já tinham
experiência, nessa forma de lazer, que representavam à maioria, a predominância

121
de atividades desenvolvidas na terra e em seguida na água, conforme classificação
já exposta pelo presente estudo. Quanto às atividades que se caracterizam pelo
elemento ar, como parapente, balonismo ou vôo livre, não houve, dentre os
entrevistados, alguma ocorrência.
Tal fato deriva de inúmeros fatores como acesso, preço, disponibilidade,
divulgação, entre outros. Porém, destaca-se que nos espaços onde as entrevistas
foram realizadas havia o predomínio das atividades desenvolvidas na terra e na
água. Além disso, ressalta-se a percepção da elevada exposição ao risco como
elemento determinante para a limitada abrangência dessas práticas entre os turistas
de aventura, uma vez que elas se caracterizam pela sua radicalização.
No que se refere à realização do rafting, observou-se que onze dos dezenove
turistas declararam serem neófitos nessa prática. Para alguns desses, o momento
de preparação para o passeio significou um período de ansiedade e medo, como
ilustra os seguintes trechos:
T18 – [...] eu já quero ir logo já, tô (sic) achando muito gostoso, na verdade tô
esperando. [Sinto-me] Só ansiosa né... tô ansiosa pra ir e fazer (...) você fica assim
curiosa pra saber o que é, e fico ansiosa pra chegar e entrar... Aí depois que eu tô lá
não quero que acabe...
T7 – Medo, sei lá, de inesperado, e ansiedade.
Para outros, esse momento estava atrelado à tranqüilidade e curiosidade,
sem sentimentos negativos, em virtude de uma relação de confiança que haviam
estabelecido com a empresa que escolheram para operar o rafting. Ao narrar o que
estavam sentindo, estes turistas destacaram:
T2 – [...] Curiosidade é uma palavra fortíssima, mas ao mesmo tempo com
receio, uma curiosidade e um receio concomitantemente, mas sem ansiedade e sem
preocupação. O que me deixou sem preocupação e ansiedade foi escolher um bom
lugar... Então eu tô (sic) curiosa e com aquele receio de quem tá fazendo a coisa
pela primeira vez. Mas não estou ansiosa e sem medo, porque eu escolhi bem o
lugar.

122
T5 – Estou tranqüila, estou com muita expectativa, mas bem tranqüila...
Confiante pela equipe porque a gente fez uma boa pesquisa, tem algumas pessoas
no grupo que já fizeram.
É relevante realçar dos discursos das duas entrevistadas a ocorrência do
valor de confiança como critério para a tomada de decisão, para a escolha da
empresa a ser contratada. As duas entrevistadas demonstraram preocupação prévia
à contratação do serviço, referente à qualidade, renome e experiência da empresa.
No entanto, tal posicionamento representou a minoria entre os entrevistados,
uma vez que quando questionados acerca dos motivos que determinaram a escolha
da empresa para a operação do rafting, onze dos dezenove entrevistados atribuíram
a decisão a outra pessoa do grupo, e também demonstraram desconhecimento de
informações sobre a empresa, como ilustram as seguintes falas:
T3 – ah, não tenho a menor idéia, fui tomar café, meu marido foi lá, conversou
com o cara do hotel...
T11 – Na verdade como eu não tenho experiência com isso e nem
conhecimento de quem que ajuda a gente a praticar esse tipo de coisa... Por
indicação de amigos, me incluíram num pacote turístico.
Já os entrevistados que evidenciaram maiores preocupações com a
contratação da atividade de aventura apresentaram argumentos que justificaram a
tomada de decisão para a escolha da empresa. Dessa forma, os turistas explicam
como procederam à eleição da operadora:
T2 – A gente tinha andado pela cidade e tinha conversado em alguns lugares
e não tinha sentido muita firmeza. Quando a gente veio conversar aqui com o André
[recepcionista] [...] para mim o que foi super importante foi encontrar na agência que
a gente contratou confiança na venda do produto. Para mim a confiança foi muito
importante, [...] no caso eles até são campeões77, às vezes não calha de ser
campeão, mas isso significa que eles têm muito conhecimento, para mim isso fez
muita diferença.
77 A entrevistada refere-se ao título de Campeã Mundial de Rafting, conquistado em julho de 2007, pela equipe de rafting da operadora na qual ela realizou o rafting.

123
T9 - Por indicação do Bruno, que é um colega que trabalha comigo. Acho,
parece que já teve uma pessoa que já fez aqui, não lembro o nome, amigo dele...
Daí a gente entrou no site, pesquisou, viu que era uma empresa que tinha uma
estrutura tudo... E acabamos decidimos por aqui.
T10 - Por indicação, tinha um moço que já tinha feito aqui... A gente entrou no
site também, foi a empresa que a gente achou mais confiável também... Mais
estrutura.
Nota-se, assim, que tais turistas buscaram elementos que pudessem sinalizar
a experiência e o profissionalismo das empresas, ao mesmo tempo em que
procuravam embasar a relação de confiança a ser estabelecida. Tal aspecto
apresenta-se, no contexto das atividades de aventura, como indispensável, haja
vista os riscos envolvidos nas práticas, assim como o imperativo de controle destes
para a realização do rafting de forma segura.
É preciso ressaltar que a tomada de responsabilidade pelo planejamento, pela
organização e operação dessas atividades, por parte das operadoras de turismo de
aventura, leva à transferência do controle dos riscos das mãos dos turistas para a
das instituições contratadas, as quais definem as medidas de segurança, fornecem
os equipamentos especializados e determinam as condições limites para a
realização do rafting. Sob essa perspectiva que se conforma uma relação de
dependência e confiança, entre turista e empresa. De um lado, o cliente apresenta-
se desprovido de conhecimento e de experiência, de outro, a operadora e o instrutor
do barco apresentam-se como especialistas e responsáveis pela segurança de
todos78.
Todavia, ao assumir o controle da condução das atividades de aventura, as
empresas não isentam os participantes de suas responsabilidades. A primeira delas
é tomar ciência dos riscos inerentes à atividade por meio do preenchimento e
assinatura de um documento denominado: “Declaração de conhecimento de risco”,
pela empresa de Apiúna (SC), e “Termo de responsabilidade e seguro” pela
empresa de Brotas (SP).
78 Isso não significa a desobrigação dos turistas, mas sim ação em conformidade com as normas estabelecidas pelas empresas. Notou-se, durante as observações em campo das instruções para a realização do rafting, a ênfase dada à necessidade de reação dos turistas, tanto para o resgate, como para a maneira correta de agir durante a descida. Por exemplo, as duas empresas enfatizaram que, em hipóteses alguma, os clientes tirassem a mão da zona T do remo, que é a parte superior do mesmo, pois isso poderia machucar seriamente o companheiro que está ao lado, no bote.

124
Recorre-se a esses documentos, no intuito de ilustrar quais os riscos
inerentes à atividade:
A “Declaração de conhecimento de risco” destaca:
Riscos da prática de rafting Sofrer pancada dentro do bote ou se o bote virar; Cair do bote e sofrer contato com pedras no rio; Eventos decorrentes da prática de atividades em rios como lesões, luxações, entorses ou afogamento; Riscos gerais das atividades oferecidas Riscos decorrentes da prática de atividades na natureza tais como: quedas, picadas de insetos e/ou animais peçonhentos, queda de árvores, intempéries climáticas, dentre outros; Lesões pelo não cumprimento das orientações dos monitores da “empresa x” durante a operação de qualquer atividade.
O “Termo de responsabilidade e seguro” ressalta:
Há riscos de acidentes na atividade. Há possibilidade de traumatismos, deslocamentos, luxações, fraturas, queimaduras, afogamentos (em atividades aquáticas), picadas ou mordidas de animais ou insetos, contato com plantas venenosas, risco de paralisia permanente e morte;
Mesmo dispondo de um sistema de gestão de segurança, é inegável a
permanência dos riscos nas atividades, uma vez que parte do caráter imprevisível
de ocorrência de um evento relaciona-se com a ação do praticante e com o
ambiente natural onde as práticas são realizadas.
Dessa forma, para reforçar as responsabilidades dos turistas, os documentos
ainda registram a necessidade de gozar de boa condição física e psicológica para a
realização das atividades. Por outro lado, as empresas também declaram
disponibilizar equipamentos especializados e condutores treinados e capacitados.
Nota-se, portanto, a complexidade da operação das atividades de aventura,
especialmente, pela permanência dos riscos. Por mais controlado que pareça, ou
por mais estratégias de gestão de segurança que se desenvolvam, o risco,
entendido como probabilidade de ocorrência de um evento danoso, não é zerado.
Porém, a gestão de segurança realizada por essas empresas o minimizam.
Observada a maneira como os riscos são expostos nos documentos,
necessita-se agora compreender a forma como os turistas os percebem. Para tanto,
tem-se em mente que diferentes fatores (sociais, psíquicos, físicos, entre outros)
influenciam na percepção e na avaliação dos riscos, o que repercute num elemento
complicador para a sua objetivação.
Nessa perspectiva, verificou-se que a maioria dos entrevistados declarou
perceber os riscos do rafting e classificou-os como leve a moderado. Essa condição

125
já era prevista, pois todas as entrevistas foram realizadas após o preenchimento das
declarações de consentimento dos riscos. Porém, mesmo estando declarada nesses
documentos a possibilidade de danos graves como o afogamento e a morte, nota-se
a contradição, pois alguns turistas além de classificarem os riscos como leves
chegaram a negar tais possibilidades.
Os que afirmaram que essa atividade não possui risco, embasaram-se no
controle realizado pelas empresas contratadas. Na realidade, na percepção desses
turistas, as ações de gestão de segurança neutralizam os riscos.
Como se pode observar evidencia-se uma questão de extrema complexidade
que poderia ser aprofundada pela via das teorias psicológicas, no entanto, para o
propósito da pesquisa esse questionamento tinha o intuito de se certificar do nível de
compreensão dos turistas em relação aos riscos da atividade que estavam prestes a
realizar e, por conseguinte, dos sentidos a eles atribuídos.
Nessa perspectiva, merece destaque os discursos dos entrevistados, no qual
se enfatiza uma consciência de disseminação do risco na sociedade atual, ou seja,
sua naturalização, como ilustra os seguintes trechos:
T1 – Vou correr riscos que nem todo mundo (sic), qualquer... Acho que a
gente corre um risco aqui como corre andando na rua. Normal.
T3 – Tudo na vida tem riscos. [...] Eu acho que tem risco, mas por isso a
gente vai ficar aqui sem fazer nada? Eu acho que o risco tem que ser medido. Eu tô
(sic) com uma criança pequena de seis anos, que sabe nadar, mas claro que tem
risco.
T7 – Eu acho que há riscos em tudo, até em caminhar. Hoje, com a vida
movimentada como é... Tudo tem risco, até andar de bicicleta e ser atropelado por
um container, ou até de cair um avião na cabeça.
Observa-se nas falas dos turistas a relação da vida com a permanência dos
riscos, o que se alinha com a discussão da centralidade do conceito de risco na
sociedade atual, como apresentado pelo referencial teórico adotado para a presente
reflexão. Dessa forma, vê-se a confirmação da idéia, exposta por Giddens (1997), de
que a contemporaneidade é permeada pela exacerbação dos sentimentos de
imponderabilidade e insegurança.

126
Todavia, o risco vivenciado nas atividades de aventura, para os turistas, está
diretamente relacionado ao imperativo de controle e segurança, analogamente aos
riscos decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, ou da racionalização
da natureza, pois estes riscos caracterizam-se pelo descontrole e pela repercussão
global, conforme Beck (1997) e Giddens (2005) discutem. Por sua vez, a condição
de controle dos riscos e a idéia de segurança manifestadas nas falas dos
entrevistados se configuram como determinantes para a prática do rafting. Ou seja,
percebe-se e avalia-se o risco, mas deseja-se, como condição para desenvolvimento
da atividade, a sua mitigação, como argumenta o turista:
T4 – Eu acho que tem que ser uma coisa controlada [...] emoção com
segurança, aventura para mim não é sinônimo de correr riscos sem planejamento,
eu acho que tem que ser uma coisa com planejamento.
T6 – Eu acho que ele [o risco] é pequeno porque a gente tá (sic) com colete e
tal, você tá protegido, tem um pessoal que é especializado. Então para mim acho
que é pequeno o risco... E isso acaba motivando você a descer.
T17 – [...] Sempre há riscos né... Você precisa saber mensurar eles (sic) e lidar com eles.
Tal situação demonstra que para o turista todo o aparato de segurança
disponibilizado confere à atividade um aparente controle ou minimização do risco.
Quer dizer, o desejo de segurança se sobrepõe à consciência do enfrentamento do
risco. Essa condição diferencia o turista de aventura do praticante. Pesquisas
indicam (SPINK, 2006) que esses últimos, de modo diverso, tem consciência da
imponderabilidade e imprevisibilidade do risco, mas almejam seu enfrentamento.
Outro elemento importante para a compreensão da experiência vivida pelos
turistas é a tomada de conhecimento sobre o rafting. A maioria dos entrevistados,
quinze dos dezenove, declarou ter ouvido falar, pela primeira vez, sobre essa
atividade, por intermédio de amigos ou parentes. Todavia, destaca-se que os demais
turistas (quatro) declararam terem tido ciência do rafting por meio da mídia, desde
televisiva à digital, conforme ilustra a seguinte fala:
T11 – [O rafting] Já é uma prática de aventura bem conhecida, toda mídia fala
de rafting, a veiculação desse tipo de atividade é grande.

127
Como o próprio turista identificou, a mídia exerce um papel fundamental na
divulgação das atividades de aventura, assim como, na disseminação do espírito
aventureiro. São inúmeros os veículos que procuram nessas atividades enaltecer a
coragem e a força através do enfrentamento das corredeiras, das florestas ou das
montanhas79. Nesse sentido, destaca-se o papel da mídia na consolidação do signo
da aventura.
No entanto, é preciso destacar que a adoção dessa imagem ultrapassou as
esferas do lazer e alcançou produtos de diversas utilidades, desde os veículos às
peças de vestuário80. Ao exaltar os valores da sociedade atual, como a fuga da
rotina, o reencontro com a natureza, o lazer ativo, articulados com os pressupostos
da modernidade, a alta tecnologia e o conforto, o mercado adotou o espírito de
aventura como forma de agregar valor as suas marcas.
O crescimento do volume de negócios realizados na Adventure Sports Fair81,
juntamente com a consolidação82 do evento frente ao mercado latino-americano de
turismo e de esportes de aventura, apresenta-se como um bom exemplo para a
propagação do espírito aventureiro entre as indústrias, os comércios e os serviços.
Se por um lado a mídia e o mercado tomam a imagem da emoção intensa e
do enfrentamento da natureza como forma de cooptação do indivíduo, por outro o
próprio indivíduo toma as práticas de aventura como forma de experimentação e de
diversão, como mostra os seguintes turistas ao falarem sobre as expectativas para a
realização do rafting:
T7 – [Expectativa] De conhecimento, de experimentar algo novo.
T12 – Espero me divertir e sentir o frio na barriga.
T17 – Eu espero dar gargalhadas, ver imagens bonitas, curtir a natureza,
curtir a água, curtir alguns lugares.
79 A exemplo pode-se citar os programas televisivos Esporte Espetacular da Rede Globo e TRIZ da Sport TV e as revistas Aventura e Ação, e Go Outside. 80 Durante a realização da pesquisa de campo foi possível observar que uma pequena parcela dos praticantes das atividades de aventura possuía roupas e sapatos comercializados sob o signo da aventura, como camisetas dry-fit, botas de montanhistas, sapatilhas de canoagem, jaquetas impermeáveis (anorakes). 81 Conforme o informativo oficial da Adventure Sports Fair (2007), o volume de negócios realizados durante o evento vem aumentando gradativamente, sendo que em 2005 representava oitenta e seis milhões de reais, em 2006, noventa milhões de reais e 2007 noventa e três milhões de reais. 82 No ano de 2008 a feira completará 10 anos de existência com o progressivo aumento do volume de negócios e de quantidade de expositores.

128
A aspiração em conhecer, ou melhor, em experimentar uma atividade nova,
aliada à produção de diversão e prazer, prevalece entre os entrevistados e, de todo
modo, alinha-se com a discussão da pessoalidade e da cotidianidade na sociedade
contemporânea: a transferência da responsabilidade dos seus atos, o consumo da
experiência por se caracterizar inovadora, a busca por prazer e diversão e a
influência dos signos. A partir desse prisma que se busca compreender as vivências
dos turistas na experiência do rafting.
7.2.2 A experiência em si
A partir do “movimento incessante que se eleva do empírico para o teórico e
vice-versa, que dança entre o concreto e o abstrato, entre o particular e o geral”
(MINAYO, 1998, p. 236), ou seja, do autêntico movimento dialético, buscou-se
analisar os conteúdos conflitantes e antagônicos manifestados nos discursos dos
turistas, para além de sua aparência.
Ao se assumir essa concepção como caminho do pensamento, foi possível
apreender nas falas dos entrevistados, acerca da experiência do rafting, padrões de
relações e representações das vivências que refletiam, diretamente, na maneira de
dar sentido à aventura e ao risco.
Além desses padrões terem emergidos da empiria de forma articulada,
demonstrando largas conexões, observou-se, por meio de um comparativo, um
encadeamento entre eles, baseada em aspectos evidenciados nas práticas de
aventura.
Fala-se, nesse sentido, da valorização do contexto pessoal, da valorização do
contexto físico e ambiental e da valorização do contexto social.
a) Valorização do pessoal: “O eu”
Essa concepção parte de um agrupamento dos discursos dos turistas em
torno dos enfoques físicos e psicológicos, mais especificamente, está relacionada às
emoções e sensações pessoais vivenciadas no rafting. Com base nos fatores que
influem e condicionam o processo de valoração da experimentação da aventura foi
possível apreender duas dimensões: A emocional e a sensorial.
É preciso destacar que não se pretende congelar tais dimensões em grupos
distintos, até porque elas se apresentaram numa íntima e óbvia relação, todavia, a

129
diferenciação foi realizada para demonstrar as nuances das falas dos entrevistados
acerca da significação da experiência do rafting, em especial, no que tange ao
corpo.
A dimensão emocional relaciona-se com a apreensão, nos discursos dos
turistas, da ênfase na valorização das emoções experimentadas durante a prática.
Sob esse enfoque, ressalta-se a proeminência das fortes emoções advindas da
vivência do rafting, particularmente, a diversão e a alegria, as quais emergem como
um dos elementos mais freqüentes nos discursos dos turistas sobre a experiência.
Como ilustra os seguintes trechos:
T3 – Foi tudo legal, mas acho que foi [mais marcante] a animação do pessoal.
Foi tranqüilo, não tive medo, foi só diversão.
T4 – Difícil de explicar, era mais a emoção mesmo [...] Eu me diverti bastante
e cada nova queda era uma emoção nova. Eu nunca vou esquecer aquela parte que
era o surf, que jogava a gente direto contra a cachoeira, que a sensação era de
bagunça.
T5 – [tive] Vários sentimentos, alguns de angústias outros de medo, de
emoção e de superação. Muita emoção, não tem como definir uma única emoção.
T10 - [É marcante] A união da galera. O pessoal na brincadeira, interagindo.
[...] Percebe que a galera tá (sic) ali pra se divertir mesmo, que é o principal, mas do
que as próprias corredeiras mesmo. [Experiência] Muito boa, saio bem satisfeita
assim... Feliz com o pessoal, todo mundo se divertiu, deu pra gente fazer coisas
diferentes [...] É tá no auge assim... Você quase se afogando... Você passa por
inúmeras sensações ao mesmo tempo, rindo dos outros e ao mesmo tempo tendo
medo de pular numa pedra, por exemplo, só na dúvida, você não sabe o que tem lá
embaixo né, você pula igual... [são] várias coisas ao mesmo tempo.
Observa-se, dessa forma, que há a exaltação de um misto de emoções
proporcionada pela realização do rafting, um composto de sentimentos conflitantes,
variantes do medo à alegria, que resulta, ao final da prática, num estágio de
felicidade e excitação.

130
T1 - Nunca vim num lugar tão gostoso quanto o rafting. Isso é bom hein!
Nossa! Muito bom! Eu não tinha feito rafting ainda, muito bom! Você fica remando
ali, naquela... Nas descidas, nossa muito bom!
A este ponto da análise evidencia-se a dimensão sensorial, cuja valorização
das sensações de prazer e adrenalina apresenta-se como aspecto predominante
das falas. Entende-se que a experimentação das fortes emoções pelos turistas,
aliadas às vivências com o grupo e com o ambiente natural, é que lhe permite
desfrutar de sensações positivas de adrenalina, euforia e prazer.
T6 - É bom, a gente se diverte, a gente cresce, a gente pensa em outras
coisas... É a adrenalina, emoção.
Ressalta-se que é no domínio do corpo que essas sensações se manifestam.
Desse modo, nota-se que nas atividades de aventura o corpo é significado como um
lugar de experimentação de emoções e de sensações intensas, o que confirma as
abordagens de Betrán e Betrán (1995) sobre o modelo corpóreo hedonista
configurado nas práticas de aventura.
Ao serem, basicamente, atividades de diversão, o corpo não se constitui no
meio, mas sim no fim em si mesmo, uma vez que é depositário final de todas as
sensações e emoções que o indivíduo deseja experimentar. É também um corpo
informacional, ou seja, aquele que emite e recebe informação continuamente para
desenvolver a prática (BETRÁN et al, 1995).
Nesse sentido, como resposta do corpo, há predominantemente a sensação
de prazer. Por outro lado, as informações recebidas do ambiente natural, como as
grandes ondas a serem transpostas, ou as corredeiras a serem vencidas, requisitam
desse corpo reações rápidas, como as obrigatórias remadas do grupo. Tal esforço
físico, além de incitar a ação sincronizada e conjunta dos praticantes, emite outra
resposta do corpo: o cansaço. Sob esse aspecto, alguns turistas destacaram o
passeio como:
T11 – Cansativo, eu ainda tô (sic) me recuperando, mas eu gostei.

131
T18 – Na hora que você tá (sic) fazendo você não quer parar, quando parou
todo mundo queria continuar, mas agora já dá um cansaço, um cansaço gostoso
sabe... Você não tá (sic) acostumado... Bem satisfação, bem gostoso.
Todavia, destaca-se que o cansaço emerge como resposta de um corpo que
já vivenciou intensas sensações, da adrenalina a exaustão.
b) Valorização do ambiente: “A natureza”
Essa abordagem faz referência às valorizações evidenciadas nos discursos
dos turistas acerca do ambiente natural onde as práticas são realizadas. Nessa
perspectiva, verifica-se a emergência do contato com a natureza e do encantamento
com as paisagens naturais nas narrativas dos turistas após a realização do rafting,
como ilustram as seguintes falas:
T10 - A emoção [foi] forte né, pelo fato da natureza. O lugar é muito bonito,
então chega ao ponto assim de a gente gritar: Meu Deus muito obrigada, por essa
beleza! Porque é muito lindo.
T12 - O que marcou foi o passeio em si, o lugar é lindo, a natureza é linda,
impressionante, quando entra naquele vale ali, você fica de boca aberta.
T17 - Sensação de contato com a natureza, de liberdade, de deixar as coisas
pra trás, assim ruins, de alegria.
Mesmo que de forma menos acentuada que a valorização da adrenalina, a
exaltação da natureza fez-se presente com significado de contemplação e de
integração, o que é decorrente das características do rafting. Porém, notou-se
também, nas falas dos entrevistados, a ação do ambiente natural na personalidade
dos turistas:
T6 – É interessante a gente ver como o momento que a gente tá (sic) vivendo
de poluição, de destruição de natureza tudo, a gente ver um rio que é um dos
poucos rios no Brasil que ainda não está poluído [...] Eu passei a dar mais valor pra
natureza. E quando cheguei e fiquei no meio do mato e que é o caso aqui de Brotas,
acho que a gente acaba incorporando isso e leva pro nosso dia-a-dia né.

132
T11 – A paisagem é bonita, gostei demais da paisagem. [...] Foi um momento
de desestresse, relaxei mais do que fiquei pensando em qualquer outra coisa.
Observa-se, portanto, as potencialidades que as vivências das atividades de
aventura no ambiente natural podem suscitar (de renovação à reeducação).
Conforme Marinho (2006), a experiência no ambiente natural pode instigar nas
pessoas um íntimo significado corporal, ao passo que o contato com a natureza é
definido como fonte de tranqüilidade e como um distinto espaço social, onde os
seres humanos se percebem uns aos outros.
Por outro lado, há ainda o alinhamento dos discursos dos turistas, referentes
à natureza, com os valores contemporâneos de retorno do ser humano ao ambiente
natural e de fuga de uma vida cotidiana saturada pela artificialização do espaço.
Nesse sentido, pode-se pensar a valorização da natureza como uma
possibilidade atual, como decorrência da separação da natureza do homem e da
própria percepção da exterioridade da vida humana em relação ao ambiente natural.
A partir dessa concepção e sob as pressões de uma vida extremamente
racionalizada, a natureza é concebida, com fortes influências do mass media, como
um espaço/tempo para o homem refazer as energias consumidas pela vida
estressante das cidades e do trabalho monótono.
c) Valorização do social: “O outro”
A partir da disposição de valores sociais e sua exaltação nos discursos dos
turistas, foi possível observar padrões de relacionamento entre as falas que
configuraram assim essa última concepção.
Tendo em vista o elevado grau de colaboração entre os indivíduos que
praticam o rafting, já que sem a participação de todos do bote não é possível
transpor as corredeiras do rio, destaca-se o fomento de valores como a integração e
a união dos praticantes durante tal vivência. É em função desse aspecto que alguns
entrevistados enfatizaram nas suas narrativas o trabalho em equipe e a sincronia do
grupo:
T2 – Então, eu diria que eu achei uma experiência muito interessante [...]
você aprende muito sobre equipe, sobre integração. Eu fiquei o tempo inteiro vendo
quem tava do meu lado, quando o instrutor falou rema junto sempre, eu não deixei

133
de olhar uma vez a minha parceira, eu fiquei o tempo inteiro [...] Então em momento
algum eu fiquei só pensando em mim, eu pensava em quem tava (sic) no bote, em
quem tava do meu lado, em quem tava remando igual e sempre atenta ao instrutor.
T6 – [...] Foi uma experiência bem legal. A gente vem com amigo (sic).
Curtimos pra caramba, bastante divertido... Tem que ser um negócio sincronizado
porque se um vai e outro não vai o bote acaba indo para o lado errado... Valeu
bastante coisa, valeu a diversão, valeu a amizade porque a gente estava entre
amigos, foi bem legal. Foi marcante a interação.
Para além da integração entre turistas do mesmo grupo, há ainda a
socialização que ocorre entre pessoas que até então não se conheciam:
T19 – Eu destacaria que o barco vira um grupo mesmo, a gente nem se
conhecia, mas vira um grupo.
T15 – Ah! É bacana, acho que principalmente o caso do rafting, que não é
possível até [fazer] com poucas pessoas... Na verdade, geralmente, você conhece
outras pessoas também. Não faz nem idéia quem que é, como é que é. E é
interessante porque você realmente é obrigado a trabalhar meio em equipe aquilo lá,
senão o negócio não anda.
Nesse sentido, foi interessante observar a ênfase dada aos valores de
integração e socialização, pelos entrevistados, ao narrarem suas experiências de
aventura. Nota-se, assim, que ao mesmo tempo em que a emoção da aventura é
compartilhada, entre os integrantes do mesmo bote, a dilatação dos laços
interpessoais é possibilitada pela relação (de confiança e dependência) estabelecida
entre eles, podendo ainda incitar uma forma de relacionamento com o outro
diferenciada da forma propagada pela atual realidade social.
Com base nas concepções procedentes das narrativas dos turistas acerca da
experiência do rafting, ressalta-se a predominância dos discursos que valorizavam a
emergência das fortes emoções experimentadas no rafting – valorização do pessoal
- seguidas, em menor ocorrência, do contato com a natureza – valorização do
ambiente - e da valorização da integração e da socialização – valorização do outro.
Desse modo, ressalta-se a condição antagônica engendrada no contexto das
atividades de aventura, pois essas se apresentam ora como um fruto da ideologia do

134
consumo, dada o permanência da relação comercial e da propagação do signo
aventura, ora como uma significativa oportunidade para a vivência de emoções e
sensações, as quais podem ser capazes de contribuir para mudanças de
comportamentos e atitudes dos indivíduos, frente ao relacionamento com o próximo,
o outro, e com a natureza.
Ao se considerar os discursos dos entrevistados acerca das vivências
cotidianas, ou das representações do lazer como um tempo de evasão, de consumo
e de renovação para o trabalho, ou ainda, das representações da experiência do
rafting, resgata-se a concepção de Bakhtin (1995) de que há tantas significações
plausíveis para uma palavra quantos forem os contextos.
A partir dessa concepção é que se propõe discutir, no próximo item, a
significação da aventura e do risco pelos turistas, assim como a relação por eles
estabelecida durante a prática do rafting.
7.3 Definições da aventura e do risco
As reflexões conduzidas até então permitiram discutir os conteúdos dos
entrevistados em relação à vida cotidiana e à experiência do rafting. Cabe agora
analisar as definições dos enunciados da aventura e do risco, realizadas pelos
turistas. Tendo em mente as inúmeras transformações ocorridas na sociedade
ocidental, como a mecanização exacerbada, a artificialização da vida, a ausência da
natureza e a globalização dos riscos, vislumbra-se o processo denominado por
Bakhtin (1995) de mutabilidade da forma lingüística, o qual apresenta a palavra em
uma imersão social e histórica, a partir de uma interanimação dialógica.
Para tanto, baseou-se nas representações dos entrevistados acerca de suas
experiências, nas motivações e nas significações da aventura e do risco. Partindo do
pressuposto que nem a aventura e nem o risco têm um significado único na história,
assume-se a multiplicidade de abordagens no tratamento desse tema.
Tal visão foi comprovada ao se analisar os discursos dos entrevistados, os
quais variaram a significação da aventura desde as emoções decorrentes da
vivência até os benefícios por ela gerados, como a renovação das forças ou a
retirada do estresse.

135
Dessa forma, ressalta-se a maior incidência da significação da aventura como
algo diferente, atrelado ao novo, em aversão ao dia-a-dia, à repetição da rotina,
como ilustram as falas a seguir:
T3 – [aventura é] Fazer alguma coisa que eu não faço no meu dia-a-dia.
T5 – [aventura] É tudo de bom, eu queria fazer mais vezes, queria curtir a
aventura mais vezes. Foge um pouco do nosso dia-a-dia, sem estresse, há correria,
mas é do ponto bem diferente do que é no dia-a-dia, a aventura traz uma correria,
um cansaço, mas é muito mais diferente, é muito mais prazeroso.
T11 – [aventura] Eu acho que é uma experiência que a gente nunca teve.
T16 - Aventura é fazer uma coisa diferente, desbravar, sair pra fazer uma
caminhada no mato, descer uma corredeira no rio, uma coisa diferente mesmo que a
gente nunca tenha feito, ou que gere adrenalina.
A predominância do sentido da aventura como algo diferente, que foge da
rotina, pode ser entendida como um dos motivos pela ampla aceitação das
atividades de aventura pelo mercado, uma vez que a busca pela experimentação do
novo, do diferente, constitui uma prerrogativa da sociedade atual83.
Foi interessante observar, nos discursos dos turistas, que o fato de aventurar-
se pode estar atrelado à atitude desbravadora, de descobrimento ou simplesmente
de conhecimento.
T15 – Acho que tem a parte de você sentir realmente adrenalina mesmo e
tem também você descobrir, vê coisa nova mesmo. Você ir para uma cidade que
você não conhece que tem toda uma cultura, acho que isso não deixa de ser uma
aventura.
T16 – Acredito que é (...) até talvez fazer um cruzeiro de navio, uma coisa
diferente.
Há ainda quem enfatize a presença do risco para a configuração da aventura:
83 O presente estudo também comprovou essa acepção ao questionar as motivações dos entrevistados em relação às atividades que desenvolviam no tempo-livre. Essa idéia foi apresentada no item 7.1.

136
T4 - Eu acho que aventura tem sempre alguma coisa ligada ao risco, e de
estar se expondo a uma experiência nova.
T14 - Aventura é fazer uma coisa que está relacionada a perigo.
Dessa forma, pondera-se que se de um lado a aventura é significada como
uma experiência de contato com o diferente, que não necessariamente requer
enfrentamentos, por outro, ela apresenta-se como experiência que requer ação e
relacionamento com o risco, o que de fato confirma o caráter multifacetado do
conceito de aventura.
Em consonância com essa idéia, ressalta-se a emergência da denotação da
aventura como desafio, como argumenta o seguinte turista:
T17 - Pra mim aventura é contato com a natureza, é (...) superar os seus
limites, isso é aventura, você superar seus limites e diferenciar, buscar coisas novas,
inovar.
Vê-se a ligação entre desafio e limite na fala do entrevistado. Mas, vale
ressaltar o predomínio da visão da aventura dentro do limite pessoal:
T2 – Para mim, a aventura tem a ver com desafio, mas tem a ver com
segurança também, risco calculado, eu não gosto de aventura que me sinta
insegura, ou que eu me sinta ultrapassando um limite que eu acho razoável do ponto
de vista do meu equilíbrio.
T4 – Acho que aventura está ligada ao risco, mas você não pode sair fazendo
uma coisa desembestada, tem que ter um certo risco de uma coisa do
desconhecido, mas que você sabe que tem segurança envolvida.
Essa perspectiva se alinha com o relacionamento dos indivíduos com os
riscos das atividades de aventura. A presença do risco no contexto do turismo de
aventura impõe a permanência da segurança e, dessa forma, a experiência do
rafting desenvolve-se dentro de um limite, e não fora dele.
Há ainda nas significações dos entrevistados a referência às emoções
resultantes da aventura, especialmente, na conotação adrenalina:

137
T10 – É sentir varias coisas ao mesmo tempo, é você não saber o que vem. É
medo, alegria, emoção, adrenalina e vontade, vontade de vencer mesmo de passar
aquele obstáculo da melhor forma.
Para além da adrenalina como processo químico experimentado pelo corpo,
há nas falas dos turistas, como resultados da vivência do rafting, uma consciência
de vitória por ter passado pela experiência e, mais ainda, emerge o desejo de
aumentar a dificuldade do desafio:
T2 – Eu acho que tem uma satisfação pessoal de você cumprir um desafio,
acho que para mim é um aprendizado enfrentar coisas novas, acho que eu aprendo
sobre mim, eu me sinto mais corajosa, então aventura mexe com uma questão
psicológica, do desafio de você vencer uma etapa, fazer uma coisa nova.
T9 – Agora aventura é descer num nível mais acima, com mais adrenalina,
mas foi legal ver também que eles falaram que o rio estava cheio, com um nível
legal, então deu pra ver que a gente encarou legal, e também a gente não caiu, a
adrenalina é vim de volta fazer outras atividades também.
Sob essa linha de pensamento, a aventura surge como propulsora de novas
sensibilidades e novas atitudes, sejam elas avessas aos estímulos da sociedade
atual - como liberdade, evolução espiritual - ou favoráveis, - como eficiência,
velocidade. Assim, entende-se que a significação da aventura está atrelada à
aproximação ou ao distanciamento dos valores que permeiam a realidade atual.
No intuito de evidenciar as relações dessa concepção com os sentidos
atribuídos à vivência do rafting, buscou-se analisar as motivações e as
representações do conceito de risco produzidas pelos turistas.
Os critérios que foram adotados na análise das motivações acompanharam
os padrões apreendidos dos discursos dos entrevistados, referentes às valorizações
das vivências. Desse modo, partindo de tal agrupamento foi possível observar, nas
falas dos turistas, a predominância da dimensão pessoal ao justificarem a escolha
do rating e ao apresentarem os motivos para a prática do mesmo.
Dentro de tal dimensão há ainda diferentes enfoques como a influência da
mídia, a busca da adrenalina e a experimentação de algo diferente, como ilustram os
seguintes textos das entrevistas:

138
T4 – (...) O esporte está ganhando visibilidade, é um esporte de aventura que
eu gosto.
T9 - Nossa a gente sempre vê, agora tá muito na mídia, na tv, na internet, e a
gente vê e todo mundo gosta de adrenalina por isso que a gente buscou isso daí,
por ser um programa diferente.
T10 – (...) Por ser algo diferente né, não simplesmente ficar sedentário, não
fazendo nada.
Nota-se, desse modo, um alinhamento das motivações dos turistas, no âmbito
da dimensão pessoal, com as discussões acerca da fuga da rotina, como também
do papel da mídia na disseminação do signo da aventura.
Por outro lado, a dimensão que evidencia a natureza na justificativa para a
realização do rafting enfatiza a interação com a água, como aponta as falas a seguir:
T2 – Água, eu gosto muito de água, nadei mais de 10 anos da minha vida. E o
contato com a água foi um motivo, porque eu gosto de água, não tenho medo de
água fria e é uma água com exercício, na realidade eu não gostaria de ir para uma
banheira, pra um lugar parado, não gostaria de ficar fazendo hidromassagem, sabe
uma atividade parada, então eu queria água com movimento, que eu nadei muito.
T12 - Por causa da água, eu tava louco de fazer alguma coisa assim.
T17 - É prazeroso né. Primeiro porque eu adoro água né, acho contato com a
água é show. Contato com a água, aventura, natureza e mudar. Porque assim eu
gosto de inovar, diferenciar, eu sempre faço coisas na água salgada, mar (...) Faço
passeio de barco, pego onda, sempre mar, e água doce sempre tenho vontade de
mudar um pouco e eu não tenho oportunidade. Minha vida é mais ligada à praia, e
não a montanhismo, então ir pra esse lado para mim é um motivador.
Aliada à valorização da interação com a água, nota-se a emergência da
necessidade de inovação dos discursos dos entrevistados.
No que se refere à dimensão que enfatiza a ação do grupo como elemento
motivador, ressalta-se as seguintes falas:

139
T5 – Foi uma escolha unânime de todos para descarregar mesmo adrenalina,
para fazer em grupo, porque o rafting é uma atividade que a gente consegue fazer
em grupo mesmo. O que motivou foi a animação deles.
T15 – Faz muito tempo que a gente não desce, dessa vez uma das
motivações realmente foi o meu primo que está nos visitando da Alemanha, acho
que pra ele é uma experiência bem diferente, então a gente acompanha com o
maior prazer.
T19 – Pra eles [os filhos], pra eles curtirem.
Foi interessante observar a valorização dada ao outro como motivador para a
realização do rafting, no intuito de demonstrar uma sensibilidade com o grupo.
Porém, é preciso destacar que as características da atividade incitam essa condição,
pois, como já foi exposto, essa prática demanda um alto grau de colaboração do
grupo.
Há ainda que se destacar as relações formadas entre as dimensões
estabelecidas (pessoal, ambiental, social), nas falas dos turistas, acerca dos motivos
para a realização do rafting, uma vez que a motivação se apresentou como diversa,
influenciada por elementos extrínsecos às atividades, como a mídia, e elementos
intrínsecos, como o pessoal, a natureza e o grupo.
Todavia, no que se refere ao contato com o risco, os entrevistados revelaram
posicionamentos diferentes. Para a maioria, o risco compunha a motivação, mas o
risco controlado, dentro dos padrões de segurança que a empresa oferecia:
T2 – Compõe a motivação, um pouco de risco é interessante.
T4 – Acho que sim, com segurança.
T18 – Exatamente, é assim igual a esse percentual aqui, que é um percentual
controlado, um risco não tão forte né, um risco controlado.
Porém, os turistas que negaram o risco como componente da motivação,
argumentaram ser o objetivo maior, para a realização do rafting, a diversão e a
experiência, como ilustram as falas a seguir:
T7 - Aventura é uma coisa, correr riscos é outra.

140
T9 - Não [o risco não compõe a motivação], eu digo que a adrenalina sim,
compõe para eu fazer o rafting, não o risco, o risco a gente sempre tenta mitigar.
T12 – Não compõe a minha motivação, mas a emoção sim.
T14 – Não, eu acho que o risco faz parte da atividade, eu faço rafting porque
eu gosto, não é porque tem risco e quero superar o risco não. Eu faço a atividade
porque eu gosto. Tem gente que vem para enfrentar os limites, vencer, sair mais
forte, eu venho porque gosto... Gosto muito de água também.
T15 – Ele [o risco] faz parte da atividade, mas eu tô no rafting pro outros
motivos, mas ele faz parte.
Ressalta-se que a permanência dessas diferentes concepções sobre a
presença do risco se apresentou em proporções bem parecidas, com uma pequena
preponderância da posição do risco como componente da motivação, mas, como já
foi exposto, deseja-se o risco controlado.
Tal situação evidenciada nas definições dos turistas, articulada com os relatos
das experiências vividas e com representação da vivência pelo entrevistado,
aproxima-se da idéia de Le Breton (2006, p. 96): “nessas atividades, o risco é um
simulacro, brinca-se mais com sua idéia do que com suas mordidas (...). Deseja-se o
risco, mas sem o risco”.
A este ponto da discussão, assume-se, diferentemente de Feixa (1995), que
os riscos vivenciados nas atividades de aventura, nesse caso no rafting em Brotas
(SP) e em Apiúna (SC), são reais e não, como o autor expõe, provocados, artificiais
ou imaginários. Entende-se que os riscos podem ser pequenos, em relação à
intensidade do dano, mas tal fato não nega a sua existência. O que pode ocorrer é
uma diferença na avaliação do risco pelo indivíduo, entre o risco imaginário e o real.
Além disso, há ainda as características de cada atividade e de cada ambiente onde
elas se realizam como elemento determinante para essa avaliação.
Dessa forma, ressalta-se que mesmo com as ações de controle dos riscos,
realizadas pelas empresas, a imprevisibilidade de reação do indivíduo dentro de um
bote, em meio a uma corredeira, ou a imprevisibilidade da natureza faz-se presente.
Nesse sentindo, vale resgatar as falas dos entrevistados a respeito do significado do
risco:

141
T10 - O risco é uma preocupação, porque a gente está aqui se divertindo,
mas acima de tudo a gente quer sair bem de novo né.
T16 - Risco é quando você tem alguma possibilidade de sofrer um acidente,
ou alguma coisa dá errado.
T17 - O risco é você ter uma seqüela, é você ter alguém machucado, porque
a gente tá se divertindo, a gente não vem com o intuito de se machucar e prejudicar
e ter uma seqüela e ter que cuidar depois. A gente vem pra se divertir, isso é o risco
né.
T19 – Tem o significado de evitar, de uma coisa que eu tento não ... é
negativo, tento evitar, procuro evitar, não faria pelo risco, não é o risco.
Nota-se uma ênfase na face negativa do risco, a sua conseqüência, o dano,
ao mesmo tempo em que é reforçada a idéia da busca pela diversão; essa situação
sinaliza uma relação pouco controversa, pois se almeja a aventura e despreza-se o
risco, mas que, por sua vez, expressa a imponência da ideologia de consumo e do
valor hedonístico na experimentação dessas práticas no contexto do turismo de
aventura.
Por outro lado, em proporções inferiores ao da negatividade, a positividade do
conceito do risco também emerge nos discursos dos turistas, como demonstram
essas falas:
T2 – Eu acho que ele é um tempero importante, o rafting sem o risco não tem
graça.
T12 – Ele é o custo-benefício da aventura e da diversão, vale a pena ir, pesa
né, você tem medo, você gosta e corre risco e [vê] qual o prazer que você vai ter,
daí vale a pena.
Mesmo não assumindo o papel principal da trama pela diversão e aventura, o
risco revela agora sua face positiva, uma vez que compõe a experiência de aventura
sob a aparência de estimulador das fortes emoções.
Foi possível observar, ainda, que o enfrentamento do risco, no contexto do
rafting, pode influenciar a personalidade do indivíduo, evidenciando assim a sua
potencialidade em auxiliar a formação humana, como mostra as falas a seguir:

142
T11 - Mas eu acho importante as pessoas arriscarem assim, eu lido com isso
todo dia. É importante pro meu trabalho, fora do meu trabalho também é
interessante passar por experiências diferentes.
T18 - É importante depois você fala que você fez já. Sabe, parece que você
fica mais corajosa, quando você tá fazendo alguma coisa diferente que sabe que
tem um pouco de risco, você fica mais segura de si, você se acha mais, tipo, mais de
sua capacidade né, você vê o que você é capaz assim.
Fica claro, nesses textos, que o enfrentamento dos riscos inerentes ao rafting,
assumidos voluntariamente, revela-se como uma resposta aos valores de
competição e eficácia difundidos pela sociedade contemporânea, a qual exige do
indivíduo, constantemente, comprovar para si mesmo e para os outros o valor da
existência.
Contudo, foi possível apreender dos discursos dos entrevistados que os
sentidos conferidos à aventura e ao risco relacionam-se, de forma dialética, com a
atual condição do homem frente às mutações da realidade social vigente. Tal
prerrogativa presta-se para comprovar as idéias de Bakhtin (1995), visto que as
formas lingüísticas (aventura e risco) apresentaram-se impregnadas do conteúdo
ideológico e vivencial típicos da modernidade tardia.

143
8 AVENTURA E RISCO: Entre a reprodução e a criação da existência humana
Após explorar a realidade estudada, a partir da consideração das suas
conexões internas, do encadeamento e da dinâmica dos seus aspectos
contraditórios, antagônicos, simples e complexos, foi possível apreender a “essência
em si”84 dos sentidos da aventura e do risco, atribuídos pelos turistas, na vivência do
rafting.
Mas, vale lembrar com Kosic (1976) que a “coisa em si” não se manifesta
imediatamente ao homem, restando-o, como artifício para alcançar a real
compreensão do objeto, a realização de um movimento indispensável e progressivo
entre a realidade e a idéia. Nesse sentido, esclarece-se que foi preciso repetir
muitas vezes “o processo que vai da matéria ao espírito e do espírito à matéria, quer
dizer, da prática ao conhecimento e do conhecimento à prática”, como expõe Tse
Tung (1972, p. 227), apresentado por Sanfelice (2005), no intuito de apreender a
realidade de forma concreta.
Tal procedimento se alinha com a concepção norteadora da construção do
presente estudo, a dialética, e conforma, dentro desse pensamento, uma
circularidade entre a totalidade e a unidade.
Ademais, coerentemente com o conhecimento dialético, adotou-se como
pressupostos analíticos a ênfase na contradição, na unidade, na mutação, no
movimento e na história, pois entende-se como Lefebvre (1975, p. 21) que:
Não se poderia dizer melhor que só existe dialética (análise dialética, exposição ou síntese) se existir movimento, e que só há movimento se existir processo histórico: história. Tanto faz ser a história de um ser da natureza, do ser humano (social), do conhecimento. A história é o movimento de um conteúdo, engendrando diferenças, polaridades, conflitos, problemas teóricos e práticos.
Nessa perspectiva, buscou-se compreender, de forma articulada com a
discussão da sociedade contemporânea, os conteúdos latentes das entrevistas.
Dessa forma, realizou-se, com base na totalidade dos discursos, a conformação de
um todo coerente, onde os seus componentes encontram-se ligados organicamente
entre si, numa relação de condicionamento recíproco, num estado de movimento e
transformação, de renovação e desenvolvimento constantes, como ilustra o quadro
analítico da pesquisa. 84 Faz-se referência à abordagem de Kosic (1976) que apregoa a existência de dois graus de conhecimento da realidade, duas qualidades da praxis humana. Para o autor, compreender o fenômeno é atingir a essência, porém, a essência da coisa, a estrutura da realidade, a “coisa em si”, não se manifesta direta e imediatamente.

着诲 팡睄 睆�睆̮̮̮ ″
REPRODUÇÃO EXACERBAÇÃO DOS VALORES CONTEMPORÂNEOS
VIDA COTIDIANA EXPERIÊNCIA DO RAFTING SENTIDOS AVENTURA E RISCO
VELOCIDADE
REPETIÇÃO
VALORIZAÇÃO DO PESSOAL
“O EU”
AVENTURA E RISCO COMO
FETICHE
ARTIFICIALIZAÇÃO
FUGA DA ROTINA
VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE
“A NATUREZA”
AVENTURA E RISCO COMO
CATARSE
EQUILÍBRIO
CRIATIVIDADE
VALORIZAÇÃO DO SOCIAL
“O OUTRO”
AVENTURA E RISCO COMO
CRIAÇÃO DE UMA NOVA EXISTÊNCIA
HUMANA
VIDA COTIDIANA EXPERIÊNCIA DO RAFTING SENTIDOS AVENTURA E RISCO
Figura 12: Quadro Analítico da Pesquisa Fonte: Elaborado pela autora (2008)
CRIAÇÃO NOVA EXISTÊNCIA HUMANA

着诲 팡睄 睆�睆̮̮̮ ″ 145
Há de se destacar, conforme ilustrado no quadro, a partir das valorizações
dos turistas em relação à vida cotidiana, da experiência do rafting e da definição da
aventura e do risco, a emergência de duas faces na forma de atribuir sentido a
esses enunciados: a reprodução da sociedade contemporânea e a criação de uma
nova existência humana.
Tais eixos se referem ao agrupamento dos sentidos atribuídos à aventura e
ao risco pelos turistas, como também fazem menção ao conceito de produção
discutido por Marx (1996). Para o autor, como já apresentado em capítulo
precedente, a produção não se limita ao domínio dos objetos, mas se estende ao
domínio do espírito, o que repercute, evidentemente, na produção dos indivíduos, ou
seja, na reprodução social. Ademais, essa condição determina a própria existência
humana, uma vez que a maneira pela qual os indivíduos manifestam a sua vida
revela exatamente o que são.
É sob essa concepção que se apreendeu, a partir dos sentidos da aventura e
do risco nos discursos dos turistas, a aproximação da significação com a face de
reprodução da sociedade contemporânea, na medida em que se reproduziam as
ideologias dessa realidade, e a aproximação com a face de criação de uma nova
existência humana, na medida em que incitavam a gestação de valores menos
permeados pela lógica da sociedade atual, como a socialização e o desenvolvimento
espiritual.
8.1 A reprodução da sociedade contemporânea
Ao considerar o sentido da aventura e do risco como forma de reprodução da
sociedade contemporânea, entende-se as atividades de aventura e especialmente o
rafting, como um palco para os valores propagados pela atual realidade social; elas
se identificam, pois, com a velocidade, a aceleração da vida cotidiana, a
racionalização, o reencontro com a natureza, o consumismo e o hedonismo. Sob
essa visão, apreendeu-se o sentido da aventura e do risco em função de dois eixos:
a aventura e o risco como fetiche e a aventura e o risco como catarse.

146
8.1.1 A aventura e o risco como fetiche
O sentido da aventura e do risco atrelado ao fetiche se relaciona com a
centralidade que o hedonismo e o consumismo assumiram nos discursos dos
turistas. Para os entrevistados que colocaram a busca por emoção e prazer como
principal motivação para a prática do rafting, assim como, para os que valorizaram o
pessoal, o eu, no momento da experimentação da prática, não há como negar a
predominância desses valores. Pois, resgatando as idéias apresentadas por Lima
(2003), ao enaltecerem as emoções e o prazer como motivos para a
experimentação, o turista estimula o espírito consumista.
A adrenalina, a emoção, a sensação de vertigem e o gozo íntimo tomados
como motivações para a prática do rafting revestem, assim, a experiência dos
turistas de uma aura consumista e, dessa forma, confirmam o que Featherstone
(1997) declarou: o consumo representa, em boa proporção, a conseqüência do
hedonismo da mente.
É sob essa concepção que a relação comercial mostra-se influenciada pelo
que Lipovetsky (1989) chama de “individualismo narcísico”. O consumo nessa
perspectiva manifesta-se em vista do prazer para si mesmo, alcançando a esfera do
privatismo individualista. O autor ainda ressalta a importância dessa relação
individualismo e consumismo como pressuposto para a compreensão da atratividade
do novo, uma vez que, para ele, a novidade se coaduna à aspiração individual,
significando mecanismo de liberação pessoal.
De forma semelhante, Betrán e Betrán (1995) apresentaram o modelo
hedonista como fundamentado nas referências de democratização do consumo e no
individualismo narcisista que busca, fundamentalmente, a realização pessoal e o
prazer. Tal idéia se evidenciou na fala do seguinte turista:
T11 – [...] então fora do meu trabalho eu tento me agradar o máximo possível,
é esse tipo de coisa, buscando coisas novas para fazer, conhecer coisas diferentes.
Nota-se, portanto, para além do consumo de experiências diferentes, o turista
significa a vivência como um presente para o seu eu, o que comprova a ligação
entre hedonismo, consumismo e novidade, no contexto do consumo da aventura e
do risco na prática do rafting.

147
Lipovetsky (1989) acrescenta à discussão da relação entre a ideologia
hedonista e a de consumo, a lógica da diferenciação social. A corrida pelo consumo,
o desejo de novidades têm sua fonte de motivação no prazer, mas se materializam
pelo processo de distinção. De forma semelhante, Featherstone (1997) argumenta
que o essencial do consumo é a que se presta a imagem do produto.
Nesse sentido, ao se resgatar a imagem de homem corajoso, aventureiro,
“antenado” com as tendências, que as práticas de aventura disseminam, nota-se a
ressonância das idéias de Lipovetsky e Featherstone nos discursos dos turistas.
Verifica-se, ainda, que além de significantes e discriminantes sociais, a vivência da
aventura e do risco funciona como signo de competência e aptidão pessoal como
coragem, ousadia, agilidade, entre outros.
Observa-se, desse modo, que os turistas apreendem o objeto consumido
como revestido de um valor que ultrapassa a objetividade. Essa condição de
apropriação complexa remete ao processo de fetichismo da mercadoria estudado
por Marx (1998). Para o autor, o fetichismo impregna os produtos da sociedade
mercantil: os objetos não são apenas coisas, mas fetiches; eles têm vida própria no
sentido de acender desejos e mexer com as dimensões da pré-consciência e do
inconsciente. Na verdade, explica Alves (2006), o fetichismo representa uma forma
de objetividade e subjetividade social do mundo das mercadorias.
E por sua vez, o fetiche equivale a uma apropriação subjetiva do objeto, tanto
tangíveis, intangíveis ou imaginários. Ou seja, o fetiche se refere não,
exclusivamente, aos objetos tangíveis, ícones do consumo de uma sociedade
produtora de mercadorias, mas também aos objetos intangíveis, normas morais ou
valores que influenciam escolhas na vida cotidiana (ALVES, 2006).
Dessa forma, nota-se, coerentemente, um alinhamento entre a concepção de
fetichismo da mercadoria e a vivência dos turistas no rafting, haja vista a propagação
de sentidos diversos (de objetivos a subjetivos) como motivadores para a
experimentação dessa prática. Desde a afirmação das capacidades pessoais, em
enfrentar corredeiras, em remar corretamente e viver o diferente, à distinção social,
pelo poder de consumo e pela identificação com um grupo específico de
aventureiros, permanece uma relação humana fetichizada.
Portanto, sob égide da busca exacerbada pela aquisição de formas de lazer
prazerosas e diferenciadas, da determinação do signo aventura e da influência da
mídia, o discurso dos turistas conformou o sentido da aventura e do risco como

148
fetiche, o que aproximou a existência humana de uma reprodução dos valores da
sociedade contemporânea.
8.1.2 A aventura e o risco como catarse
A compreensão da aventura e do risco como um processo de catarse se
pauta na possibilidade de exteriorização das emoções que a prática do rafting incita.
Esse sentido se manifestou, relativamente, nos discursos dos turistas que
enfatizaram o valor terapêutico e renovador da experiência e se mostrou nas
valorizações das vivências sob as categorias do pessoal e do ambiente natural.
Ao se retomar as representações dos entrevistados acerca de sua vida
cotidiana e as narrações da experimentação, conjuntamente com as discussões
sobre a sociedade contemporânea, comprova-se a validade dessa concepção para a
reflexão da significação da aventura e do risco no contexto do rafting.
Observou-se que à medida que a vivência foi tomada como forma de
liberação do estresse, de neutralização dos medos e angústias e de expressão dos
estados de tensão, revelou-se nos discursos dos turistas a função de catarse para a
prática, como sinaliza as seguintes falas:
T10 – [...] Eu tenho essa necessidade, de renovar mesmo, de chegar a um
certo ponto que eu não agüento mais, só trabalhar na frente do computador, eu
preciso fazer algo diferente né. Contato com a natureza, pé no chão, água, terra.
T13 – [Aventura] É eu me divertir de forma livre.
T16 – Acho que é a forma que a gente encontra de botar pra fora as nossas
emoções, que a gente não pode fazer no dia-a-dia né. A gente é muito preso, então
expressar as emoções.
Evidencia-se, assim, que ao vivenciarem a aventura e o risco, no rafting, os
turistas se vêem livres das pressões sociais diárias, se permitem extravasar tensões
e emoções contidas pela rotina e experimentar uma condição menos clivada pela
exacerbação da modernização e pela artificialização da vida.
As reflexões desenvolvidas, anteriormente, pelo presente estudo, prestam-se
bem para a compreensão da existência humana contemporânea, notadamente,
marcada pela racionalização. Porém, vale trazer para a discussão as idéias de Elias

149
(1993) acerca das mudanças das regras sociais e dos comportamentos dos
indivíduos.
A partir de análises das transformações do mundo feudal tardio para o
moderno e, por vezes, contemporâneo, o autor demonstra como o controle
executado através de terceiras pessoas foi convertido, de várias formas, em
autocontrole; como as atividades humanas mais animalescas foram,
progressivamente, eliminadas da vida comunal e revestidas de sentimentos de
vergonha; e como a vida instintiva e afetiva passou a ser regulada por um
autocontrole generalizado. Quer dizer, dos tempos pretéritos aos dias atuais, todo o
molde social foi mudado, alterou-se, profundamente, a maneira como os indivíduos
pautavam suas vidas.
Tais mudanças, então, exigiram o controle incessante das pulsões
momentâneas, abrandaram as flutuações extremas no comportamento e nas
emoções; regularam de forma mais firme as paixões e os afetos; e exerceram e
ainda exercem pressão constante para inibir explosões emocionais. Nesse sentido,
o constante autocontrole, ao qual o indivíduo foi e está cada vez mais habituado,
procura reduzir os contrastes e mudanças súbitas de conduta e a carga afetiva de
toda auto-expressão. Ou seja, à medida que progrediu o processo civilizador,
aumentou o controle social e o autocontrole sobre as manifestações públicas de
fortes emoções (ELIAS, 1993).
Ao se pensar que a vida humana se tornou menos espontânea, também
menos emocional e mais subjugada por pressões da racionalização, entende-se a
busca constante dos indivíduos por mecanismo que lhes prestem como válvula de
escape, os quais lhe permitam vivenciar, mesmo que de forma simulada, fortes
emoções.
É sob essa perspectiva que se compreende a validade da experimentação da
aventura e do risco como forma de catarse. Pois, a prática do rafting suscita a
extrapolação de fortes emoções, também vivenciadas em outras esferas, mas sem
os efeitos constrangedores que a livre demonstração pode ocasionar. Isso significa
dizer que os turistas podem exteriorizar sentimentos reprimidos – como o medo, a
insegurança, a euforia, a alegria, entre outros – de forma a desfrutar de uma
liberalização pessoal.
Portanto, desde a experimentação de fortes emoções à aproximação do
ambiente natural (o reencontro com a natureza também incita exteriorização dos

150
sentimentos), por motivos de renovação e liberalização do indivíduo, há a
certificação do efeito catarse da aventura e do risco no contexto do rafting. É a partir
dessa significação que a experiência vivida aproxima-se tanto de uma reprodução
da atual condição humana, como de uma criação de uma nova existência, pois
observa-se na ação do turista uma orientação pelos valores da sociedade
contemporânea, ao mesmo tempo em que, evidencia-se uma inspiração para uma
nova forma de relacionar-se com o mundo. Nessa perspectiva que se analisou o
sentido da aventura e do risco como forma de produção de uma vida mais criativa,
conforme reflexão a seguir.
8.2 A criação de uma nova existência humana
Para uma análise crítica da realidade é preciso deixar claro a potencialidade
transformadora da ação humana, como bem elucida Kosic (1976, p. 196):
O que quer que o homem faça – em sentido positivo ou negativo – dá lugar a um determinado modo de existência no mundo e determina (consciente ou inconscientemente) a sua posição no universo. Pelo simples fato de existir, o homem se coloca em relação com o mundo e esta sua relação subsiste antes mesmo que ele passe a considerá-la e dela faça objeto de investigação.
É sob essa concepção que se apreendeu a significação da aventura e do
risco, no contexto do rafting, para além da reprodução dos valores da sociedade
contemporânea. Ou seja, mesmo que a ação criadora do turista tenha se
manifestado sutilmente na vivência dessa prática, notou-se a influência desse
posicionamento no modo de existência do entrevistado.
Ao se considerar a emergência de comportamentos e valores diferenciados
dos impregnados pela lógica da racionalização, do hedonismo e do consumismo, na
prática do rafting, notadamente, evidenciados pelo sentimento de grupo e pelo
respeito à natureza, comprova-se a prerrogativa da significação da aventura e do
risco como estímulo para a criação de uma nova existência humana, como se
discute no item a seguir.

151
8.2.1 A aventura e o risco como forma de criação de uma nova existência
humana
A apreensão dos enunciados aventura e risco como forma de criação de uma
nova existência humana se fundamenta no entendimento da vivência do rafting
como campo fértil para o exercício de uma relação diferenciada do turista consigo
mesmo, com a natureza e com o outro. Esse sentido foi, parcialmente, verificado nos
discursos dos turistas que ressaltaram o encontro com a natureza, a vivência de
uma nova forma de socialização e a elevação pessoal e espiritual como
decorrências da prática do rafting. Ao definirem a experiência os seguintes turistas
argumentaram:
T11 – Ah, não sei, acho que é uma coisa meio espiritual, um contato mais
direto com a natureza, tal. É você, de certa forma, respeitar aquilo que a natureza tá
te envolvendo ali naquele meio, entendeu? Então, o que eu digo, é tipo, nunca tentar
ser mais do que aquilo que a natureza te oferece, sempre respeitar aquilo [...] A
aventura no rafting foi uma experiência.
T17 – É buscar coisas novas na natureza, interagindo com o teu espírito, com
a tua alma, com o seu corpo físico, você em contato com a natureza, essa
integridade que proporciona uma prosperidade, um equilíbrio espiritual.
Revela-se, desse modo, a percepção da experiência do rafting como um
campo que oportuniza ações renovadoras e transformadoras em relação à
sensibilidade do indivíduo, com o seu interior e o exterior. A experimentação vivida
pelo turista incita, assim, um sentido mais criativo para a sua existência.
Nessa perspectiva que Marinho (2006) percebe as atividades de aventura
como espaços capazes de possibilitar uma vida humana mais sensível e mais
afetuosa. Para a autora, à medida que tais práticas permitem o afastamento das
expressões céticas e individualistas que permeiam o cotidiano urbano, ou seja, um
distanciamento espaço-temporal das vivências cotidianas, alastram-se as
possibilidades de autoconhecimento e de mudanças de comportamento.
De forma convergente com o pensamento de Marinho (2006), Villaverde
(2003) discute a atividade turística, a partir do papel que ela é chamada a assumir,
especialmente, como palco de ações humanas que incita um rico e complexo locus

152
de relações interpessoais, com a cultura e o mundo. Tais ações oferecem uma
oportunidade de exercício do que o autor tem chamado de ética relacional: uma
ética que não só aprecia a relação do indivíduo consigo mesmo, considerada em
sua pluralidade, mas também a relação com outras pessoas e ainda com outros
seres e elementos existentes no mundo, ponderados em sua diversidade. Observou-
se que esse pensamento se concretizou no âmbito do turismo de aventura, mais
precisamente na prática do rafting, em virtude das condições de relacionamentos,
aos quais os indivíduos foram expostos.
Desse modo, ao se pensar que no desenrolar da prática o turista
experimenta, de forma conjunta e exacerbada, múltiplas sensações como
concentração, tensão, plenitude, exaustão, êxtase e sentimentos como de
ansiedade, de igualdade, de unidade, de dependência, de confiança, de grupo, de
alegria e de medo, entende-se a potencialidade da experimentação da aventura e do
risco no rafting como locus de renovação das relações humanas, ou seja, como
criação de uma nova forma de existir no mundo em que se vive.
Vale ressaltar que, se por um lado, há a proeminência, nos discursos dos
turistas, da significação da aventura e do risco como forma de reprodução dos
valores da sociedade contemporânea, dados os imperativos provenientes da lógica
capitalista, por outro, há a presença de indícios que sinalizam a potencialidade em
se engendrar uma criação de uma outra existência humana.
Mesmo que esta última visão tenha se manifestado de forma singela e sutil,
entre os entrevistados, não se pode negar a sua importância para a discussão da
apreensão da realidade humana, pois retomando a idéia de Kosic (1976):
independentemente do que o homem faça, a sua ação determina a sua existência e
posição no universo, ainda que ele não consiga vislumbrá-la.
Contudo, ao se prosseguir com o pensamento desse autor (1976, p.229) de
que “na existência do homem não se reproduz somente a realidade humano-social,
reproduz-se espiritualmente também a realidade na sua totalidade” certifica-se a
validade em se manter olhares atentos para os múltiplos sentidos que a realidade
engendra, pois, dessa forma, entende-se que ela é capaz de apontar os caminhos
da existência e da resistência humana na sociedade em que se vive.

153
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O percurso e o exercício da análise empreendido nesse estudo possibilitam
apontar referências que delineiam a vida humana contemporânea. Pois, ao se partir
da proposta de compreensão dos sentidos atribuídos à aventura e ao risco, na
prática do rafting, pelos turistas, foi possível vislumbrar diferentes formas de
conceber a existência.
Cabe aqui ressaltar que o referencial conceitual adotado para a análise dos
sentidos se alinha com essa prerrogativa evidenciada no transcorrer da reflexão,
uma vez que se entendeu o sentido como uma construção baseada nas
perspectivas social e histórica. Ou seja, os sentidos, por meio dos quais o homem
descobre a realidade e o sentido dela, são um produto histórico e social (KOSIC,
1976).
Expressão e ao mesmo tempo fruto da realidade social atual, dada a
interseção com os aspectos de globalização, de reflexividade, de imponderabilidade,
de velocidade, de artificialização e de consumismo, a experimentação das atividades
de aventura, no âmbito do turismo, revela o movimento da essência à existência do
homem na sociedade em que vive.
Isso significa dizer que à medida que o indivíduo experimenta as atividades
de aventura, que se caracterizam pela complexidade tanto em relação à operação
quanto aos efeitos gerados no seu eu, ele possibilita a representação da sua
existência e ao mesmo tempo da sua essência.
A sociedade contemporânea, como foi discutida no desenvolver do estudo,
impõe condições insólitas para a vida humana, como bem destacaram os autores:
Sevcenko (2001) a partir do uso da montanha russa como metáfora para falar do
tempo presente; Giddens (1991; 2002; 2005) com base nas análises das
transformações na vida do indivíduo; Beck (2006; 2007) sob a concepção da
globalização e da propagação dos riscos; enfim, nota-se a conformação de uma
experiência fora do controle do indivíduo, num grau do imponderável, cuja
compreensão ainda não dá para ser alcançada, pois se vive tal experimentação.
Nesse contexto, a exacerbada exigência da realidade social atual pela
aceleração, mecanização, competitividade, racionalização e eficiência repercutem,
evidentemente, no estímulo a valores como descartabilidade, volatilidade,

154
consumismo e hedonismo, determinando, assim, uma essência e uma existência
humana impregnada por essa ideologia dominante.
Tal conjuntura, quando transposta para a experimentação da aventura e do
risco, na prática do rafting, justifica a proeminência da valorização do pessoal, do eu,
nos discursos dos turistas. Pois, em vistas dessas circunstâncias sociais o indivíduo
vê-se cercado por estímulos consumistas e hedonistas.
Apreendidos com base nessa concepção é que a análise dos sentidos da
aventura e do risco na prática do rafting mostrou sua expressão como reprodução da
sociedade contemporânea, notadamente, a partir da aparência como fetiche e como
catarse.
Ao se perceber a face dos sentidos da aventura e do risco como fetiche,
verificou-se o alinhamento dessa representação com a ideologia do consumo, cuja
propagação promoveu a transformação da imagem de um homem ativo em um
homem consumidor. Já a face da aventura e do risco como catarse evidenciou uma
reação desse homem aos imperativos da sociedade contemporânea e das
condições de sobrevivência que lhe são impostas.
Na contramão dessa forma de significação da aventura e do risco foi possível
observar na experimentação do turista, minimamente, a geração de valores
menosprezados pela ideologia vigente na realidade social atual: a socialização, a
sensibilidade e a elevação espiritual. Tal condição possibilitou a emergência do
sentido desses enunciados como criação de uma existência humana mais criativa.
Ou seja, à medida que a vivência se revelava como um locus que oportunizara
relações renovadas do indivíduo consigo mesmo, com a natureza e com o outro,
notou-se uma representação do sentido como uma criação de uma nova existência
humana.
Ressalta-se, dessa forma, que os sentidos da aventura e do risco na prática
do rafting estão permeados ora pelos imperativos de uma sociedade ditada pela
aceleração, pela competitividade, pela reflexividade, pelo hedonismo e pelo
consumo, ora pela potencialidade em se vislumbrar uma existência mais criativa e,
até mesmo, mais humana.
Tal análise se alinha com o referencial teórico e conceitual adotado. Pois, à
medida que foi possível vislumbrar as interseções entre o contexto sócio-histórico e
os sentidos atribuídos aos enunciados aventura e risco foi possível confirmar a idéia
de Spink (1999) de que produção de sentido tem como pressuposto a linguagem, a

155
história e a pessoa, assim como a concepção de Baktin(1995) de que as
significações são históricas, pois nelas o presente e o passado se interligam.
Ressalta-se, ainda, que o movimento assumido para a forma de refletir: do
indivíduo para o grupo; do universal para o particular, ou seja, das experiências
cotidianas para a vida humana e vice-versa, possibilitou a compreensão da
experimentação da aventura e do risco como algo que caracteriza a existência
humana, independentemente da formação social vigente.
Dessa forma, considerando as transformações ocorridas ao longo do tempo
na vida humana, discutidas por Giddens, Beck, Elias, Lefebvre, Sevcenko, assume-
se a vivência da aventura e do risco para o indivíduo como uma disposição da sua
existência, ou seja, como uma relação sociológica e ontológica85.
Ademais, ao se resgatar os sentidos da aventura e do risco de forma
separada, reconhece-se a proeminência da importância da aventura sobre o risco
nos discursos dos turistas. Tal condição acaba por sinalizar a forma de
relacionamento construído entre riscos e indivíduos, na prática do rafting. Ou seja,
sob a influência dos valores que já foram aqui discutidos, os turistas valorizam a
aventura como motivador para a prática e desprezam o risco, conferindo a este um
papel coadjuvante na vivência.
Essa relação construída no contexto do rafting se revela permeada de
alienação, pois como foi corroborado pelo presente estudo, os turistas desejam os
riscos, mas sem a consciência de tomá-los para si, ou como bem expôs Le Breton
(2006), joga-se mais com a idéia do risco do que com as suas mordidas.
É preciso destacar que esse aspecto repercute diretamente na gestão da
segurança das empresas, pois a relação turista-risco não se caracterizou, em sua
maioria, como uma relação consciente. Nesse ponto reside, supõe-se, um problema
complexo para o mercado do turismo de aventura, uma vez que a alienação pode
repercutir na contratação de empresas não recomendadas para a operação da
atividade,86 e dessa forma todo o mercado corre o risco de sofrer represálias87; ou
na revolta com os organizadores, caso aconteça um pequeno acidente88.
85 Entende-se com Japiassú e Marcondes (1996), a ontologia como o estudo da questão mais geral do ser enquanto ser, ou seja, o ser considerado independentemente de suas determinações particulares e naquilo que constitui sua inteligibilidade própria. (Dicionário básico de filosofia, RJ: Jorge Zahar Editor, 1196). 86 Haja vista que o mercado brasileiro de turismo de aventura se caracteriza por um misto de tipos de empresas, desde profissionais a amadoras, como apresentado nesse estudo. 87 Durante a realização das observações em campo, nas empresas escolhidas, foi possível notar uma ênfase no aspecto segurança, como também o desejo de operações seguras para todo o mercado, independente de

156
Nessa perspectiva, a tomada de consciência dos sentidos atribuídos pelos
turistas à aventura e ao risco se mostra como relevante para a gestão das empresas
de rafting, como também determinante para a gestão do segmento, o que aponta a
contribuição da presente reflexão.
Na realidade, a questão da tomada de consciência do risco nas práticas de
aventura transcende o escopo de gestão da atividade turística e alcança dimensões
sociais e culturais da vida humana. As características da presente sociedade,
discutidas do decorrer desse estudo, consolidam um posicionamento alienado dos
indivíduos, pois a fragmentação da realidade, das atuações pessoais, repercute na
ausência do sentimento de responsabilidades.
Além disso, as ideologias propagadas na modernidade tardia impulsionam o
indivíduo ao consumo sem consciência. Daí o paradoxo evidenciado no turismo de
aventura, deseja-se o risco, mas sem o risco. Na realidade, brinca-se com a idéia de
risco e não com a sua materialidade.
Porém, como já foi enfatizado, mesmo havendo ações de mitigação do risco,
ele não deixa de existir. E dessa forma, o fato dos turistas não avaliarem os riscos
das atividades de aventura problematiza o aspecto da responsabilidade
compartilhada (tanto as empresas como os turistas são responsáveis pela
segurança). Tal problemática ameaça, de um lado, os turistas, pois estes podem
colocar suas vidas em riscos por meio da adoção de um comportamento não
recomendado, de outro lado, o mercado que fica vulnerável às retrações motivadas
pelos acidentes. Ao se resgatar a informação do Relatório Diagnóstico do Turismo
de Aventura, apresentada no capítulo 6, sobre as características dos empresários
(cerca de 25% desses caracterizam-se por grande amadorismo, ilegalidade da
empresa e ausência de visão empresarial), constata-se a urgência em reverter esse
quadro.
Sugere-se, portanto, a realização de investimentos em conscientização das
particularidades das atividades de aventura, para os turistas, que devem procurar
empresas preparadas e agir consciente nas práticas, e para as empresas, que
devem buscar o aperfeiçoamento da gestão de segurança e a qualificação do
competitividade, pois os acidentes sempre repercutem negativamente para o segmento. É como se a ocorrência de um acidente retoma-se a consciência da existência dos riscos nessas atividades. 88 É claro que as condições que levaram ao acidente têm que ser consideradas, mas refere-se aqui aos casos em que as empresas realizam todo os requisitos e recomendações que são previstas para a operação, mas mesmo assim o acidente acontece, pois como foi discutido os riscos não são zerados.

157
segmento, de modo que a propagação da informação possa impulsionar o consumo
consciente das viagens de aventura e a estabilização do mercado.
No que se refere ao percurso percorrido pelo estudo, vale destacar a
relevância em se adotar a concepção dialética para esse tipo de pesquisa, ou seja,
pesquisas que visam à compreensão dos sentidos atribuídos pelo indivíduo. Pois,
em função dos seus pressupostos, o pensamento dialético é capaz de apontar “a
totalidade do mundo revelada pelo homem na história e o homem que existe na
totalidade do mundo” (KOSIC, 1976, p. 230).
Dessa forma, a articulação de diferentes olhares como os da história, da
sociologia, da cultura e da lingüística, assim como de diferentes níveis da realidade
como o pessoal, o social, o situacional e o ideológico, corroboraram para a
apreensão do objeto em estudo sob múltiplas óticas, sob a apreensão de que o
concreto é concreto desde que se apresente como síntese de múltiplas
determinações (MARX, 1996). Tal condição certificou a complexidade inerente às
atividades de aventura, assim como confirmou a importância da interdisciplinaridade
para as pesquisas em turismo.
Nesse aspecto reside outro ponto modal desse estudo. Pois, a realização de
um trabalho a partir da congruência de diferentes disciplinas, da
interdisciplinaridade, auxilia na formação do pensamento em turismo, dando
consistência teórica para esse campo.
Todavia, mesmo considerando as múltiplas determinações como caminho
para a reflexão, reconhece-se as limitações desse estudo, presentes,
fundamentalmente, pelo imperativo de reduzir as escolhas, de modo que algumas
idéias não menos importante do que aquelas que aqui foram abordadas tiveram de
ser deixadas de lado ou aludidas apenas superficialmente como, por exemplo, a
relação que se forma entre o turista, a natureza e o outro no momento da
experimentação.
O que se apresenta, portanto, nessa dissertação são indicadores de uma
forma diferenciada para pensar a relação do turista com a aventura e o risco, no
rafting, fundamentada na premissa de observar a realidade sob múltiplos olhares.

158
REFERÊNCIAS
ABETA. Associação Brasileira das Empresas do Turismo de Aventura. Diagnóstico do turismo de aventura no Brasil. Disponível em: <
http://www.abeta.com.br/aventura-segura/pgn.asp?i> Acesso em setembro de 2007. ABETA. Associação Brasileira das Empresas do Turismo de Aventura. Histórico. Disponível em: <http://www.abeta.com.br/pt-br/pgn.asp?id_pg=21&nivel=2> Acesso em setembro de 2007. ABETA. Associação Brasileira das Empresas do Turismo de Aventura. Oficina de normas técnicas do turismo de aventura. Disponível em: <
http://www.abeta.com.br/aventura-segura/pgn.asp?i> Acesso em setembro de 2007. ABETA. Associação Brasileira das Empresas do Turismo de Aventura. Programa Aventura Segura. Disponível em: < http://www.abeta.com.br/aventura-segura/> Acesso em setembro de 2007. ALVES, G. Trabalho, subjetividade e lazer: estranhamento, fetichismo e reificação no capitalismo global. In: PADILHA, V. (Org.) Dialética do lazer. SP: Cortez, 2006. APIÚNA. Prefeitura de Municipal de Apiúna. Disponível em:< http://www.apiuna. sc.gov.br > Acesso em fevereiro de 2008. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15331. Turismo de aventura – Sistema de gestão de segurança – Requisitos. RJ: 2005. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15370. Turismo de Aventura – Condutores de rafting – Competências de pessoal. RJ: 2006. ATTA. Adventure Travel Trade Association. Adventure Travel Industry Survey 2006. Disponível em: <http://www.adventuretravel.biz/presscenter.asp> Acesso em setembro de 2007. BAKHTIN, M. (V. N. Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 7 ed. SP: Hucitec, 1995. BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1994.
BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo. RJ: Elfos, 1995.
BAUDRILLARD, J. O sistema de objetos. SP: Perspectiva, 1973.
BAUMAN, Z. Modernidade e Ambivalência. RJ: Jorge Zahar Editora, 1999. BECK, U. A reinvenção da política: Rumo a uma teoria da modernização reflexiva. In: BECK, U; GIDDENS, A.; LASH, S. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. SP: Unesp, 1997.

159
BECK, U. La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 2006. BECK, U.; ZOLO, D. A Sociedade global do risco. Disponível em: < http://lgxserver.uniba.it> Acesso em: 10 de agosto de 2007. BELL, D. O fim da ideologia. Brasilia: Ed. da UNB, 1980. BENI, Globalização do turismo: megatendências do setor e a realidade brasileira. SP: Aleph, 2003. BETRÁN, J. O. Rumo a um novo conceito de ócio ativo e turismo na Espanha: As atividades físicas de aventura na natureza. In: MARINHO, A e BRUHNS, H. T. (Orgs.) Turismo, Lazer e Natureza. Barueri: Manole, 2003. BETRÁN, J. Dossier las actividades físicas de aventura en la naturaleza: análisis sociocultural. In: Apunts. Educación Física y Deportes. Barcelona, n.4, 1995. BETRÁN, J.; BETRÁN, A. La crisis de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad: el deporte y las prácticas físicas alternativas en tiempo de ócio activo. In: Apunts. Educación Física y Deportes. Barcelona, n.4, 1995. BRASIL. Ministério do Turismo. Diagnóstico do Turismo de Aventura. 2001. BRASIL. Ministério do Turismo. Turismo de Aventura – Busca e Salvamento. Brasília, 2005a. BRASIL. Ministério do Turismo. Turismo de Aventura – Relatório Diagnóstico: Regulamentação, normalização e certificação. Brasília, 2005b. BRASIL. Ministério do Turismo. Turismo de Aventura – orientações básicas. Brasília, 2006. BROTAS. Prefeitura Municipal de Brotas. Disponível em: < http://www.brotas. sp.gov.br/ > Acesso em fevereiro de 2008. BRUHNS, H. T. No Ritmo da Aventura: Explorando sensações e emoções. In: MARINHO, A e BRUHNS, H. T. (Orgs.) Turismo, Lazer e Natureza. Barueri: Manole, 2003. BRÜSEKE, F. J. A técnica e os riscos da modernidade. Florianópolis: Editora da UFSC, 2001. BRÜSEKE, F. J. Risco e Contingência. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 2, n. 63, fevereiro de 2007. BURKE, M. L. G. P. Entrevista com Zigmunt Bauman. In: Tempo Social, vol 16, n.1, SP, Junho de 2004.

160
CASTELLS, M. A Sociedade em rede. SP: Editora Paz e Terra,1999. CASTIEL, L. D. Vivendo entre exposições e agravos: a teoria da relatividade do risco. In: História, Ciências, Saúde-Manguinhos, jul/out 1996, vol.3, n. 2. CEBALLOS-LASCURÁIN, H. Ecoturismo como um fenômeno mundial. In: LINDBERG, K.; HAWKINS, D. E. (orgs.) Ecoturismo: um guia para planejamento e gestão. SP: Editora SENAC SP, 1995. CHAUÍ, M. Introdução. In: LAFARGUE, P. O direito à preguiça. SP: Hucitec, Unesp, 1999. COSTA, V. L. M. Esporte de aventura e risco na montanha: Um mergulho no imaginário. SP: Manole, 2000. COZBY, Paul C. Métodos de Pesquisas em ciências do comportamento, SP: Atlas, 2003. DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Orgs.) O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. EAGLETON, T. De onde vêm os pós-modernistas? In: WOOD, E. M; FOSTER, J. B. (orgs.) Em defesa da História Marxismo e pós-modernismo. RJ: Jorge Zahar, 1999. ELIAS, N. O processo civilizador. RJ: Jorge Zahar Editor, 1993, 2v. FEATHERSTONE, M. Cultura de consumo e Pós-modernismo. SP: Studio Nobel, 1995. FEATHERSTONE, M. A globalização da complexidade – pós-modernismo e cultura de consumo. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. No 32, ano 11, outubro, 1996. FEATHERSTONE, M. O Desmanche da Cultura – globalização, pós-modernismo e identidade. SP: Studio Nobel, SESC, 1997. GIDDENS, A. As Conseqüências da modernidade. 6ed. SP: UNESP, 1991. GIDDENS, A. Modernidade e Identidade. RJ: Jorge Zahar, 2002. GIDDENS, A. Mundo em descontrole – o que a globalização está fazendo de nós. 4ed. RJ: Record, 2005. GIDDENS, A. Entrevista com Anthony Giddens. In: Estudos históricos, RJ, vol. 8, n. 16, 1992. GIDDENS, A. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: BECK, U; GIDDENS, A.; LASH, S. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. SP: Unesp, 1997.

161
GUIVANT, J. S. A trajetória das análises de risco: da periferia ao centro da teoria social. In: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais. RJ: n.46, v.2, 2º. Semestre de 1998. HARVEY, D. Condição pós-moderna. 11 ed. SP:Loyola, 2002. HOBSBAWM, E. Era dos extremos – o breve século XX: 1914 – 1991. 2ed. SP: Companhia das Letras, 1995. HOSTINS, R. C. L. Diálogos sobre o “Não aprender”. Dissertação de Mestrado em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 2000. IH. Instituto de Hospitalidade. Certificação turismo de aventura. Disponível em: <
http://www.hospitalidade.org.br/atuacao/certificacao/turismodeaventura> Acesso em setembro de 2007. KOSIC, K. Dialética do concreto. 4ed. RJ: Paz e Terra, 1976. KRIPPENDORF, J. Sociologia do Turismo. RJ: Civilização Brasileira, 1989. LASH, S. A Reflexividade e seus duplos: estrutura, estética, comunidade. In: BECK, U; GIDDENS, A.; LASH, S. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. SP: Unesp, 1997. LE BRETON, D. Risco e Lazer na natureza. In: MARINHO, A.; BRUHNS, H. T. Viagens, Lazer e Esporte – o espaço da natureza. Barueri: Manole, 2006. LEFEBVRE, H. Lógica formal/lógica dialética. RJ: Civilização Brasileira, 1975. LEFEBVRE, H. A vida cotidiana no mundo moderno. SP: Editora Ática, 1991. LIMA, D. N. de O. Antropologia do consumo: a trajetória de um campo em expansão. In: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais. N. 56, SP: ANPOCS, 2003. LIPOVETSKY, G. O império do efêmero. SP: Companhia das Letras, 1989. LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. SP: EPU, 1986. MARINHO, A e BRUHNS, H. T. (Orgs.) Turismo, Lazer e Natureza. Barueri: Manole, 2003. MARINHO, A. Da aceleração ao pânico de não fazer nada: Corpos aventureiros como possibilidades de resistência. In: MARINHO, A e BRUHNS, H. T. (Orgs.) Turismo, Lazer e Natureza. Barueri: Manole, 2003. MARX, K. Para a crítica da economia política. Do capital. SP: Nova Cultural, 1996. MARX, K. O capital. Crítica da economia política. 16 ed. RJ: Civilização Brasileira, 1998.

162
MCNALLY, D. Língua, história e luta de classe. In: WOOD, E. M.; FOSTER, J. B. (Orgs.) Em Defesa da História: Marxismo e pós-modernismo. RJ: Jorge Zahar, 1999. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. 5ed. SP-RJ: HUCITEC-ABRASCO, 1998.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO – OMT. Turismo Internacional: uma proposta global. Porto Alegre: Bookmann / OMT-WTO-BTO, 2003. PELLEGRIN, A. Lazer, corpo e sociedade: articulações críticas e resistências políticas. In: PADILHA, V. Dialética do lazer. SP: Cortez, 2006. PENA-VEGA, A. O Despertar Ecológico: Edgar Morin e a ecologia complexa. RJ: Garamond, 2003. REIS, E. Estatística Multivariada Aplicada. Lisboa: Edições Silabo Ltda, 1997. REY, G. Pesquisa Qualitativa em Psicologia: caminhos e desafios. SP: Pioneira Thomson, 2002. RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: Métodos e técnicas. 3ed. SP: Atlas, 1999. RODRIGUES, A. B. Ecoturismo – limites do eco e da ética. In: RODRIGUES, A. B.(Org.) Ecoturismo no Brasil: possibilidades e limites. SP: Contexto, 2003. SANFELICE, J. L. Dialética e pesquisa em educação. In: LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D. (orgs.) Marxismo e educação – debates contemporâneos. SP: autores associados, 2005. SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 7ed. RJ: Record, 2001. SANTOS, M. Globalização, território e política em debate. PEREIRA, R. M. F. do A.; PROVESI, J. R. (Orgs.) Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2007. SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: No loop da montanha-russa. SP: Companhia das Letras, 2001. SLOVIC, P. Perception of risk posed by extreme events. University of Oregon, 2002. SOUZA, S. J. Mikhail Bakhtin e Walter Benjamim: polifonia, alegoria e o conceito de verdade no discurso da ciência contemporânea. In: BRAIT, B. (org.) Bakhtin, dialogismo e construção de sentido. Campinas: Editora Unicamp, 1997. SPINK, M. P. O estudo empírico das Representações Sociais. In: SPINK, M. J. P. O Conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da psicologia social. SP: Brasiliense, 1995.

163
SPINK, M. J. P. (org.) Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano. SP: Cortez, 1999. SPINK, M. J. P. Trópicos do Discurso sobre risco: risco-aventura como metáfora na modernidade tardia. Disponível em: <www.scielo.com.br> acesso em outubro de 2006. SPINK, M. J. P. Suor, arranhões e diamantes: as contradições dos riscos na modernidade reflexiva. Disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br/projetos/ esterisco> acesso em maio de 2007. SPINK, M. J. P.; MEDRADO, B. Produção de sentidos no cotidiano: uma abordagem teórico-metodológica para análise das práticas discursivas. In: SPINK, M. J. P. (Org.) Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano. SP: Cortez, 1999. SPINK, M. J. P.; MEDRADO, B. Perigo, probabilidade e oportunidade: a linguagem dos riscos na mídia. In: Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 15, n.1, Porto Alegre, 2002. SPINK, M. J. P.; ARAGAKI, S. S.; ALVES, M. P. Da Exacerbação dos sentidos no encontro com a natureza: contrastando esportes radicais e turismo de aventura. In: Psicologia: Reflexão e Crítica, v.8, n.1, Porto Alegre, jan/dez de 2005. SWARBROOKE, J. Turismo de aventura. SP: Aleph, 2003. TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. SP: Atlas, 1987. UVINHA, R. R. Esportes Radicais e Turismo: análise conceitual. In: TRIGO (org.) Análises regionais e globais do turismo brasileiro. SP: Roca, 2005. VIANNA, H. M. Pesquisa em educação: a observação. Brasília: Plano Editora, 2003. VILLAVERDE, S. Refletindo sobre lazer/turismo na natureza, ética e relações de amizade. In: MARINHO, A e BRUHNS, H. T. (Orgs.) Turismo, Lazer e Natureza. Barueri: Manole, 2003. VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. WOOD. E. M. O que é a agenda pós-moderna? In: In: WOOD, E. M.; FOSTER, J. B. (orgs.) Em Defesa da História: Marxismo e pós-modernismo. RJ: Jorge Zahar, 1999.

164
APÊNDICES

165
APÊNDICE A
Roteiro de Observação
1. NO MOMENTO DA INSTRUÇÃO
• Expressões (verbais), comentários e perguntas mais freqüentes: (para quem,
com que tom e volume de voz);
• Atitudes, comportamentos e expressões (gestuais, faciais);
2. ENQUANTO SE DIRIGE PARA O RAFTING:
• Expressões (verbais), comentários;
• Atitudes, comportamentos e expressões (gestuais, faciais);
• Modo de se relacionar com os demais companheiros da atividade;
3. DURANTE A TIVIDADE DO RAFTING
• Expressões (verbais), comentários;
• Atitudes, comportamentos e expressões (gestuais, faciais);
• Modo de se relacionar com os demais companheiros da atividade e com o
guia;
4. APÓS O RAFTING
• Aparência e expressões corporais;
• Atitudes e comportamentos;

166
APÊNDICE B
ROTEIRO DE PESQUISA DE CAMPO: ENTREVISTA
1. UM POUCO SOBRE VOCÊ E SEU COTIDIANO:
1.1 Idade: Estado civil: Nível de formação: ( ) EF ( ) EM ( ) ES ( ) ES+PG89
1.2 Profissão/ocupação: 1.3 Cidade em que reside:
1.4 Descreva brevemente seu dia-a-dia( no trabalho, na família, nos estudos...)
1.5 Defina em poucas palavras essa rotina (tranqüila, acelerada, equilibrada, estressante...):
1.5.1 Você faz atividade física? (qual, freqüência...)
1.7 Descreva brevemente suas principais atividades de lazer e de turismo (atividade física, passeios,
viagens, diversão):
1.8 Defina algumas características dessas atividades (freqüência, locais, critérios de escolha,
preferências...).
1.9 O que é para você: AVENTURA? e AVENTURA NA NATUREZA? E o que ela(s) tem a ver com
você, seu modo de ser e de viver?
2. UM POUCO SOBRE A ATIVIDADE QUE ESTÁ PRESTES A REALIZAR (ANTES DO RAFTING)
2.1 Você já fez alguma atividade física de aventura na natureza? (qual, onde, com que freqüência)
2.2 É a primeira vez que você realizará o rafting?
2.2.1 Se negativo: Onde e Como foi a primeira descida? O que você lembra dessa
experiência? Defina em duas palavras o que ela significou para você?
2.2.2 Se positivo: Qual a sensação ou sentimento que lhe passa agora? Defina em duas
palavras o que está significando para você se preparar para essa atividade?
2.3 Por que a escolha pelo rafting? O que te motivou? (motivos, razões)
2.4 Você acha que há riscos nesta prática?
2.4.1 Caso sim: Quais riscos que você acha que vai correr?
2.4.2 Como você os classifica (leves, intensos, moderados) e qual o significado que assumem
para você?
2. 5 Você diria que o risco compõe a sua motivação?
2.6 Como ficou sabendo a respeito dessa modalidade de atividade de aventura?
2.7 Que tipo de experiência você espera ter? (expectativas)
2.8 Como veio e com quem (amigos ou parentes)?
2.8.1 Como e porque escolheu esta operadora?
2.9. Vai pernoitar na cidade ou na região? Qual o meio de hospedagem?
3 UM POUCO SOBRE A EXPERIÊNCIA VIVIDA (DEPOIS DO RAFTING)
3.1 Como foi sua experiência?
3.2 O que mais te marcou? Como você reagiu durante a descida?
3.3 E agora: o que é aventura para você?
3.4 O que é risco? E como se lida com ele?
3.5 Qual a relação da aventura e do risco na prática do rafting para você?
89 EF – Ensino fundamental; EM – Ensino Médio; ES – Ensino Superior; ES+PG – Ensino Superior com Pós-graduação.

167
APÊNDICE C
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ CAMPUS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA – ProPPEC
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ENTREVISTA
CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: “O TURISMO DE AVENTURA E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A relação dos turistas com o
risco e a aventura na prática do rafting”
Por meio deste documento convidamos Vossa Senhoria a participar dessa pesquisa, que objetiva analisar os diferentes sentidos e significados que o risco e a aventura assumem para os turistas que praticam o rafting nos municípios de Apiúna (SC) e Brotas (SP). Justifica-se o desenvolvimento dessa pesquisa por compreender que o entendimento desse segmento do turismo pressupõe considerar a relação entre praticante, risco e aventura. A pesquisa do tipo qualitativa está focada nas observações estruturadas e nas entrevistas semi-estruturadas com os turistas. Assim, pedimos a autorização de Vossa Senhoria para nos conceder uma entrevista abordando o tema referido. A entrevista será gravada para facilitar sua posterior transcrição; os dados fornecidos serão utilizados para a execução deste trabalho de pesquisa e, posteriormente, de outros trabalhos referentes à mesma temática. Ressaltamos a importância dos dados que serão fornecidos e esclarecemos que as informações obtidas serão trabalhadas sob um olhar científico que não acarretarão prejuízos à sua integridade. Caso esteja de acordo com esses termos, pede-se o preenchimento e assinatura neste documento, conforme segue.
Eu, ______________________________________________________________________,
documento de identidade nº __________________, declaro que, de forma livre e
esclarecida, aceito participar da pesquisa "O TURISMO DE AVENTURA E A PRODUÇÃO
DE SENTIDOS: A relação dos turistas com o risco e a aventura na prática do rafting”
desenvolvida pela acadêmica Lorena Macedo Rafael Dantas, sob a orientação do Prof. Dr.
Paulo dos Santos Pires, na modalidade de dissertação de mestrado, vinculada ao Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria, do Centro de Educação de
Balneário Camboriú da UNIVALI.
Brotas (SP), ______ de ___________ de 2007
_____________________________________________________________________ ASSINATURA

168
APÊNDICE D
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ CAMPUS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA – ProPPEC
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PESQUISA DOCUMENTAL E OBSERVAÇÃO ESTRUTURADA
CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: “O TURISMO DE AVENTURA E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A relação dos turistas
com o risco e a aventura na prática do rafting”
Por meio deste documento convidamos Vossa Senhoria a participar da pesquisa enunciada acima, cujo objetivo consiste em analisar os diferentes sentidos e significados que o risco e a aventura assumem para os turistas de aventura que praticam o rafting nos municípios de Apiúna (SC) e Brotas (SP). Justifica-se o desenvolvimento dessa pesquisa por compreender que o entendimento desse complexo nicho do turismo pressupõe considerar a relação entre praticante, risco e aventura. A pesquisa orienta-se pelo caráter qualitativo, com o desenvolvimento de trabalho de campo centrado nas observações estruturadas e nas entrevistas semi-estruturadas com os turistas. Assim, pedimos a autorização de Vossa Senhoria para a realização de coleta de dados pertinente ao tema sob a forma de pesquisa documental acerca dos contratos e dos termos de consentimento de risco informados ao cliente e também de observação sistemática estruturada direcionada aos aspectos físicos e organizacionais da instituição, como também ao seu processo de funcionamento e operação do rafting. A observação poderá ser filmada para facilitar sua posterior análise; os dados coletados serão utilizados para a execução deste trabalho de pesquisa e, posteriormente, de outros trabalhos referentes à mesma temática. Ressaltamos a importância dos dados que serão levantados e esclarecer que as informações obtidas serão trabalhadas sob um olhar científico que não acarretarão prejuízos à integridade dessa pessoa jurídica. Ao final do estudo, caso essa organização tenha interesse, os resultados obtidos com a pesquisa poderão ser fornecidos. Caso esteja de acordo com esses termos, pede-se o preenchimento e assinatura neste documento, conforme segue.
Eu, _______________________________________________, documento de identidade nº
______________, representando a empresa ________________________________declaro
que, de forma livre e esclarecida, aceito participar da pesquisa "O TURISMO DE
AVENTURA E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A relação dos turistas com o risco e a
aventura na prática do rafting” desenvolvida pela acadêmica Lorena Macedo Rafael
Dantas, sob a orientação do Prof. Dr. Paulo dos Santos Pires, na modalidade de
dissertação de mestrado, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Turismo e Hotelaria, do Centro de Educação de Balneário Camboriú da UNIVALI.
Brotas (SP), ______ de __________ de 2007
_____________________________________________________________________ ASSINATURA