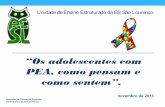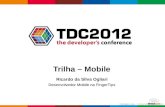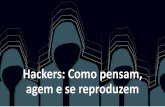UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os...
Transcript of UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os...
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECECENTROS SOCIAIS APLICADOS – CESA
CURSO DE MESTRADO ACADÊMCO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE – MAPPS
Antonio Roberto Xavier
Segurança Pública: do projeto “Ceará seguro (1999-2002)” ao projeto “Ceará segurança pública moderna (2003-2006)”’
Fortaleza-CE.,2008
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE
Antonio Roberto Xavier
Segurança Pública: do projeto “Ceará seguro (1999-2002)” ao projeto “Ceará segurança pública moderna (2003-2006)”’
Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e
Sociedade – MAPPS, da Universidade
Estadual do Ceará – UECE, como exigência
para obtenção do título de Mestre.
Orientadora: Drª. Maria Glaucíria Mota Brasil
Fortaleza-CE.,2008
Desejais prevenir os crimes? Fazei leis simples e claras; e
esteja o país inteiro preparado a armar-se para defendê-las,
sem que a minoria de que falamos se preocupe
constantemente em destruí-las. Que elas não favoreçam
qualquer classe em especial; protejam igualmente cada
membro da sociedade; tema-as o cidadão e trema apenas
diante delas. O temor que as leis inspiram é saudável, o
temor que os homens inspiram é uma fonte nefasta de
delitos.
Cesare Beccaria
Ao Arquiteto do Universo!
Aos meus pais!
À Ravelli & Lisimere,
filha e esposa, respectivamente,
fonte de
aconchego e regozijo!
AGRADECIMENTOS
Este trabalho não teria sido possível se não fosse a colaboração
prestimosa que recebi de tantas pessoas e instituições. Ofertaram-me conhecimento,
sabedoria, estima, respeito, amizade, incentivo, companheirismo... Quantas graças de
tantos Recebi! Tantas dádivas, que contá-las é impossível. Deste modo, deixo
registrado meu reconhecimento e agradecimento a todos os professores, colegas de
turma, parentes e amigos, escolhendo como representantes mais próximos,
especialmente:
à professora Dra. Maria Glaucíria Mota Brasil, por sua orientação no decorrer deste
trabalho, sempre apresentando observações importantes em seus comentários;
ao professor Horácio Frota, pelo incentivo e atenção;
ao professor Edilberto Cavalcante Reis;
aos professores Geovani Jacó, Rosemary e Ubiracy;
às funcionárias Andréia e Fátima;
às pessoas entrevistadas;
às forças visíveis e invisíveis que de uma forma ou de outra contribuíram para a
execução deste trabalho.
SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE QUADROS
LISTA DE TABELAS
LISTA DE SIGLAS
RESUMO
ABSTRACT
CONSIDERAÇÕES INICIAIS.................................................................................... 24
CAPÍTULO 1 ............................................................................................................ 42
SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ..............................................................................................................43
1.1 – Segurança pública: conceitos e definições ........................................................ 43
1.2 – A segurança pública no rol dos Direitos Humanos ........................................... 56
1.2.1 – A segurança pública como direito fundamental ..................................... 63
1.2.2 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos ............................. 72
1.2.3 – O que pensam os profissionais de segurança pública sobre os Direitos
Humanos ............................................................................................................. 74
1.3 – Segurança pública e cidadania ........................................................................... 76
1.4 – Dos Sistemas de segurança pública .................................................................... 84
CAPÍTULO 2 ............................................................................................................. 95
DO PROJETO “CEARÁ SEGURO” (1999-2002) AO PROJETO “CEARÁ SEGURANÇA PÚBLICA MODERNA (2003-2006)”’ ......................................... 96
2.1 – O legado de segurança pública do “Governo das Mudanças” ........................... 96
2.2 – A sucessão do “Governo das Mudanças” e o plano para a segurança pública no
Ceará ......................................................................................................................... 112
2.3 – Da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS....................... 121
2.4 – Da continuidade de práticas policiais no projeto “Ceará segurança pública
moderna (2003 – 2006)” ............................................................................................ 126
CAPÍTULO 3 ........................................................................................................... 133
“CRISES” NA SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ (2003-2006) ................. 134
3.1 – “Crise” institucional e de governabilidade ....................................................... 134
3.2 – Policiais cearenses envolvidos em rede criminosa ........................................... 146
3.3 – Denúncia de grupo de extermínio na PM cearense .......................................... 150
3.4 – O maior furto a Banco do país .......................................................................... 153
3.5 – Violência criminal no Ceará: efeitos visíveis e invisíveis ................................ 156
3.6 – Questões que comprometem a segurança pública (pesquisa de campo) .......... 166
3.6.1 – Principais fatores causadores da insegurança pública (entrevistas a
policiais) ........................................................................................................... 167
3.6.2 – Principais fatores causadores da insegurança pública (representantes da
sociedade em geral) .......................................................................................... 171
3.7 – Paradoxos das polícias militares ....................................................................... 175
CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 183
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 200
APÊNDICES ............................................................................................................ 214
ANEXO ..................................................................................................................... 216
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Gráfico de representação das Eleições no Ceará de 2002, p. 115
Figura 2 – Representação gráfica da Dívida Líquida (PIB – Ceará), p. 117
Figura 3 – Resultado Nominal (R$ milhões), p. 118
Figura 4 – Estrutura Organizacional da SSPDS, p. 123
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Representação do Sistema Criminal, p. 85
Quadro 2 – Representação do Sistema de Segurança Pública, p. 85
Quadro 3 – A Relação do Sistema de Segurança Pública com os poderes Executivo e
Judiciário, p. 87
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo),
p. 73
Tabela 2 – O que pensam os profissionais de segurança pública sobre os Direitos
Humanos (Pesquisa de campo), p. 74
Tabela 3 – Gastos com a segurança pública em R$ milhões (2001-2006), p. 110
Tabela 4 – Variação no número de óbitos por arma de fogo – Brasil 2003 a 2006, p.
158
Tabela 5 – Taxa de mortalidade por arma de fogo, sexo masculino, por Unidade de
Federação (Brasil - 2003 e 2006), p. 160
Tabela 6 – Principais fatores causadores da insegurança pública (entrevistas a
policiais), p. 167
Tabela 7 – Principais fatores causadores da insegurança pública (entrevistas a
representantes da sociedade), p. 172
LISTA DE SIGLAS
ADEPOL – Academia de Polícia
AI – Anistia Internacional
AI-5 – Ato Institucional Nº. 5
AIDS – Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
AL – América Latina
AOPI – Área Operacional Integrada
BC – Banco Central
BPM – Batalhão Policial Militar
CB – Cabo
CBC – Corpo de Bombeiros do Ceará
CBMC – Corpo de Bombeiros Militar
CAOPI – Coordenação das Áreas Operacionais Integradas
CCDS – Conselho Comunitário de Defesa Social
CAOCEAP – Centro de Apoio Operacional e Controle Externo
CAP – Capitão
CCS – Conselho Comunitário de Segurança
CDPM/BM – Código Disciplinar da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares
CDDPH – Conselho de Defesa da Pessoa Humana
CEDH – Conselho Estadual de Direitos Humanos
CEL – Coronel
CF – Constituição Federal
CFSdF – Curso de Formação de Soldados de Fileiras
CGOSP – Corregedoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública
CIA/PM – Companhia Policial Militar
CIC – Centro Industrial do Ceará
CIISP – Centro Integrado de segurança Pública
CIOPS – Centro Integrado de Operações de Segurança
CIOPAER – Centro Integrado de Operações Aéreas
COELCE – Companhia de Eletricidade do Ceará
CONSESP – Conselho Estadual de Segurança Pública
CONSUSP – Conselho Superior de Segurança Pública
COPOM – Centro de Operações Policiais Militares
COTAM – Comando Tático Móvel
CPC – Comando de Policiamento da Capital
CPI – Comando de Policiamento do Interior
CPRV – Companhia de Policiamento Rodoviário
DAL – Diretoria de Apoio Logístico
DC – Diretoria da Cidadania
DE – Diretoria de Ensino
DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito
DH – Direitos Humanos
DL – Dívida Líquida
DM – Distrito-Modelo
DNA – Ácido Desoxirribonucléico
DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DOE – Diário Oficial do Estado
DP – Distrito Policial
EB – Exército Brasileiro
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
EUA – Estados Unidos da América
FESPOM – Fundo Especial Policial Militar
FHC – Fernando Henrique Cardoso
FNSP – Fundo Nacional de Segurança Pública
FUNPEN – Fundo Penitenciário Nacional
GATE – Grupo de Ações Táticas Especiais
GCRISES – Gerenciamento de Crises
GGI – Gabinete de Gestão Integrada
GPR – Gestão por Resultados
HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário
ICP – Inquérito Policial Civil
IML – Instituto Médico Legal
INFOSEG – Programa Nacional de Informações Criminais
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor
IP – Inquérito Policial
IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
IPM – Inquérito Policial Militar
LABVIDA – Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania e Ética
LEV – Laboratório de Estudo da Violência
LCCO – Lei de Combate ao crime Organizado
MAJ – Major
MJ – Ministério da Justiça
MP – Ministério Público
MPE – Ministério Público Estadual
MPF – Ministério Público Federal
MPs – Medidas Provisórias
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
OEA – Organização dos Estados Americanos
OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos
OGE – Ouvidoria Geral do Estado
OMS – Organização Mundial de Saúde
ONGs – Organizações Não Governamentais
ONU – Organização das Nações Unidas
PAIs – Projeto Arquitetônico Institucional
PC – Polícia Civil
PC do B – Partido Comunista do Brasil
PCC – Primeiro Comando da Capital
PDT – Partido Democrático Trabalhista
PEL/PM – Pelotão Policial Militar
PF – Polícia Federal
PFL – Partido da Frente Liberal
PGJE – Procuradoria Geral do Estado
PGR – Procuradoria Geral da República
PIB – Produto Interno Bruto
PLANASP – Plano Nacional de Segurança Pública
PM – Policial Militar
PM2 – 2ª Seção da Polícia Militar
PMCE – Polícia Militar do Ceará
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PNDs – Plano Nacional de Desenvolvimento
PNSP – Plano Nacional de Segurança Pública
PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas
PROVITA – Programa de Proteção de Testemunhas e Familiares de Vítimas de
Violência
PSB – Partido Social Brasileiro
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
PT – Partido dos Trabalhadores
PT/CE – Partido dos Trabalhadores do Ceará
QG – Quartel General
QOAPM – Quadro de Oficiais Administrativo da Polícia Militar
QOBM – Quadro de Oficiais dos Bombeiros Militar
QOPM – Quadro de Oficias da Polícia Militar
RMF – Região Metropolitana de Fortaleza
SAI – Serviço Avançado de Inteligência
SARS – Serviço de Assistência Religiosa e Social
SD – Soldado
SEDH – Secretaria Especial dos Direitos Humanos
SEFAZ – Secretaria da Fazenda
SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública
SER – Secretaria Executiva Regional
SIS – Síntese de Indicadores Sociais
SGT – Sargento
SMV – Sistema de Monitoramento de Vídeo
SNSPDS – Sistema Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
SOS – Pedido de Socorro em Código Morse
SSP – Secretaria de Segurança Pública
SSPDC – Secretaria da Segurança Pública e Defesa da Cidadania
SSPDS – Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
ST – Subtenente
SUS – Sistema Único de Saúde
SUSP – Sistema Único de Segurança Pública
TC – Tenente Coronel
TCE – Tribunal de Contas do Estado
TEN – Tenente
TER – Tribunal Regional Eleitoral
UFC – Universidade Federal do Ceará
UN-Habitat – Nações Unidas para Assentamentos Humanos
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância
URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
XAVIER, Antonio Roberto. Segurança Pública: do projeto “Ceará seguro (1999-2002)” ao projeto “Ceará segurança pública moderna (2003-2006)”’. 225pp. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade apresentada ao Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará – UECE).
RESUMO
A presente dissertação de Mestrado busca analisar as políticas de segurança pública no Estado Democrático de Direito, tendo como ponto focal o Governo de Lúcio Gonçalo Alcântara (2003-2006), no Estado do Ceará. Este trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo discute-se os conceitos e definições de segurança pública a partir, sobretudo, da Constituição Federal de 1988. Analisa-se a questão da segurança pública e sua relação com os Direitos Humanos e com a cidadania. A questão gira em torno de como é possível efetivar políticas de segurança pública sem violar os Direitos Humanos e os princípios do Estado Democrático de Direito. Demonstra-se o funcionamento dos Sistemas de segurança pública e criminal e suas relações com os poderes Executivo e Judiciário. No segundo capítulo a abordagem está voltada para as políticas de segurança pública efetivadas no último ano do denominado “Governo das Mudanças” (2002), de Tasso Ribeiro Jereissati e do governo sucessor Lúcio Gonçalo Alcântara (2003-2006). Neste segundo capítulo é realizada uma descrição dos principais investimentos, metas, estratégias e ações governamentais que através dos organismos da segurança pública: Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar buscaram efetivar uma política de segurança pública eficiente e eficaz. Todavia, se aponta algumas práticas continuístas no seio dos organismos policiais nesses governos como entraves para uma melhor qualidade desse serviço. No terceiro e último capítulo desta dissertação o debate está centrado nas principais crises institucionais e de governo ocorridas no âmbito dos organismos responsáveis diretamente pela promoção da ordem e da segurança pública no Estado do Ceará. Destaca-se como fissura a falta de reformas nos organismos policiais e a continuação vincular desses organismos às forças armadas. Neste sentido, é realizada uma análise a respeito dos paradoxos que permanecem nas polícias militares, cujas estruturas demonstram estar obsoletas em relação à promoção da ordem e da segurança pública no Estado Democrático de Direito.
Palavras-chave: Políticas públicas, segurança pública, Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos, cidadania
XAVIER, Antonio Roberto. Public safety: of the project " safe " Ceará (1999-2002) to the project " Ceará modern public safety (2003-2006)". 225pp. (Dissertation of Academic Master's degree in Public Politics and Society presented to the Program of masters degree of the State University of Ceará - UECE).
ABSTRACT
To present dissertation of Master's degree it looks for to analyze public safety's politics in the Democratic State of Right, tends about focal point Lúcio Gonçalo Alcântara Government (2003-2006), in the State of Ceará. This work is divided in three chapters. In the first chapter it is discussed the concepts and definitions of public safety to leave, above all, of the Federal Constitution of 1988. It is analyzed the public safety's subject and your relationship with the Human Rights and with the citizenship. The subject rotates around as it is possible to execute politics of public safety without violating the Human Rights and the beginnings of the Democratic State of Right. It is demonstrated the operation of public and criminal safety's Systems and your relationships with the powers Executive and Judiciary. In the second chapter the approach is gone back to public safety's politics executed in the last year of the denominated “Government of the Changes " (2002), of Tasso Ribeiro Jereissati and of the government successor Lúcio Gonçalo Alcântara (2003-2006). In this second chapter a description of the main investments is accomplished, goals, strategies and government actions that through the public safety's organisms: Military police, Civil Police and Military fire department looked for to execute a politics of efficient and effective public safety. Though, some practices continuities are pointed in the organisms policemen's breast in those governments as fetter for a better quality of that service. In the third and last chapter of this dissertation the debate is centered in the main institutional crises and of government happened directly in the ambit of the responsible organisms by the promotion of the order and of the public safety in the State of Ceará. He/she/you stands out as fissure the lack of reforms in the organisms policemen and the continuation to link from those organisms to the armed forces. In this sense, an analysis is accomplished regarding the paradoxes that stay in the military police, whose structures demonstrate to be obsolete in relation to the promotion of the order and of the public safety in the Democratic State of Right. Keywords: Public politics, public safety, Democratic State of Right, Human Rights, citizenship
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A presente dissertação analisa as políticas de segurança pública, tomando
como foco o contexto do governo de Lúcio Alcântara (2003-2006), no Estado do Ceará. Faz-
se uma incursão investigativa acerca das metas, ações e estratégias para a segurança pública
nesse período, tendo como amostra o último ano do autodenominado “Governo das
Mudanças” (2002), de Tasso Ribeiro Jereissati. Discute-se acerca dos conceitos e definições
do que é segurança pública, como o Estado do Ceará tem operacionalizado sua política de
segurança pública e como os dispositivos policiais têm desempenhado suas funções no que se
refere à promoção desse serviço social indispensável.
A partir dessas inquietações, aprofunda-se a discussão do objeto no referido
espaço temporal levando em consideração os limites e as possibilidades do Estado
constitucional pós-1988 em promover a segurança como política indispensável à consolidação
do Estado Democrático de Direito.
Com efeito, apesar de ser um direito social e fundamental definido e
garantido constitucionalmente e um bem democrático legitimamente anelado por todos os
setores sociais, a abordagem sobre a segurança pública local, regional e nacional não é
animadora diante do elevado índice de violência e de criminalidade. Não se pode negar que
essa é uma realidade assustadora e, ainda mais, quando é perceptível claramente que as
instituições governamentais e o poder público em geral, muitas vezes, ao invés de promover a
segurança pública, praticam a violência e a criminalidade nas suas mais diversas formas.
O crescimento da violência criminal no Brasil está associado a fatores de
risco, como as profundas desigualdades social e econômica, a iníqua distribuição de renda, a
grande disponibilidade de armas, a indistinção de tipos penais, a falta de programas sociais de
inclusão, a formação de um Estado com pilastras sentadas numa cultura de violência, dentre
tantas outros. Com o advento do processo de redemocratização a partir de 1985 e da
Constituição Federal – CF, promulgada e aprovada em 1988, no Brasil, os organismos
responsáveis pela política de segurança pública passaram a ser definidos como também suas
respectivas atribuições e competências. A partir de então, a segurança pública passou a
reivindicar ações governamentais concretas ou políticas públicas visando preservar e garantir
os espaços de liberdade e proteção de homens e mulheres contra os fatores e mecanismos de
insegurança causados pela violência criminal. Essas ações efetivadas pela política de
segurança pública devem ser executadas ou operacionalizadas salvaguardando os Direitos
Humanos e as garantias constitucionais conquistadas no Estado Democrático de Direito.
Com efeito, apesar da clarividência da garantia constitucional expressa na
CF de 1988, em seu artigo 144, e da Constituição Estadual, nos artigos 256-258, o que se tem
visto e vivido na sociedade brasileira, como um todo, é a evolução e expansão da violência e
da criminalidade em suas mais variadas formas em todos os espaços do país e contra todo tipo
de pessoas, indiferente de classe social, cor, religião, situação civil etc. Deste modo, urge a
necessidade de se encontrar solução para garantia de uma melhor segurança pública. O direito
à segurança pública é um direito fundamental à existência humana. Inexistindo esse direito ou
sendo ele desrespeitado existirá, conseqüentemente, o desrespeito à própria existência da vida
humana, à cidadania, ao Estado Democrático de Direito, às leis que regem o Estado
constitucional, enfim, à CF e ao próprio Estado soberano.
Como se sabe, o Estado foi originariamente erigido através de um pacto
social firmado com cada indivíduo para que cuidasse do controle e mantesse a ordem social
evitando, assim, a guerra de todos contra todos. Este foi, em princípio, o propósito original da
criação do Estado (Hobbes, 1983). A inobservância ou a falta do cumprimento das funções
delegadas ao Estado por cada indivíduo tem tornado os espaços sociais públicos, sobretudo os
urbanos, em campo propício para o aumento exacerbado da violência e da criminalidade.
Neste sentido, o Estado como detentor do poder e do monopólio da violência (Weber, 1983),
não tem cumprido com sua missão de assegurar à sua população a segurança pública
suficiente e necessária como proteção civil e social.
Neste sentido, vê-se a necessidade de reinterpretação das políticas de
segurança pública sob a ótica do Estado Democrático de Direito e dos Direitos Humanos com
a participação efetiva da comunidade, pois, “somente governantes legitimados
democraticamente pela sociedade civil e voltados para os direitos humanos terão alguma
possibilidade de exercer com sucesso o poder e a força contra a criminalidade” (VELHO,
2002, pp. 26-27).
A reinterpretação de planos, programas e estratégias na aplicação de
políticas públicas de segurança visando diminuir a violência e a criminalidade é urgente.
Acredita-se que um dos passos é a intensificação e aprofundamento em pesquisar sobre a
temática levando-se em consideração os organismos responsáveis direta e indiretamente pela
promoção da ordem e da segurança pública. De acordo com Wilson (1983), é urgente a
necessidade da abordagem sobre políticas de segurança pública de maneira mais científica e
consensual por parte das instituições governamentais e não governamentais em articulação
com as universidades e demais seguimentos da sociedade civil como um todo. Com efeito, é
preciso se investigar os discursos e planos governamentais sobre políticas de segurança
pública da teoria à prática demonstrando o perfil do sistema de segurança pública no Estado
do Ceará e suas estruturas organizacionais. Segundo Castel (2005), isso somente será possível
se se combater os fatores de dissociação e desagregação sociais que estão na origem tanto da
insegurança pública ou falta de proteção civil como da insegurança social ou falta de proteção
de seguridade para se viver dignamente.
Os motivos justificadores para o desenvolvimento deste trabalho foram
muitos. Destacando-se dentre outros, a observância do aumento exacerbado da violência
criminal em caráter global, nacional, regional e local. Na América Latina – AL, as cidades
como Recife, Vitória, Rio de Janeiro, Cidade do México e Caracas registram mais da metade
dos crimes violentos em seus respectivos países. No Brasil são registradas cerca de 100
mortes por armas de fogo diariamente. No Estado de Pernambuco, o mais violento do Brasil a
taxa de homicídios é de 50,7 por cem mil habitantes seguida por Espírito Santo, com taxa de
49,4, Rio de Janeiro, 49,2 e Rondônia com 38,01.
Segundo o Relatório Global sobre Assentamentos Humanos, do Programa
das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos – UN-Habitat, a escalada da violência
criminal no Brasil representa cerca de 11% do Produto Interno Bruto – PIB, ou seja, o
equivalente a R$ 87 bilhões, sendo que 60% do valor é pago pelos impostos arrecadados dos
trabalhadores2. Isto deixa clarividente que o atual sistema de segurança pública nos estados
brasileiros está falido e, o que é pior, em razão dessa realidade a confiança da população nas
instituições diretamente responsáveis pela promoção dessa segurança pública tem reduzido
drasticamente. Conforme, ainda demonstrou o Relatório supracitado, cerca de 70 entre 100
brasileiros sentem-se inseguros. Entre os países pesquisados, o Brasil ficou em primeiro lugar,
à frente, inclusive de países africanos como África do Sul, Botsuana, Zimbábue e os sul
americanos – Bolívia e Colômbia3.
Outra pesquisa divulgada pelo “Jornal Folha de São Paulo”, de 23/07/2007,
mostra que a Segurança/Violência é a maior preocupação dos brasileiros. Segundo a pesquisa,
dos 5.700 entrevistados pelo Instituto Datafolha, 31% responderam espontaneamente que a
1http:// www.diariodonordeste.globo.com, visitado em 13/11/20072 Idem3 idem, ibidem
falta de segurança é o maior problema do País. Neste sentido, o desemprego, que até 13 de
dezembro de 2006, conforme levantamento do mesmo Instituto era apontado como o maior
problema do País passou para segundo lugar. Isto é algo preocupante, pois, a segurança
pública ou segurança civil é essencial a todo ser humano e que faz parte, portanto, do
conjunto de direitos fundamentais à vida da pessoa humana e é parte constitutiva dos Direitos
Humanos. Sem segurança pública não se conquista a cidadania já que esta depende da
efetivação dos direitos civis, sociais e políticos previstos na CF do País (art. 5º e art. 144 §§ 1º
- 8º).
Outros motivos, como: o interesse pessoal, haja vista ser este pesquisador
membro da corporação policial militar há cerca de 18 (dezoito) anos, tendo atuado sempre no
serviço operacional (serviço fim) ou trabalho de rua e, atualmente, estando há mais de sete
anos no Serviço Avançado de Inteligência – SAI, o antigo serviço secreto da Polícia Militar –
PMCE ou 2ª Seção também chamado de serviço reservado ou PM/2. Como Sargento da
PMCE, foi possível se ter a oportunidade de participar como monitor na formação de duas
turmas de Curso de Formação de Soldados de Fileiras – CFdSF. Durante todo esse período a
experiência foi com a, a atividade fim, que é a atividade de rua, operacional, ao contrário da
atividade meio que é a atividade aquartelada, burocrática. Deste modo, a presente pesquisa é
oportuna não só para o conjunto da sociedade, através de esclarecimentos e contribuições de
práticas vividas, como também para a pesquisa acadêmica. Além disso, conforme Bretas
(1997a, 1997b, 1998), apesar dos organismos policiais terem surgidos no Estado moderno e
desempenharem uma função fundamental no Estado contemporâneo, existe certa escassez de
pesquisas de cunho histórico-sociológicas sobre os organismos policiais, em função de sua
exclusão da maior parte das histórias políticas ou de estudos sobre o Estado, tendo somente
uma abordagem maior a partir de 1970.
Entretanto, a discussão acerca da segurança pública não é nova. Já na
década de 1970-80, nos Planos Nacionais de Desenvolvimento – PNDs, a questão da
segurança pública e Penitenciária preenchia páginas inteiras. Planejava-se muito e se
efetivava pouco. Na atual realidade, não é muito diferente. No ano de 2000, no segundo
governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC, foi criado o Plano Nacional de Segurança
Publica – PNSP, contendo 124 medidas a serem implementadas na área da segurança pública,
inclusive, contendo apenas 12 compromissos ou medidas preventivo-sociais, sendo que o
restante das medidas, ou seja, as outras 112 medidas são de cunho repressivo. No ano de
2003, já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – LULA, foi elaborado o Projeto
Segurança Pública para o Brasil, com a participação do Instituto Cidadania, contendo
propostas de políticas públicas destinadas a enfrentar a violência e a criminalidade.
O projeto do Governo federal tem como meta a conscientização de que a
violência e a criminalidade fazem parte de uma constelação mais ampla de práticas,
circunstâncias históricas, condições institucionais e relações sociais violentas ocorridas ao
longo da formação da sociedade brasileira. O principal objetivo do Projeto do Governo
Federal é a contribuição para a redução da violência e da criminalidade. Por isso, seria
submetido ao crivo da sociedade civil, autoridades do poder público e pesquisadores do
assunto. Uma das propostas chaves do referido Projeto seria a criação do Sistema Único de
Segurança Pública – SUSP, coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública –
SENASP. Todavia, é oportuno discutir sobre as razões da não efetivação do SUSP ou pelo
menos investigar os da violência criminal continuar aumentando cada vez mais em todo
território brasileiro.
Os discursos emergenciais voltados para a área da segurança pública,
sobretudo em vésperas de eleições, não têm resolvido ou pelo menos diminuído o índice de
violência criminal. Esses discursos, além de inescrupulosos, podem ser classificados como
ilusórios e demagogos, pois, trata-se de discursos aproveitadores da triste realidade de um
país que assiste a um “banho de sangue” de vítimas inocentes, sobretudo nos grandes centros
urbanos. Conforme Farias (2003), o Brasil é considerado o quarto país mais violento do
mundo e o primeiro em assassinatos por armas de fogo. Com uma taxa total de 27 homicídios
por cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas da Colômbia (campeã mundial), Rússia e
Venezuela. As taxas brasileiras são ainda 30 ou 40 vezes maiores às de países como
Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Japão ou Egito4.
O descaso com políticas públicas eficientes na área da segurança pública é
flagrante e preocupante. Como em outras áreas, o máximo que ocorre, toda vez que a
violência e a criminalidade balançam as estruturas das classes sociais dominantes, são
adoções medidas emergenciais. Mega operações militares repressoras são desencadeadas nos
grandes centros urbanos. A Mídia escrita e falada nessas horas parece cobrar com firmeza que
o Estado deve ser mais eficiente e enérgico com relação à política de segurança pública das
pessoas e de seus patrimônios. Diante dessas exigências emergenciais por parte das elites, os
governantes, vez por outra, têm se utilizado, inclusive, das forças armadas, a fim de
demonstrarem que podem combater à violência e a criminalidade. Quando isto ocorre,
percebe-se que os princípios do Estado Democrático de Direito são violados. Além disso,
essas operações, ao longo de suas aplicações, têm significado a exposição ilegal e desgastante
das Forças Armadas, diante das ineficiências apresentadas no âmbito segurança pública
(Gomes e Cervini, 1997).
Com efeito, vivenciando o agravamento de algumas crises na área da
segurança pública no autodenominado “Governo das Mudanças” de Tasso Jereissati (1999-
4 http:// www.diariodonordeste.globo.com, visitado em 13/11/2007
2002) ao de Lúcio Alcântara (2003-2006), é que se resolveu fazer uma análise investigativa
mais apurada sobre a segurança pública na terra alencarina. Deste modo, acredita-se que seja
possível a realização desta pesquisa com rigor de quem tem a teoria e a prática já que ambas
estão sempre imbricadas no processo de pesquisa.
Quando se problematiza sobre a questão da segurança pública é possível
fazer uma leitura não muito positiva. Na realidade, os organismos e instituições incumbidos
de promoverem a segurança pública encontram-se enfrentando crises tanto internas como
externas. No âmbito interno, os organismos policiais padecem de má formação; de resquícios
culturais da política de Segurança Nacional do Regime Militar; de ínfimos salários; de
Códigos e Estatutos arcaicos, violadores dos direitos humanos e da própria Constituição do
País; déficit de recursos humanos, técnicos e logísticos (aparelhamento e equipamentos); há a
existência de dois tipos de polícias com disparidades gritantes, sendo um tipo para o interior,
que é esquecido e menos aparelhado e outro na capital, mais aparelhado e beneficiado em
termos de promoção e ocupação de cargos elevados, etc. Os problemas no âmbito externo,
que se entende como sendo uma extensão decorrente dos problemas internos, são: a descrença
generalizada por parte da grande massa da população em relação aos organismos policiais; a
escalada da violência criminal cada vez mais crescente, sobretudo nos grandes centros
urbanos; há uma cultura de corrupção arraigada entre os organismos policiais; existe uma
desarticulação gritante entre os organismos policiais, o Poder Judiciário, o Ministério Público,
a sociedade civil e as universidades frente ao enfrentamento da violência-criminal, produtora
de insegurança; e, a compreensão de que a própria construção da sociedade brasileira se deu
sob a égide da coação, da cooptação e da violência física, etc (DaMatta, 1981).
Com efeito, é neste terreno de herança sociais, fragilidades e
incompetências que a violência nas suas mais diferentes modalidades: convencional,
individual, coletiva, organizada, institucionalizada, doméstica ou psicológica tem se
apresentado na atual conjuntura como um problema social sério e exaustivamente discutido
tanto pela opinião pública como pelas diversas autoridades governamentais e estudiosas do
assunto. Isto se dá em virtude do problema estar afetando a todas as pessoas e em todas as
partes do País. Ninguém está imune. Por conta disso, as pessoas, sobretudo nos grandes
centros urbanos onde a violência criminal é mais acentuada, tornam-se prisioneiras em suas
próprias casas, colocando todo tipo de mecanismos de proteção contra a violência, como
sistemas eletrônicos, cães de guarda, grades, muros altos, segurança privado etc (Beato Filho,
1999). Apesar de todo esforço em busca de proteção de sua incolumidade física e de seus
patrimônios, a violência criminal continua fazendo cada vez mais vítimas numa crescente
constante.
A violência em geral, além de um problema social, torna-se também um
problema público e, neste sentido, exige do Estado soluções viáveis por meio das Instituições
responsáveis por essa área, as quais devem apresentar variadas resoluções possíveis e
plausíveis com o objetivo de solucioná-lo. Detectado o problema, os responsáveis diretos,
como os governantes, legisladores, os organismos policiais, o poder judiciário, o ministério
público etc, desse assunto, necessitam, não só atacar o problema, mas, em primeiro plano,
saber como atacá-lo. Como expressa Gusfield apud Beato Filho (1999), diante da real
existência do fenômeno – o crime – é preciso se investigar e descobrir as causas e as
vulnerabilidades desse fenômeno para se poder remediá-lo com o antídoto correto. E qual
seria esse antídoto? Seriam políticas públicas na área da segurança capazes de combater esse
problema de maneira eficiente e eficaz.
Face ao incremento do aumento da violência-criminal criou-se no Brasil
uma forte demanda por políticas criminais duras, que exigem do Estado respostas cada vez
mais criminalizadoras e penalizadoras. A partir, sobretudo, da década de 1990, essas políticas
criminais duras passaram a ser efetivadas com mais intensidade. Primeiro foi com o combate
ao narcotráfico, depois aos crimes hediondos contra pessoas e por último ao crime
organizado. Neste sentido é que se fala em guerra ou luta contra o crime, reafirmando-se,
assim, uma visão positivista da criminalidade e esquecendo-se que o crime é um problema da
comunidade, nascido na comunidade e que deve ser solucionado pela e com essa comunidade
(Durkeim, 1978). Desde então se adotou sempre uma política de combate a todo custo com
foco em duas premissas básicas: 1) Incremento de penas, principalmente a de prisão
(penalização) e 2) restrição ou supressão de direitos e garantias do acusado. Esse tipo de
política criminal já demonstrou ser ineficaz, irracional e perniciosa, pois alimenta a ilusão de
que com leis duras a violência e a criminalidade seriam solucionadas. Esse tipo de política
criminal é oriundo da idade medieval usada, principalmente, pelos Tribunais da ‘Santa’
Inquisição e que deve ser refutada. Conforme Beccaria (1982), não é a crueldade das penas
um dos maiores freios dos delitos, senão a infalibilidade delas, a certeza do castigo, ainda que
moderado, causará sempre maior impressão que o temor de um outro castigo mais terrível,
mas aparece unido com a esperança da impunidade.
Esse modelo político-criminal é sustentado pelo direito clássico-positivista e
prima pela repressão determinando um estado da lei e ordem. Pelo que se tem observado, esse
tipo de política criminal, ao invés de controlar a violência e a criminalidade, ao contrário, a
reproduz, pois neste caso o Estado passa a legitimar a violência praticada por suas
instituições. Além disso, a efetivação dessa política-criminal acaba por dividir a sociedade em
dois tipos de classes de pessoas: “os bons” e “cidadãos” ou cumpridores da Lei e os “maus”
ou bandidos “foras-da-lei”, patologicamente desviados. Para estes o Estado terá de agir
rigorosamente cumprindo, além da Lei, a exigência dos primeiros (Gomes e Cervini, 1997).
Mas, qual tem sido a resposta do Poder Público estatal ao fenômeno da
violência e da criminalidade? Qual política pública em segurança o Estado brasileiro tem
dispensado sempre para essa área? Qual medida de controle ou ‘combate’ é mais eficaz e
eficiente: a repressão por meio dos organismos policiais ou a prevenção via educação? O
problema do aumento da violência e da criminalidade no Brasil é apenas um caso de polícia?
Existe uma valorização e um tratamento diferenciados ao crime no Brasil? Como conciliar a
repressão ou a prevenção com os princípios democráticos e a garantia dos Direitos Humanos e
constitucionais?
Neste sentido, para que se possa responder as indagações supracitadas é
necessário discutir os variados conceitos e definições sobre segurança pública no Estado
Democrático de Direito, abordando as relações existentes entre segurança pública, direitos
humanos e cidadania. Deste modo, acredita-se que urge a necessidade de abordagem das
possibilidades e limites de operacionalização das políticas de segurança pública eficazes.
Esta pesquisa de caráter bibliográfico-exploratório foi auxiliada com
documentos oficiais de governo, revistas, periódicos de jornais e pesquisa de campo. Para a
abordagem teórica serão analisadas obras que investigam o objeto pesquisado em
circunstâncias local, nacional e internacional. Neste sentido, escolheu-se como referencial
teórico as obras de Bretas (1997a, 1997b, 1998); Muniz (1999); Beato Filho (1999); Brasil
(2000); Farias (2003); Carvalho (2004); Barreira (2004) e Castel (2005). Estas obras serviram
como base sustentadora deste trabalho. Porém, elas foram auxiliadas o tempo todo por outras
produções das ciências sociais e muitas outras fontes empíricas.
Iniciando a teoria pela abordagem global vislumbrada na obra de Castel
(2005), a discussão central é concernente a impossibilidade de se proporcionar a segurança
pública (a que o autor chama de segurança civil como sendo à proteção da vida e do
patrimônio) sem possibilitar a segurança social (a que Castel se refere como sendo a garantia
dos principais serviços sociais, como saúde, educação, moradia de qualidade, previdência
etc.). Na abordagem nacional ou regional, destacam-se as produções de Bretas (1997a, 1997b,
1998), Muniz (1999); Beato Filho (1999, 2001); Farias (2003) e Carvalho (2004).
Em Farias (2003) e Carvalho (2004), encontram-se discussões acerca das
políticas públicas de segurança e as relações dessas políticas com os Direitos Humanos e
cidadania no Brasil. A discussão está voltada para o exercício da segurança pública e o
respeito dos Direitos Humanos e como alcançar a cidadania no Brasil em pé de igualdade para
todos.
Em Beato Filho (1999, 2001), é realizada uma discussão acerca da violência
como um problema público social grave e das barreiras que se mostram, até agora resistentes,
impedindo a efetivação de políticas de segurança pública capazes de controlar essa violência
criminal que avança sobre todas as pessoas independentemente de posição ou classe social,
sexo, raça, idade, estado do civil ou status. Nesse trabalho são demonstradas as dificuldades
de se fazer as reformas dos organismos policiais e também do judiciário.
Em Bretas (1997a, 1997b, 1998) e Muniz (1999), é possível encontrar a
historicidade das polícias no Brasil, a partir do advento da Corte Portuguesa (1808).
Especificamente em Bretas discute-se, sobretudo, a importância da evolução do papel policial
em controlar os movimentos da população pobre nos principais centros urbanos a partir do
Império. Mas, apesar de importante função política, as polícias no Brasil passaram um longo
período excluídas das abordagens das ciências humanas e da história política.
No trabalho de Muniz (1999), o debate insere-se nos “dilemas e paradoxos”
que as polícias militares enfrentam nos dias atuais em função da manutenção de suas
estruturas militarizadas diante de suas reais incumbências no Estado Democrático de Direito.
Neste sentido, a falta das devidas reformas ao longo do tempo visando acompanhar as
mudanças no mundo ocidental com relação a profissão de policia, os integrantes das “forças
policiais militares” enfrentam, atualmente uma verdadeira crise de identidade. O
“Militarismo” exacerbado mantido e a cultura perpassada pela Doutrina de Segurança
Nacional do Regime Militar tornam as atuais Polícias Militares em instituições
inconstitucionais e anômalas no desempenho de promoção e manutenção da ordem e da
segurança pública.
Na abordagem local sobre segurança pública, escolheu-se os trabalhos de
Brasil (2000) e Barreira (2004). Em Brasil (2000), encontra-se uma espécie de “raio x” da
segurança pública no autodenominado “Governo das Mudanças” desencadeado pelo
empresário Tasso Ribeiro Jereissati, Ciro Gomes, Tasso e Tasso (1987-1990), (1991-1994) e
(1995-2002), respectivamente. Nesta análise é possível se perceber as principais mudanças no
âmbito dos organismos policiais e Corpo de Bombeiros Militar, tais como: a tentativa de
integração desses organismos; a criação dos Distritos-Modelo; do Centro Integrado de
Operações de Segurança – CIOPS; Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER,
dentre outras.
Em Barreira (2004), constata-se facilmente que o discurso do “Governo das
Mudanças” com relação a segurança pública paira na questão da disputa simbólica entre o
“novo” e o “antigo”, o “moderno” e o “atrasado”, o “racional” e o “irracional”. O ponto de
discussão principal é como o “Governo das Mudanças”. Essas obras principais estarão
interligadas com outras especificadas na bibliografia e citadas no desenvolvimento desta
pesquisa.
Para a execução desta pesquisa parte-se de uma visão geral do presente e
das políticas públicas de segurança que ora são efetivadas, identificando que enquanto o
crescimento populacional e o desenvolvimento tecnológico definem o perfil da sociedade
globalizada, as políticas públicas em segurança, não obstante, mantém-se como valor fixo,
inclusive para campanhas eleitorais. Essas políticas permanecem badaladas somente no
âmbito teórico e na linguagem da mídia. Como foi mencionado antes, vale destacar que toda
vez que há um delito que mexe a estrutura das elites essas políticas são questionadas, porém,
se o delito é praticado no âmbito das classes pobres, a mídia o retrata como apenas mais um
crime. Desta forma não há correspondência de medidas significativas para a concretização da
idealidade almejada por todos: a segurança pública.
Outras fontes serviram como suporte para a realização desta pesquisa, além
das teóricas mencionadas anteriormente. Estas fontes são documentos oficiais, tais como:
Relatórios do Ministério da Justiça – MJ, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
– SSPDS, da Procuradoria Geral de Justiça Estadual - PGJE, a CF de 1988; o Plano Nacional
de Segurança Pública – PLANASP de 2000, o Projeto Segurança Pública para o Brasil de
2003, O Relatório da SENASP 2003/2004/2005, o SUSP de 2003, demonstrativos estatísticos
anuais do índice de criminalidade e da violência no Ceará, produzidos pelo setor de
Criminalística do Estado no período delimitado para esta pesquisa. Além desses documentos
oficiais serão consultados periódicos de jornais e revistas especificados na bibliografia.
Como parte subsidiária para a realização deste trabalho utilizar-se-á
pesquisa de campo com o objetivo de se recolher, registrar, ordenar e comparar dados
empíricos coletados com os anteriores. Para esse fim se faz uso d o instrumento da entrevista
exploratória com sujeitos interlocutores relacionados direta e indiretamente com a área da
segurança pública com perguntas não reguladas, pois, esse tipo de perguntas “... consiste na
observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de
variáveis presumivelmente relevantes para ulteriores análises” (RUIZ, 1982, p. 50). O
público-alvo a ser entrevistado é de 100 pessoas divididas em duas categorias, ou seja, 50
pessoas da sociedade em geral e 50 membros da Polícia Militar do Ceará – PMCE, Polícia
Civil – PC e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará – CBMC. A escolha da amostra foi
intencional. O objetivo é comparar as diversas visões desses sujeitos produtores de opinião e
que reflexões se pode tirar a partir de suas falas, já que segundo Thompsom (1992), seus
testemunhos possuem um valor extraordinário no campo das pesquisas sociais.
Foram trabalhadas no decorrer desta pesquisa, algumas categorias centrais
na perspectiva das variadas abordagens feitas pelos diferentes autores, tais como: segurança
pública, políticas públicas, Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos, cidadania,
polícia. Essas categorias estarão o tempo todo interligadas com as abordagens teórico-
metodológicas, objetivando guiar sempre a temática de pesquisa rumo à busca incessante e
incansável de se explorar e se investigar com maior profundidade o objeto proposto. Neste
sentido, se lançou mão sobre os mais variados tipos de fontes, incluindo a oral, reconhecendo
sua contribuição significativa à ampliação dos recursos metodológicos (Meneses, 1999).
Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo aborda a
segurança pública na Nova República e a sua relação com o Estado Democrático de Direito,
sobretudo pós-Constituição de 1988 e está dividido em cinco subtópicos. Trabalha-se os
conceitos e fundamentos de segurança pública do ponto de vista técnico-jurídico e,
principalmente sob a ótica histórico-sociológica; discute-se os fundamentos histórico-
jurídicos dos Direitos Humanos – DH e quais as concepções da sociedade em geral e dos
representantes dos principais organismos policiais através de pesquisa de campo. Investiga-se
a questão da atividade de segurança pública como direito fundamental e sua relação entre a
segurança pública com a cidadania. Por último, descreve-se os sistemas de segurança pública
de uma forma geral e específica a partir do texto constitucional pós-1988.
O segundo capítulo analisa as políticas de segurança pública,
retrospectivamente, tomando por referência principal o último ano do “Governo das
Mudanças” (2002), de Tasso Ribeiro Jereissati comparando com o Governo de Lúcio
Alcântara (2003-2006) e o seu projeto de governo: “Ceará Segurança Pública – Ações
2003/2006”. Analisa-se o legado da política de segurança pública efetivada no último
“Governo das Mudanças” no Estado do Ceará (1999-2002), focando, sobretudo o último ano
(2002), do governo de Tasso Ribeiro Jereissati e o projeto “Ceará segurança pública
moderna” do governo sucessor de Lúcio Alcântara (2003-2006).
O terceiro capítulo explana-se sobre as principais crises na segurança
pública durante o governo de Lúcio Alcântara focando os fatos repercutivos no período
governamental 2003-2006, contados, sobretudo pela imprensa através de periódicos de
jornais. A abordagem trata das principais questões internas e externas que comprometeram a
segurança pública no Ceará nesse período. Destaca-se o envolvimento de agentes da
segurança pública com rede criminosa; a expansão da violência criminal e as principais
questões que comprometem a segurança pública, atualmente, do ponto de vista de agentes da
segurança pública do Estado e do ponto de vista de representantes dos mais variados extratos
sociais. Nesse capítulo é analisada a segunda pergunta da pesquisa de campo com entrevistas
sobre os fatores/causas da insegurança pública e as estratégias/soluções propostas pelos
entrevistados. A meta é perceber o que pensam e o que sugerem os sujeitos-produtores de
opinião sobre as políticas públicas de segurança. Na parte final deste capítulo, procura-se
definir os principais paradoxos enfrentados pelos componentes dos organismos policiais
responsáveis diretamente pela promoção da segurança pública, sobretudos os policiais
militares.
Nas considerações finais é feito uma retrospectiva de todo o trabalho de
forma sucinta, tendo por meta sugerir e propor outras abordagens com relação à efetivação,
estratégias e ações para as políticas de segurança pública. O objetivo não é que se considere
este trabalho pronto e acabado, mas proporcionar reflexões e análises objetivando se chegar a
outros campos de saberes e em outras metas para se interpretar e reinterpretar a questão das
políticas de segurança pública por parte do poder público. Espera-se contribuir para
compreensões e reinterpretações em torno das políticas de segurança pública no Brasil e no
Estado do Ceará.
CAPÍTULO 1
A SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Desta maneira, a redemocratização do País não
significou o fim das práticas ilegais e do uso
indiscriminado da violência instrumental que tem
caracterizado o dia-a-dia dos dispositivos
policiais, como aparelhos de Estado, detentores
do monopólio da força legal... O retorno ao
Estado democrático de Direito não quer dizer, no
nosso caso específico, a hegemonia dos princípios
democráticos e da legalidade na
operacionalização dos serviços policiais.
Glaucíria Mota
42
CAPÍTULO 1
A SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO
1.1– Segurança pública: conceitos e definições
A história nos informa que durante o período colonial os capitães-mores
e/ou autoridades locais, ao serem nomeados pela metrópole, acumulavam abusiva e
promiscuamente funções administrativas, judiciárias e policiais. No decorrer do império, os
juízes togados ou nomeados e a formação de milícias particulares pertencentes à aristocracia
rural exerciam também o cargo de chefes de polícia. No período republicano, da República da
Espada (1889-1891) e durante toda à República Velha (1891-1930), a questão da segurança
pública continuava voltada para atender aos interesses privados das classes dominantes e dos
oligopólios políticos no âmbito dos grandes latifundiários ou “coronéis”, dentro de uma
ordem sempre militarizada. Da década de 1930 até bem pouco tempo as práticas de uso do
serviço público da segurança a fim de atender a interesses privados continuaram quase
intactas. Com efeito, no Brasil, o uso de serviços públicos para fins de interesses privados
sempre foi uma prática recorrente (Fernandes, 1973; Chauí, 1992; Demo, 1994; Fernandes,
1995; Holanda, 1995; Brasil, 2000; e Faoro, 2001a, 2001b).
Indubitavelmente, desde a instalação da República o desafio dos governos
de efetivarem reformas e aperfeiçoar os organismos diretamente ligados à área da segurança
pública, continuam postos. Conforme Adorno (1996), a segurança pública é uma das áreas
43
mergulhadas numa crise de credibilidade dos aparelhos policiais, na falta de eficácia e
eficiência destes em pacificar a sociedade, em solucionar seus conflitos nos ditames do Estado
Democrático de Direito. Por outro lado
[a] reprodução do sistema distorcido exige que o paciente Brasil seja silenciado pela anestesia da falsa consciência tão bem produzida nos meios de comunicação coniventes no analfabetismo funcional, na amnésia das experiências fracassadas e dolorosas, pela utilização de relações e de instrumentos autocráticos, despótico-militares ou civis -, tidos como necessários para assegurar o silêncio do protesto, calar o clamor dos excluídos e o estertor dos sacrificados (CAMPOS, 1997, p. 201-202).
Após a era Vargas (1930-1945), o período populista (1946-1964) e dos 21
anos de regime militar (1964-1985), no qual o País esteve mergulhado num enorme
autoritarismo político e a segurança pública baseada na Doutrina da Segurança Nacional
militarizada, a transição à redemocratização não rompeu com as estruturas autoritárias e as
práticas de poder. Segundo Brasil (2000), o legado autoritário dessas estruturas de abuso de
poder se estende de maneira contundente aos organismos policiais que denunciam a
continuidade de práticas ilegais e a manutenção da truculência no âmbito da segurança
pública.
Desta maneira, a redemocratização do País não significou o fim das práticas ilegais e do uso indiscriminado da violência instrumental que tem caracterizado o dia-a-dia dos dispositivos policiais, como aparelhos de Estado, detentores do monopólio da força legal... O retorno ao Estado democrático de Direito não quer dizer, no nosso caso específico, a hegemonia dos princípios democráticos e da legalidade na operacionalização dos serviços policiais. Isto se vem contrapor ao pensamento de Norbert Elias (1997), ao dizer que a instauração do monopólio da força no Estado vai controlar o uso indiscriminado da violência, visto que, nos espaços pacificados, o uso da violência é uma exceção, já no caso brasileiro, tem sido uma regra constitutiva, ao longo de nossa história, quer nos espaços pacificados, quer nos espaços não pacificados (BRASIL, 2000, p. 95-96).
Com efeito, o retorno do País à redemocratização pós-1985,
possibilitou amplas conquistas de autonomia institucionais, garantias de um grande
leque de direitos individuais, políticos e sociais, diminuição de graves violações de
Direitos Humanos. Porém, não significou a descontinuidade de práticas ilegítimas,
44
ilegais e abusivas por parte dos organismos policiais que não sofreram as devidas
reformas necessárias para seguir o caminhar democrático institucional (Adorno, 1995).
Como disse o então senador da república FHC, o “entulho autoritário” da legislação do
País está longe de ser removido (Peralva, 2000).
A Nova República, pós-1988 significou mudança de regime
governamental com abertura do pluralismo partidário político com novos grupos de
representantes nas esferas federal, estadual e municipal. Entretanto, uma gama de
elementos constitutivos da ditadura militar se manteve intacta, como lideranças
políticas ligadas às antigas oligarquias. Essa continuação de estruturas políticas e
militarizadas permitiu que práticas autoritárias, ilegais repressivas e de violação de
Direitos Humanos continuassem nas entranhas das instituições no Estado
constitucional. Neste sentido, a permanência das estruturas da ditadura e as práticas
autoritárias têm emperrado a consolidação do regime democrático e atrofiado o
desenvolvimento e solidificação do Estado de Direito.
Se examinarmos, como fazemos aqui, a combinação da sobrevivência das práticas desses contingentes políticos com a manutenção de alguns preceitos legais da organização política da ditadura, em pleno regime democrático, concluiremos que prevalece um sistema de governo marcado pela continuidade, diferente daquele do regime autoritário que o precede mas incapaz atender satisfatoriamente os pré-requisitos da formalidade democrática. Entre a democracia populista, o regime militar e o atual regime democrático com o governo civil após o fim da ditadura e os governos eleitos, tanto federal como estaduais, se considerados sob a perspectiva da garantia dos direitos humanos, ressalvado o fim da repressão política, há muito mais pontos de contato que diferenças. Diante da corrupção, do agravamento das violações dos direitos humanos e de sua impunidade, o regime autoritário (1964-85) e o regime constitucional de 1988 com os governos civis, de transição e eleitos, dada a ausência de rupturas significativas na área da cidadania, foram expressões diferenciadas de uma mesma estrutura de dominação fundada na hierarquia, discriminação, impunidade e exclusão social (PINHEIRO, 1995, p. 11).
Deste modo, a forma de transferência do poder dos militares aos civis,
pós-1979, com o fim do Ato Institucional Nº. 5 – AI-5, no plano da segurança pública
45
teve resistências significativas, sobretudo no tocante às polícias militares que desde o
Decreto Lei Nº. 667/1969 era diretamente vinculada ao Ministério do Exército
Brasileiro. Somente a partir da CF de 1988 é que as Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares passaram a se subordinarem aos Governadores dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios. Todavia, essas forças militares continuaram sendo
também forças auxiliares e reserva do Exército com formação, estatutos, códigos,
inspetorias, hierarquia e disciplinamento próprios das Forças Armadas Militares (CF,
1988, art. 144, Inc. IV, § 6º).
Conforme Peralva (2000), o advento da redemocratização herdou
quatro sustentáculos principais que explicam a violência-criminal como fator de
insegurança: o legado autoritário militarista, a desorganização das instituições, a
pobreza e a mudança social. Relacionando a este trabalho, destaca-se o legado
militarista às Polícias e Corpos de Bombeiros Militar que significou a continuidade
autoritária da Lei de Segurança Nacional da Ditadura como também representou a
herança das práticas de repressão de delitos por essas instituições que permaneceram
desqualificadas e despreparadas para agir respeitando e garantindo os direitos civis e
políticos no Estado Democrático de Direito. Esses são paradoxos existentes na
redemocratização no Brasil que, somados ao excesso de formalismo jurídico que
significa morosidade judicial e processual, contribuem para os fatores de insegurança
com conseqüente violação dos direitos da pessoa humana, fazendo crescer o
sentimento de impunidade (Adorno, 1996, 2000).
46
Sabe-se que a segurança pública no Estado Democrático de Direito
tem por objetivo garantir o exercício das liberdades fundamentais, assegurando
espaços pacíficos para que haja prosseguimento de convivência harmoniosa em
sociedade. As chamadas “Forças da Ordem” – termo usado por Castel (2005) – que
são os organismos policiais – são empregados legal e legitimamente para efetivar essa
missão. Contudo, essa tarefa não é de fácil cumprimento em função de lacunas
profundas legadas por governos anteriores e a continuação dessas lacunas nos
governos presentes. A persistente política oligárquica de concentração de poderes
sempre manteve seus interesses privados com base nesse setor. Além disso, essas
instituições por si só não podem e nem devem ser responsabilizadas, exclusivamente,
pela segurança pública que como já foi citado é responsabilidade do Estado e dever de
todos. Essas forças públicas fazem parte do aparelho repressor do Estado e agem
ideologicamente no sentido de manter a ordem e o funcionamento legal desse Estado
(Cotrim, 1988).
Os manuais de técnicas policiais e jurídicos definem Segurança
Pública como uma condição concreta que o indivíduo alcança quando o Estado legal
proporciona garantia e preservação de seus direitos e liberdades individuais, como o de
propriedade, o de locomoção, o de proteção contra o crime em todas as suas formas.
Esta é a parte operacional de proteção civil. Mas, a proteção civil depende também da
proteção social, por isso o verbete “segurança” no dicionário jurídico de De Plácido e
Silva (1963), define segurança como
derivado de segurar, exprime, gramaticalmente, a ação e efeito de tornar seguro, ou de assegurar e garantir alguma coisa. Assim, segurança indica o sentido de tornar a coisa livre de perigos, de incertezas. Tem o mesmo sentido de seguridade que é a
47
qualidade, a condição de estar seguro, livre de perigos e riscos, de estar afastado de danos ou prejuízos eventuais. E Segurança Pública? É o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo perigo ou de todo mal que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade de cada cidadão. A segurança pública, assim, limita a liberdade individual, estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode turbar a liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a.
Isto significa dizer que essa proteção civil somente ocorrerá se a
proteção social como equilíbrio e segurança a comunidade, seguridade social,
preservação do capital, do trabalho, enfim, realização concreta dos direitos civis,
políticos, sociais, econômicos e coletivos também forem garantidos, efetivamente pelo
Estado constitucional de direito (Lafer, 1991; Bonavides, 2000). Segurança pública
nesse caso é um bem comunitário e também um direito social que tem um valor geral
comum e vital para as comunidades. É um anseio e uma aspiração de todos em
sociedade viverem em segurança. No âmbito do aspecto jurídico Segurança Pública é
o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de todo mal que
possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade, ou dos direitos de
propriedade do cidadão. É a garantia individual de que sua pessoa, seus bens e seus
direitos não serão violados e, caso sejam, o Estado tem a responsabilidade de reparar
todos os danos causados à pessoa na sua individualidade (CF, art. 5º e 6º).
Na teoria jurídica, a palavra segurança assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica. Segurança social significa a previsão de vários meios que garantam aos indivíduos e suas famílias condições sociais dignas; tais meios revelam-se basicamente como conjunto de direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem (FARIAS, 2003, p. 66).
Outro fator de segurança previsto, inclusive, no texto constitucional é
o fato de que nenhuma pessoa será obrigada a fazer ou deixar de fazer algo que não
48
esteja previsto em lei (CF, 1988, art. 5º, inc. II). Esse é o princípio da legalidade que
rege as relações sociais de direito em sociedade.
[o]utra regra que protege a segurança das pessoas é a que estabelece limitações quanto à pena a ser imposta nos casos de crime. Nenhuma pena pode ir além da pessoa do delinqüente. Seja qual for o crime, só quem teve participação nele é que pode sofrer uma punição. Qualquer acusado tem o direito de ampla defesa, com assistência judiciária gratuita, e de ser julgado pelo juiz ou tribunal que a lei encarrega do assunto. Também está contido na Constituição que não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, bem como, que em nenhuma hipótese será concedida a extradição de um brasileiro (ibidem, p. 68).
A Constituição de 1988, em seu artigo 144, assevera que a segurança
pública é “dever do Estado”, mas também “direito e responsabilidade” de todas as
pessoas. A finalidade da segurança pública é a preservação da ordem pública e a
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Para a efetivação destas metas, o texto
constitucional define os organismos policiais e CBM, como os órgãos diretamente
responsáveis pela promoção da ordem e da segurança pública. Todavia, a discussão
sobre a segurança pública envolve muito mais do que conceitos técnicos e jurídicos.
Por isso, é de suma importância o aprofundamento investigativo político-histórico-
sociológico acerca dessa temática que necessita de reformas urgente, bem como
cooperação mútua entre as esferas federal, estadual e municipal.
É racional afirmar que desde o advento da República no Brasil (1889),
a história dos organismos policiais, responsáveis diretos pela promoção da ordem e da
segurança pública, tem sido marcada por oscilações entre a autonomia estadual e o
controle federal. No decorrer dos períodos de exceção ou autoritários, os organismos
de segurança pública foram submetidos ao controle federal. Neste caso, não se pode
falar em cooperação, mas em subordinação das polícias estaduais às diretrizes do
49
governo federal. Nos períodos republicanos, os Estados tiveram maciça autonomia
para organizar e controlar seus organismos policiais. Todavia, tanto nos períodos de
autonomia estadual quanto nos períodos de controle federal, não aconteceram
iniciativas concretas para a implantação de uma política ou um programa nacional de
segurança pública5.
Entretanto, alguns sinais de mudança relativos à melhoria da
segurança pública começaram a ser efetivados já no último governo de FHC, com a
criação do PNSP (2000) e continuou no Governo de LULA, com o Programa Nacional
de Segurança Pública do Governo Federal. Esses sinais estão sendo operacionalizados
sob os auspícios da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP através do
SUSP. De acordo com a proposta do Projeto Segurança Pública para o Brasil (2003), o
atual modelo de duas polícias de ciclo incompleto, no plano estadual, está esgotado,
ultrapassado. Além disso, o SUSP tem por objetivo criar um novo modelo de
organismos policiais para todo o País com qualidade de formação profissional,
melhores salários, com políticas de incentivo, amparo e valorização profissional. Neste
sentido, o modelo para a segurança pública proposto pelo SUSP é um agir integrado
entre União, Estados e Municípios por meio de polícias e guardas municipais. A
esperança, segundo o SUSP, é uma formação e integração para acabar de vez as
rivalidades historicamente entre PMCE e PC. Para mudar o modelo autoritário é
preciso mudanças profundas no Sistema de Segurança Pública para romper com o
modelo autoritário que está implantado.
5 MJ – SENASP - SUSP, 2003, 2004, 2005
50
Com efeito, desde o ano de 2003, o Governo Federal intensificou
esforços visando cumprir os programas e planos para a segurança pública brasileira, o
que é considerado um marco histórico. A SENASP se consolidou assumindo o papel
central de executar as políticas de segurança pública para o País. A SENASP, muito
mais que um simples órgão repassador de recursos para os Estados, se
institucionalizou como órgão central e mentor na promoção da reforma das polícias no
Brasil. Sedimentada nos princípios da gestão federalista, a SENASP tem por meta
elaborar e efetivar ações estruturantes através da operacionalização do SUSP visando
mudanças e reformas nos organismos policiais, herdeiros de uma cultura militarizada e
da Doutrina de Segurança Nacional. Segundo a Síntese do Relatório de Atividades da
SENASP (2003, 2004 e 2005, p. 37-38), vem
[a]tuando em um contexto de consolidação do sistema democrático brasileiro, a SENASP não possui apenas a função de executar ações direcionadas para a melhoria da situação de segurança pública no Brasil. É responsável também por promover a estabilidade democrática em seu campo de atuação. Nesse contexto, a SENASP pode ser vista como um órgão que executa a articulação e a mediação das relações estabelecidas entre diferentes grupos sociais que incorporam especificidades quanto à identificação de problemas e soluções sobre a área de segurança pública no país. Por essa razão, optamos por uma gestão pautada na ação técnica e operacional distanciando-nos e protegendo-nos dos interesses políticos imediatistas que privilegiavam uma visão parcial da questão. Ao invés de realizar investimentos que nos levassem a adquirir “mais do mesmo” e que nos levaram ao estado de coisas que vivemos na segurança pública atualmente, desenvolvemos ações estruturantes da reforma das polícias no Brasil.
As mudanças mais profundas na Segurança Pública, que demarcarão o
fim do modelo de polícia criado nos períodos autoritários, exigem o estabelecimento
de um novo marco legal para o setor de segurança. A proposta do SUSP é de colocar
mais policiais nas ruas, com melhoria na qualidade e na eficiência do serviço público
prestado, garantindo-lhes salários compatíveis com a importância da profissão. A meta
é se ter profissionais mais motivados, para não ser preciso fazer o serviço extra (o
51
bico) para complemento o salário. A otimização de recursos propiciará o
aprimoramento do aparelho policial com melhorias tecnológicas e investimento no
material humano e logístico.
De acordo com o PNSP (Instituto de Cidadania/2003), no Estado de
Direito a segurança pública constitui-se num bem democrático, legitimamente
desejado por todos os setores sociais, um direito fundamental da cidadania, obrigação
do Estado e responsabilidade de cada um de nós. Compete ao Estado promovê-la como
um bem comum, atuando no âmbito social e assegurando a paz social que
freqüentemente é ameaçada. O Estado, através dos organismos policiais e do CBM,
tem por objetivo garantir a defesa social e preservar a paz pública, mantendo a ordem,
a tranqüilidade e protegendo pessoas e patrimônios. Deste modo, a função estatal
pública relativa à segurança pública é prevenir e reprimir a violência e a criminalidade,
assegurando o cumprimento efetivo e o exercício legal dos poderes e autoridades
constituídos.
Ainda, segundo o PNSP/2003, para a melhoria no âmbito da
segurança pública, o Governo Federal considera essencial a reforma nos organismos
policiais visando torná-los mais eficientes, respeitadores dos Direitos Humanos e
voltados para a construção da paz ao invés de organismos que vejam o seu próximo
como inimigos em potencial. Nesse sentido, o PNSP/2003 do Governo Federal
considera ser necessário à efetivação de políticas públicas de segurança que acolham a
participação multidisciplinar e interinstitucional, envolvendo, além de policiais, outros
setores governamentais, entidades da sociedade, movimentos sociais e organizações do
52
terceiro setor, incluindo também a contribuição das universidades com pesquisas
voltadas para a área. Além disso, “[o] Programa de Segurança Pública para o Brasil
propõe que o instrumento fundamental para a efetivação das referidas mudanças nas
polícias brasileiras é a educação”6.
Essas propostas estiveram explícitas durante a campanha eleitoral de
Lula em 2002, dentro de um outro programa do governo federal para a segurança
pública, o SUSP. Todavia, na prática, pouco se tem tido reformas nessa área, pois, a
verdadeira segurança pública depende do respeito pelos direitos humanos de todos.
Isso implica proteger as pessoas de serem mortas e de sofrerem violência em todas as
suas formas (Relatório da Anistia Internacional – AI, 2005). É necessário ressaltar que
[p]romover uma reforma das polícias não é uma ação tão simples de ser executada, pois não envolve apenas ações de modernização tecnológica, treinamento de policiais e reaparelhamento das organizações de segurança pública. Essa reforma pressupõe a realização de uma mudança na cultura das Polícias em todo o Brasil. Esse processo é lento e complexo. Envolve uma mudança de paradigma na área de segurança pública. Porém, mesmo nesse sentido, já temos sinais que nos permitem identificar que a mudança vem ocorrendo. Hoje, muitas organizações de segurança pública no país elaboram suas ações tendo como pano de fundo a análise dos resultados alcançados. Um dos temas de maior freqüência de curso de capacitação dos policiais no Brasil é o dos Direitos Humanos. Dessa forma, identificamos que as forças policiais começam a entender que a segurança pública não é apenas ‘assunto de polícia’. Pela primeira vez, tivemos uma apreciação das Nações Unidas quanto ao processo de formação de Direitos Humanos empreendido na área de segurança pública no Brasil (MJ – SUSP – SÍNTESE DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2003/2004/2005, P. 37).
É necessário ressaltar que a segurança pública no Estado Democrático
de Direito é um programa ideal para garantir a ordem e a incolumidade das pessoas.
Contudo, segundo Castel (2005), esse programa não pode erradicar plenamente a
insegurança porque, para fazê-lo, seria necessário que o Estado controlasse todas as
possibilidades individuais e coletivas de transgressão da ordem social. Castel
6 Ministério da Justiça – MJ, SENASP. Relatório de Atividades 2003/2004/2005, p. 9
53
esclarece, ainda que a questão da segurança e da insegurança segue o paradigma
proposto por Hobbes, ou seja, a total segurança somente pode existir se o Estado é
Absoluto, isto é, se o Estado tem o direito e o poder de erradicar irrestritivamente
todos os desejos efêmeros, fantasias e ilusões que atentem contra a segurança das
pessoas – segurança civil e dos bens – segurança social. Por outro lado, caso o Estado
se torne mais ou menos democrático colocando, conseqüentemente limites ao seu
irrestrito poder, evitando o despotismo e o totalitarismo, as liberdades individuais e
coletivas de seus membros infringirão a ordem social e a segurança jamais será plena
no âmbito público.
Ainda, segundo Castel (2005), um Estado Democrático e de Direito é
impedido de ser protetor a qualquer modo e a qualquer custo, pois caso o seja, esse
Estado passa a ser também totalitário ou despótico. A existência de princípios
constitucionais, a institucionalização da separação dos poderes, o cuidado de se
respeitar o direito no uso da força, incluindo a pública, põem tantos limites ao
exercício de um poder absoluto e criam indireta, mas necessariamente, as condições de
uma certa insegurança. Um exemplo citado por Castel é o controle da magistratura
sobre a polícia que se enquadra nas formas de intervenção e limita suas liberdades.
Outro fator que favorece a insegurança, em geral, paira na possibilidade do
delinqüente tirar vantagem do cuidado de se respeitar as formas legais e a impunidade
da qual se beneficiam alguns delitos é uma conseqüência quase necessária da
sofisticação do aparelho judiciário. Além disso,
[o]s ‘bairros sensíveis’ cumulam os principais fatores de insegurização: altas taxas de desemprego, empregos precários e atividades marginais, habitat degradado, urbanismo sem alma, promiscuidade entre os grupos de origem étnica diferente,
54
presença permanente de jovens ociosos que parecem exibir sua inutilidade social, visibilidade de práticas delinqüentes ligadas ao tráfico de drogas e às receptações, freqüência das ‘incivilidades’ dos momentos de tensão e de agitação e dos conflitos com as ‘forças da ordem’, etc. A insegurança social e a insegurança civil coincidem aqui e se entretêm uma à outra (CASTEL, 2005, p. 55).
Com efeito, o fato é que quanto mais um Estado se afasta do modelo
Leviatã – absolutista – descrito por Hobbes (1983) e amplia seus princípios
democráticos, desenvolvendo uma aparelhagem jurídica complexa, mais corre o risco
de ludibriar a exigência de assegurar a proteção total de seus membros. Como destaca
Castel (2005), a busca da segurança absoluta põe em risco contradição os princípios do
Estado de Direito. Deste modo, a total segurança pública no Estado Democrático de
Direito é apenas uma utopia.
No entanto, espera-se que, pelo menos, a segurança pública relativa à
proteção pessoal e de propriedade seja garantida por esse Estado através de seus
organismos e instituições incubidos dessa tarefa. Seguindo o raciocínio de Castel (op.
cit), se é verdade que a insegurança é consubstancial numa sociedade de indivíduos, e
que se deve combatê-la, inevitavelmente, a fim de que esses indivíduos possam
coexistir em um mesmo conjunto, faz-se necessário a instituição de um Estado
equipado de um poder efetivo para desempenhar a função de prover as proteções e
garantias suficientes de segurança civil e social. Todavia, não se coaduna com a idéia
do Estado de Direito ser violado para que se tenha uma segurança pública eficaz. Ao
contrário, reafirmando Velho (2002, pp.26-27), “somente governantes legitimados
democraticamente pela sociedade civil e voltados para os direitos humanos terão
alguma possibilidade de exercer com sucesso o poder e a força contra a
criminalidade”.
55
1.2– Segurança pública no rol dos Direitos Humanos
Com o advento da redemocratização do País, pós-1985, e a
promulgação de sua Constituição, a ser fielmente cumprida, um dos grandes desafios
postos seria como o Estado brasileiro promoveria segurança pública garantindo e
respeitando os DH, em função do legado autoritário decorrente do regime militar e da
falta de reformas para adaptação desses organismos, ao novo regime de
governamentação.
Os DH são conquistas do ser humano na luta por melhores condições
de vida em sociedade. A história de luta por tais direitos vem desde a Antigüidade.
Segundo Faria (2003, p.53-54),
[a] história dos direitos da pessoa humana confunde-se com a luta da humanidade pela realização de seus anseios democráticos. Datam da mais remota antigüidade as primeiras iniciativas neste sentido. As primeiras compilações dos direitos surgiram como produto da fusão de várias fontes, desde as mais remotas tradições arraigadas nas antigas civilizações, até a conjugação dos pensamentos filosófico-jurídicos e do ideário cristão com o direito natural. Essas fontes fluíam a um ponto fundamental comum: a necessidade de limitação e controle dos abusos de poder do estado e da autoridade constituída e a consagração dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes do estado moderno contemporâneo... Falar em direitos humanos ou direitos do homem e, afinal, falar de algo que é inerente à condição humana, independentemente das ligações com particularidades determinadas de indivíduos ou grupos.
Todavia, a conquista desses direitos se deu, sobretudo com a fundação
do Estado-Nação, pós-Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789). Direitos
Humanos dizem respeito essencialmente às conquistas de meios necessários à
manutenção da vida e, muito mais, da vida vivida com dignidade. Ao longo da
historicidade dos DH, é perceptível sua inserção e inscrição nos textos constitucionais
mediante Declarações de Direitos do Homem, aprovadas pelos EUA em 1776, pela
Assembléia Nacional Francesa, em 1789 e pela Declaração Universal dos Direitos do
56
Homem, aprovada pelas Nações Unidas, em 1948. Para nós brasileiros, grande parte
desses direitos está inserida na CF de 1988. Com o advento do Estado Moderno e
conseqüente superação da sociedade estamental e o surgimento de um modelo de
sociedade individualista, os DH passaram a ser garantidos formalmente, com esteio em
Declarações e outros documentos produzidos ao longo da construção do Estado-Nação
(Châtelet, Duhamel & Psier-Kouchner, 2000).
Com efeito, os DH são diferentes dos direitos do cidadão, isto porque
esses são de caráter natural, universal, histórico e, também indivisível e
interdependente. Por outro lado, os direitos do cidadão são aqueles atribuídos
individualmente como membros de dada sociedade, nacionalidade. “Mas Duguit
sustenta que os diretos do cidadão não são distintos dos direitos do homem” (FARIAS,
2003, p. 54). Conforme Soares (1998), os DH são indivisíveis e interdependentes na
medida em que são acrescentados aos outros direitos fundamentais da pessoa humana
não podendo mais serem fracionados ou direcionados para um grupo, classe social,
indivíduos, etnia ou a qualquer outro separadamente. Os DH são diferentes dos direitos
e deveres pertencentes à conquista da cidadania.
E quais são esses DH que, já insisti, são universais, comuns a todos os seres humanos sem distinção alguma de etnia, nacionalidade, cidadania política, sexo, classe social, nível de instrução, cor, religião, opção sexual, ou de qualquer tipo de julgamento moral? São aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano. Já estamos acostumados aceitar o tipo de denúncia por racismo, por sexo, ou por nível de instrução etc. Mas a não-discriminação por julgamento moral é ainda uma das mais difíceis de aceitar; é justamente o reconhecimento de que toda pessoa humana, mesmo o pior dos criminosos, continua tendo direito ao reconhecimento de sua dignidade como pessoa humana. É o lado mais difícil mais difícil no entendimento dos Direitos Humanos. O fato de nós termos um julgamento moral que nos leve a estigmatizar uma pessoa, mesmo a considerá-la merecedora das punições mais severas da nossa legislação, o que é natural e mesmo desejável, não significa que tenhamos que excluir essa pessoa da comunidade dos seres humanos (SOARES, 1998, p. 42).
57
De acordo com Lafer (1991), os DH são classificados em primeira, segunda,
terceira e quarta gerações. Os DH da primeira geração são os direitos civis e políticos
surgidos no final do século XVIII pós-Revoluções Americana e Francesa. São direitos
individuais fundamentados no contratualismo do Estado liberal. São vistos como direitos
inerentes ao indivíduo e tidos como direitos naturais, uma vez que antecedem o contrato
social. Esses direitos foram formalizados contra o poder absoluto do Estado de tudo poder
fazer, inclusive, sem leis regulamentadoras ou com leis próprias de um tirano. A formalização
desses direitos possibilitou a liberdade de associações que formaram posteriormente os
partidos políticos e os sindicatos e demais agremiações.
Os DH de segunda geração, ou direitos socioeconômicos surgiram a partir
do século XX, como reivindicação do “bem-estar social”. Esses direitos são a garantia de
trabalho, saúde, educação, segurança civil etc. São direitos a serviços públicos que o
indivíduo como sujeito ativo deve exigir do Estado como sujeito passivo que os faça cumprir.
...podem ser encarados como direitos que tornam reais direitos formais: procuram garantir a todos o acesso aos meios de vida e de trabalho num sentido amplo, impedindo, desta maneira, a invasão do todo em relação ao indivíduo, que também resulta da escassez dos meios de vida e de trabalho (LAFER, 1991, p. 127-128).
Os direitos sociais foram reconhecidos como dever do Estado desde a
promulgação da Constituição Francesa de 1848, no período que ficou conhecido como
o da Revolução Social na Europa em função da onda de movimentos sociais por
melhorias trabalhistas, sobretudo na França. Contudo, esses direitos sociais
considerados como um legado do socialismo, somente vai estar presente nos textos
constitucionais no século XX, como conseqüência das Revoluções: Mexicana, em
1917, Russa, em 1918 e com a Constituição de Weimar, em 1919 (idem, ibidem).
58
Os DH de terceira geração e quarta geração, analisados por Lafer (op.
cit.) são direitos cujo titular é a coletividade. Neste sentido, esses DH tem como titular
sujeitos diferentes do indivíduo, isto é, são grupos humanos como o povo, a família, a
associação, o sindicato, a nação, coletividades regionais e a própria humanidade.
Conforme Bobbio (1992a), a universalização e abrangência dos DH vão se dá a partir
do fim da 2ª Guerra Mundial devido ao aumento da quantidade de bens merecedores
de tutela; a extensão da titularidade de alguns direitos humanos típicos a sujeitos
diversos do homem individual, os direitos da coletividade. Daí por diante vão
surgindo, gradativamente diversas declarações de DH às coletividades, como da
criança, do doente mental, do doente físico, da mulher etc.
Retornando ao pensamento de Farias (2003), diversos pensadores têm
desenvolvido inúmeras teorias com o objetivo de justificar e esclarecer os
fundamentos dos DH. Destacando-se entre essas teorias a jusnaturalista, a positivista e
a moralista. A jusnaturalista fundamenta os DH em uma ordem superior universal,
imutável e inderrogável, são de caráter natural e estão presentes na consciência de cada
ser humano. Deste modo, os DH não são criação de legisladores, tribunais ou juristas.
Em contrapartida, a teoria positivista busca sedimentar a existência dos DH dentro de
uma ordem normativa, como legítima manifestação da soberania popular. Neste
sentido, apenas aqueles direitos expressamente previstos e definidos no ordenamento
jurídico positivado devem ser considerados como Direitos Humanos. Por último, a
teoria moralista fundamenta a existência dos DH na própria experiência e consciência
moral de um determinado povo. A formulação das leis tem como base a observação da
conduta e da prática consuetudinária dos indivíduos e das coletividades.
59
Entretanto, segundo Moraes (2000), a inigualável importância dos DH
não permite nenhuma nem outra teoria, isoladamente, explicá-los ou fundamentá-los.
Essas teorias são por demais insuficientes para fundamentar os DH de forma genérica
e definidora. O que há de ser procedido é uma fusão dessas teorias e outras que, por
ventura busquem fundamentar com maior eficácia a construção e realização dos DH.
[n]a realidade, as teorias completam-se, devendo coexistirem, pois somente a partir da formação de uma consciência social, baseada principalmente em valores fixados na crença de uma ordem superior, universal e imutável, é que o legislador ou os tribunais encontram substrato político e social para reconhecerem a existência de determinados direitos humanos fundamentais como integrantes do ordenamento jurídico (FARIAS 2003, p. 58).
Com efeito, a abordagem acerca de DH tem sido exaustivamente
produzida nos meios acadêmicos, nas associações de bairros, lideranças comunitárias,
mecanismos e representações governamentais, Organizações não- Governamentais –
ONGs, organismos internacionais, constituições dos países, enfim, num amplo leque
de considerações oficiais e não oficiais. A guisa de exemplo, a Constituição brasileira
de 1988 traz, em seu artigo 5º com 77 incisos, 24 alíneas e dois parágrafos, referências
aos direitos e deveres individuais e coletivos. Desses direitos cinco são destacados: o
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Estes direitos
figuram como os principais ou fundamentais. Os demais direitos enunciados nos
outros incisos constitucionais são derivações desses Direitos fundamentais universais e
inalienáveis.
Entretanto, apesar da universalidade dos DH, é facilmente perceptível
que, via de regra, quem mais se empenhou e se empenha na defesa dos DH pertencem
à classe burguesa. Este fato se dá em razão do caráter individualista e do
60
contratualismo liberal exercido pela classe burguesa por ocasião de sua ascensão e
derrubada da classe nobre, pós-Revoluções Americana (1776), Revolução Francesa
(1789) e da Revolução Liberal Socialista na França em (1848). Deste modo,
[p]or causa de sua raiz liberal e individualista, grande parte da luta pelos direitos humanos, até os dias de hoje, se concentra em alguns eixos que interessam mais às classes burguesas, como são os direitos à liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de propriedade. Apesar de serem direitos e valores inalienáveis, há que se reconhecer são direitos exercidos preferencialmente pelos poderosos e não por todos. Por isso, o poder público e as entidades de defesa e promoção dos direitos humanos, acompanhando a tendência internacional, vêm discutindo e implementando projetos e programas que visam a garantia dos direitos econômicos, sociais e difusos, entendendo que são fundamentais para a garantia da dignidade do ser humano, principalmente da grande maioria do nosso povo que se encontra excluída e marginalizada. De fato, de que vale o direito à vida sem o provimento de condições mínimas de uma existência digna, se não de sobrevivência (alimentação, moradia, vestuário?) De que vale o direito à liberdade de locomoção sem o direito à moradia adequada? De que vale o direito de expressão sem o acesso à instrução e educação básica? De que valem os direitos políticos sem o direito ao trabalho? (SOUZA, 2002, p. 16).
Com efeito, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada
pelas Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, em Paris, portanto, logo após a
Segunda Guerra Mundial, foi resultado de uma complexa correlação de forças
políticas. Sabe-se que por ocasião da Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas
se aliaram a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS contra o
avanço das forças nazi-fascistas. Todavia, após 1945, houve a bipolaridade pela qual o
mundo foi dividido em dois blocos: o dos países capitalistas, liderados pelos EUA e o
bloco dos países socialistas, liderados pela ex-URSS, consolidando o processo da
chamada “Guerra Fria”.
Assim dentro de um contexto de hegemonia dos EUA (e junto com a formulação da Doutrina Truman, do Plano Marshall e, logo depois, do tratado da OTAN), a formulação dos Direitos Humanos pode ser entendida como uma proposta originária das concepções liberais e democráticas ocidentais, contrapondo-se às ideologias socialistas e também ao nazi-fascismo recém derrotado (RODRIGUEZ, 1998, p. 89-90).
61
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 1948,
teve como inspiração originária a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte Francesa, em 26 de agosto de 1791.
Nesta Declaração os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, foram
definidos e expostos. Na realidade, os DH e demais direitos de cidadania estão
descritos, definidos e fundamentados numa multiplicidade de documentos, o problema,
como acentua Bobbio (1992a, p.25), trata-se de saber “qual é o modo mais seguro para
garantí-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam
continuamente violados”.
1.2.1 – A segurança pública como direito fundamental
Para efeito de abordagem neste trabalho, destaca-se o direito de
segurança à pessoa humana como direito fundamental citado no texto da Declaração
Universal dos Direitos do Homem (1948), artigo 3: “Todo homem tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal”. No caso da segurança pública, esta é definida e
prevista como “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”, no artigo
constitucional, de nº. 144, da CF brasileira. O direito à segurança pública é a garantia
fornecida a pessoa humana de que tanto ela, física e juridicamente, como seus bens e
seus direitos não serão violentados, sob pena de reparação de danos tanto por
particulares quanto pelo poder público. Retomando a discussão lançada no primeiro
parágrafo deste tópico, a questão central é como a segurança pública inserida no rol
dos DH é efetivada. A falta da garantia do direito à vida, à segurança individual física
e jurídica viola frontalmente os DH.
62
No âmbito da segurança pública, segundo Carvalho (2002), o
problema se agrava em função da inadequação dos órgãos responsáveis diretamente
pela promoção desse serviço, como polícia militarizada, treinada para exterminar o
inimigo e não para proteger as pessoas e policiais tanto civis como militares que são
denunciados constantemente por crime de extorsão, de corrupção, abuso de autoridade,
prisões ilegais etc. A insegurança possibilitada pelo Estado brasileiro tem sido uma
constante.
No âmbito do Poder Judiciário, também há problemas crônicos. O
acesso à justiça é privilégio de uma pequena parcela da população. A maioria do povo
ou desconhece seus direitos, ou, se os conhece, não tem condições de usufruí-los de
maneira plena e satisfatória.
Os poucos que dão queixa à polícia têm que enfrentar depois os custos e a demora do processo judicial. Os custos dos serviços de um bom advogado estão além da capacidade da grande maioria da população. Apesar de ser dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica gratuita aos pobres, os defensores públicos são em número insuficiente para atender à demanda. Uma vez instaurado o processo, há o problema da demora. Os tribunais estão sempre sobrecarregados de processos, tanto nas varas cíveis como nas criminais. Uma causa leva anos para ser decidida. O único setor do Judiciário que funciona um pouco melhor é o da justiça do trabalho. No entanto, essa justiça só funciona para os trabalhadores do mercado formal, possuidores de carteira de trabalho. Os outros que são cada vez mais numerosos, ficam excluídos. Entende-se, então, a descrença da população na justiça e o sentimento de que ela funciona apenas para os ricos, ou antes, de que ela não funciona, pois os ricos não são punidos e os pobres não são protegidos (CARVALHO, 2004, p. 214-215).
Num sentido amplo, é possível se afirmar que o Estado brasileiro é o
primeiro a violar os DH. O abandono de milhões de crianças e adolescentes sem
acesso à educação, à moradia digna, à saúde e à segurança; às discriminações raciais;
os precários serviços públicos dispensados à maioria da população, sobretudo a pobre,
63
preta e periférica e a negação de acesso ao trabalho digno etc. demonstram que o
Estado brasileiro, apesar do esforço dos últimos governos no regime democrático,
ainda continua violando os DH.
Recentemente o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos – OEA pela ação e
omissão da morte, em 1999, de Damião Ximenes Lopes nas dependências da Casa de
Repouso Guararapes, na cidade de Sobral-CE., distante 233 km de Fortaleza. Na
época, Damião Ximenes tinha 30 anos de idade e era paciente psiquiátrico. Segundo
denúncias da família, Damião teria sofrido maus-tratos, tortura e fora atendido de
forma negligente pelos médicos e enfermeiros da clínica Casa de Repouso Guararapes,
o que teria resultado na morte dele três dias após ter entrado naquele hospital
credenciado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Por essa violação aos DH, o Brasil foi condenado a pagar à família de
Damião Ximenes Lopes e a fazer melhoria no atendimento psiquiátrico. Por outro
lado, o Estado brasileiro, no julgamento ocorrido em San José, na Costa Rica, foi
acusado de violar quatro artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos: o 4º -
o direito à vida, o 5º - direito à integridade física, o 8º - direito às garantias judiciais e
o 25º - direito à proteção judicial. O reconhecimento da responsabilidade parcial do
Estado brasileiro refere-se aos artigos 4º e 5º, haja vista que a violação do direito à
vida e à integridade física foi conseqüência da ineficiência e insuficiência de
resultados positivos na efetivação de políticas públicas de reforma da saúde mental por
parte do Estado brasileiro. Esta foi a primeira vez que o Brasil foi denunciado à Corte
64
e, pela segunda vez, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A
ação teve como autores a própria Comissão, a irmã de Damião, Irene Ximenes Lopes,
e o Centro de Justiça Global – ONG dedicado à promoção da justiça social e dos
direitos humanos no Brasil.
Para o então Deputado Estadual do PT/CE, João Alfredo, que atuou
como testemunha de acusação, a condenação do Brasil pela morte de Damião foi
significativa por dois motivos principais: além da indenização à família de Damião
Ximenes Lopes, essa condenação abre um precedente para outras pessoas, também
vítimas da omissão da justiça brasileira, a recorrerem à Corte Americana de Direitos
Humanos. O Estado do Ceará por esse crime paga uma pensão no valor de um salário
mínimo à mãe de Damião Ximenes, desde 20057.
Quanto ao uso dos organismos de segurança pública parece paradoxal
sua relação com a garantia e proteção aos DH, pois suas reais funções são repressoras
7 Jornal Diário do Nordeste, 07/01/2006, p. 13 -, Cidade
65
quando no atendimento dos interesses do Estado. O limite às liberdades de expressão
em certas ocasiões como nos movimentos grevistas é um exemplo freqüente do que se
afirma aqui. Como nos informa Farias (2003), o Estado deve ser feito para o ser
humano e não este para o Estado. Ao ser humano deve ser possibilitado fiscalizar o
poder do Estado mediante conhecimento da subjetividade jurídica do homem, dos
direitos humanos e de cidadania. Os DH não podem ser pervertidos pelo poder jurídico
a mando do poder político e nem devem ficar restritos à uma validade formal. Na
proporção em que a ordem política é injusta e o Estado viola sua máxima função de
proteger e garantir os direitos de vida digna a seus cidadãos, esse Estado torna-se
também arbitrário e não tem razão de existir.
A falta de segurança pública ou a sua ineficiência denota grave
desrespeito por parte do Estado legal que demonstra ser ineficaz para proteger seus
cidadãos e seus bens. Não é demasiado lembrar a pesquisa mencionada na introdução
deste trabalho sobre a violência-criminal divulgada na Sétima Conferência Mundial
(2004), para a Promoção de Segurança e Prevenção da Violência pela Organização
Mundial de Saúde – OMS. A pesquisa demonstra que a violência criminal no Brasil
devia ser tratada como o segundo maior problema a desafiar o governo brasileiro,
ficando atrás apenas do desemprego. Nessa pesquisa ficou comprovado que 10,5% do
Produto Interno Bruto – PIB são gastos com a segurança pública (Jornal Diário do
Nordeste, de 10/06/04). No entanto, o que se vê e se registra é o aumento exacerbado
da criminalidade e em todos os espaços do país de forma cada vez mais sofisticada e
enigmática. Noutra pesquisa mais recente divulgada pelo “Jornal Folha de São Paulo”
mostra que a Segurança/ Violência é a maior preocupação dos brasileiros. Segundo a
66
pesquisa, dos 5.700 entrevistados pelo Instituto Datafolha, 31% responderam
espontaneamente que a falta de Segurança é o maior problema do País. Neste sentido,
o desemprego, que até 13 de dezembro de 2006, conforme levantamento do mesmo
Instituto era apontado como o maior problema do País passou para segundo lugar8.
Segundo outra pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, a expansão da criminalidade no Brasil, além de assustadora, vem
causando perdas irreparáveis. Citando Estados da Região Sudeste, a pesquisa
demonstra que no Rio de Janeiro, por exemplo, as mortes por causas externas e
violentas, sobretudo homicídios, reduziram em quatro (04) anos e um (01) mês a
expectativa de vida do sexo masculino ao nascer. No Estado de São Paulo o índice de
redução de vida é de três (03) anos e a média geral é de dois (02). A referida pesquisa
destaca que o crescimento de homicídios no País, nos últimos vinte anos (até 2004), é
de 130%, dos quais 82% das vítimas são do sexo masculino; 58,03% dos homicídios
se concentram no Sudeste e que no período de 1991 a 2000, o crescimento dos
assassinatos por armas de fogo foi de 95%. Outro dado da pesquisa é que a Síntese de
Indicadores Sociais – SIS, constatou que na década de 1980, a causa externa principal
8Pesquisa realizada pelo Datafolha de 26/03/2007, p. 08 chega à conclusão que segurança é a maior preocupação dos cidadãos: 25% consideraram a segurança/violência a área de pior desempenho de Lula. O índice de avaliação ótimo/bom de Lula caiu 4 pontos (52% para 48%). Do G1, em São Paulo Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (25) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra que a segurança/violência é a maior preocupação dos brasileiros. Dos 5.700 entrevistados pelo instituto, 31% (resposta espontânea) disseram que este é o maior problema do país. O quesito segurança/violência saltou 15 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, que foi realizado em 13 de dezembro de 2006. O desemprego, que era apontado como maior problema do país nas pesquisas anteriores, caiu para o segundo lugar (22%). O Datafolha indica ainda que a preocupação com a saúde diminuiu entre os brasileiros. Dessa vez, 11% apontaram a saúde como o maior problema do país, contra 17% da pesquisa anterior. A educação aparece em quarto lugar, com 9%, e a fome/miséria, em quinto (7%). Além disso, 25% dos entrevistados consideraram a segurança/violência a área de pior desempenho do governo Lula. O índice é mais do dobro da pesquisa anterior, em que 11% haviam apontado a segurança/violência como a área mais ineficiente do governo. Segundo o levantamento do Datafolha, a saúde é apontada por 14% dos entrevistados como a área de pior desempenho do atual governo. Na seqüência, aparecem o combate ao desemprego (13%), a educação (7%) e o combate à corrupção (3%). Para 14% dos entrevistados, o melhor desempenho do governo Lula acontece no combate à fome e à miséria. Já 12% apontaram a educação como área mais eficiente do petista. Depois, aparecem o social/programas sociais (10%), a economia (8%) e a saúde (4%). Em relação à avaliação do governo Lula, o Datafolha mostra que o índice ótimo/bom caiu quatro pontos percentuais, de 52% para 48%. Já 37% dos entrevistados consideraram regular, contra 14% que apontaram o desempenho do presidente como ruim/péssimo. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 20 de março em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
67
das mortes masculinas era os acidentes de trânsito. Na década de 1990, a mesma
pesquisa verificou ter sido os homicídios. Outro dado não alentador é que a pesquisa
também constatou que na década de 1980 para a de 1990, o aumento das mortes
violentas no Brasil pela ação humana ativa passou de 11,7 para 27, 00 para cada cem
(100) mil habitantes, ou seja, mais do dobro9.
Contra jovens a violência criminal mata mais do que a guerra. Sabe-se
que declaradamente no Brasil não há conflito armado ou guerra civil. Entretanto, a
quantidade de jovens mortos violentamente faz do Brasil uma nação em estado
constante de guerra silenciosa. Por ano quatorze (14) mil adolescentes entre os 12 e 19
anos são vítimas de morte violenta. As causas maiores nascem no seio da família com
o incremento da violência doméstica e deságua na comunidade. Todas essas
estatísticas confirmam que a criminalidade é crescente e ameaça a tranqüilidade de
todos sem distinção de classe social, etnia, sexo, credo etc.
Poucos problemas sociais mobilizam tanto a opinião pública como a criminalidade e a violência. Não é para menos. Este é um daqueles problemas que afeta toda a população, independentemente de classe, raça, credo, religioso, sexo ou estado civil. São conseqüências que se refletem tanto no imaginário cotidiano das pessoas como nas cifras extraordinárias representadas pelos custos diretos da criminalidade violenta. Receosas de serem vítimas de violência, elas adotam precauções e comportamentos defensivos na forma de seguros, sistemas de segurança eletrônicos, cães de guarda, segurança privada, grades e muros altos, alarmes, etc. Já se disse que o presídio tornou-se modelo de qualidade residencial no Brasil (BEATO FILHO, 1999, p. 13).
Os dados mostram com clareza que a violência criminal no Brasil é
um dos problemas sociais mais graves vivido em todas as esferas da vida, seja ela
privada ou pública sendo que a concentração do problema se acentua com maior
intensidade nos grandes centros urbanos com mais de cem (100) mil habitantes. Nessa
dimensão, a criminalidade também se torna um problema público cujo maior
9 Jornal Diário do Nordeste de 14/04/2004, p. 06, - Nacional, visitado em 14/11/2007
68
responsável em contê-lo é o Estado via poder público delegado às instituições estatais
(ibidem).
Embora o Brasil apresente apenas 3% da população planetária é
responsável por cerca de 11% dos homicídios em escala mundial. Segundo relatório da
Organização dos Estados Ibero-Americanos – OEI, entre 84 países, o Brasil encontra-
se na 3ª posição, estando os jovens no auge desse ranking. Uma pesquisa divulgada
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, em dezembro de 2004,
esclarece que a violência criminal contra jovens no Brasil mata mais do que guerras. A
quantidade de adolescentes mortos de maneira violenta faz do Brasil uma nação em
estado permanente de guerra não declarada de direito, mas real de fato. A pesquisa
revelou que em média, por ano, 14 mil adolescentes de 12 a 19 anos morrem de causa
violenta e que essa triste realidade faz parte do ciclo da violência que cresce nas
comunidades e nasce, muitas vezes, no seio das famílias desordenadas e desassistidas
ou excluídas, socialmente10.
Segundo, ainda o mesmo Relatório, de 1994 a 2004, os homicídios
entre os jovens cresceram 64%. A taxa de homicídios entre os jovens de 15 e 24 anos
na década de 1980 era de 30 por cada 100 mil habitantes, na década de 1990 subiu
para 32, 5 e na década de 2000 aumentou para 52. De 1993 a 2002, o nº. de jovens
assassinados nessa mesma faixa etária cresceu 88,6%. Na população geral, o
crescimento foi de 62,3%, índice superior a 4 vezes o aumento da população.. Numa
análise procedida em 57 países, o Brasil ocupa o 3º lugar, atrás de Venezuela e Porto
Rico. Outra constatação desse Relatório foi que 93% dos jovens mortos no País são
10 Jornal Diário do Nordeste de 10/12/2004, p. 18, - Cidade
69
homens e, entre estes, a maioria absoluta é negra. As causas principais são:
homicídios, acidentes de trânsito e suicídios11.
Corroborando com essa realidade indesejada, Waiselfisz (2006)
afirma que mais de 20% da população jovem não estuda nem trabalha. Segundo
Waiselfisz, isso significa rua, bares, álcool, droga, infração de normas etc. Os efeitos
sociais e políticos da matança desordenada de jovens no País podem ser mensurados
em quatro dimensões: 1) erosão de capital social; 2) transmissão de violência entre
gerações (neste caso a violência endemiza-se); 3) redução da qualidade de vida; e, 4)
comprometimento do processo democrático. Com efeito, a quantidade de jovens
mortos no País significa uma enorme tragédia social. Como resume Waiselfisz (2006),
ao perder seus jovens, a nação perde seu cérebro, ideário, força de trabalho; as
famílias, além de perder seus filhos, as esposas perdem cônjuges e mais filhos ficam
órfãos e mais problemas sociais ocorrerão.
Essa realidade contraria, inclusive, os postulados da Lei Federal
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que em seu artigo 7º prevê
que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e a saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Além disso,
a matança ou a insegurança de jovens no Brasil significa a violação dos DH previstos
também no artigo 15, do ECA quando prevê que a criança e o adolescente têm direito
à liberdade, ao respeito à dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na
11 Fonte: Mortes matadas por arma de fogo no Brasil: 1979-2003. UNESCO
70
Constituição e nas leis. Os direitos universais e inalienáveis previstos nos vários documentos
descritos neste tópico parecem não ter validade na prática.
O embate entre direitos humanos e segurança pública tem sido um dos pontos cruciais na efetiva instauração do estado de Direito. É preocupante, entretanto, o fato de que, para uma boa parcela da população e dos responsáveis pela segurança pública, os defensores dos direitos humanos preservam, em última instância, a impunidade do “criminoso” e se opõem, sistematicamente, a todo esforço de contenção da criminalidade. Por outro lado, estes representantes tentam mostrar que não defendem a impunidade, mas sim que o sistema de segurança seja competente, use a força segundo as necessidades e trabalhe dentro dos princípios da lei. (BARREIRA, 2004, p. 26).
Os DH, de maneira geral, sob a ótica, muitas vezes, do senso comum
no seio da sociedade, além de pouco conhecidos e debatidos ainda está envolto de
concepções arcaicas e cobertas de interpretações levianas e perigosas. Deste modo, o
Estado Democrático de Direito não se consolida numa sociedade que desconhece e
desrespeita os DH. Como acentua Soares (1998), esse tema permanece prejudicado e
deturpado no seio da opinião pública graças a manipulação ensejada por classes
poderosas. É de interesse dessas classes que o obscurecimento e a visão distorcida
sobre os DH continuem, pois isso é pedra base para a continuação das profundas
desigualdades sociais e a prevalência da enorme distância existente entre os extremos
(base e o topo) da pirâmide socioeconômica, Daí a necessidade de associar
genericamente os DH com a bandidagem e a violência criminal. O entendimento
distorcido dos DH pode ser verificado numa pesquisa de campo realizada entre os
messes de agosto e setembro de 2007. O quadro apresentou as seguintes concepções,
sob a ótica de representantes da sociedade civil no quesito para que servem os DH?
1.2.2 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos
71
Com intuito de investigar o que pensa a sociedade sobre os DH,
realizou-se 100 entrevistas semi-reguladas com as mais diversas pessoas
representantes dos mais variados extratos sociais sobre qual o verdadeiro papel dos
Direitos Humanos. As entrevistas foram aplicadas a 50 pessoas da sociedade e 50 a
membros dos organismos policiais e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Foram
obtidas diferentes respostas com relação as reais funções do DH no Brasil. A pesquisa
foi intencional e ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2007, em três
municípios cearenses: Fortaleza (cidade de grande porte demográfico, com mais de
dois milhões de habitantes), Sobral (cidade de médio porte demográfico, com mais de
cem mil habitantes) e Ocara (cidade com menos de trinta mil habitantes). O objetivo
da pesquisa visa fazer as devidas comparações entre as diferentes visões e em seguida
tirar algumas conclusões e reflexões. A maioria dos entrevistados optou por não
revelar seus nomes, sobretudo os funcionários públicos. Nas tabelas abaixo estão
dispostos o resultado das referidas entrevistas.
Tabela 01.
Concepções Total de respostas % GeralResponderam que os DH servem para
proteger todas as pessoas.17 34%
Responderam que os DH servem apenas
para proteger bandidos15 30%
Responderam que os DH não funcionam
no Brasil10 20%
Responderam que os DH servem
somente para proteger os ricos.08 16%
Fonte: Pesquisa de campo – Entrevistas.
72
1.2.3 O que pensam profissionais de segurança pública sobre os Direitos
Humanos?
Tabela 02.
Concepções Total de
respostas
% Geral
Responderam que os DH servem para proteger todas as
pessoas.11 22%
Responderam que os DH não funcionam no Brasil. 14 28%Disseram que os DH servem apenas para proteger
bandidos.24 48%
Afirmaram que os DH servem somente para proteger os
ricos.01 2%
Fonte: Pesquisa de campo – Entrevistas.
Conforme demonstração da pesquisa de campo acima, das 50 pessoas
da sociedade entrevistadas, 15 (30%), respondeu que os DH servem somente para
proteger bandidos, sendo que apenas 17 pessoas (34%) respondeu que os DH são
destinados para proteger todas as pessoas, uma diferença ínfima de 4 pontos
percentuais, ou seja, 02 pessoas a mais. No quesito proteger ricos restou-lhe 08
pessoas (16%) e como os DH não funcionando no Brasil sobraram-lhe, entre os
entrevistados, 10 pessoas (20%). No cômputo geral, 66 % (33 pessoas), das 50 pessoas
da sociedade civil entrevistadas, não confiam ou possuem uma visão negativa e
negadora acerca dos DH. Com relação aos agentes dos órgãos de segurança pública
essa visão se agrava mais ainda. Dos 50 profissionais de segurança pública
entrevistados, 24 (48%) deles afirmaram que os DH somente funcionam para proteger
bandidos; 14 (28%) acreditam que os DH não funcionam no Brasil; 11 (22%) servem
73
para proteger todas as pessoas; e, 01 acredita que os DH servem apenas para proteção
dos ricos. Neste caso, 78% dos profissionais de segurança pública não dão
credibilidade aos DH e dispensam uma visão distorcida quanto ao principal objetivo da
função dos DH. Com efeito, das 100 pessoas entrevistadas, apenas 28 delas confiam na
real função dos DH.
Como o intuito de melhor representar a pesquisa acima, algumas falas
dos sujeitos-produtores de opinião entrevistados foram transcritas. A primeira se refere
à real função dos DH do ponto de vista de entrevistados dos organismos de segurança
pública:
Depois que inventaram esse negócio de direitos humanos a bandidagem tomou de conta. Esse tal de direitos humanos é a maior mentira. Só serve mesmo para proteger quem não presta. Esse pessoal dos direitos humanos são doidos é pra prejudicar a gente da polícia. Não se pode mais nem trabalhar com a perseguição desse povo. É por isso que tá do jeito que tá. Eu duvido se fosse na época do Assis Bezerra secretário se tinha esse negócio de direitos humanos. Bandido comia era tampado e tiau (sic) (Policial Civil).
Os direitos humanos buscam o equilíbrio entre os seres humanos em uma sociedade que maltrata os homens tirando-lhes os direitos de cidadania. É uma busca constante de igualdade social, um movimento que procura em um oceano de desigualdade a igualdade entre os seres humanos (Pastor da Assembléia de Deus).
Os direitos humanos são todos os direitos inerentes a condição de existir como ser humano. Dentre eles podemos destacar o direito à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade, à inviolabilidade da intimidade e do domicílio, ao laser e à cidadania. Os órgãos atrelados à fiscalização dos direitos humanos tem a função de fiscalizar o cumprimento do direito positivo relacionado a proteção dos direitos Humanos (sic) (Policial Militar).
É um grupo de advogados com intuito de deixar os problemas da melhor maneira resolvidos, mas não consegue. Não estão sabendo direito suas atribuições, pois só levam o tempo a prejudicar. Quando um bandido é morto ou preso no instante eles sabem procurar a família, chama a imprensa e procuram fazer alguma coisa, mas se for um policial que morrer eles parece que acham é bom. Então eu pergunto: cadê esses direitos humanos? Só tem direitos humanos se for bandido? (Professora da Educação Básica).
O que eu vejo é que esse tal de direitos humanos é uma maior mentira. Se não eles realmente buscavam proteger as pessoas contra os crimes, contra a corrupção
74
desses políticos sem vergonha que tanto roubam nosso país. Eu acho que eles tão é do lado deles também. São todos iguais, só querem é se dá bem se não arranjavam um meio do governo arranjar emprego para as pessoas e cadê? É só balela, todos são iguais (Jovem estudante do 3º ano).
As falas dos entrevistados acima correspondem a cinco pessoas (10%)
da amostra que foram transcritas ipsis literis, haja vista que as perguntas foram abertas
de modo subjetivo e as pessoas ficaram à vontade para escrever. Entre outras
concepções dos entrevistados é possível se perceber contradições. No caso em análise,
essas contradições aparecem tanto na categoria dos representantes da segurança
pública como nos da sociedade em geral. Essas contradições levam a algumas
reflexões a respeito dos DH. Será que existem ineficiências reais quanto ao
desempenho dos representantes dos DH para todas as pessoas? Ou existem realmente
interesses maiores desses representantes em atender uma ou outra classe social? De
acordo com os diferentes pontos de vistas dos entrevistados, existem algumas fissuras
contundentes com relação ao desempenho funcional dos representantes dos DH.
1.3 – Segurança pública e Cidadania
Após o fim da Guerra Fria (desmantelamento do bloco socialista em
1992), a segurança pública ganhou destaque no cenário mundial como sendo um
serviço público na defesa social garantidor das liberdades individuais e da cidadania.
Ocorre que se entender liberdades individuais e cidadania como direitos indispensáveis
e fundamentais à vida no Estado Democrático de Direito pode-se concluir que o
primeiro e maior responsável por essas garantias é o próprio Estado a quem se delegou
confiança para que ele protegesse de forma segura e plena seus súditos. Isto seria
realizado com base no contrato social entre ambas as partes (Rousseau, 1983).
75
Ora, num Estado Democrático de Direito ser cidadão significa gozar
dos direitos civis, políticos e sociais e, neste caso, a segurança pública está
indispensavelmente incluída nesses direitos, conforme delineia a própria CF do País.
No Brasil, conforme Carvalho (2004), ainda, não se conseguiu atingir essa meta, ou
seja, a sociedade brasileira não tem um aspecto de cidadania em sua plenitude, apesar
de se ter conseguido certo avanço com a redemocratização a partir de l985 e,
sobretudo com a efetivação da CF de 1988.
Considerando alguns aspectos concernentes à questão de cidadania no
Brasil, pode-se detectar que ela é em parte inexistente, pois, para que tal cidadania
exista efetivamente em uma sociedade, necessário se faz que essa mesma sociedade
disponha de uma democracia forte e efetiva. E quando é que uma democracia pode ser
considerada forte e efetiva? Referindo-se a descrição feita por Tucídides, sobre a
democracia em Atenas, as características pretendidas para a democracia eram:
autogoverno, igualdade política, liberdade, justiça, participação do cidadão comum no
governo da cidade, controle da ação dos governantes e prestação de contas das ações
do governo. Sabe-se que este tipo de democracia é questionado para sobreviver no
Estado Moderno, pois, como observa Bobbio (2000), essas características estão
relacionadas com a democracia direta e que esta inexiste no Estado atual, devido ao
tamanho de seu território e de sua população.
Com efeito, uma das características que permite o indivíduo ser
cidadão em sua plenitude é a liberdade de expressão, igualdade de participação na vida
76
política governamental somada com a garantia de proteção social. Deste modo, para
ser cidadão o indivíduo necessita não somente de segurança pública, mas participar
das decisões do corpo político, da cidade. Em Rousseau (1983), cidade é sinônimo de
República (do latim Res-pública: coisa pública) e é o corpo político que resulta da
associação de todos. Caso os cidadãos não participassem das decisões e não
contribuíssem para a construção da cidade não poderiam ser considerados cidadãos,
sob pena de cometerem o crime de lesa-majestade. Desta forma cidadania é uma
conquista que o indivíduo consegue com consciência e participação ativa nas decisões
administrativas na construção e formação da cidade, do todo coletivo, enfim, da
vontade geral da comunidade. Daí se entender que a cidadania plena depende de uma
democracia consolidada. Deste modo, a cidadania em países cujo processo
democrático não se completou, está em processo de conquista. Não se está falando de
cidadania jurídica, ou seja, de se ter um registro, um país para morar e poder votar,
está se falando de cidadania plena no âmbito do usufruto dos direitos civis, políticos e
sociais (Carvalho, 2004).
Corroborando com essa tese, Arendt (1987) reforça o argumento
aristotélico de que ser cidadão é ter a possibilidade concreta do exercício da atividade
política, ou seja, ser cidadão é poder governar e ser governado. A autora vai mais além
quando afirma que a cidadania é o primeiro direito humano fundamental dos quais
todos os outros direitos derivam. É o direito a ter direito. O conceito de cidadania não
está relacionado com território ou nacionalidade ou com o formalismo jurídico das
classes dominantes brasileiras que durante muito tempo perpassaram a idéia de que
cidadania reduz-se apenas ao exercício dos direitos políticos. Cidadania nesse sentido
77
é uma qualidade do ser humano que com ele não nasce, porém necessita ser
conquistada e ao sê-la não poderá ser anulada. Nesse caso se entende a cidadania como
uma qualidade social e não natural. Neste sentido, como aborda Pinheiro (1995),
cidadania advém do usufruto dos direitos civis, políticos e sociais somados com a
responsabilidade de se ter direitos e deveres. Reconhece-se que as conquistas nesse
campo pós-abertura política (1985) foram significativas, mas há muito que fazer,
ainda.
Sob esse prisma, a discussão sobre segurança pública e cidadania no
Brasil carece de uma análise mais apurada. A realidade da sociedade brasileira
demonstra uma “pobreza política” (termo de Pedro Demo) profunda. Isto pode ser
visto na falta de garantia dos direitos sociais básicos de sobrevivência, como
alimentação, moradia, saúde, educação e segurança. Como conquistar cidadania
“numa sociedade que não abre lugar para o indivíduo e o cidadão, uma sociedade na
qual a insegurança, a violência e a incivilidade são a regra da vida social?” (TELLES,
1993, p.16). Como observa Carvalho (2004), se se teve um avanço na conquista dos
direitos civis e políticos com a instalação da última República, pós-1988, continua-se
com graves deficiências na garantia dos direitos sociais.
Existem ainda no Brasil alguns “males de origem” (BOMFIM, 1993),
que emperram o exercício da cidadania e a consolidação da democracia. Conforme
Demo (1994), a falta de sociedade civil organizada, consciente e auto-sustentável tem
sido alimentada por um Estado burocrata e tecnocrata historicamente construído e
78
composto por oligopólios que usam todos os tipos de artimanhas para se sustentarem
no poder, ignorando
[os] milhões de menores carentes, a que se negam os direitos mínimos de sobrevivência material e de cidadania; o extermínio sumário de quem ousa reivindicar direitos básicos, como o acesso à terra para plantar e sobreviver; o descalabro e o descrédito da justiça comum, empedernidamente cega para o poder; a insegurança geral das pessoas, sobretudo nos bairros periféricos dos grandes centros, síndrome de uma sociedade absurda que faz da agressão cotidiana sua ordem vigente; a desmobilização persistente da população, provocada por políticas compensatórias, assistencialistas, residuais, que coíbem o processo de organização da sociedade civil compensatórias, assistencialistas, residuais, que coíbem o processo de organização da sociedade civil (ibidem).
Com efeito, a negação dos direitos mínimos de sobrevivência como
moradia, educação, saúde e segurança aos milhões de crianças que vivem jogadas nas
ruas revelam que este País está longe do desenvolvimento, sobretudo do progresso
social. Um País que não cuida de suas crianças compromete seu futuro promissor pois,
[a] infância, frágil como um papel, é o mais perfeito indicador do desenvolvimento de uma nação. Revela melhor a realidade do que o ritmo de crescimento econômico ou renda per capita. A criança é o elo mais fraco e exposto da cadeia social. Se um país é uma árvore, a criança é um fruto. E está para o progresso social e econômico como a semente para a plantação. Nenhuma nação conseguiu progredir sem investir na educação, o que significa investir na infância. Por um motivo bem simples: ninguém planta nada se não tiver uma semente. A viagem pelo conhecimento da infância é a viagem pelas profundezas de uma nação. Isto porque árvores doentes não dão bons frutos (DIMENSTEIN, 1994, p. 8-9).
Outro grave problema praticado no Brasil, que remonta ao período da
colonização, é o uso dos serviços públicos com a finalidade de atender a interesses
privados. A relação entre o público e o privado no Brasil sempre foi indistinta. Com
relação à segurança pública não é diferente. Não se tem a participação popular da
sociedade civil na escolha de Secretários, Comandantes das polícias militares e nem de
chefes das polícias civis (superintendentes ou delegados). Os cargos dessas
autoridades são ocupados, em linhas gerais, por pessoas de indicação política ou por
79
exigência de uma ou outra classe dominante. Esta é uma prática municipal, estadual e
federal e termina por promiscuir esses cargos públicos na troca de favores, nepotismo
e apadrinhamento para ambas as partes. Esta foi a forma de construção do Estado no
Brasil. A falta de povo organizado ou a antecipação desse Estado primeiro do que a
constituição de povo neste País iria postergar um legado complexo e deformado para
esta grande nação que teve durante cerca de quatro séculos a presença de um Império
europeu na “tentativa de implantação da cultura européia em extenso território, dotado
de condições naturais, se não adversas..., que é, nas origens da sociedade brasileira, o
fato dominante e mais rico em conseqüências” (HOLANDA, 1995, p. 31). Sem
sombra de dúvidas uma dessas graves conseqüências é a indistinção do que é público e
do que é privado. Sobre esse fato Chauí (2004) esclarece:
[a] indistinção entre o público e o privado não é uma falha ou um atraso que atrapalham o progresso nem uma tara de sociedade subdesenvolvida ou dependente ou emergente (ou seja, lá o nome que se queira dar a um país capitalista periférico). Sua origem, como vimos há pouco, é histórica, determinada pela doação, pelo arrendamento ou pela compra das terras da Coroa, que, não dispondo de recursos para enfrentar sozinha a tarefa colonizadora, deixou-a nas mãos dos particulares, que, embora sob o comando legal do monarca e sob o monopólio econômico da metrópole, dirigiam senhorialmente seus domínios e dividiam a autoridade administrativa com o estamento burocrático. Essa partilha do poder torna-se, no Brasil, não uma ausência do Estado (ou uma falta de Estado), nem, como imaginou a ideologia da “identidade nacional”, um excesso de Estado para preencher o vazio deixado por uma classe dominante inepta e classes populares atrasadas ou alienadas, mas é a forma mesma de realização da política e de organização do aparelho do Estado em que os governantes e parlamentares “reinam” ou, para usar a expressão de Faoro, são “donos do poder”, mantendo com os cidadãos relações pessoais de favor, clientela e tutela, e praticam a corrupção sobre os fundos públicos. Do ponto de vista dos direitos, há um encolhimento do espaço público; do ponto de vista dos interesses econômicos, um alargamento do espaço privado (p. 90-91).
Portanto, o slogan de que a segurança pública é a garantia da
cidadania é demagógico e eivado de pretensões falsas. É a transferência de uma
responsabilidade muito mais complexa atribuída ao poder do Estado, que para ser
democrático necessita possibilitar ao indivíduo as condições essenciais para sua
autonomia de sujeito ativo, liberto, participativo e seguro. Não se pode esperar a
80
garantia de cidadania por organismos de um Estado que ainda não possibilitou a
conquista dessa cidadania aos seus habitantes. É uma sentença cujos termos não estão
na ordem correta. Primeiro, é preciso se conquistar a cidadania e esta tendo sido
conquistada deve ser preservada pelas “Forças da Ordem” que estão à disposição do
Estado para proteger e efetivar as determinações legais. Todavia, conforme Brasil
(2004),
[no] Estado Democrático de Direito, o exercício da cidadania, a proteção, a promoção dos direitos humanos, não estão dissociados de uma política de segurança pública – ou seja, não são interesses antagônicos, mas convergentes. A segurança, como qualquer política pública, deve estar submetida ao controle e às críticas vigorosas da sociedade civil. O cerne do debate é o lugar que a segurança ocupa hoje na agenda do governo (In: O POVO, 31/01/2004, p. 07 -, opinião).
O discurso da modernidade sob o manto da política mercadológica
tem procurado ofuscar ou enfraquecer os movimentos sociais que buscam conquistas
de espaços menos desiguais. Esse discurso tem buscado legitimar a ordem de um
capitalismo cada vez mais desigual. Sob esse prisma, é que o discurso moderno tem
como ideário o aperfeiçoamento da ordem social vigente deixando o conceito de
cidadania na igualdade formal e na desigualdade real, mas incentivando a camuflagem
da cidadania nos principais serviços públicos sob os chavões de “educação cidadã”,
“segurança cidadã” e assim por diante.
Carvalho (2004), ao discutir cidadania no Brasil parte do princípio de
que esta somente será conquistada quando o Estado Democrático de Direito no Brasil
for capaz de garantir plenamente os direitos civis, políticos e sociais para todos.
Entretanto, a cidadania não deve ser outorgada ou tutelada pelo Estado, mas
conquistada dentro de um agir coletivo da sociedade por meio de reivindicações e
81
exigências legais e legítimas perante o poder público. Neste caso, a cidadania faz
parte, inexoravelmente, dos direitos fundamentais da pessoa humana. É através da
efetivação de políticas públicas sociais que há a concretização desses direitos.
Para Weffort (1981), existem no Brasil várias cidadanias de caráter
particular e, portanto, não universal. Este fato é decorrente da construção desigual do
Estado brasileiro em razão da profunda desigualdade social entre as pessoas. Segundo
Weffort, o máximo que há para os milhões de trabalhadores no Brasil é uma meia
cidadania. Isto significa dizer que se a cidadania no Brasil para a classe trabalhadora
acontece apenas pela metade para a grande massa desempregada e miserável essa
cidadania é algo estranho e distante.
Sob esse mesmo prisma, Dimenstein (1994), ao discutir acerca de
cidadania no Brasil, afirma que ela somente existe no papel e que, portanto, o nosso
País possui milhões de cidadãos de papel. Isto se dá em razão da falta de consolidação
do processo democrático que se dará somente quando for respeitado e garantido
plenamente os DH.
1.4 – Dos sistemas de segurança pública
Segundo Xavier (2007), para assegurar a almejada segurança civil
(proteção individual e do patrimônio) e a paz social das pessoas (ordem pública), o
Estado Democrático de Direito dispõe de dois sistemas: o Criminal e o de Segurança
pública que estão intrinsecamente ligados por força de lei e coerência das atividades
82
desenvolvidas. O funcionamento desses Sistemas de forma homogênea e integrada
produz efeitos positivos com relação à promoção da ordem e da segurança pública,
bem como exercita com eficiência a punição dos infratores da lei. Neste sentido,
evoca-se que as atividades desses dois Sistemas ocorram de forma integrada atendendo
eficazmente a todas as pessoas que necessitam dos serviços públicos atribuídos a eles.
Segue abaixo a representação de ambos os Sistemas responsáveis diretamente pela
ordem e a segurança pública no Brasil:
83
QUADRO 2: Representação do Sistema de Segurança Pública
Sistema Órgãos Objetivos
Profissionais
Controle
Funcional
Externo
De
Segurança
Pública
Polícia (ostensiva e preventiva) de preservação da Ordem e Segurança Públicas de Presídios, contra Sinistros e Defesa Civil
Prevenir, Reprimir, Ajudar à População
Autoridades e Agentes Policiais administrativos da PM, CBM e do Sistema Penitenciário e da Defesa Civil
Poder Executivo
FONTE: Idem
QUADRO 1: Representação do Sistema Criminal
Sistema Órgãos Objetivos Profissionais
Controle
Funcional
Externo
Criminal Juízo Criminal Ministério PúblicoSetor CarcerárioAdvogadosPolícia Judiciária
Punir (reprimir criminalmente após a consumação do delito)
Juízes, Promotores de Justiça, Advogados, Defensores Públicos, Serventuários da Justiça, e Agentes Policiais Judiciários (Polícia Federal e Polícia Civil-PC)
Poder Judiciário e Ministério Público
FONTE: – Universidade Estadual do Ceará – UECE. Centro de Educação – CED. Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos – IEPRO. Policia Militar do Ceará – PMCE. Programa de Formação para Profissionais de Segurança Publica e Defesa do Cidadão. O Sistema de Segurança Publica no Brasil. Curso de Formação de Soldados. Ética e Cidadania. Fortaleza. 74p. Mimeo.
84
Conforme os quadros acima demonstram, as atividades de Polícia
Judiciária e as de Polícia ostensivo-preventiva (preservação da ordem e da segurança
pública está situada em esferas diferentes). A polícia ostensiva e de preservação da
ordem e segurança públicas, a PMCE realiza seu trabalho discricionariamente,
basilada pela lei. Em caso de excessos ou abusos, cabe ao Poder Executivo e ao MP o
devido controle. Cabe à Polícia Judiciária PF – no âmbito da União e PC – no âmbito
dos Estados - realizar a atividade repressiva e de apuração de delitos criminais, exceto
os crimes militares. Estar sob o controle do Poder Judiciário e, também do MP.
Embora distintos, e funcionando em poderes independentes, os sistemas são
interligados e afins, pois ambos têm em vista o controle da criminalidade, a segurança,
a tranqüilidade pública e a justiça igualitária para todos os brasileiros. Todavia,
[n]ossa ignorância a respeito do funcionamento das polícias estaduais, bem como das organizações do sistema de justiça criminal, e a forma mistificada do enfoque dado ao problema policial pode estar na origem de algumas prescrições freqüentemente propostas para reforma das polícias. A primeira delas consiste na idéia de que existe uma estrutura ideal de organização policial, e que a atual estrutura e função das polícias e que a atual estrutura não se coaduna com este modelo. No Brasil, a definição da estrutura e função das polícias é matéria constitucional: cabe à Polícia Federal a apuração de infrações com repercussão interestadual e a repressão e prevenção ao tráfico de entorpecentes; à Polícia Civil as funções de polícia judiciária; e, às polícias militares o de policiamento ostensivo (Constituição de 1988, Cap. III. Art. 144). Qual o modelo a ser perseguido, entretanto, é algo que não fica claro. Aparentemente, o pano de fundo dessa ordem de crítica repousa na idéia de que modelos descentralizados de comando e organização são condições necessárias para a transição a um modelo de polícia ‘orientado comunitariamente’, em contraposição a um modelo ‘orientado profissionalmente’ que parece ainda prevalecer na definição constitucional e como orientação doutrinária em muitas organizações policiais estaduais. Entretanto, nem o número de forças policiais autônomas existente, nem a centralização/descentralização de comandos e sua aproximação com a comunidade em que atuam parecem guardar qualquer relação com os objetivos das organizações policiais, com métodos de policiamento utilizados ou com sua relação com o público (BEATO FILHO, 1999, p. 18).
Além dessas funções básicas dos organismos policiais existem
relações definidas e orientadas entre as polícias, o Poder Executivo e o Poder
Judiciário. A relação dos Sistemas de segurança pública com esses poderes é derivada
85
das diferenciações das atribuições e competências dos organismos policiais. A PMCE
atua sobre todos os aspectos da ordem pública, enquanto que a polícia judiciária atua
sobre as pessoas dos indivíduos e de suas práticas delituosas. O quadro abaixo ilustra
como se dá essa relação de forma específica:
Quadro 03: A Relação do Sistema de Segurança Pública com os Poderes
FONTE: – Universidade Estadual do Ceará – UECE. Centro de Educação – CED. Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos – IEPRO. Policia Militar do Ceará – PMCE. Programa de Formação para Profissionais de Segurança Publica e Defesa do Cidadão. O Sistema de Segurança Publica no Brasil. Curso de Formação de Soldados – PMCE. Fortaleza. 2000. 74p. Mimeo.
Os órgãos do sistema de segurança pública criminal pertencentes ao
Poder Judiciário e ao Poder Executivo apesar de suas funções, competências e
atribuições definidas separadamente trabalham em prol de um objetivo comum: manter
a ordem e garantir a segurança pública das pessoas e de seu patrimônio. Segundo
Figueiredo (2000, p. 9-10):
[a]ssim, situados na esfera do Executivo vamos encontrar a polícia e o Sistema penitenciário, e na esfera exclusiva do poder Judiciário, o juízo criminal. O Ministério Público e a Defensoria pública, embora sem uma órbita definida, ligam-se mais ao judiciário. Os advogados são entes autônomos, independentes do poder executivo e do poder judiciário, mas com atuação marcante no sistema. A polícia judiciária, consumado o delito, trabalha como auxiliar da justiça criminal e do Ministério público, estando também a ação da polícia ostensiva, sobretudo nos casos de prisão, submetida ao controle desses órgãos. Trata-se evidentemente de um sistema complexo. Muitos outros juristas admitem como verdadeira a premissa de que o bom funcionamento do sistema criminal é fator inibidor da criminalidade, com repercussões óbvias na segurança pública. Portanto, a colaboração mútua entre
Manutenção da Ordem Pública
Apuração dos Delitos e seus autores
Executivo Policia Administrativa
Policia Judiciária
Judiciário
Responsabilidade Administrativa
Responsabilidade Administrativa
86
o Judiciário e o executivo para a formulação de uma política criminal como um todo é meta viável e necessária. As falhas de um setor interferem negativamente no outro. Outras relações se estabelecem entre as polícias e o judiciário, quando, por exemplo, a polícia executa qualquer determinação do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Esta atividade pode ser realizada tanto pela polícia administrativa como judiciária.
Embora distintos, e funcionando em poderes independentes, os
sistemas são interligados e afins, pois ambos têm em vista o controle da criminalidade,
a segurança, a tranqüilidade pública e a justiça igualitária para todos. Contudo, como
constata Kant de Lima (1995), existe uma precariedade incisiva das técnicas de
investigação e de inserção das polícias no sistema de justiça criminal, em razão do
perfil burocrático do sistema de justiça criminal (Sapori, 1995). Além disso, como
destaca Soares (2000), esse perfil burocrático do sistema de justiça criminal tem sido o
responsável pela morosidade dos processos, exigindo assim, uma reforma estrutural
para melhor atender as demandas de trabalhos da justiça. Quanto as polícias, segundo
Beato Filho (2001), funcionam com estruturas do século XIX para atender demandas
do século XXI.
Ainda segundo Xavier (2007), apesar de estarem bem nítidas as
tarefas devidas de cada Corporação Policial, ainda existem muitos conflitos de
competências. Todas as polícias no mundo se organizam para cumprirem duas
funções básicas: policiamento ostensivo-preventivo e investigativo-repressivo. A
primeira função cabe à polícia fardada, no caso do Brasil, a PM e a segunda
função à PF e PC. Esses conflitos se dão na, sua grande maioria, entre as polícias
estaduais onde, muitas vezes a PMCE, através de seu Serviço Reservado – 2ª
Seção de Companhias, Batalhões, Grandes Comandos (Comando de
Policiamento do interior – CPI e Comando de Policiamento da Capital – CPC) e
87
do Estado Maior Geral – EMG, investiga e até viola locais de crimes. Por outro
lado, a PC faz diligências de investigação criminal em Viaturas caracterizadas.
Muitas vezes a PC se dá ao direito de vestir coletes com a identificação de
Polícia Civil para fazer blitzens ostensivas12.
A partir da CF de 1988, as guardas municipais são, pela primeira vez,
mencionadas como organismos de vigilância patrimonial municipal, sem integrarem o
conjunto dos órgãos da segurança pública das pessoas, ou seja, sem poder de polícia,
mas de vigilância, do espaço municipal. Isto deve ser repensado, pois, como já foi
frisado anteriormente as políticas públicas no âmbito dos municípios são mais diretas,
haja vista a maior proximidade com as pessoas e com os problemas sociais.
Por outro lado, deve-se ter prudência ao atribuir aos municípios brasileiros competências relacionadas à segurança pública. Vale ressaltar que, algumas destas atribuições (especificamente quanto ao papel das Guardas Municipais) pressupõem reformulações que são matéria de emenda constitucional. A segurança municipal também deve estar orientada por diretrizes, conceitos e prioridades, definidos pelo substrato jurídico e ético da Constituição Federal de 1988 e pelos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Isto, implica a prioridade pela vida e integridade física como bens a serem preservados – acima de quaisquer outras considerações -, e a observância irrestrita dos direitos fundamentais do (a) cidadão (ã). Por isso, é necessário instituir os limites e as atribuições da esfera municipal, para que possam ser reconhecidas, em contrapartida, as potencialidades municipais. Entendo que as cidades terão condições, deste modo, de incorporar as novas competências e compartilhar, sem ambigüidades com as outras esferas, as funções de segurança pública (GUINDANI, 2004).
Além disso, atualmente, há um crescente repasse de responsabilidade
aos municípios para gerirem políticas públicas de modo a solucionar os problemas nas
áreas da saúde, educação, assistência e desenvolvimento social e por que não na área
da segurança pública? É bom que se diga que isto já ocorre não de direito, mas de fato.
Sabe-se que constitucionalmente a segurança pública “é dever do Estado, direito e
12(Universidade Estadual do Ceará – UECE. Centro de Educação – CED. Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos – IEPRO. Policia Militar do Ceará – PMCE. Programa de Formação para Profissionais de Segurança Publica e Defesa do Cidadão. O Sistema de Segurança Publica no Brasil. Curso de Formação de Soldados – PMCE. Fortaleza. 2000. 74p. Mimeo)
88
responsabilidade de todos” (CF, art.144). Todavia, na prática, os organismos policiais
lotados nos municípios deste País afora só funcionam se os governos municipais
arcarem com despesas de alimentação para os policiais, combustível e até manutenção
para viaturas. Isto, inclusive, tem gerado alguns problemas, pois o poder local, por não
ser responsável legalmente por essas atribuições, porém, arcarem com
responsabilidade financeira, sente-se no direito de interferir no trabalho policial,
exigindo, muitas vezes, fidelidade política partidária e determinando quem deve ou
não ser preso, dependendo da gravidade do delito. Neste sentido, cria-se uma espécie
de subserviência do poder de polícia em relação ao poder político local.
Faz-se necessário destacar que o texto constitucional é bem claro
quando diz que segurança pública é dever do Estado direito e responsabilidade de
todos. Isto significa que não são somente os organismos policiais devem buscar
promover a segurança pública, mas sim todas as pessoas, inclusive a sociedade civil,
fiscalizando, cobrando e denunciando quem põe em risco a ordem e a segurança
pública. Essa deve ser uma vigilância constante não somente na área da segurança
pública, mas também nos demais serviços que o poder público deve disponibilizar à
sociedade para o fortalecimento da democracia. Ao analisar como estava se dando o
processo democrático nos Estados Unidos da América – EUA, Tocqueville (1987)
percebeu que a consolidação da democracia nos EUA baseava-se, entre outras coisas,
na inexistência de hierarquias nas relações sociais; na liberdade de imprensa; na
organização da sociedade civil em cobrar dos governantes a realização das práticas
prometidas para o bem comum. Com efeito, o processo democrático que Tocqueville
analisou nos EUA, no século XIX, o impressionou pela forma como se dava entre os
89
americanos que fundavam associações de membros para discutir sempre o que era
melhor para o todo coletivo através dos Conselhos Comunitários e das Comunas no
selfgoverment – auto-governo –, que consistia na fiscalização de todos para com todos
e a participação de todos nas decisões políticas. Deste modo, a democracia nos EUA se
consolidava como em nenhum outro lugar no ocidente. Por isso, para Tocqueville era
preciso
[e]ducar a democracia, reanimar, se possível, as suas crenças, purificar seus costumes, regular seus movimentos, pouco a pouco substituir a sua inexperiência pelo conhecimento dos negócios de Estado, os seus instintos cegos pela consciência dos seus verdadeiros interesses; adaptar o seu governo às condições de tempo e de lugar, modificá-lo conforme as circunstâncias e os homens – tal é o primeiro dos deveres impostos hoje em dia àqueles que dirigem a sociedade. Precisamos de uma nova ciência política para um mundo inteiro novo (1987, p. 13).
Segundo ainda Tocqueville (1987), a constituição de um real Estado
democrático baseia-se na vontade da maioria. Todavia, para que essa vontade não se
transforme em ditadura é necessário politizar a sociedade civil reunida em assembléias
com o gosto da liberdade de poder governar e ser governada. Desta forma, os serviços
públicos indispensáveis ao convívio social são de melhor qualidade, pois, em razão da
descentralização e desburocratização do Estado sempre há uma fiscalização da coisa
pública em público através de accountability realizada pela sociedade civil organizada.
Não se trata de importação de modelo, o que está sendo discutido é
que não basta haver só a Lei escrita, que, aliás, segundo Holanda (1995); Da Matta
(1981); Gomes & Cervini (1997), sempre foi o recurso utilizado para resolver as
questões sociais no Brasil. É imprescindível que haja a fiscalização e cobrança por
parte da sociedade civil organizada e o cumprimento efetivo por parte das instituições
responsáveis diretamente pela promoção de políticas públicas visando o bem coletivo.
Essas políticas públicas referem-se, sobretudo às políticas de segurança social e de
90
segurança civil que, segundo Castel (op. cit.), a segurança social refere-se à proteção
contra às incertezas e misérias do ser vivente no mundo e a segurança civil trata-se da
proteção pessoal de cada indivíduo e de seu patrimônio, ou seja, a segurança pública
que deve ser proporcionada pelo Estado refere-se as proteções de segurança social e
civil.
A repressão dos delitos, a punição dos culpados, a busca de uma “tolerância zero”, que corre o risco de ter de aumentar o número dos juízes e dos policiais são certamente curto-circuitos simplificadores em relação à complexidade do conjunto dos problemas levantados pela insegurança. Mas estas estratégias, principalmente se elas são bem encenadas e perseguidas com determinação, têm pelo menos o mérito de mostrar que se faz alguma coisa (não se é laxista), sem ter de levar em consideração questões aliás, delicadas, tais como, por exemplo, o desemprego, as desigualdades sociais, o racismo, que também estão à origem do sentimento de insegurança. Isto pode ser politicamente proveitoso em curto prazo, mas pode-se duvidar que se trate de uma resposta suficiente à questão “o que é ser protegido?” (CASTEL, 2005, p. 57-58).
Com efeito, para que o Estado possa ter êxito na segurança pública, ou
proteção civil, faz-se necessário, num primeiro plano, possibilitar a segurança social,
promovendo programas de inclusão e defesa contra as questões de bem-estar de seus
habitantes. Para isso, é necessário a integração das classes sociais dentro de um
programa, coeso e harmonioso para que se evite a anomia social que leva o indivíduo
às desgraças da vida e até ao suicídio como apontou Durkheim (1978). A questão da
integração social foi lembrada por Castel (2005), quando por ocasião da tentativa de
inclusão dos proletários no mundo do trabalho industrializado no século XVIII. Esses
grupos de proletários eram como estrangeiros vivendo à periferia do corpo social e por
isso não partilhavam da cultura dominante e não se enquadravam nos circuitos das
trocas sociais. Assim, como os proletários do início da revolução industrial, a grande
massa periférica, pobre e negra dos dias atuais, sobretudo dos grandes centros urbanos,
ao procurar um emprego ou reivindicar uma vida mais digna enfrenta a discriminação
91
e a hostilidade de uma parte da população e das “forças da ordem” compostas pelo
Sistema de Segurança Pública e do Sistema Criminal que funcionam como aparelho
repressor ideológico do Estado.
Percebendo a falência metodológica em promover a segurança
pública, em 2003, o Governo Federal adotou o Projeto Segurança Pública para o
Brasil, elaborado originalmente pelo Instituto da Cidadania (2002), como PNSP.
Inspirado na experiência do SUS, o Projeto Segurança Pública para o Brasil prevê com
a promoção do MJ, através da SENASP, a consolidação do SUSP a partir da
integração das ações federais, estaduais e municipais na área da segurança pública; da
constituição de Gabinetes de Gestão Integrada – GGI nos 27 Estados da Federação e
do desenvolvimento de planos estaduais e municipais de segurança pública. Além
disso, visando a definir princípios, diretrizes e prioridades para a construção do SUSP,
a SENASP lançou o Projeto Arquitetura Institucional – PAIs e constituiu grupos de
trabalho para apresentar propostas de ação em nove áreas estratégicas: 1)
Modernização da gestão das instituições de justiça criminal; 2) Capacitação em gestão
integrada da segurança pública; 3) Bases nacionais de informação de Justiça Criminal;
4) Gestão da prevenção em segurança pública; 5) Controle e participação social na
gestão das polícias; 6) Aprimoramento dos serviços de polícia técnica; 7) Controle de
arma de fogo; 8) Gestão municipal da segurança pública; e, 9) Gestão do sistema
penitenciário (MJ - SENASP, 2005).
Com efetivação dessas medidas propostas pelo SUSP, espera-se que
em curto, médio e longo prazos, o Brasil com suas 27 unidades federadas possa
92
desenvolver e aplicar uma política de segurança pública capaz de cumprir com suas
reais missões, proteger as pessoas, garantir-lhes a integridade física e a conservação
de seus bens. Entretanto, essa é uma tarefa que não pode ser apenas assunto de polícia,
mas de todas as pessoas, instituições, organizações governamentais e Ongs, bem como
de todo o poder público, destacando-se as autoridades, federais, estaduais e municipais
visando a implementação de políticas públicas em segurança, democráticas e
respeitadoras dos direitos humanos.
93
CAPITULO 2
DO PROJETO “CEARÁ SEGURO” (1999-2002) AO PROJETO “CEARÁ SEGURANÇA PÚBLICA MODERNA” (2003-2006)
Há também a descrença e a desconfiança em
programas como este, tanto por parte de policiais
como do público, devido ao desgaste da imagem
dos órgãos policiais e de setores governamentais
que não investiram, ao longo dos anos, em
políticas públicas de segurança que envolvesse a
população na participação das decisões e
execução de seus planos e projetos.
Rosemary Almeida
94
CAPÍTULO 2
DO PROJETO “CEARÁ SEGURO” (1999-2002) AO PROJETO “CEARÁ SEGURANÇA PÚBLICA MODERNA” (2003-2006)
2.1 – O legado de segurança pública do “Governo das Mudanças”
O “Governo das Mudanças” ou “Governo dos Empresários” no Estado
do Ceará compreende o período delimitado a partir do primeiro mandato de Tasso
Ribeiro Jereissati (1987–1990), Ciro Gomes (1991–1994), novamente Tasso Jereissati
(199–1998 e 1999–2002). Após substituir no governo do Estado o economista
Gonzaga Mota, Tasso Ribeiro Jereissati tinha como desafio, segundo sua própria
retórica de campanha política, a luta simbólica entre o “novo e o “antigo”, o
“moderno” e o “atrasado”, o “racional” e o “irracional”“. Enfim, o grande desafio
posto era romper com as “forças do atraso’, do ‘tempo dos coronéis” (Barreira, 2004).
Assim, não podendo ser diferente, o “Governo das Mudanças” herdou o legado do
autoritarismo, dos abusos de poder e da prepotência do regime militar em torno das
relações sociais e no âmbito institucional.
Deste modo, os serviços públicos como educação, saúde, segurança e
as instituições continuaram com sua truculência e mantiveram em suas medulas o
postergado dessa herança ou legado de cunho doutrinário do regime militar. As
instituições não sofreram as reformas necessárias e coerentes para romper com as
estruturas despóticas que se firmaram ao longo de 21 anos de regime ditatorial. No
caso da segurança pública, o legado do regime autoritário foi mais afincado ainda. A
95
Doutrina de Segurança Nacional, baseada na Lei Nº. 6.620/78, prevê a preservação
não somente da segurança Interna de repressão à “guerra” revolucionária ou aos
movimentos sociais considerados subversivos à ordem vigente, mas também a
segurança externa contra possíveis ataques de nações estrangeiras. É neste contexto
que as Polícias Militares ou os “pequenos exércitos” estaduais são treinados e
edificados com vistas a proporcionarem segurança pública (Carvalho, 2004). Esse foi
o panorama geral no qual o “Governo das Mudanças” se inseriu.
Segundo Brasil (2000), assim como os demais governos que
assumiram seus cargos pós-regime militar, o “Governo das Mudanças” enfrentaria
dois problemas cruciais. O primeiro está vinculado ao fato de que a redemocratização
do regime de governo não significar, essencialmente, a democratização das instituições
do Estado. O segundo problema relaciona-se com a questão do impedimento dos
novos governos institucionalizarem práticas democráticas nas diversas esferas do
poder estatal. Esse legado autoritário marcou e marcaria os governos pós-regime
militar, sobretudo nos países que não têm tradição democrática, como no caso do
Brasil.
O desafio posto, naquele momento, aos governos eleitos democraticamente era a redemocratização das estruturas dos aparelhos de Estado e conseqüentemente de suas práticas institucionais. Mas, os sucessivos governos brasileiros que se revezavam no poder após a ditadura militar, na sua grande maioria, vão manter intocada a autonomia de funcionamento dos aparelhos repressivos, como se eles fossem estruturas neutras e, portanto, prontas a servir à democracia. Como nos diz Pinheiro (1991a), esses governos subestimaram o legado autoritário dessas estruturas de poder. É o que nos afirmam as práticas usuais dos aparelhos policiais. São práticas impregnadas pelo abuso e pelo arbítrio das relações de poder que constituíram a estrutura do Estado brasileiro naqueles anos do regime de exceção, o que nega a neutralidade desses dispositivos e denuncia a continuidade dessas práticas ilegais e a conseqüente manutenção de suas estruturas autoritárias de poder, acima do estado de Direito. É como se a instalação do regime democrático passasse ao largo de suas estruturas e práticas de poder (BRASIL, 2000, p. 94-95).
96
Reafirmando, o advento da redemocratização não significou nem a
democratização das instituições do Estado brasileiro, nem o fim das práticas ilegais e
do uso indiscriminado da violência e do abuso de poder. Ao contrário, os aparelhos ou
organismos do Estado, como as forças policiais, permaneceram intactos com suas
estruturas autoritárias, obsoletas e dispostas.
Concordo com Barreira (2004), que os 15 anos de administração do
“Governo das Mudanças” (1987-2002), no Estado do Ceará, foram marcados por uma
política irregular na área da segurança pública, suscetível a mudanças constantes em
função das demandas sociais e políticas conjunturais.
Ocorreram diversas alterações na estrutura administrativa da área de segurança, acompanhadas pelas substituições de seus comandos, visando a melhorar a credibilidade dos aparelhos policiais e a capacidade destes em oferecer maior segurança para a população. O aumento da violência no cotidiano do Estado, entretanto, deixa transparecer fissuras e fragilidades deste setor. O estudo das transformações internas e externas da política de segurança pública ocupa uma dimensão essencial... A política de segurança pública, ao lado da educacional e da política de saúde, passam a ser o ponto nevrálgico ou considerado o “calcanhar de Aquiles” destes governos. Estes tentam com discursos e práticas amenizar esta situação no âmbito da segurança pública, contratando, inclusive, no último período Tasso, uma consultoria externa – a First Security Consulting – que tem como principal acionista e ideólogo o ex-chefe de polícia da cidade de Nova York, William Bratton, que ganhou notoriedade com o slogan “tolerância zero” (BARREIRA, 2004, p. 9-10).
Com efeito, a segurança pública em tempos de redemocratização
desencadeou diversos dilemas a serem enfrentados pelos novos governantes. A
manutenção da ordem e da segurança pública vai ser a medida de temperatura do
“Governo das Mudanças”, no imaginário popular, se este é ou não o governo capaz de
conduzir os anseios da população visando uma possível tranqüilidade pública. Como
frisa Barreira (op. cit.), a presença ou a ausência do Governo para o pensamento
popular dependerá da solução viável que este conseguirá possibilitando uma paz
97
pública. É no centro deste anseio que surgirá um grande paradoxo de caráter interno.
Os organismos policiais estão visivelmente desgastados e desacreditados em função de
suas práticas abusivas, autoritárias e corruptas herdadas do regime militar. Todavia,
mesmo não confiando nos organismos de segurança pública, a população exige mais
ordem e segurança na medida em que a violência criminal se alastra em todo Estado.
Neste sentido, o “Governo das Mudanças”, na pessoa de Tasso Jereissati, ao executar,
na prática, as promessas do discurso de realização de um governo do “novo”, do
“diferente”, primando pela modernidade e racionalidade, enfrentaria sérios dilemas.
O primeiro governo eleito, no Estado do Ceará, após o regime militar, enfrenta também a dificuldade da institucionalização das práticas democráticas em todas as esferas do poder, uma vez que estas esferas foram enrijecidas pelo regime autoritário. Isto aponta para a necessidade de ser realizada uma transição no interior das instituições do Estado (ibidem).
A transformação ou reformas eram urgentes no seio dos organismos
policiais. As antigas práticas de tortura, de abuso de poder e de discriminação,
sobretudo contra pobres, pretos e desempregados freqüentes durante o regime militar
não seriam ou não deveriam ser aceitas pelo governo e nem pela sociedade civil no
novo regime de governo. O grande dilema para o governo seria proporcionar a ordem
e segurança pública prevenindo e combatendo a violência criminal, respeitando e
protegendo os direitos humanos e agindo em busca da conquista da cidadania. Esta era
condição sine qua non para a consolidação do Estado Democrático de Direito.
Entretanto, analisando o período do governo mudancista, Brasil (2000, p. 143) detecta
que a polícia cearense sempre esteve envolvida com práticas ilegais ou criminosas.
[uma] problemática real colocada durante todo Governo das Mudanças, como têm denunciado, quase que diariamente, a imprensa, e de modo incansável e insistente os grupos e entidades ligadas aos direitos humanos. São os mesmos segmentos da sociedade civil que têm cobrado das gestões mudancistas.
98
Entretanto, ainda segundo Brasil (2000), as estruturas dos dispositivos
estaduais de segurança pública mantiveram-se inalterados como se fossem estruturas
neutras preparados para servir o novo regime de governo democrático. Os governantes
não tiveram coragem ou por estratégia ou ideologicamente confirmaram a
continuidade das bases dos organismos policiais. Há de se ressaltar que no âmbito
estadual, se essa continuidade era de interesse político, encontrou suporte legal no
texto constitucional de 1988 quando este, no artigo 144 § 6º diz, textualmente, que as
polícias militares e bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército
Brasileiro – EB. Esses são os dois maiores dispositivos de segurança pública estaduais,
o que, em parte, pode até explicar a estratégia dos governantes, de forma específica no
caso do Ceará, não demonstrarem interesse algum em aumentar o efetivo da PC. Isto
porque esta, na sua descrição estatutária tem o direito de fazer greves e formar
associações em prol de reivindicações para seu corpo policial, o que não deixa de ser
uma preocupação para os operadores das políticas públicas.
Esse legado de caráter interno não foi o único. Se as reformas
estruturais no âmbito dos aparelhos policiais não ocorreram, dando continuidade as
práticas autoritárias e ilegais do regime militar, no âmbito externo os dilemas
continuaram com o aumento da violência criminal, o descrédito da polícia ante a
população, porém esta continuava exigindo mais segurança, mesmo sabendo que os
dispositivos policiais permaneciam intocados nas suas bases estruturais (Barreira,
2004).
99
Brasil (2000) analisou a segurança pública no “Governo das
Mudanças”, compreendido entre 1987-2000, conforme as promessas de campanha
política no tocante à “moralização”, à “modernização” e à “participação” nos
organismos da segurança pública no Estado do Ceará. No tocante à primeira
adjetivação “moralização”, o “Governo das Mudanças”, num primeiro momento, criou
e inovou propostas visando se não à unificação, pelo menos à integração das polícias.
Neste sentido, a Secretaria de Segurança Pública – SSP foi substituída pela Secretaria
de Segurança Pública e Defesa da Cidadania – SSPDC (1997), tendo à frente como
Secretário um General de Divisão do Exército, Cândido Vargas de Freire, oriundo do
Rio Grande do Sul.
Uma das propostas iniciais cumpridas foi a tentativa de um comando
unificado da segurança pública. Além de ter sido uma mudança efetivada por cima das
estruturas dos aparelhos policiais, esta não solucionou as divergências e as distorções
estruturais, historicamente existentes entre as duas polícias Civil e Militar.
[a]o optar pela nomeação de um general para comandar a segurança pública, o governador Tasso Jereissati não só manteve uma de suas preferências, que é nomear para a pasta da segurança pública profissionais de fora do Ceará, considerados os melhores e coincidentemente gaúchos, e, para alguns seguimentos da sociedade civil, ligados às entidades de direitos humanos estaduais, uma escolha conservadora, uma vez que a mesma parecia repetir velhas fórmulas para enfrentar o mar de lama em que estavam mergulhados certos setores da Polícia Civil e Militar, ou seja, a escolha do governo poderia trazer consigo o reforço e o incentivo da militarização das ações policiais (BRASIL, 2000, p. 222).
As ações do governo mudancista para a área da segurança pública,
nesse primeiro momento, demonstraram preferência conservadora não somente porque
escolheu um militar para a chefia da segurança pública, mas porque essa decisão
100
significa preferência pela militarização nos dispositivos de segurança no Estado e
invocava as práticas recentes do autoritarismo do regime militar.
Num segundo momento, o governo mudancista tentou moralizar os
organismos policiais enfrentando a impunidade arraigada no seio das corporações,
criando órgãos próprios para apurar denúncias. Criou a Ouvidoria Geral do Estado –
OGE, a Corregedoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa da Cidadania –
CGOSPDC e outros órgãos como o Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH,
o Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSESP, o Centro de Apoio
Operacional e Controle Externo da Atividade Policial – CAOCEAP e o Programa de
Proteção de Testemunhas e Familiares de Vítimas de Violência – PROVITA. Todavia,
o ponto central, promissor de uma mudança real nesses organismos policiais, não
ocorreu.
No campo das ações de “modernização” o “Governo das Mudanças”
teve como marca registrada a contratação da First Security Consulting, empresa norte-
americana de segurança, dirigida pelo então Mister Bratton, ex-chefe da polícia de
Nova York, responsável pela implantação da política de segurança “tolerância zero”.
Mediante essa consulta, foi criado no Estado do Ceará os chamados Distritos-Modelo
– DM, cujo objetivo era o de que os órgãos de segurança pública trabalhassem todos
juntos num mesmo prédio viabilizando o serviço no pronto atendimento das
ocorrências policiais. No último “Governo das Mudanças” (1999-2002), o governo
Tasso Ribeiro Jereissati priorizou e continuou com as mudanças de modernização da
segurança pública de acordo com as metas e estratégias pautadas em seu projeto de
101
governo “Ceará seguro” tendo na integração e na política de formação suas metas
principais. Na formação, a mudança ocorreu efetivamente a partir de 2001, quando os
policiais passaram a ter suas formações vinculadas com a UECE. Além disso, para
entrar nos quadros da PMCE e CBMC, como soldado, a partir de 2001, foi exigido no
mínimo o ensino médio, o que antes bastava o ensino fundamental. Em seguida, o
último “Governo das Mudanças”, através do projeto “Ceará seguro” continuou
operacionalizando as mudanças na segurança pública, criando órgãos e investindo em
recursos logísticos.
Conforme Brasil (2000), o inovador para essa possível integração foi
o Relatório de Local de Crime, uma espécie de ficha de coleta de dados no qual
qualquer policial, civil ou militar registrava as ocorrências e repassava a Central de
Relatórios de Crimes tanto para os órgãos da PMCE quanto para os da PC. Outras
ações consideradas de alta modernização foi a criação do Gerenciamento de Crises –
GCRISES (Decreto Nº. 25.389, de 23 de fevereiro de 1999, Diário Oficial do Estado –
DOE Nº. 146), o CIOPS (na época, depois foi denominado de “a CIOPS, ou seja,
Central e não Centro), conforme DOE nº. 226, de 28 de novembro de 2000, que
substituiu o antigo Centro de Operações da Polícia Militar – COPOM, que atendia as
chamadas do telefone 190 e o CIOPAER (Decreto Nº. 26.555-A, de 04 de julho de
2001, DOE Nº. 171). Atualmente a CIOPS funciona como uma central de
comunicação visando a coordenação das ações da PMCE, PC, CBMC, Instituto
Médico legal – IML, Instituto de Criminalística – IC e possivelmente o Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN e o SOS – Fortaleza. Além dessas modernizações
marcantes, o governo mudancista também investiu num Sistema de Radiocomunicação
102
com Tecnologia Trunking, um tipo de telefonia fechada e privada como celular que
utiliza freqüência de 800 Mgh; no Sistema de Monitoramento de Vídeo – SMV (Olho
Mágico) com câmaras de vídeos em pontos estratégicos do espaço urbano; criou o
Sistema de Informações Policiais – SIP (Rede de Segurança) que contém banco de
dados de informações locais sobre criminosos, inquéritos, veículos, pessoas
desaparecidas, procuradas e estatísticas criminais vinculadas ao Programa Nacional de
Informações Criminais – INFOSEG.
A terceira vertente da política no “Governo das Mudanças” para a área
da segurança pública era a “participação”. Inicialmente, foram criados o Conselho de
Segurança – CS ou Conselhos Comunitários de Segurança – CCS no âmbito restrito da
PMCE. Em seguida os CCS foram substituídos pelos Conselhos Comunitários de
Defesa Social – CCDS cuja abrangência se deu no âmbito da PM, PC, CBMC e
Secretaria de Justiça do Estado além da criação da SSPDC e da Diretoria da Cidadania
– DC criada pelo Decreto Nº. 24.934 de maio 26 de 1998. Através desses órgãos, a
política governamental para a segurança pública demonstrava que estava disposta a
receber informações da sociedade a respeito de delitos tanto por parte delinqüente da
sociedade civil como por parte de maus policiais considerados a “banda podre” da
polícia. Todavia, a participação da sociedade por meio desses órgãos não funciona a
contento ou no mínimo é medíocre por quatro razões principais: a primeira porque
nem sempre quem atende as informações ou as denúncias têm o zelo de encaminhar de
forma sigilosa a quem de direito; segundo porque o corporativismo existente no seio
das corporações policiais faz com que muitas das denúncias sejam desviadas ou
camufladas; terceiro porque a participação comunitária é limitada apenas a algumas
103
pessoas pertencentes a esses órgãos que muitas vezes não idôneos, no sentido moral-
ético; e, quarto, porque o investimento para o funcionamento desses órgãos é irrisório.
Além disso, a cultura implantada no País desde a colonização foi a de que uma minoria
mandante ou classe dominante sábia sempre decide por a grande maioria que não sabe
(Demo, 1994). No caso do “Governo das Mudanças” não foi diferente. Referindo-se
ao primeiro governo mudancista, Küster afirma:
[o] Governo Tasso Jereissati pronunciou a necessidade da participação da sociedade no sentido de garantir a eficiência do governo, mas não abriu para um debate sobre o modelo de desenvolvimento, as estratégias e ações para as quais a sociedade deveria contribuir. Desta forma a participação proposta tornou-se demagógica, e serviu mais como veículo para legitimar e viabilizar a política governamental (2004, p.135).
Se o “Governo das Mudanças” no discurso pregava um modelo de
“participação” como proposta de democratização e descentralização para tomada de
decisões, na prática, esta proposta não foi efetivada, em virtude dessa distribuição de
poder com as comunidades confrontar-se, inevitavelmente, com os políticos locais,
base política do governo de Tasso Jereissati. Deste modo, era contraditório “o projeto
de modernização do Estado – necessariamente no âmbito de um sistema democrático –
e as estratégias para manter o poder centralizador” (idem, ibidem).
Outra vertente do projeto “Ceará seguro” era a sustentabilidade. Neste
aspecto, as mudanças na área da segurança pública deveriam ser mantidas por meio de
investimentos em políticas públicas de segurança. O governo mudancista visando ao
desenvolvimento do Estado, pairava na idéia de que potencializando as condições para
o crescimento econômico e tornando a administração pública mais eficiente, as
estruturas políticas e sociais não deveriam ser alteradas. É nesta ótica que as estruturas
dos organismos da segurança pública permaneceram inalteradas e não acompanharam
104
pari passu o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito no novo regime de
governo. Neste sentido, conforme ainda Küster (2000), o governo de Tasso Jereissati,
além de não ter desenvolvido estruturas para incluir os mecanismos participativos na
sua administração, preferiu respostas imediatas, com investimentos de fora, “deixando
as dívidas dos programas estruturantes para seus sucessores” (ibidem).
Futuramente, a descentralização das políticas públicas e a participação ativa devem ser promovidas não somente com a reforma das estruturas e dos processos administrativos, mas dentro de uma outra visão de desenvolvimento, na base de uma relação aberta e verdadeira entre os representantes do governo e da sociedade civil. Precisa-se confiar mais nas capacidades das pessoas de se organizar e na sua criatividade de adaptar-se às novas condições, sem serem forçadas, dando o apoio necessário para as iniciativas. O desenvolvimento deve ser visto como um processo de aprendizagem, que é conduzido por princípios como a autonomia e a integração dos atores, a informação e a comunicação, a coordenação e a cooperação e – não por último – pela tolerância (ibidem).
Sem dúvida, a falta de participação da sociedade de forma decisiva na
área da segurança pública pode ser considerada um dos grandes entraves para o
desenvolvimento e efetivação de uma política de segurança pública eficiente e eficaz.
Com efeito, as realizações do “Governo das Mudanças” na área da segurança pública
foram mais direcionadas aos interesses de manutenção do governo do que para atender
aos anseios da população por mais segurança pública de melhor qualidade. A falta de
coragem política para executar mudanças estruturais no plano cognitivo, como na
mudança de mentalidade, mediante uma formação voltada para os fins do Estado
Democrático de Direito, comprometeu em parte as políticas públicas de segurança. O
legado autoritário militarista da Doutrina Nacional de Segurança foi mais resistente.
Não se sabe se por ideologia governamental ou se por falta de compreensão mais
aberta, o fato é que o slogan do governo mudancista no discurso da tríade moralização,
modernização e participação não teve, na prática, a coerência da teoria. Se na
modernização alguns avanços foram significativos na moralização e na participação as
105
coisas ocorreram deslocadas do processo. Como percebeu Küster (op. cit.), o discurso
do governo mudancista – denunciando que o atraso desenvolvimentista e modernizante
do Estado deviam-se ao centralismo do poder político, à continuação de relações
clientelistas e à ineficiência administrativa – não se efetivou, na prática (Brasil, 2000).
Entretanto, é racional afirmar que continuando com seu programa de
governo para a área da segurança pública, o último “Governo das Mudanças” (1999-
2002), dentro de e seu projeto “Ceará Seguro” teve, no âmbito da “modernização” da
segurança pública, sua marca mais expressiva. Na moralização, o governo exigiu a
limpeza da “banda podre” da polícia com a apuração rigorosa por parte da CGOSPDC
acerca de delitos penais cometidos por maus policiais, custando-lhes punições severas
e até demissão. Com relação à modernização, a marca mais destacada do último
“Governo das Mudanças” (1999-2002) foi continuação a efetivação de seu projeto
piloto de operacionalização dos doze distritos-modelo nos Distritos Policiais – DP em
bairros estratégicos da capital cearense e RMF, como Bom Jardim (34º DP), Pirambu
(7º DP), Aldeota (2º DP), Messejana (30º DP) etc. O objetivo do projeto piloto era de
facilitar o trabalho policial de forma integrada, articulada com extensão incrementada
visando à aproximação da comunidade, a circulação ordenada de viaturas e a apuração
de delitos penais de maneira mais ágil, eficiente e dinâmica. Reforçando essa marca de
modernização e integração, foram adquiridas com dinheiro dos cofres públicos
estaduais e sem licitação três aeronaves tipo esquilo, modelo AS350B2, dotadas de
modernos equipamentos que se juntaram a uma antiga aeronave já existente, desde
1995, que servia à Companhia de Eletricidade do Ceará – COELCE. As aeronaves
demonstraram um estupendo diferencial nas operações aeromédicas, no combate às
106
ações do crime organizado e na perseguição policial a delinqüentes, aumentando,
assim, a sensação de maior segurança à comunidade13.
Reconhecidamente as ações e estratégias da política mudancista na
área da segurança pública não deixa de ter sido um significado avanço de
modernização. Entretanto, alguns pontos merecem reflexão. Primeiro, que a aquisição
desse material moderno não foi suficiente para todas as unidades policiais; segundo,
que foi usado para beneficiar certas áreas de maior poder aquisitivo já em melhores
condições de segurança; terceiro, que não houve treinamento adequado no sentido de
usar o pessoal capacitado ético-moral para que pudesse render uma melhor política de
segurança pública de forma mais eficiente e eficaz; e, quarto, a falta de uma política de
valorização do profissional de segurança pública comprometeu veementemente o
desempenho dos profissionais que, sem auto-estima, continuaram desmotivados para o
exercício da profissão.
Além disso, a falta de continuidade do projeto “Ceará seguro” de seu
antecessor por parte do novo Governo no Ceará, Lúcio Gonçalo Alcântara (2003-
2006), significou o retorno de uma política pública de segurança truculenta, indolente,
atrasada e um enorme prejuízo na área da segurança pública. Os gastos com a
instalação dos distritos-modelo em valores atuais calculados pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC equivalem a R$ 26 milhões. Em apenas nove dos
distritos-modelo implantados na Capital foram gastos mais de R$ 21 milhões. A
compra das aeronaves, sem licitação, custou aos cofres do Estado cerca de R$ 17,7
13 www.sspds.gov.br, 26/11/2007, visitado em 27/11/2007
107
milhões14. O pior desse mal uso com o dinheiro do contribuinte é fato de que por falta
de uma política de continuidade do governo sucessor (a época do PSDB), os distritos,
longe de serem modelos, se resumiram a locais deficientes tanto nas condições físicas
e operacionais como na falta de pessoal qualificado e as aeronaves estão imprestáveis
e sucateadas. Nos últimos seis anos de governo tucano no Ceará (2001- 2006), os
gastos voltados para a área da segurança pública foram expressivos, sobretudo na
compra de equipamentos modernos. Veja tabela abaixo:
14 www.tce.gov.br, visitado em 28/11/007
96
Tabela 03: Gastos com a Segurança Pública em R$ Milhões
Ano 2001 409,2Ano 2002 390,9Ano 2003 357,7Ano 2004 365,3Ano 2005 410,2Ano 2006 456,7
Fonte: Tribunal de Conta do Ceará - TCE
Com efeito, ao se fazer um balanço acerca dos custos com a segurança
pública nos últimos dois anos do “Governo das Mudanças” de Tasso (2001-2002),
somados com os quatro anos do governo de Lúcio Alcântara (2003-2006), verifica-se
que foram gastos cerca de R$ 2,4 bilhões. Entretanto, a violência criminal não pára de
crescer em todo o território cearense. Outra observação plausível é fato de que
comprovando um tipo de política de segurança pública “populista” no período de
governo do PSDB, 45,1% dos investimentos feitos com recursos estaduais na área da
segurança pública foram destinados à compra de viaturas (O Povo, 30/08/06). A
prioridade de despesas foi com carros em detrimento de questões apontadas como
fundamentais como política de capacitação e de valorização do profissional de
segurança pública.
Neste sentido, apenas 3,2% foram usados na qualificação e
melhoramento do desempenho dos policiais, 1,7% foi disponibilizado para o
armamento. Isto demonstra que a formação do policial está na escala de despesas
abaixo de itens como a compra de equipamentos, realização de obras e aquisição de
imóveis. Os dados apontam uma agravante quando mostram que houve anos em que a
capacitação dos policiais sequer foi considerada. Os oito anos (1999-2006), ao serem
divididos em biênios, quando receberam dinheiro para a finalidade de capacitação
97
profissional, intertercaladamente, demonstram que em apenas quatro anos houve
investimento na capacitação dos profissionais de segurança pública. Deste modo, nos
anos de 1999, 2000, 2003 e 2004 não houve gastos com capacitação, o que só
aconteceu no período de 2001, 2002, 2005 e 2006 15.
Como justificativa para a descontinuidade das ações, estratégias e
investimentos do projeto anterior para a segurança pública, o governo de Lúcio
Alcântara (2003-2006), queixou-se da redução de 53% de investimento por parte da
União para essa área. Entretanto, demonstrando também seguir a política “populista”
de segurança pública, Lúcio Alcântara também comemorou sua marca na segurança
pública destacando a construção de dois prédios para funcionamento de IMLs em
Sobral e em Juazeiro do Norte, duas casas de custódia (presídios) e ampliação de uma
outra na RMF. Em entrevista do próprio governador Lúcio Alcântara ao O Povo, de
30/08/06, este manifestava otimismo afirmando que seus antecessores, no período de
34 anos criaram apenas 3,5 mil vagas nas prisões, enquanto que em apenas 04 anos de
governo, foram criadas 2,5 mil vagas, tornando o Ceará o 3º Estado do Brasil a
esvaziar suas Delegacias de Polícia. Todavia, o que o governador não mencionou foi
que em seu governo houve um aumento acentuado de mortes de policiais; fugas de
presos; seqüestros; pistolagem urbana; narcotráfico e pirataria; denúncia de formação
de grupos de extermínios na PMCE; crise institucional na PMCE envolvendo,
inclusive, o alto comando em atos ilícitos; prisão de oficiais PM/BMs de todos os
níveis hierárquicos, subalterno (tenente), intermediário (capitão), superior (major), por
15http:// www.opovo.gov.br, visitado em 28/11/2007
98
envolvimento em diversos tipos de delitos penais; e, o maior furto a agência bancária
da história do Brasil e da AL16.
2.2 – A sucessão do “Governo das Mudanças” e o plano para a segurança pública
no Ceará
Após 16 anos de liderança hegemônica demonstrando supremacia
eleitoral, o mandonismo político-administrativo do autodenominado “Governo das
Mudanças” (1987-2002) teria uma sucessão traumática. As eleições de 2002 no Estado
do Ceará apresentaram um resultado surpreendente. Desde 1986 a política
governamental do Ceará teve como expressão maior de liderança política o empresário
Tasso Ribeiro Jereissati, filho do ex-senador Carlos Jereissati, que apoiado pela
burguesia industrial, havia assumido o controle do Estado desde 1987 envolvendo o
Centro Industrial do Ceará – CIC. Aliás, a primeira eleição de Tasso, o “Galeguim dos
olhos azúis”17 foi vista como uma ruptura com os coronéis, mas
[p]ela primeira vez, um candidato das elites era eleito com um discurso de esquerda. A coligação com os comunistas, o apoio dos empresários e um forte ‘marketing’ levou o Movimento Pró-Mudanças a uma vitória esmagadora: Tasso foi eleito com 52% dos votos, contra 30% de Adauto (PINHEIRO & COSTA, 2003, p. 16).
Tendo se candidatado ao cargo eletivo para governador do Estado do
Ceará nas eleições de 2002, o senador da República Lúcio Gonçalo Alcântara, então
do PSDB, enfrentou nas urnas uma disputa acirrada com o candidato de oposição José
Airton Cirilo, do PT, considerada a mais difícil desde 1982, quando se voltou a eleger
16 www.opovo.com.br; O Estado de 19/05/2004; Xavier, 200717Chamado assim em sua campanha política em função de Tasso Jereissati ser branco, ter os olhos azuis muito diferente da grande maioria do povo cearense e ser descendente de imigrantes libaneses.
99
governador do Estado através do voto direto. Ao se fazer uma comparação dos
números de votos em prol da primeira eleição de Tasso Jereissati do PSDB, em 1986,
e à de Lúcio Alcântara, do mesmo partido, é possível se mensurar a dificuldade da
eleição deste último. Enquanto Tasso Jereissati, com o discurso de “moralização”,
“modernização” e “participação” para seu governo obteve 52,32% dos votos válidos,
contra 30,01% de seu opositor Coronel Adauto Bezerra ,do Partido da Frente Liberal –
PFL. Por outro lado, apesar do apoio tassista ao senador Lúcio Alcântara, este foi
eleito apenas com 0,08% ponto percentual de maioria, ou seja, o equivalente a 3.047
votos de vantagem em relação ao petista, José Airton Cirilo. A diferença de maioria de
votos pró-candidato do PSDB não era suficiente para eleger sequer um vereador em
Fortaleza, haja vista que na última eleição para o pleito municipal, o vereador pior
votado atingiu mais de 5000 sufrágios. Pela primeira vez, em dezesseis anos de eleição
para governador no Estado do Ceará, uma eleição seria decidida no segundo turno de
forma com uma diferença ínfima de votos.
Existem algumas razões plausíveis para a disputa acirrada pelo
governo do Estado nesse período. Segundo Santos e Leitão (2004), uma dessas razões
estava no fato de que pela primeira vez, embora em caráter circunstancial, houve a
“união” da parte mais expressiva partidária representante da oposição como PT,
Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido Social Brasileiro – PSB, Partido do
Democrático dos Trabalhadores – PDT, PFL, parte do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro – PMDB e outras siglas nanicas. Essa “união” se não foi a
favor de uma proposta, até porque não existia, o foi a favor de uma idéia e um desejo
alimentado pelas oposições: derrotar o candidato do Cambeba, representado pelo
100
senador Lúcio Alcântara, a qualquer custo. Com efeito, é racional dizer que talvez
fosse outro candidato, as oposições não teriam tido muito esforço para derrotar em
face do desgaste que apresentava naquele contexto o “Governo das Mudanças”. O fato
da longa experiência na vida pública de Lúcio Alcântara no Estado sem denuncismo
fez com que as oposições quase não tivessem o que falar do “continuador” da era das
“mudanças”. Além, da tradição e expressão política, o candidato Lúcio Alcântara teve
a seu favor inúmeras denúncias, embora não comprovadas, de seu concorrente petista
José Airton Cirilo. Entretanto, e apesar disso, o discurso da oposição repercutiu
amplamente e encontrou prismas em todos os extratos da sociedade de modo
surpreendente e traumático para os representantes tucanos na eleição para governo do
Estado do Ceará. Segundo Moraes Filho (2004, p. 01),
[c]umpre observar que, se adiantada há alguns meses a hipótese de um segundo turno no Ceará, para não se falar de uma decisão por margem tão estreita como a que ocorreu no segundo turno, seria certamente tida por fantasmagórica e não compatível com a análise política racional, tais as chances que se apresentava para um candidato apoiado pelo governador Tasso Jereissati torna-se o governador sem maior dificuldade. Pedindo de empréstimo a imagem, aconteceu um raio num céu de meio-dia ensolarado, a pedir pesquisas de maior profundidade do processo político-eleitoral cearense que meras estatísticas.
Corroborando com o pensamento de Moraes (op. cit.), as eleições para
governador do Estado do Ceará, em 2002, significou entre outras coisas que os
padrões de consenso prevalecentes na década de 1990, tanto na Capital quanto no
âmbito estadual não são mais os mesmos; a “era Tasso” apresenta um visível
esgotamento eleitoral; o tassismo não é mais tão forte quanto já foi, mas não tão fraco
quanto as oposições apregoam; e, o resultado eleitorais de 2002 revelam que, em
relação às elites políticas dominantes no Estado do Ceará durante os últimos 16 anos
(1987-2002) e as oposições não se pode fazer qualquer previsão ou diagnóstico
101
favoráveis a essas elites.O gráfico a seguir demonstra como se deu esse processo
eleitoral no Ceará na eleição de 2002:
Gráfico 01: Eleições no Ceará /2002
1º Turno
José Airton (PT); 924,690
Lucio Alcantara (PSDB);
1.625,202
0,000
500,000
1.000,000
1.500,000
2.000,000
Lucio Alcantara(PSDB)
José Airton (PT)
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – TRE do Estado do Ceará
Após ter sido eleito com extrema dificuldade para governar o Estado,
o governo de Lúcio Alcântara herdou um Estado endividado, com o Produto Interno
Bruto – PIB não alentador e com graves problemas sociais. Elevados índices de
destituição, analfabetismo, concentração de renda, taxas de desemprego e subemprego
elevadas, favelização, falta de saneamento básico, violência criminal etc. No aspecto
político, persistia a falta de transparência, oligarquização partidária, distanciamento
102
dos formadores de opinião, não aceitação do contraditório, características de uma
poliarquia.
No aspecto econômico em 2002 (último ano do “Governo das
Mudanças” de Tasso), a diferença entre a receita e a despesa do Estado foi negativa em
R$ 331 milhões. Os gráficos abaixo retratam a Dívida Líquida – DL/PIB do Ceará em
relação ao PIB do Brasil, bem como a diferença entre receita e despesa. Neste sentido,
uma das primeiras medidas a ser tomada pelo governo da linhagem tucana seria
controlar a diferença entre Receita e Despesa. Neste sentido, o governo de Lúcio
Alcântara esforçar-se-ia para alcançar essas metas primando pela contenção de gastos
do governo tendo, muitas vezes de sacrificar ou deixar de lado a prioridade dos
serviços públicos, inclusive a segurança pública. Com efeito, o dispositivo a seguir
demonstra essa realidade de forma categórica no tocante ao equilíbrio entre receita e
despesa no período de governança de Lúcio Alcântara (200302006).
103
Dívida Líquida / PIB – Ceará - Brasil
19,9%
15,4%13,7%
11,6%
20%
18%
16%
14%
12%
10%2002 2003 2004 2005
57,3%56,6% 54,9%
51,2%60%
50%
40%
30%
20%
10%2002 2003 2004 2005
Fonte: SEFAZ, IBGE e IPEGE. (*) Os dados de PIB/2005 são estimativos.
Gráfico 02 - Dívida Líquida / PIB – Ceará - Brasil
104
O desempenho do novo governo tucano no Ceará pode ser
acompanhado desde o último ano do “Governo das Mudanças” (2002) até o ano de
2005, de acordo com o Resultado Nominal em R$ milhões demonstrado no quadro a
seguir. È possível observar que no governo de Lúcio Alcântara (2003-2006), houve um
superávit de Receita (capital acumulado pelo Estado) quase R$ 200 milhões no ano de
2005 em relação às Despesas. Este resultado é positivo com relação aos cofres do
Estado, porém não significa dizer que os serviços sociais públicos melhoraram ou
aumentaram. No caso da segurança pública, os investimentos não foram igualáveis
com as outras áreas da saúde e educação e foram sempre inferior aos de 2002, que
apresentou cerca de 8% de gastos da Receita enquanto que em 2003, 2004 e 2005, o
percentual gasto na segurança pública girou em torno de 7,7% (www.ceará.gov.br,
visitado em 20/11/07).
Gráfico 03.
RESULTADO NOMINALR$ Milhões
O Resultado Nominal, diferença entre Receita e Despesa Total,foi superavitário em R$ 195 milhões em 2005.
105
Além de um Estado com os cofres públicos vazios e enormes
problemas sociais, o governo de Lúcio Alcântara (2003-2006) teria pela frente um
desafio não solucionado pelo “Governo das Mudanças”: a falta de um “programa
estruturante” para a área da segurança pública. Diante deste fato, o governo estadual,
sob as diretrizes do PNSP, prometeu proporcionar uma segurança “Moderna” e eficaz
para o Ceará.
O PNSP (2003), exige que os governos estaduais, além de co-
financiadores da política pública de segurança, apresentem programas, planos, projetos
e definam como usarão os recursos do FNSP repassados pelo Governo Federal para
garantia e aprimoramento dos Órgãos de segurança pública e Guardas Municipais –
GM. Para esse modelo de segurança pública, o governo cearense prosseguiu propondo
ações integradas através do funcionamento dos organismos de segurança pública,
PMCE, PC, CBMC e Polícia Científica.
Entre as ações primordiais do Programa para a segurança pública
“Moderna”, o governo cearense adotou o plano intitulado “Ceará Segurança Pública –
Ações 2003/2006 e Visão estratégica 2007/2010”. Como não foi reeleito, somente a
primeira parte do Plano deve ser considerada. Os fundamentos, metas, objetivos,
Fonte: SEFAZ e IPECEObs.: No cálculo do Resultado Nominal se considera toda a despesa financeira (amortizações e juros). Não considerando as despesas com amortizações, como faz, na prática, o Governo Federal, o Resultado Nominal passa a ser de R$ 315 milhões em 2006
106
estratégias e ações foram definidos nesse Plano para a segurança pública: focalização
na proteção ao cidadão; prevenção do crime, da desordem e da calamidade pública; o
respeito à lei e aos direitos humanos; a garantia do pleno funcionamento dos poderes
legalmente constituídos e a transparência das ações e dos resultados das ações
estratégicas.
Entre as principais realizações no âmbito dos órgãos de segurança
pública no Plano “Ceará Segurança Pública – Ações 2003/2006” estão: 1) garantia de
melhores estruturas para a segurança pública na grande Fortaleza. Neste sentido, o
Governo do Estado construiu novas delegacias de polícia nos bairros José Walter, Dias
Macedo, Parangaba, Jurema e Metropolitana de Caucaia; 2) na beira-mar da capital
foram criados os programas Guardiões da Praia do Futuro e o Posto de Observação do
Parque do Cocó, com oito unidades de equipes da PMCE e CBMC; 3) criação de duas
novas casas de Detenção, em Itaitinga e Caucaia, com 900 vagas cada uma delas, e a
construção de uma Penitenciária no município de Pacatuba, RMF; 4) foi criado pelo
Governo estadual em Fortaleza o novo Instituto de Identificação e destinado R$ 962
mil para a construção do primeiro Laboratório de Ácido Desoxirribonucléico – DNA
do Ceará com o objetivo de fortalecer a polícia científica e garantir maior eficiência
nos processos cíveis e criminais; 5) na política para o aumento de efetivo, foram
contratados 1.981 novos funcionários e realizado o concurso público para mais 1.611
profissionais de segurança pública; 6) o Governo investiu R$ 8,5 milhões na aquisição
de armamentos, equipamentos, fardamentos e na capacitação de pessoal; 7) para a
frota da segurança pública foram adquiridos 1.246 veículos entre motos, carros,
caminhões e veículos especiais; 8) após mais de 20 anos de espera, a população da
107
Região Norte e da Região Sul do Estado foram beneficiadas com a construção de duas
unidades de IML com suas sedes em Sobral e em Juazeiro do Norte, respectivamente;
9) foram investidos R$ 40,1 milhões para implantação de Núcleos de Ciência Forense
e Laboratórios no interior e na capital; 10) para a inteligência policial, através do
Centro de Inteligência de Segurança Pública – CIISP foram destinados R$ 801 mil;
11) na área da assistência social foram destinados programas voltados para crianças,
jovens, adultos e terceira idade beneficiando 3 milhões e 594 participantes com ações
sociais através do CBM e dos CCDS; 12) considerado um marco, no âmbito da
Legislação PM foi aprovado o novo Estatuto dos Militares, já que o último era de
1976; 14) o Código Disciplinar PM/CBM também foi reformulado; e, 13) finalmente,
visando a reestruturação organizacional e de processos com foco nos resultados,
incluindo a revisão permanente da estrutura e dos processos gerenciais, foram criados
o Conselho Superior de Segurança Pública do Estado – CONSUSP, o GGI e o
Programa de Gestão por Resultados – GPR18.
2.3 – Da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS
Com o objetivo de proporcionar um serviço de melhor qualidade na
área da segurança pública, adequando-se melhor as atribuições institucionais, voltadas
para a proteção da vida e da integridade física das pessoas e de seus patrimônios, o
governo de Lúcio Alcântara deu continuidade a proposta de seu antecessor
consolidando a SSPDS, em substituição a da SSPDC, a SSPDS para gestar os
programas, planos e projetos de segurança pública para seu governo. A SSPDS foi
18 A Sentinela – AORECE PM/BM, Ano IV, Nº. 15 – Set/2006, p. 14-15
108
criada definitivamente em 07 de março de 2003, com o advento da Lei Estadual Nº.
13.297, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE Nº. 045, na mesma data19.
Para cumprir a missão proposta, a SSPDS estabeleceu como metas 10
objetivos, os chamados “dez mandamentos” para os profissionais de segurança
pública: 1) – descobrir os anseios e as preocupações da sociedade; 2) – incentivar o
indivíduo a participar na identificação, priorização e solução dos problemas; 3) –
conhecer a realidade da comunidade onde está servindo, fazendo com que as pessoas
da comunidade o conheça; 4) – trabalhar no sentido de prevenir as ocorrências; 5) –
agir de acordo com a lei e a ética do profissional de segurança pública, com
responsabilidade e com confiança no atendimento à comunidade; 6) – atuar como
profissional de segurança pública local, com responsabilidade; 7) – dedicar a atenção
especial na proteção das pessoas mais vulneráveis: jovens, idosos, deficientes, etc.; 8)
– confiar no seu discernimento, sabedoria, experiência, e sobretudo na formação que
recebeu; 9) – manter-se atualizado, pois a comunidade e a segurança pública estão em
constante evolução; e, 10) integrar-se na comunidade e ajudar as pessoas a resolverem
os problemas pacificamente20.
Ao atingir esses objetivos, a SSPDS acreditava que uma segurança
pública eficiente e eficaz estava sendo efetivada no Estado do Ceará. Porém, o que não
se objetivou foi política de investimento, de valorização dos profissionais e nem o
envolvimento da sociedade civil nas propostas nas tomadas de decisões para a área.
Faltou planejamento com participação da base (Demo, 1994).
19 http://www.sspds.ce.gov.br, visitado em 03/12/200720 http://www.sspds.ce.gov.br, visitado em 03/12/2007
109
Com a extinção da antiga SSP (1997) – que controlava
exclusivamente a PC – as demais Secretarias (SSPDC criada em substituição a SSP e
SSPDS criada em substituição da SSPDC) tem por objetivo possibilitar ao Poder
Executivo a coordenação, o controle e a integração das ações dos principais
organismos responsáveis diretamente pela segurança pública: PMCE, PC, CBMC,
Institutos de Polícia Científica e da Corregedoria Geral que passou a ser única. Com a
filosofia de desenvolver um trabalho integrado entre os organismos responsáveis
diretamente pela segurança pública, a estrutura funcional e organizacional da SSPDS,
desde 2003, passou a ser distribuída no seguinte organograma:
Gráfico 04: Estrutura Organizacional da SSPDS
Fonte: http://www.sspds.ce.gov.br, visitado em 04/12/2007
110
A SSPDS consolidada no governo de Lúcio Alcântara (2003-2006)
teve como primeiro Secretário o Delegado de Polícia Federal aposentado Francisco
Wilson Vieira do Nascimento que exerceu o respectivo cargo no período de janeiro de
2003 a 21 de junho de 2005. Em substituição a Wilson Nascimento, o governador
convidou para assumir a SSPDS o general de Divisão Théo Espíndola Basto,
retornando a política de seu antecessor de colocar no Comando da segurança pública
um militar das forças armadas.
Durante esses poucos anos de existência, a SSPDS vem tentando,
gradativamente, reestruturar o sistema de atuação das polícias e do Corpo de
Bombeiros Militar, a fim de que, através de um comando unificado, possam trabalhar
em estreita colaboração, apoiando-se mutuamente, com o claro objetivo de melhor
aproveitarem os meios disponibilizados de forma integrada e em aproximada parceria
com a comunidade. Neste sentido é que o CIOPS operacionaliza com os três
representantes das principais instituições responsáveis diretamente pela segurança
pública (PMCE, PC, CBMC).
Dando continuidade ao modelo da gestão do governo anterior o
objetivo geral para a área da segurança pública era consolidar, dentre outras coisas:
uma Corregedoria única para o sistema de segurança pública e os Institutos de Polícia
Científica subordinados diretamente ao Secretário da pasta; implantação de uma rede
telemática de comunicação integrando as delegacias de polícia, as companhias e
batalhões PM, os Institutos de Polícia Científica e a Corregedoria Geral ao Sistema de
Informações Policiais (Intranet); implantação da Área Operacional Integrada – AOPI
111
(antigos Distritos-Modelo), estando a RMF dividida em doze áreas integradas,
compostas de policiais civis, militares e de bombeiros; implantação de quase
novecentos CCDS em todo o Estado, tendo como objetivo fomentar uma sociedade
participativa, dentro de espírito de concidadania; exercício do conceito de polícia
cidadã, com a efetiva participação dos CCDS, interagindo diretamente com os
profissionais de segurança pública nas suas localidades; implantação de complexos
integrados de segurança pública, em que policiais civis e militares ocupam uma
mesma estrutura física (Companhia PM e Delegacia Distrital); consolidação do
CIOPS, seguramente um dos mais modernos centros de comunicações policiais do
País (central unificada de despacho de viaturas, composta de policiais civis e militares,
bombeiros e peritos dos institutos de polícia científica); consolidação e robustez do
CIOPAER, possuindo 04 helicópteros e composto por policiais militares e civis e por
bombeiros militares; implantação com apoio da Universidade Estadual do Ceará de um
programa de capacitação continuada, destinado a qualificar os profissionais de
segurança pública – o Campus Virtual de Segurança Pública; ingresso de praças PM e
BM somente com o ensino médio completo (seleção e formação em parceria com a
Universidade Estadual do Ceará – UECE)21.
A busca, em consonância com a SENASP do governo federal, do
Governo do Estado, através da SSPDS, é não somente consolidar esses avanços, mas,
de forma organizada e planejada, inovar e aperfeiçoar cada vez mais, tendo como foco
a redução e controle com rigor e efetividade da violência e da criminalidade no Estado
do Ceará. Para isso se faz necessário utilizar os modernos conceitos sobre gestão
contemporânea, com ênfase na parceria comunitária com as instituições co-
21 http://www.segurança.ce.gov.br, visitado em 14/11/2007
112
responsáveis, direta ou indiretamente, pelas ações que busquem a prevenção ou
redução dos ilícitos penais, nas esferas federal, estadual e municipal22.
22 Idem
113
2.4 – Da continuidade das práticas policiais no projeto “Ceará Segurança Pública
Moderna” (2003-2006).
Apesar dos últimos governos no Estado do Ceará terem discutido,
afirmado e reafirmado que os organismos de segurança pública precisam atender as
demandas por segurança respeitando os princípios do Estado Democrático de Direito,
muitas ações herdadas do regime militar estiveram presentes nesses governos. As
mudanças na área da segurança pública tanto no projeto “Ceará Seguro” de Tasso
Jereissati quanto no projeto “Ceará Segurança Pública Moderna” de Lúcio Alcântara
não foram suficientes para se atingir um serviço de segurança pública dentro dos
princípios democráticos. As Corporações policiais e o CBMCE não só confirmam que
se vive na Sociedade Disciplinar, analisada por Foucault (1986a), mas que, sobretudo,
no caso das militares, como a PMCE e o CBMCE reforçam que a atual sociedade,
especificamente a brasileira é também uma sociedade de espetáculo. Esta configuração
é freqüentemente denunciada nos uniformes, veículos, equipamentos, armamentos e
operações utilizados por esses órgãos militares.
Segundo Fernandes (1989), as práticas policiais de esquadrinhamento
do espaço, o olhar profilático discriminador, suspeito, móvel, adestrado, intimidador, o
linguajar evocativo machista, durão e a dramaturgia teatral e ritualística com que as
personagens exibem seus distintivos e executam suas abordagens revelam o quanto o
espetáculo está presente na sociedade atual. Essas práticas denotam também certa
coreografia do poder e dos micros-poderes distribuídos e alimentados no seio do
aparelho repressivo que se acha, no momento de sua ação, um legítimo representante e
114
representador do poder do Estado. Todavia, como adverte Fernandes (1989, 1974), se
esses organismos a serviço do Estado como máquina panóptica representam uma face
do poder, não se pode esquecer que essa mesma máquina tem outra em face de
perquirir: a sua paixão pelo espetáculo, mobilidade e visibilidade que se ostenta no
espaço público sob o regime do terror por meio de dois dispositivos: o escópico e o
exibicionista ambos vinculados ao espetáculo.
Com efeito, essas práticas reveladoras de uma sociedade de espetáculo
não significam que a população desfruta de uma segurança pública adequada, eficiente
e eficaz, mas certa sensação de terror ou estado de sítio. Tais práticas são incoerentes e
inadequadas para uma sociedade que pretende respeitar, garantir e efetivar os direitos
constitucionais próprios de um Estado Democrático de Direito. Não raro, os
espetáculos praticados pelos organismos policiais estão mais preocupados em aparecer
para a mídia como um aparelho ideal do Estado capaz de sufocar qualquer conduta que
por ventura se desvie das normas padrões estipuladas pelo governo e pela classe
dominante. Daí se entender que a as chamadas tropas de “elite” das polícias são
sempre toleradas pela classe média e alta, pois, normalmente sua atuação violenta e
ilegal ocorre nas áreas mais pobres da Cidade, nos bairros periféricos e nas favelas,
áreas consideradas “perigosas” tanto pela polícia como pelos chamados”cidadãos de
bem”. Deste modo, o modelo de polícia discriminador e dicotomizador para duas
classes de pessoas: “os foras-da-lei” e os “cidadãos de bem” persiste e é alimentado
tanto pela classe dominante quanto pelo poder público.
A questão do continuísmo das práticas policiais é cultural e mesmo
diante de pressões por mudanças essas práticas tentam resistir de maneira contundente.
115
Conforme Reiner (2004), a cultura da polícia não é monolítica, muito embora alguns
estudos a apontem deste modo. Assim como as demais culturas, a cultura policial sofre
pressões constantes pelos autores, mídia e sistema operacional político-mercadológico
nas democracias liberais para que se efetive um processo de aculturação ou até de
desaculturação por parte das agências policiais que trabalham com a missão da
preservação da ordem e da promoção da segurança pública. Há no seio policial a
produção de “subcultura” ou por orientações especiais ou advindas da própria
experiência profissional. Internamente, sobretudo para os homens de linha de frente,
que trabalham na atividade “fim” ou serviço de rua existe pressões por parte de seus
comandos ou chefias que também são exigidos pela mídia e outros órgãos na produção
de maior resultados, sempre. Diante dessas pressões, o poder discricionário de polícia
tende sempre a aumentar e ultrapassar a barreira do legal ou do permitido e aceitável,
socialmente. Seguindo o raciocínio de Reiner (op, cit.), além das regras legais, a
atividade policial é exercida também dentro de três outras regras: as “regras de
trabalho” – aquelas que os policiais têm interiorizadas como princípios guiadores de
suas ações”, as “regras inibidoras”, regras externas que os policiais hão de considerá-
las na sua conduta, por que são específicas e referem-se ao próprio comportamento
visível e as “regras de apresentação” que são usadas para divulgar uma aparência
externa aceitável às ações levadas a efeito por outras razões” (p.133-134).
Não sendo a cultura da polícia monolítica, nem universal, nem
imutável, significa que existem diferenças das mais diversas entre as forças policiais
de acordo com variáveis dos indivíduos que a compõem. Todavia, existem algumas
características comuns dentro da perspectiva policial originárias de problemas
116
constantes enfrentados pelos policiais no exercício, a qualquer preço, de suas
obrigações profissionais nas atuais sociedades industrial-capitalistas de ethos político
liberal-democrático.
Conforme Bretas (1997), os estudos sobre as instituições policiais
devem se centrar nas questões pertinentes à cultura e mentalidade policial, haja vista
ser possível identificar como se relacionam características mais ou menos comuns no
imaginário e nas ações desenvolvidas cotidianamente pelos membros destas
instituições em diversos países. Assim, “apesar de toda a variação institucional, porém,
parece haver a formação de uma cultura profissional coletiva, o que David Bayley
chama ‘Zeitgeist internacional e profissional’” (BRETAS, 1997, p. 81).
A cultura policial desenvolveu-se como uma série padronizada de
acordos que ajudam os policiais a superar e a ajustar-se às pressões e tensões com que
ajudam os policiais a superar e a ajustar-se às pressões e tensões com que a polícia se
confronta. Gerações sucessivas são socializadas nessa cultura, mas não como
aprendizes passivos ou manipulados de regras didáticas. “O processo de transmissão é
mediado por histórias, mitos, piadas, explorando modelos de boa e má conduta que,
através de metáforas, permite concepções de natureza prática a serem exploradas a
priori” (REINER, 2004, p.134).
A continuação das práticas policiais autoritárias, subversivas no
âmbito cultural da polícia é desenvolvida com algumas características comuns. O
sentido do trabalho policial de ser encarado como uma missão, o transforma não
117
apenas num trabalho, mas como um meio de vida que alguns chegam a seguí-lo como
se fosse uma religião, uma seita (Reiner, 2004). Neste sentido, para se compreender o
trabalho policial é preciso entendê-lo como mais que uma missão, mas um imperativo
moral, e não apenas como um outro trabalho qualquer, o que lhe transforma mais
resistente a reformas e mudanças. Em virtude de estar constantemente em alerta, face à
possibilidade de ocorrência de um delito penal a qualquer momento, o policial
desenvolve a característica da suspeição permanente o que não descarta a possibilidade
de se criar no seio policial um padrão de discriminação implícita.
Segundo ainda Reiner (2004), outras características comuns como o
isolamento em função dos turnos de trabalho, da falta de horário, das dificuldades em
se desligar das tensões geradas pelo serviço, de aspectos do código de disciplina, e da
hostilidade e do medo à polícia que os cidadãos podem mostrar e a valorização
criminal expressa no linguajar policial como considerar “ladrões com categoria”,
“bagunceiros”, “lixo”, “provocadores”, “bonzinhos, “benfeitores”, são práticas
recorrente. Além disso, a cultura machista no âmbito da polícia é algo muito forte.
Seguindo o raciocínio de Reiner (op.cit.), é consenso entre os pesquisadores que o
mundo da polícia continua sendo, agressivamente, um mundo masculino, apesar da
promessa de igualdade de oportunidade no Estado-liberal democrático. As mulheres
permanecem de forma inaceitáveis nas forças policiais, apesar de algumas dessas
forças terem incluído em seus quadros o acesso ao sexo feminino, estas continuam
destinadas a atividades burocráticas e assediativas. Essas mulheres continuam
enfrentando obstáculos intransponíveis para “invadir e entrar” nessa reserva
masculina. Conforme Rodriguez, “o paradigma masculino do Humano implica uma
118
hegemonia do poder patriarcal, que se expressa não só na linguagem, mas também no
invisível exercício cotidiano do poder de opressão sobre as mulheres e na sutil
aceitação cultural da subordinação” (In: ALENCAR, 1998, p. 94).
A realidade da cultura ou da subcultura machista impera nas diversas
profissões, inclusive na área da segurança pública que se arrasta no panorama das
polícias brasileiras, sobretudo nas militares. O pano de fundo ideológico dessa situação
é legitimar a divisão social do trabalho entre os sexos, deixando às mulheres
destinadas as profissões de caráter privado.
Com efeito, o papel da mulher com relação às suas atribuições
somente no âmbito do privado foi estratégico e ideologicamente pensado. O objetivo
idealizado pelo sexo masculino foi deixar a mulher fora do domínio político-
administrativo. Desta forma, incorporou-se a idéia da submissão e da inferioridade da
mulher em relação ao homem. Excluída do domínio público, a mulher passou a ser
oprimida com todo tipo de privações, pois, seus direitos passaram a ser invisíveis no
âmbito público e também privado. Como conseqüência dessa situação de opressão é
que se desenvolveu uma violência sempre crescente contra mulheres e meninas no
âmbito doméstico que é praticada pelos pais, maridos ou companheiros. Além da
violência sexual doméstica (violência física, psicológica, estupro, incesto), existem
outros tipos de violência comumente praticado contra as mulheres, como o assédio
sexual nos locais de trabalho, nos ônibus, nas ruas, nos meios de comunicação, nas
músicas e na violência institucionalizada.
119
Com a finalidade sustentadora desse discurso ideológico
fundamentado na desigualdade entre os sexos, há sempre outro discurso
homogeinizador no tocante às ideologias sexuais que definem sistemas de crenças
visando explicar como e o porquê das diferenças entre homens e mulheres. A partir
desses parâmetros diferenciais definem-se direitos, deveres, responsabilidades,
restrições e retribuições, inevitavelmente, desiguais no sentido negativo para o sexo
feminino, o que também provoca reações daqueles ou daquelas que não concordam
com essas diferenças verticais e discrirninadoras do sexo masculino em relação ao
sexo feminino (Frota, 2004; Puleo, 2000 & Scott, 2002). Deste modo, as estruturas
organizacionais dos organismos de segurança pública no Estado do Ceará continuaram
com práticas obsoletas e anti-democráticas, apesar do último governo do Ceará, ter
prometido em seu projeto de “Segurança Pública Moderna” (2003-2006), ações e
estratégias voltadas para uma segurança pública humana, comunitária e sistêmica.
120
CAPÍTULO 3
“CRISES” NA SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ (2003-2006)
Aqueles que circulam nas ruas carregando sobre
si o peso de garantir a integridade física das
pessoas, é o profissional mais afastado de
gratificações extras, promoções, folgas e outros
benefícios ... Em lugar do trabalho nas ruas,
sujeito às adversidades de todo gênero, a sombra
de um padrinho é deveras conveniente. Por que
aguardar antiquados processos de promoções se
um político pode acelerar isso?
Oficial da PMCE
133
CAPÍTULO 3
“CRISES” NA SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ (2003-2006)
3.1 – “Crise” Institucional e de governabilidade
A palavra ‘crise’ origina-se do grego krisis podendo ter conceito
utilizado na sociologia, na política, na economia, na medicina, na psicopatologia,
entre outras ciências. Seguindo a etimologia da palavra crise é equivalente a palavra
vento ou ventania. Indica um estágio de alternância, no qual uma vez transcorrido
diferencia-se do que costumava ser antes. Não existe possibilidade de retorno aos
padrões anteriores. No sentido econômico uma crise pode ter variações desastrosas na
bolsa de valores de modo a comprometer seriamente a economia de um país. No
sentido político crise é uma situação de um governante que encontra sérias
dificuldades para se manter no poder (Fernandes, Luft & Guimarães, 1996).
No âmbito da psicologia, especificamente da psicologia do
desenvolvimento, o conceito de ‘crise’ é explicado como toda situação de
transformação a nível biológico, psicológico ou social, que exige da pessoa ou do
grupo, um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou estabilidade emocional.
Corresponde a momentos da vida de uma pessoa ou de um grupo em que há ruptura
134
na sua homeostase psíquica e perda ou mudança dos elementos estabilizadores
habituais. No tocante a psicologia do desenvolvimento os indivíduos passam por
‘crises’ identificadas através de características ou condições de vida de uma pessoa ou
de um grupo que as expõem a uma maior probabilidade de desenvolver um processo
mórbido ou de sofrer os seus efeitos. Todavia, é possível haver em certas ‘crises’
fatores de equilíbrio cujas condições favorecem e estimulam um desenvolvimento
harmonioso. A ‘crise’ pode ser definida como uma fase de perda, ou uma fase de
substituições rápidas, em que se pode colocar em questão o equilíbrio da pessoa.
Torna-se, então, muito importante a atitude e o comportamento da pessoa diante de
situações como esta. É fundamental a maneira como os componentes da ‘crise’ são
vivenciados, elaborados e utilizados subjetivamente23.
A evolução da ‘crise’ pode ser benéfica ou maléfica, dependendo de
fatores que podem ser tanto externos, como internos. Toda crise conduz
necessariamente a um aumento da vulnerabilidade, mas nem toda crise é
necessariamente um momento de risco. Pode, eventualmente, evoluir negativamente
quando os recursos pessoais estão diminuídos e a intensidade do stress vivenciado
pela pessoa ultrapassa a sua capacidade de adaptação e de reação. Entretanto, a crise
pode ser vista como uma ocasião de crescimento. A evolução favorável de uma
‘crise’, conduz à criação de novos equilíbrios, ao reforço da pessoa e da sua
capacidade de reação. Deste modo, a ‘crise’ evolui no sentido da regressão – quando
23 http://pt..wikipedia.org/wiki, visitado em 06/12/2007
135
a pessoa não a consegue ultrapassar – ou no sentido do desenvolvimento – quando a
‘crise’ é favoravelmente vivenciada (idem).
Na teoria construtivista o individuo passa por várias ‘crises’ desde os
seus primeiros dias de vida até ao final da adolescência. Nesta perspectiva, a crise é
maturativa, proporciona aprendizagem. Já na teoria sistêmica na qual a ‘crise’ não é
necessariamente nem evolutiva e nem maturativa. Neste caso a ‘crise”’é definida
como uma perturbação temporária dos mecanismos de regulação de um sistema, de
um indivíduo ou de um grupo. Esta perturbação tem origem em causas externas e
internas (ibidem).
Com relação ao nosso estudo, enquadramo-lo na teoria sistêmica, ou
seja, a nossa discussão gira em torno da ‘crise’ ou ‘crises’ do sistema de segurança
pública no Estado do Ceará que vêm se arrastando acerca de três décadas e por último
têm se agudizado negativamente mais, ainda. Conforme Xavier (2007), os organismos
institucionais de promoção da ordem e da segurança públicas estão nitidamente em
‘crise’ e enfrentando sérias dificuldades tanto por influência de fatores externos como
internos. Os fatores externos são inúmeros, porém, os que mais assustam é o aumento
contínuo e diversificado dos tipos de violências e o crescimento exacerbado da
criminalidade indo do crime comum ao organizado. Os fatores internos também são
inúmeros negativamente, como o envolvimento de membros dos organismos policiais
em diversas modalidades criminosas, a falta de política de formação, capacitação,
136
valorização profissional e a escassez de recursos humanos (efetivo pessoal), logísticos
(infra-estrutura) e técnicos (armamento e equipamentos).
Segundo noticiou o Jornal Diário do Nordeste, de 26/3/2007, o
contingente de PMs no Ceará é de 12.708. Destes, 6.800 trabalham em Fortaleza,
sendo que apenas 4.150 estão na atividade fim (policiamento ostensivo-preventivo na
rua). No ranking nacional, em matéria de efetivo de pessoal o Ceará está apenas a
frente do Estado do Maranhão com menos da metade do efetivo recomendado pela
ONU, através da Carta de Santiago de 1990. Os cearenses contam com um policial
para cada grupo de 614 habitantes. O Maranhão dispõe de um policial para cada grupo
de 882 habitantes. No âmbito da corrupção, é possível citar desde a propina
corriqueira, à extorsão mediante seqüestro e no âmbito do crime vai desde o comum
aos grupos de extermínio. Em pouco mais de uma década, de 1992 a 2005 (14 anos), a
segurança pública no Estado do Ceará passou por vários problemas internos
considerados “como crises institucionais”, os quais abalaram as principais autoridades
administrativas dessa pasta (O Povo, 17/06/05).
No contexto abordado neste trabalho (2003-2006), várias denúncias
no âmbito institucional comprometeram, sobremaneira o serviço da segurança pública
no Estado do Ceará. Desde outubro de 2003, fora instaurado um Inquérito Civil
Público – ICP, pelo Ministério Público Estadual – MPE e, em novembro de 2003, pelo
Ministério Público Federal – MPF, para que fossem apuradas as denúncias feitas pelo
Major PM Erik Oliveira Onofre e Silva. Conforme Relatório do Inquérito Civil
Público – ICP, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado – PGJE, anexado ao ofício
137
nº. 729/2004, de 05 de maio de 2004, as denúncias do Comando da PM centravam-se
em seis eixos principais: 1) improbidade administrativa – o Comando da PM foi
acusado de classificar oficiais e praças da corporação em Unidades e Subunidades
(Batalhões e Companhias) do interior do Estado objetivando auferir gratificações e
outras vantagens, muito embora esses militares prestassem seus serviços na capital, em
Gabinetes do Comando e Subcomando Geral da PMCE; 2) patrocínio de viagens a
outros Estados da Federação – o Comando Geral foi acusado de gerar passagens e
diárias ao arrepio da lei, quando na verdade os beneficiários não eram movimentados,
sem prestar contas dos seus deslocamentos, o que se chamou de “viagens fantasmas”;
3) procedimentos tendenciosos e ilícitos da Comissão permanente de licitação – a
denuncia referia-se a escolhas de fornecedores ou prestadores de serviços pela
comissão permanente de licitação da PMCE, que seriam realizadas às margens da lei e
de forma pessoal e unilateral pelo Presidente da Comissão, Major PM Antonio Gomes
Filho, sem a presença dos demais Membros; 4) gestão irregular do Colégio Militar da
PMCE – apontam que teriam sido realizado atos sem adequação às leis e
regulamentos que disciplinam a gestão desse Colégio – Lei Estadual nº. 12.199, de
14/01/2000 e Decreto Governamental nº. 16.044, de 10/11/2000; 5) denúncia de
criação de Assessorias em demasia – sob o pretexto de auxílio especializado ao
Comando Geral, de forma permanente, violando, flagrantemente, o art. 22 da Lei
Estadual nº. 10.145, de 29/01/19977, que estabelece com relação a essas Assessorias,
transitoriedade e necessidade comprovadas; 6) uso indevido de verbas do Fundo
Especial Policial Militar – FESPOM da PMCE, desviado de seus objetivos legais
previstos no art. 9º do Decreto Governamental nº. 14.947, de 16/12/1981, que restringe
o emprego desse recurso com pagamento de pessoal.
138
No âmbito federal a Procuradoria Geral da República – PGR apurou
as denúncias do uso indevido com desvio de função de 51 viaturas operacionais
adquiridas com verba do PLANASP, por meio do Convênio de nº. 26, entre o Governo
do Estado do Ceará e o MJ. Essas viaturas que deveriam ser utilizadas,
exclusivamente, para o policiamento ostensivo nos Distritos-Modelos, em Fortaleza,
estavam à disposição de serviços administrativo ou particular de alguns oficiais da
PMCE. Relatório do MPF, referente ao Inquérito Civil – Nº. 0.15.000.001770/2003-
06, da lavra do Procurador Regional da República, Francisco de Araújo Macedo Filho,
acatando denúncias do Major PM Erik Oliveira Onofre e Silva, comprovaram as
denúncias sobre o Comando Geral da PMCE e outras constataram diversas
irregularidades na área do 1º BPM, sob o Comando do então Tenente-Coronel PM –
TC, Sergistótenes Freire Guedes, localizado no município de Russas, Estado do Ceará.
Segundo o Relatório supracitado, várias irregularidades foram constadas no município
de Russas. O Capitão PM Mateus de Farias relatou a utilização de um veículo VW
Santana de Placa especial HYD – 4821 em benefício do Comandante da Unidade (1º
BPM) daquele município, ficando tal veículo na garagem de sua casa para uso de sua
esposa e encontrando-se o mesmo totalmente descaracterizado igualmente a um carro
particular.
Além deste, outro veículo, uma Blazer de placas HYI – 7830, prefixo
23.992, CP 1291, era utilizada apenas quando realizadas viagens para o município de
Fortaleza pelo Comandante do 1º BPM ou sua esposa. Esses dois veículos foram
adquiridos com a verba do PLANASP, conforme suas notas fiscais anexadas às folhas
139
921 e 922 dos autos do ICP Nº. 0.15.000.001770/2003-06. Conforme conclui o
Relatório final do citado ICP,
[p]or todo o exposto pode-se perceber o desrespeito às clausulas do Convênio firmado entre Governo do Estado do Ceará e Ministério da Justiça. Tanto não houve a utilização de todos os veículos da forma prevista como também nem todos estavam identificados como adquiridos com verba do PLANASP, como previsto no Convênio... As condutas perpetradas pelo TC SERGISTOTENES FREIRE GUEDES, e pelos CEL PM FRANCISCO SÉRGIO FARIAS DA SILVA e FRANCISCO CARLOS NUNES GONDIM, respectivamente Comandante e Subcomandante da PM CE, amoldam-se ao previsto na lei nº. 8.429/92. O TC Sergistótenes Freire Guedes, ao utilizar-se da viatura Santana para fins exclusivamente particulares, estando a mesma totalmente descaracterizada e ainda guardando-a na garagem de sua casa, tem sua conduta amoldada ao previsto no art. 9º, inciso IV da referida lei. Quanto à Blazer, era utilizada apenas em alguns serviços de interesse do referido policial, que era Comandante da Unidade de Russas, ficando tempo restante parada, tal conduta foge ao princípio da legalidade administrativa, no aspecto da finalidade, portanto amolda-se ao estatuído no art. 11 da lei de improbidade. Os dois coronéis, Francisco Sérgio Farias da Silva e Francisco Carlos Nunes Gondim, como dirigentes máximos da Polícia Militar do Ceará, deixaram de dar fiel cumprimento ao Convênio, dando destinação diversa às viaturas... Assim, ao desviarem o uso das viaturas, deixaram de dar o fim previsto pelo Convênio, conduta esta que se amolda ao estatuído pelo art. 11, inciso I da lei nº. 8.429/92 (sic) (p. 998 e 999).
Diante das inúmeras denúncias acima citadas o Deputado estadual
Heitor Férrer do Partido Democrático Trabalhista – PDT requereu ao Governo do
Estado o afastamento do coronel Francisco Sérgio Farias da Silva e Francisco Carlos
Nunes Gondim, comandante e subcomandante da PMCE, respectivamente (O Povo,
08/05/04). Todavia, por ter sido indicação política do governador Lúcio Alcântara, o
coronel Sérgio Farias somente foi exonerado do cargo em abril de 2005 (O Povo,
11/04/05, p. 06, - Opinião).
Em dezembro de 2002, através do delegado da Polícia Civil, Francisco
Alves de Paula e do inspetor Aristóteles Leite, que na época pertenciam ao CIOPAER,
denunciaram à Procuradoria da República no Estado do Ceará uso indevido de
patrimônio público por oficiais da PMCE, no caso, a aeronave prefixo PP-ED, do
CIOPAER. Após analisar documentos comprobatórios pertinentes à denúncia, o
140
procurador da República Oscar Costa Filho declarou: “As aeronaves foram utilizadas
para turismo, passeio de familiares e até para fotografar residências de dois
desembargadores” (O POVO, 16/03/2005).
No dia 3/12/02, policiais do CIOPAER denunciaram irregularidades
na unidade, entre elas os vôos sem finalidade policial. A partir de então foi instaurada
uma sindicância para apurar referidas denúncias. Em 05/12/02, o desembargador
Ernani Barreira entrega requerimento ao secretário da Segurança Pública, general
Cândido Vargas Freire, pedindo esclarecimentos sobre os vôos. Em 06/12/02, o ex-
piloto do CIOPAER, Major PM Antônio Nirvando Monteiro, confirma ao Jornal o
Povo, que a operação foi autorizada pelo diretor do CIOPAER, coronel Antônio
Herdez de Miranda. No dia 13/12/02, o general Cândido Vargas entrega o despacho ao
desembargador Ernani Barreira onde afirma que quem solicitou o vôo foi o chefe de
gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça – TJ, José Theófilo Gaspar de
Oliveira Neto. Em 16/12/02, José Theófilo nega solicitação e afirma que quem fez o
pedido foi o assessor jurídico do TJ, Washington Bezerra de Araújo. No ano de 2003,
deu-se prosseguimento à sindicância. No dia 01/06/04, o procurador da República
Oscar Costa Filho deu entrada em ação de improbidade administrativa contra os quatro
oficiais integrantes do CIOPAER: coronel Herdez Miranda, capitães Carlos Dirceu
Rios Rodrigues Júnior e José da Paiva e o major Antônio Nirvando Monteiro. Em
julho de 2004, a ação criminal deu entrada na Procuradoria da República. No dia
15/03/05, o juiz da 10ª Vara Federal, Alcides Saldanha Lima determinou que cada um
dos quatro oficiais teria que ressarcir aos cofres públicos do Estado a importância de
R$ 25, 000,00 (vinte e cinco mil reais) (idem).
141
Outras “crises” nos organismos da segurança pública, sobretudo na
PM cearense no contexto em análise (2003-2006), de caráter administrativo tiveram
início, ainda no final de 2002, último ano do governo de Tasso Ribeiro Jereissati, que
havia se afastado para disputar o cargo do Senado Federal e deixou em seu lugar o
então Vice-Governador Beni Veras. Em novembro de 2002, uma denúncia de
promoção por “apadrinhamento” de oficiais superiores (Tenentes-Coronéis) que
seriam apadrinhados do poder cria uma insatisfação dentro da tropa da PMCE.
Uma suposta manobra idealizada no âmbito interno da Secretaria da Segurança Pública e Defesa da Cidadania (SSPDC) para promover tenentes-coronéis da Polícia Militar neste final de ano, ao posto de coronel, sem que hajam vagas disponíveis, estaria gerando desconforto entre oficiais na corporação. A medida, segundo pessoas que preferem não se identificar, teria como motivo a promoção de tenentes-coronéis “apadrinhados do poder” (O POVO, 25/11/2002, p.08.).
As informações de que estava tramitando uma minuta de decreto
alterando a lei estadual das promoções, exclusivamente para coronéis, iniciada no mês
de outubro de 2002, teria sido a “gota d’água para a desestabilização e a “crise” no
âmbito do oficialato cearense.
Na época em que essa matéria foi divulgada havia 23 coronéis na
PMCE, muito embora o quadro desse posto só comportasse 13 membros. O excedente
teria sido possível por conta de uma lacuna na Lei 10.273 de 1979, que rege as
promoções, criando a figura do coronel agregado. Neste sentido, embora haja ascensão
a mais desses coronéis, estes não ocupariam nenhuma das 13 vagas previstas no
quadro institucional, ou seja, o coronel promovido agregado na PM fica ocupando
outras funções fora da área prevista militarmente (Idem).
142
A disputa por promoções na PM cearense é antiga, sobretudo entre os
membros de maiores postos, os oficiais superiores (major, tenente-coronel e coronel).
O pano de funda dessa disputa consiste entre os oficiais que trabalham na atividade
fim e os que ou estão em atividades burocráticas, atrás dos bureaus ou à disposição de
outras secretarias e assessorias fora do quadro organizacional militar. Em entrevista
ao jornal O Povo um oficial desabafou: “Aqueles que circulam nas ruas carregando
sobre si o peso de garantir a integridade física das pessoas, é o profissional mais
afastado de gratificações extras, promoções, folgas e outros benefícios” (O POVO,
25/11/2002, p. 08). Ao continuar com a entrevista o mencionado oficial alega que os
oficiais que ocupam cargos junto ao poder, trabalham em gabinetes ou simplesmente
são disponibilizados a órgãos que não tem nada a ver com a função são os mais
beneficiados. Deste modo, o policial militar hoje vislumbra muito mais ascensão
funcional para ocupação de cargos privilegiados. “Em lugar do trabalho nas ruas,
sujeito às adversidades de todo gênero, a sombra de um padrinho é deveras
conveniente. Por que aguardar antiquados processos de promoções se um político pode
acelerar isso?” (ibidem).
Com efeito, as “crises” ou “conflitos” do ponto de vista simeliano
(1983) podem significar, dentro de um processo dialético, mais resistência ou mais
coesão nas relações sociais de um grupo ou até mesmo de instituições. Neste caso, faz-
se necessário a superação de obstáculos enfrentados individualmente para poder
fortalecer o todo. No caso da segurança pública ou dos organismos que a compõe não
se verifica tais superações em virtude de haver antagonismos e interesses egoístas
individualizados de forma desmembrada e, culturalmente cultivados. Apesar da
143
redemocratização do País pós-regime militar (1967-1985), os governos estaduais não
procuraram adaptar os organismos policiais a exercerem suas atividades no âmbito do
Estado Democrático de Direito de forma homogênea visando o bem, coletivamente.
Ao contrário
[m]antiveram inalteradas as estruturas de poder das polícias estaduais, que continuaram com suas autonomias intocadas e as trataram como se fossem estruturas neutras e prontas para servir à nova ordem democrática, subestimando o legado de suas práticas autoritárias.... Considerando que a Constituição de 1988 acabou por confirmar as inovações desastrosas do regime militar na estruturara das polícias brasileiras, pelo fato de não haver um consenso no interior das elites, tampouco entre aqueles que não pertencem às elites e no caso do governo mudancista, os aparelhos policiais foram não só subestimados como ignorados, de certa forma, nas ações de governo na reforma do Estado e das instituições. Por outro lado, quando essas ações aconteceram, foram muito mais motivadas para tentar conter as crises surgidas nos próprios dispositivos de segurança pública...do que para implementar uma política de segurança pública capaz não só de debelar essas mesmas crises através da depuração dos aparelhos policiais como de garantir a pacificação dos espaços e das relações sociais nos parâmetros da legalidade[...] (BRASIL, 2000, p. 263-264).
Conforme Brasil (2000), as raízes dessas crises estão vinculadas a um
passado próximo do regime militar autoritário que nem passado ainda é. Esse passado
fortaleceu e legou uma cultura policial separada da sociedade e dos órgãos civis
transformando os aparelhos de segurança pública, destacando os militares como um
“corpo autônomo com leis, códigos morais e ‘éticos’, próprios, constituindo-se, muitas
vezes, em um poder paralelo ao Estado de Direito”’ (p. 174). É valioso destacar que as
razões dessas “crises”, em geral decorrem de querelas entre os próprios membros
dessas instituições que insatisfeitos com algumas coisas passam a denunciar os
próprios colegas, no caso, “colegas de farda”.
Mesmo com o advento da abertura para o Estado Democrático de
Direito pós-1985, e com o paradigma proposto pelo “Governo das Mudanças” de
Tasso Jereissati (1987-1990); Ciro Gomes (1991-1994); Tasso Jereissati (1995-2002) e
144
Lúcio Alcântara (2003-2006), o perfil da segurança pública no cômputo geral
continuou intacto sem mudanças ou projetos estruturantes no âmbito da moralização e
participação, formação, capacitação e valorização profissional. A falta de políticas
públicas planejadas, adequadas e discricionariamente direcionadas para essa área tem
possibilitado o estagnamento e a continuidade de vicissitudes historicamente
arraigadas no seio das corporações policiais.
Se houve diferenças e descontinuidades na política de segurança
pública no “Governo das Mudanças” protagonizado por Tasso, Ciro, Tasso e Tasso
(1987-2002), nos quatro anos do último governo no Ceará (2003-2006), não foi
deferente. Vários episódios externos envolvendo o aparelho policial denunciam as
dificuldades ou “crises” porque passam os organismos estaduais responsáveis
diretamente pela promoção da ordem e da segurança pública.
3.2 – Policiais cearenses envolvidos em rede criminosa
Além das ‘crises’ internas, outras de caráter externo envolvendo
profissionais da segurança pública no período do último governo tucano foram
constantes. Os inúmeros casos de envolvimento de policiais em diversas modalidades
criminosas que vieram à tona por parte da imprensa. Foi o caso, por exemplo, de uma
quadrilha de seis ladrões chefiada pelo Soldado Alexandre Araújo da Silva, 36 anos,
lotado na 6ª Companhia de Polícia do 5º BPM (Fortaleza). Do dia 1º de fevereiro de
2003, uma quadrilha de ladrões que tinha em seu comando um soldado PM foi
145
desarticulada pelas Polícias Civil e Militar no Município de Itapipoca (a 130 KM de
Fortaleza).
A quadrilha foi presa pela Polícia durante o show da Dupla ‘Bruno e Marrone’, ocorrido anteontem, no clube Moreirão, daquela cidade. Sabendo que os ladrões estavam agindo na festa, a delegada Alexandra e o major Werisleik Matias, comandante da PM local, se deslocaram com suas equipes até o local e fecharam o cerco. Foram presos, além do soldado: Antônio Marcos Moreira de Oliveira, 28 anos, natural de de Fortaleza; Francisco Jeibson de Oliveira, 24 anos, natural de Fortaleza; José dos Santos Pereira, 25 anos, nascido em Hidrolândia; Alexandre Sousa Silveira, de 26 anos, taxista de Sobral; José Valdo da Silva Andrade, 33 anos, natural de Fortaleza João José Firmino Neto, de 36 anos, natural da capital. “O bando estava dividido na festa, praticando os furtos”, destacou o major Werisleik (DIÁRIO DO NORDESTE, 01/02/03, p. 15).
No dia 5 para o dia 6 de abril de 2004, cinco policiais foram presos
por determinação judicial, acusados de organizar assaltos. Um inspetor da Polícia Civil
e 4 soldados tiveram suas prisões decretadas pelo Juiz de Direito da Comarca de
Morada Nova, Lúcio Alves Cavalcante, acusados de liderarem uma quadrilha de
assaltantes que agia na região do Vale do Jaguaribe. As acusações contra esses
policiais eram de facilitação de fugas de presos, tráfico de armas, e cobertura a
bandidos de toda estirpe.
O principal envolvido, segundo denúncia realizada pelo assaltante Manuel de Jesus dos Santos, 27 anos, é o inspetor Edílson Santana, lotado na Delegacia Municipal de Morada Nova. Os outros são os soldados Danilo Sérgio Martins, Isaac Bispo Saldanha, Francisco das Chagas Sobrinho e Regivaldo Marcelo Lima. No depoimento que prestou ap delegado municipal de Morada Nova, Francisco de Assis Franco Oliveira Pinheiro, na presença do promotor de Justiça Evilázio Alexandre e do advogado José Idemberg Nobre de Sena, Manuel de Jesus revelou muitos detalhes sobre a ação do bando que agiria sob instruções dos policiais, principalmente do inspetor Santana. O policial teria planejado, fornecido dados sobre um carro-pagador que conduziria R$ 35 mil e, inclusive, conduziu o assaltante em uma viatura da Polícia Civil de Patos. “Sempre entregava o dinheiro ao Santana, nunca aos soldados Danilo, Sobrinho, Bispo e Regivaldo. Mas acredito que recebiam do Santana”, disse Manuel, em um trecho do depoimento que prestou na Delegacia de Morada Nova (DIÁRIO DO NORDESTE, 16/10/04, p. 17).
No dia 24 para o dia 25 de julho de 2004, a Polícia Federal no Ceará
apreendeu cerca de cem quilos de maconha e quatro quilos de cocaína pura, em poder
146
do SD da PM cearense José Oliveira Rodrigues Júnior e da escrivã de polícia civil
baiana Jucilene Libório Passos nas imediações da cidade de Canindé-CE., na BR-020.
A maconha estava dividida em ‘tijolos’ (quantidade acondicionada em plástico
semelhante a um tijolo comum de olaria) e vinha para Fortaleza escondida no chassi,
porta-malas e forro das portas do Voyage de placas HUM-5630, pertencente ao
pernambucano José Rodrigues dos Santos. O SD que dirigia carro era lotado no
Município de Sobral. Além do Voyage onde estava escondida a maconha, a Polícia
interceptou também o Fiat Uno verde, HVK-2991, pertencente ao policial militar que
guiava o Voyage.
No Fiat estavam a escrivã de Polícia Civil da Bahia Jucilene Libório Passos e seu namorado, José Rodrigues, proprietário do Voyage guiado pelo PM. Também estava no Fiat o traficante José Silvino dos Santos, o ‘Zé Piupiu’, condenado pela Justiça Federal, em Pernambuco, a 18 anos de reclusão por tráfico de drogas. A bagagem destas pessoas que viajavam no Fiat estava dentro do Voyage, onde também se encontrava a maconha, ressaltou o delegado Mauro (DIÁRIO DO NORDESTE, 27/07/04, p.17).
Denúncias como as de “assassinos de aluguel” e de outros crimes
dentro da polícia cearense também foram noticiadas pela mídia negativamente no
período em análise. Fundamentado na gravação de uma conversa com Francisco
Carlos Pereira Leite, que se apresentou como proprietário de um terreno no bairro
Jockey Club, em Fortaleza, ocupado por 45 famílias desde março de 2004, o
procurador da República no Ceará Oscar Costa Filho denunciou a existência de
“assassinos de aluguel” na Polícia Militar do Ceará dispostos a matá-lo bem como
“eliminar” lideranças comunitárias. Na gravação, a voz que o procurador diz ser de
Carlos Leite conta que oficiais da Polícia, fardados em viaturas, ofereceram-se para
assassinar Oscar Costa Filho por R$ 50 mil e um líder da comunidade que habita o
terreno por um valor de R$ 3 mil a R$ 5 mil. Segundo o procurador, o caso começou a
147
partir de sua investigação acerca da legalidade da escritura do terreno de
aproximadamente 3.200 metros quadrados situado entre as vias Lineu Machado,
Ernesto Pedro dos santos, Carneiro de Mendonça e Hilda Xavante. A área, ainda,
ocupada, era do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DENOCS cedida
à associação dos funcionários da instituição. Portanto, não poderia ter sido vendida a
nenhum particular, o que ocorreu desde setembro de 1991, sem o conhecimento do
DNOCS. Como está à frente da causa, o procurador é tido como um obstáculo para
que Carlos leite fique definitivamente com o terreno.
Na gravação, a voz que o procurador atribui a Carlos relata que a Polícia realiza o “serviço” de desocupação por R$ 50 mil. “É preciso que o governador tome uma posição, pois isso nada mais é que reflexo da impunidade a policiais infratores”, critica. “Diante disso, a população se sente desprotegida, a situação é crítica e esse banditismo de vê acabar”, completou... Oscar Costa Filho afirma ainda não estar surpreso com atitudes do tipo por parte da Polícia, que ele chegou a definir como “instituição armada sem controle, pois está acima da lei”, reforçando a tese da impunidade. “Vamos dar continuidade à questão da legalidade da escritura do terreno que, até segunda ordem, é público”, frisou (DIÀRIO DO NORDESTE, 13/04/05, p. 08).
Seis PMs presos no dia 18/03/05, por terem sido condenados por
crime de corrupção ativa. Um Tenente, um Sargento, um Cabo e três Soldados foram
presos depois que a Justiça Militar Estadual os condenou. Os PMs vinham sendo
processados desde 1998, quando foram acusados de exigir “propina” (pagamento em
dinheiro ou auferição de qualquer lucro a funcionário público) a condutores de
veículos durante uma Blitzen no Município de Madalena-CE., distante cerca de 186
KM de Fortaleza. Na época, os PMs eram lotados no 4º BPM, município de Canindé-
CE.
O tenente Aldeney Régis Moreira da Silva (que comandou a ‘blitz’), o sargento Sebastião Terto Freire e o cabo Luís Aírton de Lima, foram condenados a quatro anos e seis meses de reclusão. Já os soldados José Pereira Nunes, Francisco de Oliveira Souto e Paulo Sérgio Bernardo Maciel receberam uma pena de dois anos e oito meses de cadeia. Todos foram ainda apenados com a perda do cargo...dos seis
148
condenados, apenas o tenente Aldeney Régis e o sargento Sebastião Terto tinham antecedentes criminais. O oficial responde a vários processos e outros procedimentos, por crimes de estelionato e insolvência de despesa... Já o Sargento Sebastião Terto chegou a ter prisão preventiva decretada, acusado de envolvimento em um assalto... (DIÁRIO DO NORDESTE, 19/03/05, p. 19).
No dia 20 de outubro de 2006, duzentos e cinqüenta policiais federais
de oito Estados brasileiros desencadearam a “Operação Ciclone” que resultou na
execução de 49 mandados de prisão. Desses 49 mandados 40 (quarenta) pessoas foram
presas e nove estavam sendo procuradas. Os policiais federais se dividiram em 63
equipes para fazer o cerco e realizar a operação nos diversos locais, simultaneamente.
No Estado do Ceará as equipes dos federais atuaram precisamente nos municípios de
Fortaleza, Maracanaú, Crateús e Novo Oriente. Das 40 (quarenta) pessoas presas
estavam dois oficiais do CBMC, sendo o capitão BM, ex-comandante do Corpo de
Bombeiros da cidade de Sobral e um major BM que no dia, ao ser preso, estava de
Oficial de Operação no Centro Integrado de Operações e Segurança – CIOPS, um ex-
sargento do Exército Brasileiro e a ex-funcionária de uma prestadora de serviços para
a Prefeitura de Fortaleza, lotada na Secretaria Executiva Regional V – SER V (Diário
do Nordeste, de 21/10/2006, p.16).
3.3 – Denúncias de Grupo de extermínio na PM cearense
Em 2005, novas denúncias confirmam a existência de um Grupo de
Extermínio composto por PMs cearenses e leva o Secretário da SSPDS, Wilson
Nascimento, a pedir exoneração (O Povo de 17/06/05, p. 04). Após mais de dois anos
a frente da SSPDS, o Secretário da Segurança Pública não suportando as pressões
tanto internas como externas decidiu pedir exoneração do cargo ao Governador Lúcio
149
Alcântara. Em seu lugar, dando continuidade a política tassista, assumiu o general de
Divisão do Exército Brasileiro Théo Espíndola Basto. Théo Basto prometeu lealdade
ao novo cargo e levar como contributo para a SSPDS sua experiência adquirida nas
Forças Armadas (O Povo, 17/06/05, p. 04).
Um relatório confidencial produzido pela 1ª Promotoria Auxiliar do
Júri de Fortaleza, do Controle Externo da Atividade Policial Militar publicado no
Jornal Diário do Nordeste revela detalhes de crimes relacionados a um suposto grupo
de extermínio formado por policiais cearenses. Segundo o relatório, esse grupo de
extermínio teria surgido por causa da disputa por um serviço de segurança privada
para a rede de Farmácias Pague Menos entre integrantes das polícias Militar e Civil.
Após inúmeros homicídios insolúveis e com modus operandis similar no período de
dois anos (2003-2005), o MP e a Procuradoria Geral da República – PGR decidiram
solicitar a intervenção da PF na pessoa do Delegado Federal Cláudio Joventino para
presidência de um Inquérito Policial – IP. Após dois anos de trabalho investigativo, o
Delegado da PF Cláudio Barros Joventino procurou a promotora de Justiça Marília
Uchôa de Albuquerque para lhe falar acerca do IP acerca do grupo de extermínio. O
encontro ocorreu no dia 25 de março de 2005 em uma padaria próxima ao Fórum
Clóvis Beviláqua. A representante do MP cearense após tomar conhecimento do
relatório do Inquérito Policial – IP, procedido pelo delegado da PF Cláudio Joventino,
ressaltou:
O trabalho persistente e sério revelou que as mortes investigadas podem ter conexão entre si e que teriam sido perpetradas por policiais militares enquanto realizavam serviço de segurança privada para a empresa Pague Menos, tendo sido requerida a prisão preventiva dos implicados e expedição de vários mandados de busca e apreensão...o grupo conhecido como Farmácia Pague Menos estaria procurando uma empresa para promover a sua segurança privada, pagando, pelo serviço quarenta mil
150
reais por mês. O delegado de Polícia Civil Carlos Cavalcanti teria se habilitado para realizar a segurança privada, entretanto, a empresa teria preferido contratar policiais militares para este fim, sob o comando do major PM Castro, comandante da 1ª Cia do 5º BPM, e do capitão PM Henrique. Insatisfeito com o fato de ser sido preterido, o delegado Carlos Cavalcanti teria passado a monitorar as ações do grupo de policiais militares contratado para a segurança privada da empresa Pague Menos, bem como os crimes de furto e roubo que ali ocorressem... [e]sta apuração teria sido subsidiada pelo delegado de Polícia Civil Carlos Cavalcanti, movido pelo ressentimento de ter sido excluído do contrato de prestação de serviço de segurança privada. O caso foi recepcionado na esfera federal como sendo homicídio em atividade de grupo de extermínio (DIÁRIO DO NORDESTE, 28/06/2005, p. 17).
No decorrer das investigações do IP pelo delegado da PF foi constado
que o grupo de policiais militares contratado para fazer a segurança privada da Rede
de farmácias Pague Menos havia combinado a prática de vários homicídios dentro das
farmácias da referida Rede e que eles próprios entregavam armas aos assaltantes, para
que executassem crimes de assaltos nas farmácias Pague Menos com o objetivo de
fazer valer a necessidade do serviço de segurança privada por parte dos policiais
militares. Ou seja, os crimes de roubo eram encomendados pelos próprios policiais
que forneciam armas aos delinqüentes, e, depois, executavam os ladrões como
“queima de arquivo” para não entregar a trama criminosa (Xavier, 2007).
Em conseqüência da constatação desse possível grupo de extermínio
por parte do MP e do Poder Judiciário, algumas pessoas foram presas, inclusive,
policiais militares. Todavia, há de se ressaltar que em virtude da complexidade desse
tipo de crime muitos dos envolvidos ficam impunes ou logo ficam soltos em função da
falta de testemunhas que são intimidadas a deporem. Nesse caso em epígrafe foi
necessário à vinda a Fortaleza uma Comissão do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana – CDDPH para apurar as denúncias de ameaças a testemunhas e
familiares das vítimas do suposto grupo de extermínio. Vieram de Brasília para
Fortaleza 13 (treze) Membros do CDDPH dentre eles desembargadores, procuradores,
151
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos – SEDH, além da subprocuradora-geral de Justiça, Eva Castillo (O
Povo 06/09/2005).
O medo e o temor das pessoas se revelam sob diferentes posturas. As pessoas temem testemunhar contra alguns desses crimes, favorecendo um clima de anonimato em que as notícias circulam. Ouve-se rumores sobre eles, mas ‘ninguém sabe’, e ‘ninguém viu’. Ao se reportarem a eles, é comum nas narrativas a expressão ‘comenta-se que...’ou ‘suspeita-se que é’.... O clima de suspeição dissemina-se ao mesmo tempo em que se distanciam os mecanismos objetivos da veracidade dos autores materiais dos fatos. Assim experimentada, a suposta existência desses grupos representa uma ameaça à integridade e à liberdade de todos... a ação criminosa desses grupos é uma ação seletiva, recaindo sobre os indivíduos de comportamentos desviantes, sob o significado de uma ‘assepsia do mundo social’. Neste caso, emerge uma representação legitimadora da ação desses grupos que termina por justificá-los e, inconscientemente, legitimá-los. A suposta existência e a convivência social com os possíveis participantes são, deste modo, experimentado e internalizado sob conflitos, expressando níveis de indignação e de medo, ao mesmo tempo em que uma certa dose de legitimação. O medo é a face possível de as pessoas serem enquadradas dentro da classificação dos maus elementos segundo os padrões dominantes locais (FREITAS, 2004, pp. 114 e 115).
De acordo com as idéias acima evidencia-se, na medida em que uma
classe dominante e discriminadora aceita essas atividades criminosas, como se fosse
um bem social e uma limpeza social dos ‘vagabundos’. Essa é uma realidade da
banalização da vida humana, sobretudo de uma classe elitista no sentido do apartheid
social em relação à grande massa pobre e periférica. Percebe-se nas entrelinhas que
existe certa aceitação declarada ou velada de grupos de extermínio ou de “justiceiros”.
Neste sentido, a sociedade brasileira revela que culturalmente é violenta e sedenta por
justiça vingativa.
3.4 – O maior furto a Bancos do País
Outro episódio criminoso que ganhou destaque negativo nacional e até
internacionalmente ocorrido em Fortaleza-CE., no contexto do Governo de Lúcio
152
Alcântara foi o maior furto a Bancos no Brasil e o segundo maior do mundo dos
últimos 40 (quarenta) anos. Conforme Xavier (2007), no dia 08 de agosto de 2005, ao
abrir a agência do Banco Central do Brasil em Fortaleza, funcionários perceberam que
aquela Instituição havia sido furtada. Ao serem solicitados, os policiais logo
detectaram que ladrões escavaram um túnel a partir da casa de Nº. 1.071, na Rua 25 de
Março no Centro de Fortaleza. Era lá que “funcionava” a empresa de fachada PS
Grama Sintética e foi de onde partiu o túnel medindo aproximadamente 80 metros de
extensão por 70 centímetros de espessura que possibilitou os escavadores, chamados
de “tatus” pelos federais, após perfurarem o piso feito de ferro e de concreto, furtar
cerca de R$ 164,755. 150,00 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e cinqüenta
e cinco mil, cento e cinqüenta reais) da caixa-forte do Banco Central – BC de
Fortaleza. Uma verdadeira obra de engenharia criminosa. Os bandidos que alugaram
do outro lado da Rua uma casa simulando venderem grama sintética organizaram,
planejaram e executaram uma operação criminosa histórica na capital cearense. A
organização criminosa tinha como Quartel General – QG da operação a pequena
cidade do sertão central cearense de Boa Viagem distante 221 quilômetros de
Fortaleza e a grande São Paulo, onde residem vários integrantes da família Laurindo,
que é filiada à organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. A ação
criminosa foi liderada pelo cearense Raimundo Laurindo Barbosa Neto, o ‘Neto
Laurindo’, natural de Boa Viagem que contou com ajuda de seus familiares Jeovan
Laurindo da Costa, Lucivaldo Laurindo, Lucilane Laurindo da Costa, Veriano
Laurindo da Costa, Ricardo Laurindo da Costa, Liduína Barbosa de Almeida
(companheira de Neto Laurindo), Antonio Jussivan Alves dos Santos, o ‘Alemão’ e
Fernanda Ferreira dos Santos (esta última teve participação na lavagem do dinheiro
153
furtado). Ao desencadearem a Operação “Facção Toupeira” e
[a]través de escutas telefônicas, devidamente autorizadas pela justiça, os ‘federais’ conseguiram monitorar os passos do bando que já se preparava para praticar roubos milionários contra três agências bancárias, sendo duas em Porto Alegre (Barinsul e Caixa Econômica Federal) e em Maceió (Caixa). Para tanto, túneis semelhantes ao escavado em Fortaleza já estava em adiantado processo de construção. Após a prisão de pelo menos 46 pessoas no Ceará, Rio Grande do Sul, Alagoas, Alagoas, São Paulo, Piauí, Pará, Maranhão e Tocantins, a PF descobriu que pelo menos nove integrantes do bando são de uma mesma família (irmãos e primos), natural de Boa Viagem, além de alguns amigos mais próximos (DIÁRIO DO NORDESTE, 10/09/2006, p. 22).
Conforme apurou o IP da PF, pelo menos 56 pessoas participaram
direta ou indiretamente do furto ao BC de Fortaleza. Diante de provas contundentes, o
juiz à frente do caso, Danilo Fontenelle Sampaio, expediu 56 mandados de prisão
preventiva e 86 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em vários estados
da federação tendo como ponto de partida o Estado do Ceará. Os mandados eram
dirigidos a imóveis que estariam sendo usados pela quadrilha, e o seqüestro de 18 bens
– móveis e imóveis -, como apartamentos, casas, postos de combustíveis, hotel,
motocicletas e automóveis, com indícios de que teriam sido adquiridos com o dinheiro
furtado do BC cearense e que estaria sendo lavado nesses bens, bem como na compra
de ouro, armas, contratação de advogados e financiamento de rebeliões em vários
presídios do país e ataques comandados pelo PCC na Grande São Paulo (idem).
A quadrilha dos homens que furtaram R$ 164,7 milhões do BC em Fortaleza, em agosto do ano passado, e que tentou repetir a mesma ação em Maceió e Porto Alegre, foi definida pela Justiça e pela PF como meticulosa em seu modo de atuar. Organizado, o grupo que tem elementos da facção criminosa Primeiro Comando da capital (PCC), é especialista em ‘planejamento empresarial’ e usa da ‘antijuricidade’ para ‘legitimar’ as ações criminosas. Pelo menos dois advogados dariam suporte ao grupo. Através de grampos telefônicos autorizados, a PF conseguiu rastrear um dos advogados que estaria auxiliando na falsificação de documentos. No último dia 17, o juiz Danilo Fontenelle, da 11ª Vara Federal, decretou a prisão do advogado, que é paulista e já esteve várias vezes em Fortaleza. Os “tatus”, que cavaram túneis em Fortaleza (completo), Maceió e Porto Alegre (incompletos), também contavam com a participação de uma advogada. Por telefone, a PF ficou sabendo que pelo menos três bandidos que atuaram no Ceará estavam trabalhando no buraco que levaria ao cofre do Banrisul. Ela foi identificada quando trocava confidências com um dos bandidos (O POVO, 04/09/2006, p. 08).
154
A PF também informou que a quadrilha se caracteriza pela
diversificação de área de atuação. A tese de grupo organizado é confirmada também
pelo fato da quadrilha possuir uma cadeia de comando, pluralidade de agentes,
compartimentação de tarefas, códigos de honra, controle territorial e agirem sempre
visando fins lucrativos. Além disso, os membros desse grupo sempre se movimentam
por via aérea, se infiltram em organismos estatais corrompendo servidores públicos ou
terceirizados com verbas específicas para propinas. A estratégia facilita a abertura de
empresas falsas e o uso de nomes fictícios (ibidem).
3.5 – Violência criminal no Ceará: efeitos visíveis e invisíveis
No decorrer do Governo de Lúcio Alcântara (2003-2006) no Estado
do Ceará, o avanço de algumas modalidades criminosas assustou os cearenses de
algumas regiões do Estado. Em Fortaleza, o crime de seqüestros com o rapto de
vítimas teve um aumento assustador. Do ano de 2005 para 2006, o número de
seqüestros subiu de 04 para 22 casos, ou seja, um aumento de cerca de 375%. Este tipo
de crime é traumático e deixa seqüelas por muito tempo. O aumento do crime de
pistolagem, sobretudo na região do Vale do Jaguaribe voltou a deixar rastos de temor.
Em 30/06/03, um dos mais populares radialistas daquela região, Nicanor Linhares foi
assassinado com onze disparos de arma de fogo no interior de sua emissora de rádio,
na cidade de Limoeiro do Norte, quando se preparava para gravar seu programa. O
crime foi considerado como de pistolagem e ficou envolto a muitos mistérios (Diário
do Nordeste, 01/07/03). Em 18/09/03, uma ação criminosa com características de
155
pistolagem também em Limoeiro do Norte, deixou sete pessoas mortas por disparos de
armas de fogo. Dois homens não identificados em uma motocicleta aproximaram-se
das vítimas e as assassinaram sem qualquer motivo aparente. As vítimas, além de
mortas, tiveram suas orelhas decepadas e jogadas sobre seus corpos (Diário do
Nordeste, 19/09/03). Desta feita, a principal causa dos assassinatos, segundo apurou a
polícia, foi vingança. Esses crimes deixaram a população de Limoeiro estarrecida em
razão da perversidade e da forma enigmática como ocorreram. Estes são exemplos
isolados da criminalidade no período em análise entre 2003-2006.
Todavia, o aumento da violência criminal no quesito “homicídios por
armas de fogo” no Estado do Ceará, no contexto (2003-2006), apresenta certas
particularidades que merecem ser discutidas mais profundamente. Se no País como um
todo as mortes por armas de fogo diminuíram 12%, entre 2003 e 2006, esta realidade
não foi a mesma no Estado do Ceará. Segundo a pesquisa “Redução do Homicídio no
Brasil”, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Justiça,
em 2006, o País registrou 34.648 óbitos por arma, contra 39.325 em 2003. O que
representa 4.677 vidas preservadas no Brasil, sobretudo entre os homens. Com relação
às taxas de mortalidade por arma de fogo, a queda foi de 18%, reduzindo de 22 para 18
óbitos por 100 mil habitantes. Veja tabela abaixo.
135
Tabela 04
Variação no Número de Óbitos por arma de fogo – Brasil 2003 a 2006:
AnoÓbitos arma de
fogoVariação Nº
absolutoVariação
%Taxa/100mil
2003 39.325 +1.347 +3,5% 222004 37.113 -2.212 -5,6% 202005 36.060 -1.053 -3,2% 192006 34.648 -1.412 -4,0% 18
Redução 2003/2006
-4.677 -12,0% -18%
Fonte: http://www.saude.gov.br, visitado em 21/12/2007
Duas constatações importantes são detectadas nessa pesquisa. A
primeira revela que houve queda no risco de morte nos municípios que receberam
recursos da SENASP do MJ e nos que melhoraram a estrutura para atuar na área de
segurança pública. Aqueles que não investiram em segurança registraram aumento. A
segunda importante constatação da pesquisa é a de que houve a reversão da tendência
de aumento de mortes por arma de fogo. Caso o país mantivesse o ritmo constante da
elevação da mortalidade por essa causa, em 2006 teriam ocorrido 45.745 mortes. A
diferença entre as mortes ocorridas e as que eram esperadas é de 13.838, o que
corresponde a uma redução de 24%. De acordo com o estudo, o impacto das ações
governamentais e da sociedade civil organizada resultaram em 23.961 vidas poupadas.
O estudo deixa evidente o quanto os homens são mais vitimados pelas armas de fogo.
Apesar disso, em 16 Estados e no Distrito Federal houve redução das taxas de
mortalidade por arma de fogo entre as pessoas do sexo masculino. As maiores
reduções ocorreram em Roraima (-55,7%) e em São Paulo (-48,3%). Entre os Estados
que pioraram estão o Amazonas e Alagoas, com aumentos de 85,2% e 59,4%. Além de
136
Amazonas e Alagoas também houve crescimento da mortalidade no Pará, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará, Bahia e Sergipe.
No caso específico do Estado do Ceará verificou-se uma evolução
contínua de homicídios por armas de fogo. Do ano de 2003 para 2004, aumentou +1%;
de 2004 para 2005, +1,6%; de 2005 para 2006, o aumento foi de +0,6%. Esses dados
revelam que a segurança pública no Estado do Ceará, no período em análise continuou
como ponto nevrálgico.
Com efeito, a criminalidade é um problema crescente no Estado. A
taxa de homicídio é de 20,0 por 100 mil habitantes, o que faz o Ceará passar da 22ª
para a 17ª posição entre os Estados da Federação, em relação a 1994. O Ceará possui 9
municípios (4,9% do total do Estado) entre os 10% com maior taxa de homicídio do
Brasil (Waiselfiszl, 2006).
Com o objetivo de se ter uma noção geral de como a violência e a
criminalidade está distribuída no Brasil, por Unidade de Federação, destacando o
Estado do Ceará como amostra nesta trabalho, cita-se o quadro demonstrativo disposto
na tabela abaixo e os respectivos índices de homicídios por arma de fogo.
137
Tabela 05
Taxa de mortalidade por arma de fogo, sexo masculino, segundo UF
(Brasil - 2003 e 2006):
Estados 2003 2004 2005 2006Evolução 2003/2006
Acre 20,2 16,2 12,4 14,7 -26,9Alagoas 52,3 50,7 60,0 83,4 59,4Amapá 56,1 25,6 17,4 23,6 -9,4Amazonas 11,9 15,3 16,7 22,0 85,2Bahia 32,9 31,9 31,8 34,2 4,1Ceará 22,7 23,7 25,3 25,9 14,1Distrito Federal 51,1 45,9 39,8 35,9 -29,6Espírito Santo 70,5 69,1 66,2 69,3 -1,7Goiás 32,8 37,0 34,0 29,2 -11,0Maranhão 12,2 12,1 17,1 14,0 14,7Mato Grosso 43,2 33,6 35,5 30,9 -28,5Mato Grosso do Sul 40,4 35,2 31,2 33,4 -17,4Minas Gerais 30,3 34,3 32,0 27,0 -11,0Pará 26,2 28,8 33,8 34,5 31,5Paraíba 26,6 26,2 30,6 34,9 30,9Paraná 36,1 38,5 39,8 40,1 11,2Pernambuco 92,2 80,6 83,0 79,9 -13,4Piauí 11,9 10,8 11,0 13,9 17,2Rio de Janeiro 90,1 85,0 80,4 69,9 -22,3Rio Grande do Norte 22,3 25,2 26,5 27,2 21,9Rio Grande do Sul 30,8 30,8 30,3 30,4 -1,2Rondônia 50,8 46,0 47,7 35,6 -29,9Roraima 23,0 22,8 17,0 10,2 -55,7Santa Catarina 16,4 14,5 14,4 13,5 -17,8São Paulo 50,1 39,7 30,2 25,9 -48,3Sergipe 37,4 31,5 32,3 38,7 3,5Tocantins 19,1 16,6 13,2 13,1 -31,5Brasil 42,4 39,4 37,3 35,3 -16,6
Fonte: http://www.saude.gov.br
138
Além do quadro demonstrativo da taxa de mortalidade descrita acima,
vale ressaltar que a mortalidade por arma de fogo em capitais, Maceió – AL ocupa o
primeiro lugar, com taxa de 75,4 mortes por 100 mil habitantes no ano de 2006. Em
seguida vem Recife, com taxa de 61,5. Na seqüência, aparecem Vitória – ES, Belo
Horizonte – MG e Rio de Janeiro – RJ, com taxas de 58,9, 35 e 33,4 por 100 mil,
respectivamente. Conforme a pesquisa, a incidência dos óbitos por arma de fogos está
concentrada nos grandes centros urbanos. Como exemplo o estudo afirma que os
municípios com população acima de 500 mil habitantes concentram 28,7% da
população brasileira e responderam por 41% dos óbitos por arma de fogo. No mesmo
ano, os municípios com população até 100 mil habitantes concentraram 43% da
população brasileira e 28% dos óbitos por arma de fogo (idem, ibidem).
O aumento contínuo da criminalidade no Estado do Ceará, bem como
em outras Unidades da Federação demonstra uma realidade preocupante. O medo
constante de sofrer algum tipo de violência criminal a qualquer momento tem levado o
cearense, sobretudo o fortalezense a mudar, inclusive, seu modelo de vida.
Demonstrando viver num estado de alerta constante, os moradores dos grandes centros
urbanos como os de Fortaleza têm adotado uma postura de busca constante para sua
proteção. É notável que a violência criminal vem se alastrando e invadindo, além dos
espaços públicos e privados, um dos mais perigosos espaço social: o imaginário
popular dos cearenses, especificamente daqueles que residem em Fortaleza. Em
defensiva, na tentativa de se sentir seguro, protegido, o fortalezense tem procurado se
enclausurar de todas as formas: condomínios fechados, muros altos, segurança armada
particular, eletrônica, câmeras; cercas elétricas, portões e grades de ferro, cadeados
139
sofisticados, sistema de alarme, cães-de-guarda, fazem até seguros etc. Tudo isso
parece não ser suficiente para proporcionar aos moradores dos grandes centros urbanos
a sensação de segurança que eles almejam. “Já se disse que o presídio tornou-se
modelo de qualidade residencial no Brasil” (BEATO FILHO, 1999, P. 13).
Deste modo, o hábito do fortalezense de fazer caminhadas sozinho nas
ruas, parques e praças da capital está gradativamente desaparecendo, em função da
insegurança. Carros com vidros fumês, motocicletas e bicicletas estacionadas com
trancas e correntes de aço, transeuntes sem o uso de jóias ou outros objetos de valor ao
corpo, mulheres com suas tradicionais bolsas não a tira-colo, mas coladas na frente do
busto, homens sem o uso de sua tradicional carteira no bolso traseiro etc. Todas essas
ações denunciam que a falta de segurança realmente está perturbando o imaginário
dessas pessoas de modo que elas têm de mudar seus mais antigos costumes. Em
entrevista ao Jornal Diário do Nordeste de 29/05/2006, p. 12, a socióloga Marinina
Gruska Benevides afirma que a violência criminal em Fortaleza está se agudizando.
Todavia, o enclausuramento não resolve o problema, pois quanto mais a sociedade se
fecha mais a violência e a criminalidade avançam. De acordo com a socióloga, com o
aumento da violência criminal, o ser humano passou a ver o outro sempre como um
inimigo em potencial e foi deixando de interagir com o próximo, vivendo sempre com
medo e desconfiado de que possa esse próximo fazer-lhe sempre o mal. Neste sentido,
desenvolve-se a cultura do medo que invade o imaginário das pessoas. Com efeito,
apesar de a violência criminal ser tão antiga como a própria existência humana, suas
novas matizes de ocorrências nos grandes centros urbanos têm protagonizado
desestruturas nos mais diversos campos sociais.
140
Em entrevista concedida ao mesmo periódico, Barreira, coordenador
do Laboratório de Estudos da Violência – LEV, da UFC, explica que, além do
aumento da criminalidade em si, a violência hoje, aparece como um fenômeno
disseminado nos mais diversos setores da vida social e pelas mais variadas razões.
Esse fato provoca aumento no clima de insegurança da população, em geral. Neste
prisma, como é difícil se saber quem vai ser o próximo atingido, quando, onde e
aonde, as pessoas vivem, atualmente, sob uma “cultura do medo”. Barreira explica que
essa cultura se reveste da classificação estigmatizadora de quem é perigoso e quem
não é, quais os locais confiáveis e os que não são, onde se pode freqüentar e onde não.
Essas rotulações são produzidas pelo próprio poder público quando distribui câmeras
nos locais considerados “crítico ou sensíveis” à violência criminal e pela própria
população e suas construções e equipamentos na busca por segurança (idem).
Indubitavelmente, as polícias e demais órgãos responsáveis
diretamente pela promoção da segurança pública agem de forma desarticulada e
desorganizada (Paixão, 1993). As vicissitudes e deficiências nessa área têm na polícia
a ponta de atenção por parte da mídia que em geral vive noticiando o binômio
“escândalo/reforma”, ou seja, desnuda o que está errado e menciona o que deve ou o
que será feito nos organismos policiais visando a melhor atuação deles. Conforme
Reiner (2004) são nas manchetes policiais dramáticas, imediatas, personalizadas e
enfáticas sobre crimes violentos e sensacionais que a mídia considera uma “boa
história” (p.208). A polícia desenvolve uma inúmera quantidade de atividades sociais
prestando os mais diversos serviços à comunidade, porém ela somente é lembrada pela
141
atividade de combater o crime, o que pouco faz. Deste modo, existe uma visão
negativa geral sobre o real papel das polícias. Com efeito, tanto a mídia como
editoriais de jornais retratam a polícia como a “única maçã podre” ou de “escândalo e
reforma” e suas manchetes reveladoras de erros da polícia ganham destaque enquanto
que os comentários favoráveis são infimamente destacados.
No caso das polícias, justamente por serem a face mais visível do sistema de Justiça Criminal, freqüentemente estão presentes na mídia, seja através de forma mistificada, seja das sucessivas crises protagonizadas por elas devido às situações de brutalidade, violência e corrupção. A mistificação se dá pela falsa concepção de que o trabalho policial é dedicado exclusivamente ao combate ao crime, relegando a segundo plano o sem número de atividades rotineiras, assistenciais e de manutenção da ordem em que os policiais estão envolvidos... Da mesma forma, a visibilidade dos eventos relacionados a corrupção ou violência policial não esgotam as relações que a polícia mantém com o público, embora enfoquem um aspecto decisivo da atuação policial em sociedades democráticas (BEATO FILHO, 1999, p.17-18).
Em pouco mais de uma década, a mídia foi abastecida por notícias
policiais negativas que renderam-lhe várias “boas histórias”. A polícia brasileira
demonstrou para o País e exterior um retrato negativo pelas chacinas de matanças
coletivas, que contaram comprovadamente com a participação de policiais militares.
Em 26 de julho de 1990, 11 adolescentes foram detidos e depois mortos, a maioria,
moradores da favela do Acari. Eles foram seqüestrados em Magé, na Grande Rio; Em
02 de outubro de 1992, a Polícia Militar de São Paulo invadiu o Pavilhão 09 da Casa
de Detenção. Resultado: 111 presos mortos e nem um policial morto ou ferido à bala;
em 23 de julho de 1993, por volta da meia-noite, cerca de 50 meninos de rua dormiam
sob uma marquise a 50 metros da igreja Candelária, no centro do rio de janeiro,
quando quatro ou cinco homens começaram a atirar e 08 meninos morreram 30 de
agosto de 1993, um grupo de extermínio matou 21 pessoas – entre elas, uma família
inteira, de oito pessoas – na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro – RJ. A chacina
foi uma vingança contra a morte de quatro policiais militares, na véspera, por
142
traficantes da favela. A chacina foi atribuída a PM do Rio; 09 de agosto de 1995 –
seguindo determinação judicial, policiais militares invadiram a fazenda Santa Elina em
Corumbiara, no Estado de Rondônia, ocupada por trabalhadores do Movimento Sem
Terra – MST, resultado: 10 integrantes do MST e 02 PMs mortos; além disso houve o
massacre dos ativistas em Eldorado nos Carajás, no Pará, em 1997; e, a chacina na
Baixada Fluminense – RJ, em 2005, para citar algumas das principais notícias
negativas envolvendo o aparelho policial (Documento Verdade Nº. 4, 1994; Relatório
da Anistia Internacional, 2005).
Essas ações negativas amplamente divulgadas pela mídia confirmam
duas vertentes. A primeira é a de que o problema da segurança pública somente é dado
mais atenção através de eventos dramáticos de violações dos direitos humanos. A
segunda é a de que as relações inter-organizacionais entre a polícia, Poder judiciário,
Ministério Público e sistema prisional são completamente desarticuladas e sem
controle interno e externo. Com base neste diagnóstico fica mais do que comprovado
que é necessário políticas públicas de segurança de forma diferente das que, por vezes,
são efetivadas, porém sem mudanças nas estruturas policiais. Este fato pode ser
atribuído tanto ao descaso do poder público quanto ao desconhecimento do real papel
que a polícia deve desempenhar.
3.6 – Questões que mais comprometem a segurança pública (pesquisa de campo)
Nos meses de novembro e dezembro de 2007 foram entrevistadas
como amostra 100 pessoas com perguntas reguladas e semi-reguladas. As entrevistas
ocorreram em quatro municípios cearenses: Fortaleza, Sobral, Ocara e Russas. As
143
indagações foram divididas igualmente e direcionadas a duas categorias de pessoas,
sendo 50 para profissionais diretamente vinculados à área da segurança pública e igual
número para representantes diversos da sociedade em geral dos mais variados extratos
sociais.
As entrevistas em questão não têm por objetivo apenas a fria
sistematização, classificação e tabulação dos dados coletados. Mas, visa desenvolver
reflexões críticas a partir das diferentes visões dos mais variados sujeitos sociais sobre
a questão das políticas públicas de segurança no Estado do Ceará. Com efeito,
considera-se que os sujeitos produtores de opiniões são de relevância significativa no
âmbito das políticas públicas de segurança.
A título de melhor esclarecimento as indagações aos entrevistados
restringiram-se a um tema geral (“em sua opinião, o que mais compromete a segurança
pública?”) focado em dois eixos (“principais fatores/causas de insegurança pública” e
“quais as principais estratégias/solução?”), tanto para os representantes da sociedade
em geral como para os representantes dos órgãos responsáveis diretamente pela
promoção da segurança pública no Estado do Ceará.
3.6.1 – Principais fatores causadores da insegurança pública (opinião de policiais)
Com o objetivo de aprofundar a discussão acerca da questão da
segurança pública, objeto de estudo, primou-se por uma pesquisa de campo com
abordagem em quatro vertentes no que concerne aos principais fatores causadores de
insegurança pública. Neste primeiro momento, as entrevistas foram dirigidas a
144
profissionais da área da segurança pública (policiais civis, militares e bombeiros
militares) do Estado do Ceará, explicitadas abaixo.
Tabela 06
Fatores/Causas Total de Respostas % Geral1. Falta de recursos humanos, técnicos e
logísticos
26 52
2. Baixos salários e falta de uma política de
valorização e capacitação para os
profissionais da área
9 18
3. Corrupção política, jurídica e policial 8 164. Desigualdade social 7 14 Total 50 100
De acordo com os dados coletados na tabela acima, na opinião dos 50
profissionais da segurança pública do Estado do Ceará, o fator/causa principal aparece
com freqüência de 52%, (26 respostas), para falta de segurança pública no Estado é o
déficit de efetivo pessoal (mais policiais), infra-estrutura (mais viaturas, motocicletas,
caminhões, etc.), armamento e equipamento (recursos técnicos). Em 2º lugar, com
freqüência de 18%, (9 repostas), os policiais acreditam que a fragilidade da promoção
da segurança pública no Estado é devido aos baixos salários e a falta de valorização e
capacitação para os profissionais da segurança pública. O fator/causa seguinte, sobre a
corrupção nas instituições políticas, judiciárias e policiais, a freqüência foi de 8%
percentuais, (16 respostas), o que demonstra uma realidade nada animadora para o
Estado Democrático de Direito que se visa consolidar. Por último, em 4º lugar, com
14%, (7 respostas), os policiais demonstraram que uma das causas da insegurança
145
pública paira na desigualdade social. Como corroboração dos dados da pesquisa,
algumas falas de policiais entrevistados são citadas a seguir.
Na minha opinião, o que mais compromete a Segurança Pública no Ceará são: 1. a deficiência na estrutura da segurança pública como um todo, haja vista inexistir o apoio logístico, como instalações físicas condignas, suporte tecnológico necessário ao bom desempenho da atividade policial capaz de satisfazer a demanda existente; 2. o despreparo físico, intelectual e técnico dos profissionais da área ficando a atuação restrita ao cotidiano, não se elaborando um estudo social, econômico, cultural e criminal de forma que se tenha um controle de tudo que ocorre neste último, bem como desprovido de condições de desempenhar atividades mais complexas em razão da ausência de condicionamento físico; 3. falta de uma política salarial para os policiais de forma que estes não se voltem para a prática de “bicos”, mas para o seu aprimoramento na área de atuação, como no preparo físico e profissional (sic) (MAJ PM).
Na entrevista acima é possível se detectar a confirmação dos dois
primeiros fatores/causas da insegurança pública no Estado do Ceará, citados na tabela
9, ou seja, o problema da segurança pública no Estado do Ceará ou da falta dela, na
opinião da maioria dos policiais entrevistados paira na falta de efetivo pessoal, de
infra-estrutura e de salários mais dignos, capacitação e valorização profissional. Outras
causas visíveis como sendo responsáveis pelo o aumento da insegurança pública no
Estado, tendo como destaque a questão da corrupção arraigada nas instituições, aliada
a outros fatores sensíveis que podem ser a ponta do iceberg, são demonstradas nas
falas abaixo dos agentes de segurança pública entrevistados na pesquisa.
“A corrupção, o desequilíbrio social, a má distribuição de renda, a impunidade e a desestruturação familiar” (CAP PM).
Somente com uma política séria com investimentos, treinamento e melhoria no salário dos policiais combatendo os policiais corruptos e tornando leis mais duras para os crimes dolosos é que estaremos dando um passo gigantesco para tornar a sociedade livre de tanta criminalidade (INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL).
O comprometimento da Segurança Pública não só no Ceará, mas no Brasil inteiro está vinculado há vários fatores. Os que mais afloram e emperram, inclusive, nas melhorias para as polícias estão ligados aos vários tipos de corrupção amplamente
146
praticados dentro das corporações policiais tanto no nível estadual como no federal. Parece ser um mal congênito irremediável. Fala-se muito em melhoria salarial para se evitar a corrupção nas instituições públicas no Brasil, eu sinceramente não acredito que isto seja o remédio. É necessário educação e o cultivo de outra cultura e não dessa que historicamente invadiu o ethos do povo brasileiro. O tão falado jeitinho brasileiro tem transformado os funcionários dos serviços públicos em verdadeiros lobos disfarçados de ovelhas (DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL).
Vejo a corrupção como um dos males endêmicos na sociedade brasileira. Ela faz parte do cotidiano de nossas instituições, principalmente as públicas. No caso da segurança pública pior ainda, pois o Estado paga e arma pessoas, no caso, policiais para pressionar pessoas por dinheiro, extorquir e legitimar uma cultura corruptível e corruptora. Um exemplo claro disto é essa tal de CPRV que vive atacando os pobres coitados que trafegam nas rodovias estaduais, principalmente no interior. Conheço pessoas que trabalham fazendo lotação em transportes alternativos, seja topiqueiros ou carros pequenos que pagam semanalmente aos PMs para poder transportar gente. Essas pessoas são coagidas a fazerem isso, pois senão serão multadas seja por que diabo for. O pior é que todo mundo sabe, inclusive os próprios comandantes, secretário de segurança pública e políticos. Ninguém toma providência. Considero a CPRV como “uma máquina de fazer propina” e o policial que quiser ir pra lá tem de entrar no esquema se não dança. É uma cultura da corrupção que se legitimou e as pessoas condutoras de veículos aceitam normalmente. Se o BPTRAN foi extinto porque segundo o governo na época servia apenas para extorquir o povo, a CPRV é dez vezes pior. Espero que um dia suba no poder um governo sério e digno que acabe com esse mal social (sic) (SGT PM).
As entrevistas acima não somente confirmam a questão da gravidade
da corrupção como algo cultural nas instituições brasileiras, mas também revela uma
grave denúncia comprometedora de um serviço público. A partir dessa última
entrevista muitas reflexões vêm à tona quanto à existência desse serviço (a fiscalização
de veículos automotores) nas rodovias estaduais no Estado do Ceará por parte da
CPRV.
Por último, é possível destacar algumas falas significativas relativas à
questão da desigualdade social do ponto de vista de policiais.
O maior problema da Segurança Pública do Estado é a atual estrutura social do País que vive um momento de grande exclusão social. Normalmente a culpa de todo o problema de Segurança é atribuída às polícias militares, civis e outros órgãos de segurança pública, mas estas instituições apenas conseguem por mais que trabalhem atenuar o problema de Segurança da Sociedade. O que realmente compromete a Segurança Pública é a desigualdade social, a falta de emprego, moradias decentes, comida, as instituições de ensino básico totalmente sem estrutura, a falta de assistência de todo o tipo por parte do Estado, tudo isso tira do
147
homem sua condição de ser humano e sua noção de certo e errado, levando assim uma forte tendência ao crime (TEN PM).
Hoje em dia o que mais compromete a segurança pública no nosso País é o fator social, pois não podemos tratar problemas que devem ser garantidos pelo Estado de forma irresponsável, reprimir e prender não vai solucionar, ou seja, irá encher as delegacias e presídios que não possuem atividades de recuperação e os detentos ao serem soltos sempre voltam a praticar novamente os crimes e esta bola de neve não pára de crescer e não sabemos quando vai para de crescer (SUBTEN PM).
O que mais compromete a segurança pública no Ceará e no Brasil é a desigualdade social. Os políticos não estão nem aí para o povo. Enquanto não fizerem uma reforma no Código Penal Brasileiro e abrir espaços para uma educação digna, a situação do Brasil ficará complicada, no que diz respeito ao sistema de segurança pública (SD PM).
O que mais compromete a Segurança Pública no Ceará e no Brasil é a desigualdade social. Enquanto não houver uma política voltada para a inclusão social, com rede de empregos para jovens e adultos, educação de qualidade, assistência familiar, jurídica, redistribuição de renda para alcançar a todos, estímulo a uma cultura de paz e respeito aos direitos humanos, jamais teremos uma segurança pública eficiente e eficaz (POLICIAL CIVIL FEMININA).
Os diversos depoimentos dos profissionais de segurança pública por
últimos citados demonstram que eles estão sensíveis quanto a questão da desigualdade
social. Isto pode ser significativo para efetivação de políticas de segurança pública
planejadas e que levem em conta os atores sociais das comunidades. Com efeito, essa
consciência quanto a questão social não deixa de ser um grande avanço para a
melhoria qualitativa do serviço de segurança pública.
No entendimento dos policiais entrevistados, as principais
estratégias/soluções no enfrentamento da insegurança pública causada pela violência
em geral e pela criminalidade, são: em 1º lugar, o investimento por parte do governo
em aumento de efetivo pessoal, melhor formação, capacitação e política de valorização
profissional com salários mais dignos. Em 2º lugar, os agentes dos órgãos de
segurança pública afirmam que a solução para a insegurança pública está na reforma
148
da Legislação Penal brasileira e na eficácia da Justiça contra a impunidade. Em 3º
lugar, seria uma política de redistribuição de renda menos injusta com mais empregos
para todos, sobretudo para os jovens. Em 4º e último lugar, os agentes de segurança
pública acreditam que a insegurança pública seria reduzida na proporção que fosse
desenvolvida e trabalhada, gradativamente, políticas públicas voltadas para uma
cultura de paz.
3.6.2 – Principais fatores causadores da insegurança pública (representantes da
sociedade).
Outro momento da pesquisa de campo foi direcionado as pessoas da
sociedade, incluindo os mais diversos representantes das camadas sociais. Os
entrevistados responderam as mesmas indagações antes feitas aos profissionais da
segurança pública do Estado do Ceará.
Tabela 07
Fatores/Causas Total de Respostas % Geral1. Desigualdade social 21 422. Corrupção política, jurídica e policial. 13 263. Impunidade. 09 184. Baixos salários e falta de uma política de
valorização para os profissionais da área
07 14
Total 50 100
Conforme o colhido nas entrevistas aos representantes da sociedade
comum, o fator/causa número um da insegurança pública no Ceará é a desigualdade
social com o percentual de 42% (21 respostas); em segundo lugar, com 26% (13
respostas) ficou a questão da corrupção política, jurídica e policial; em terceiro lugar
149
apareceu a impunidade com 18% (09 respostas); e, em quarto e último lugar com 14%
(07 respostas) foi apontado a questão da falta de uma política de valorização
profissional com investimentos em recursos e melhores salários para os profissionais
de segurança pública.
Conforme demonstrado na tabela acima os representantes da
sociedade, acreditam que as estratégias/soluções para o problema da falta de segurança
pública são: em primeiro lugar, uma política de redistribuição de renda mais justa; em
segundo lugar, investimento por parte do governo em mais recursos técnicos, humanos
e logísticos, somados a uma melhor formação, capacitação e salários mais dignos para
os profissionais de segurança pública; em terceiro lugar, reforma da legislação penal e
maior eficácia da Justiça contra a impunidade; e, em quarto lugar, investir em
educação com política educacional voltada para uma cultura de paz. Essas questões
estão retratadas nas entrevistas transcritas abaixo.
Não se pode falar em segurança pública se não houver política de inclusão social com mais afinco por parte do governo. O Estado brasileiro foi erigido de forma estranha ao seu principal motor: o povo. Um Estado não pode ser formado apenas para uma classe como ocorreu no Brasil. Historicamente, o Estado brasileiro sempre esteve fora do alcance do povo. Como analisou Machado de Assis no segundo Império o governo e as instituições mantém uma relação promíscua, clientelista e que só funcionam para uma certa parcela da população, de preferência para os mais próximos das autoridades governamentais. A grande massa da população sempre foi abandonada à sua própria sorte. A partir, sobretudo da década de 1970, o Estado brasileiro foi sacudido por políticas econômicas neoliberais com efeitos negativos para a grande massa pobre do país que sempre ficou fora da produção da nação. A concentração de renda que já existia passou a ficar mais concentrada ainda na mão de poucos enquanto que a grande maioria sofre com o desemprego e outras misérias sociais. Os jovens, a medula de uma nação, sempre estiveram fora das políticas sociais. Tudo isso faz do Brasil uma nação, com centros urbanos super povoados com acentuada favelização que transforma o Estado brasileiro numa nação violenta, drogada, doente e sem muitas esperanças. O abandono por parte do Estado da grande massa da população tem contribuído significativamente para a violência e a criminalidade. Se quisermos ter sucesso na segurança pública é preciso que o Estado brasileiro torne a desconcentração de renda uma prática permanente (SGT DA PMCE).
150
É preciso haver investimento maciço nas estruturas das polícias. Não se pode combater a criminalidade do século 21 com mecanismos do século 19. Faz piedade ver a situação com que os policiais no Ceará trabalham. Em decorrência disso, muitos dos nossos policiais estão sendo, gradativamente massacrados por bandidos com alto poder de fogo. As polícias no Ceará é um sucateamento só. Não há capacitação e nem uma formação competente. É inconcebível que em pleno século 21 se tenha polícias com treinamento das forças armadas para cuidar de segurança pública. O mundo mudou e as polícias deveriam ter acompanhado o trotear da humanidade. É preciso dá melhor condições e melhores salários para que os policiais se sintam mais motivados a abraçar sua profissão (POLICIAL CIVIL).
Investir na educação. Não só quantitativamente, mas essencialmente qualitativamente. Países que fizeram isso nos últimas décadas, apresentam um padrão de qualidade de vida relevante não só em relação a segurança pública, mas também em relação a outros ícones: econômico, político e social. Podemos dizer que são países que se auto-sustentam com bases numa educação de qualidade, pois sua edificação cultural sustenta o progresso científico que por sua vez refletem-se em uma segurança pública, que é pública e de qualidade (PROFESSORA).
Seja criado nas escolas, grupo de jovens para debater e esclarecer sobre a violência; criminalidade. As prefeituras e os eleitos convidem civis e militares para que possamos entender de Lei. O Grupo Gestor das escolas incentivem a todos, para debater e esclarecer sobre violência; criminalidade (MICRO-EMPRESÁRIO).
Acredita-se que as proposições dessas pessoas entrevistadas, em
diferentes municípios do Estado do Ceará apontam para as principais problemáticas
que envolvem as políticas públicas de segurança. A partir destas questões é possível se
vislumbrar outras. Dentre elas, a de que o problema da insegurança pública depende
não somente de uma única medida ou estratégia mágica que possa se chegar a uma
solução plausível. São envolvidas várias questões que devem ser tratadas não somente
pelo poder público e pelas instituições diretamente responsáveis em promovê-las, mas
por todas as pessoas. Entretanto, de acordo com os dados analisados, as
estratégias/soluções somente serão efetivadas se houver vontade política e para isso
faz-se necessário a conscientização de todos os envolvidos, sobretudo dos
representantes da sociedade civil pressionando, através de movimentos legítimos, para
que de imediato sejam realizadas as questões objetivas, como: políticas públicas de
redistribuição de renda, investimentos em recursos humanos, logísticos e técnicos,
151
formação e capacitação profissional, política de valorização aos profissionais da área e
política educacional voltada para uma cultura de paz.
Percebe-se a disjunção entre as falas dos integrantes dos organismos
policiais e as falas dos representantes da sociedade em geral. Enquanto os
representantes da sociedade comum (sem ser policiais) acreditam que o principal
fator/causa da insegurança pública é a desigualdade social, os policiais acreditam que é
a falta de investimento na área da segurança pública. Como resolver este embróglio?
Conforme a discussão implementada neste trabalho, independente de consideração de
posição dessas questões, ambas são apontadas tanto por policiais como por membros
da sociedade em geral como causas da insegurança pública. Deste modo, entende-se
que essas questões devem ser consideradas e solucionadas simultaneamente para se
conseguir segurança pública com maior e melhor eficácia.
3.7 – Paradoxos das polícias militares
As polícias militares no Brasil são consideradas forças auxiliares e
reservas do Exército. O texto constitucional de 1988 deixa claro a subordinação e
vinculação das PMs ao Exército, bem como define as incumbências das polícias
militares e dos corpos de bombeiros militares no Capítulo 144 §§ 5º e 6º:
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
152
As corporações militares são os organismos mais significativos de
segurança pública no Brasil, não somente pela quantidade de efetivo (cerca de 70%
dos agentes policiais, conforme Mariano, 2004), mas, sobretudo porque são as
primeiras ou até mesmo as únicas, a atenderem solicitação de ajuda ou socorro das
pessoas contra perigo atual ou iminente, diariamente.
As polícias modernas foram criadas com a missão específica de
manter a ordem pública e proporcionar segurança, servindo ao regime político e
evitando levantes públicos. Com efeito, a origem das polícias modernas está na gênese
do advento do Estado-Nação, pós-revoluções Americana (1776), Francesa (1789) e
ajusta-se com a consolidação ideológica vinculada à proteção dos direitos
fundamentais no Estado contemporâneo. Todavia, apesar de importante função na
modernidade a polícia é excluída das histórias políticas ou de estudos de administração
estadual. Neste sentido, é que os organismos policiais só passam a ser objeto de
estudos das ciências humanas, a partir da década de 1970 (Bretas, 1997a, 1997b).
As polícias militares estão sob parcial controle do Exército. Isto
ocorre em razões de algumas preocupações das próprias Forças Armadas. Conforme
Zaverucha (2001), a quantidade do efetivo das polícias militares no Brasil é o dobro do
efetivo das tropas do Exército. Deste modo, é por demais estratégico que o Exército
mantenha ideologicamente o controle tanto do material bélico como exijam que as
PMs estejam sob o crivo de seus ordenamentos jurídicos, códigos e regulamentos. Um
dos dilemas visíveis das polícias militares reside no fato de ter como missão
proporcionar um serviço público de caráter civil, a segurança, porém ter de subordinar-
153
se parcialmente aos critérios administrativos e jurídicos das Forças Armadas. Um
exemplo disso são os Códigos Penal e de Processo Penal Militares que foram criados
com base no Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, pelos Ministros da
Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, com base no artigo 3º do AI
Nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o § 1º do artigo 2º, do AI Nº 5, de 13
de dezembro de 1968. Até aos dias de hoje esses Códigos são utilizados para apurar
delitos de policiais militares, através de Inquérito Policiais Militar – IPM. O IPM é o
instrumento investigativo utilizado de possíveis crimes cometidos por policiais
militares no âmbito militar e que deve ser julgado pela justiça militar estadual.
Com efeito, apesar das polícias militares servirem aos governos civis
de seus respectivos Estados, elas não têm normas, códigos e regulamentos próprios,
mas estão sob os auspícios normativos do Exército. Em outras palavras, as PMs
pertencem, simultaneamente, aos civis, isto é aos governantes das unidades federadas e
ao Ministério do Exército. Isto, inclusive, pode significar um grave risco
constitucional. Isto é claramente percebido nas jornadas de trabalho que ultrapassam a
carga horária estabelecida na CF (Cruz e Barbosa, 2002).
Essas questões explicam o paradoxo da própria formação dos agentes
de segurança pública das polícias militares. Com efeito, esses agentes de segurança
pública pertencente às polícias militares têm em seu período de formação ensinamento
restrito das Forças Armadas. Todavia, sabe-se que a missão das Forças Armadas é de
preparar o militar para a guerra e deixá-lo apto para a eliminação do inimigo. Com
relação à função dos policiais militares, o objetivo nem é a guerra e nem tampouco a
eliminação do próximo, mas a defesa e proteção das pessoas, conservando-lhes suas
154
vidas. Deste modo, as polícias militares se tornam uma anamolia diante da
Constituição e do Estado Democrático de Direito.
Exageros a parte, pode-se constatar que as Polícias Militares foram devolvidas, apenas nos últimos dezoito anos, à sua condição efetiva de uma agência policial ostensiva que ainda encontra-se estruturada em moldes militares, mas que presta essencialmente serviços civis à população. Vê-se que, como organizações de emprego militar, a tradição das PMs é bicentenária. Mas, em contrapartida, a sua história como Polícia é extremamente jovem. Em verdade, a identidade policial das PMs está por se institucionalizar. Sobretudo, se consideramos que foi somente após a promulgação da constituição democrática de 1988, que as questões de segurança pública e, por sua vez, os assuntos policiais, passaram a receber um tratamento próprio, dissociado das questões mais amplas da segurança nacional É evidente que as transformações ocorridas no mundo das leis não se traduziram automaticamente em mudanças nas realidades do mundo policial. As polícias militares, afastadas por mais de um século das suas atribuições policiais, têm procurado aprender de novo a “fazer polícia”. Elas têm tentado "voltar a ser polícia de verdade" com todas dificuldades que resultam de uma frágil tradição em questões propriamente policiais. De fato, este tem sido um dever de casa difícil, tardio, porém, indispensável. A retomada de sua identidade policial, isto é, a reconstrução do seu lugar e de sua forma de estar no mundo tem se dado dentro de um processo inevitável de revisão de seus valores institucionais, dos seus fantasmas, enfim, de seu passado paradoxal (MUNIZ, 1999, p. 184).
Outro paradoxo visível no seio das PMs é o fato de seus integrantes
pertencerem às camadas sociais mais baixas e terem que isolá-las ou afastarem-se
delas pós-ingresso nas fileiras dessas corporações, por exigência da própria formação e
de seus Códigos, normas e regulamentos. Neste sentido, o Código Disciplinar da
PMCE e CBMC (Lei Nº 13.407, de 21.11.03), classifica como transgressão
média“freqüentar lugares incompatíveis com o decoro social ou militar”, (ART. 13 §
2º, letra L).
A formação e inclusão de policiais militares têm em sua historicidade
a imposição de variadas normas de comportamento cujo paradigma de polícia moderna
é a inglesa que adotava disciplina militar rígida, a fim de condicionar os integrantes
das forças policiais como trabalhador padrão, exemplar.
155
Todo esforço era feito para isolar o policial de seus pares trabalhadores, controlando seus locais de moradia, investigando as candidatas a esposa dos policiais, proibindo a freqüência a bares e a contração de dívidas. Ainda assim, a queda do número de demissões que se percebe no último quarto do século indica ao mesmo tempo um a conformação à norma e o desenvolvimento de formas de contorna-las que tiveram de ser toleradas... A relação entre os policiais e os trabalhadores, que se revelou explosiva e marcada por dificuldades na fase de implantação das forças...foi pouco a pouco se estabilizando, na medida em que as próprias direções policiais foram percebendo determinados limites de ação, reduzindo a ingerência policial sobre os ‘maus hábitos’ da população trabalhadora e estabelecendo normas de convivência com o jogo e a prostituição que evitavam o confronto permanente...(BRETAS, 1998, p. 04).
As PMs brasileiras são de características completamente militares.
Aos seus componentes são negados direitos civis, como liberdade de expressão e
direitos políticos (Arts. 14, §8º; 42, §1º, combinado com art. 142, §3º, incisos IV e V
da CF). Com efeito, aos policiais militares resta-lhes uma cidadania de segunda ou
terceira categorias, em razão da negação de direitos civis e políticos, mesmo no atual
Estado Democrático de Direito. Nos países de tradição democrática como os europeus
e EUA, as organizações policiais são de cunho paramilitar, o que as tornam mais
flexíveis e mais próximas da sociedade civil, bem como uma organização mais
integrada.
Há hoje no Brasil, um consenso quanto à necessidade de se promover mudanças substantivas no nosso atual sistema de segurança pública. Os políticos, independente de suas orientações político-partidárias, assim como os segmentos civis organizados, os formadores de opinião, os cidadãos comuns e os próprios profissionais de polícia, são unânimes em reconhecer a imperiosa necessidade de se buscar adequar o sistema policial brasileiro às exigências do estado democrático de direito. Afinal, o divórcio estabelecido entre a consolidação da nossa jovem democracia e os assuntos relativos à segurança pública tem custado muito caro a todos nós. O histórico desinteresse, intencional ou não, da classe política e das nossas elites quanto à importância estratégica das organizações policiais na sustentação das garantias individuais e coletivas, há muito já não tem sido uma postura defensável na arena pública. Ele sucumbiu forçosamente às pressões da sociedade brasileira por uma prestação de serviços de segurança pública capaz de acompanhar os imperativos de uma cidadania estendida a todos os brasileiros. Contudo, esse desinteresse não deixou de contribuir para a cristalização de uma crise institucional sem precedentes. E isto, de tal maneira, que pode-se afirmar, sem correr o risco das falsas generalizações, que atualmente temos tudo por fazer neste campo (MUNIZ, 1999, p. 177).
156
Os policiais militares são os únicos funcionários estaduais que podem
ser presos sem ordem judicial e sem estarem em estado de flagrante delito, conforme
art. 5º, inciso LXI da CF e sem direitos a habeas corpus (art. 42, §1º, combinado com
artigo 142, §2º, da CF). Além disso, como observou Julita Lemgruber (2003), há um
distanciamento excludente e discriminador muito profundo entre as praças (de Soldado
a Subtenente) e os oficiais (de Tenente a Coronel). Além do desnível salarial, as
atividades criam um aparthaid enorme entre as duas categorias. Aos oficiais cabem o
gerenciamento e a administração com base nos preceitos dos Códigos e Regulamentos,
aos praças, cabe a execução das ordens emanadas pelos oficiais sem questionamento
algum, sob pena de punição disciplinar. Aos praças, a ascensão hierárquica é
demorada e depende vagas, aos oficiais, além dos prazos previstos nos Regulamentos
serem cumpridos, pode ascender hierarquicamente, dependendo de merecimento
apontado por seu superior hierárquico ou por um político. “Muitos soldados têm
formação superior, no entanto, não existe nenhuma perspectiva de crescer na
instituição; entram soldados e morrem soldados, e apesar de haver oportunidade, é
extremamente difícil alcançá-la” (OLIVEIRA, 2002, p. 88).
Este desprezo na carreira policial militar das praças tem
proporcionado uma anomia profunda no seio da tropa, o que respinga num serviço
despersonalizado e desqualificado. Sem falar que no caso das polícias militares, não
existe planos de cargos e carreira para ascensão funcional ou salarial.
Indubitavelmente, as estruturas das polícias militares mantidas até
hoje no Brasil e no Ceará necessitam de mudanças significativas. Bayley (2001)
157
aponta que a tendência para o futuro das polícias é: 1) diversificação do formato
institucional das corporações, com crescimento de polícias privadas e agentes de
segurança, além daquela subordinada ao Estado; 2) aumento do policiamento devido
ao crescimento demográfico; 3) manutenção da estrutura dos sistemas de polícia, pela
resistência da tradição burocrática, com uma pequena tendência da centralização entre
as forças policiais em alguns países; 4) maior publicização das ações policiais e
responsabilização da polícia, com maior supervisão externa; 5) aumento do papel
político das forças policiais; 6) extensão do trabalho policial – aplicação da lei,
investigação criminal, prestação de serviços – permanecerá tão variada quanto o é na
maioria dos países atualmente, mantendo a tensão entre a aplicação da lei e a prestação
de serviços; 7) aumento dos requisitos profissionais e mudanças na administração para
efetividade das polícias; e, 8) as estratégias de policiamento no controle da
criminalidade vão variar de acordo com a incidência de violência coletiva,
preocupação da população com os crimes comuns e a visão do indivíduo dentro da
comunidade.
É evidente que as transformações ocorridas no mundo das leis não se traduziram automaticamente em mudanças nas realidades do mundo policial. As polícias militares, afastadas por mais de um século das suas atribuições policiais, têm procurado aprender de novo a “fazer polícia”. Elas têm tentado "voltar a ser polícia de verdade" com todas as dificuldades que resultam de uma frágil tradição em questões propriamente policiais. De fato, este tem sido um dever de casa difícil, tardio, porém, indispensável. A retomada de sua identidade policial, isto é, a reconstrução do seu lugar e de sua forma de estar no mundo tem se dado dentro de um processo inevitável de revisão de seus valores institucionais, dos seus fantasmas, enfim, de seu passado paradoxal. É claro que não poderia ser diferente: as PMs ultrapassaram recentemente os muros seguros de seus quartéis e encontraram uma realidade urbana, social e política radicalmente distinta e muito mais complexa do que aquela que talvez tenha ficado romantizada em suas antigas memórias institucionais. Por outro lado, nos últimos trinta anos, o Ocidente assistiu a uma verdadeira revolução em termos de conhecimentos, práticas e tecnologias de polícia: de um lado, foi consolidado um volumoso acervo científico sobre as questões relacionadas às organizações policiais contemporâneas; de outro, alteraram-se as filosofias, o ensino e a instrução, os meios de comunicação adotados, os tipos de veículos, os armamentos, as estruturas organizacionais, as técnicas de emprego de força, os expedientes estratégicos e táticos, etc. No nosso caso, toda esta modernidade dos assuntos de polícia não foi imediatamente transposta para a
158
realidade das PMs. A transição para a consolidação da vida democrática também se faz sentir, de forma aguda, nas PMs que, até os dias de hoje, estão tentando superar o descompasso entre as missões contemporâneas a ela atribuídas e a sua capacidade de poder respondê-las de forma efetiva nas ruas de nossas cidades (MUNIZ, 1999, p. 185).
Bayley (op. cit.), conclui com uma discussão central de como é
possível o uso dos organismos policiais no controle e combate à criminalidade sem
criar um Estado autoritário e respeitando os direitos de liberdade humana num Estado
de relações desiguais entre seus habitantes e de caráter patrimonialista que privilegia
uma classe elitista em detrimento da grande massa do povo. Neste sentido, como
aponta Bretas (1997a, 1997b), as polícias no Brasil foram criadas para controlar os
movimentos ou levante da grande massa pobre e garantir a ordem pública e proteger as
classes elitistas, sobretudo a partir do Império. Todavia, para se adequar às mudanças e
transformações da sociedade atual, as polícias militares necessitam de profundas
reformas.
159
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde a abertura política iniciada a partir de 1985, o País experimenta
a chamada Nova República ou Redemocratização com a perspectiva de consolidar o
Estado Democrático de Direito. Após a Constituição Federal de 1988, também
chamada de Constituição cidadã, a tentativa de efetivação dos direitos civis individuais
e coletivos, dos direitos políticos e dos direitos sociais vêm sendo uma peleja
constante. Essas garantias constitucionais somadas ao direito à vida, à liberdade, à
propriedade, à paz social, enfim, ao respeito aos direitos humanos somente são
possíveis se houver a garantia da segurança pública nos mais diversos espaços sociais.
A falta de reformas significativas no âmbito dos organismos
responsáveis diretamente pela promoção da segurança pública parece ter sido o
“calcanhar de Aquiles” dos governos pós-ditadura militar tanto no âmbito federal
como estadual. A herança da Doutrina de Segurança Nacional autoritária de práticas
ilegais, truculenta e voltada para relações de mando e de desmando no seio social
resiste ao tempo. Esse passado que nem passado pode ser considerado ainda tem
comprometido o desempenho dos governantes ante os órgãos de promoção da
segurança pública. Este comprometimento tem ressoado de forma negativa tanto no
aumento da violência criminal convencional como na persistência de práticas
delituosas institucionalizadas. Isto emperra ou atrofia as reais funções das instituições
e dificulta a consolidação do Estado Democrático de Direito. O peso das heranças
deixadas pelos regimes autoritários nos órgãos responsáveis pelo controle repressivo
não pode ser menosprezado.
160
No caso específico do Ceará, mesmo com a promessa dos “Governos
das Mudanças” de modernizar, moralizar e permitir a participação da sociedade civil
no planejamento e execução na política de segurança, isso somente ocorreu na retórica
política. Os dilemas relacionados à área da segurança pública ou na falta dela,
sobretudo no que concerne à moralização e à participação da sociedade civil no
tocante à segurança pública continuaram e continuam a desafiar o governo estadual.
Com efeito, os “Governos das Mudanças” de Tasso Jereissati (1987-1990); Ciro
Gomes (1991-1994); Tasso (1995-2002); e, Lúcio Alcântara (2003-2006), não
apresentaram uniformidade nas políticas de segurança pública, apesar das inúmeras
alterações nas estruturas administrativas com a importação de Comandantes (no caso
dos generais) e Chefes (no caso de delegados da polícia federal) na tentativa de
unificação no comando da segurança pública no Ceará.
No tocante à modernização dos aparelhos da segurança pública houve
alguns avanços significativos com aquiescência de equipamentos de última geração
(no caso do CIOPS e o CIOPAER). Demonstrando descontinuidade na política de
segurança pública, o governo cearense (2003-2006) não investiu na infra-estrutura
iniciada por seu antecessor de modo a deixar, inclusive, o projeto piloto dos Distritos-
Modelos ir ao sucateamento. No plano humano, de investimento de pessoal e de
políticas de valorização, formação e capacitação do profissional de segurança pública
quase nada foi efetivado. No âmbito da moralização as corporações policiais
continuam com suas crises institucionais. A falta de lisura e de transparência
161
permanecem como desafios ou crises internas para outros governantes. Várias foram
as crises internas no último governo cearense (2003-2006).
Quanto à participação da sociedade civil visando melhor planejar,
desenvolver estratégias e executar, também não se obteve êxito. Nem sequer os
Conselhos de Segurança desempenharam seu papel. No caso da criação dos CCDS,
esses funcionaram sempre como forma de enredo ou com suas participações ou vistas
por baixos ou tolhidas pelos Comandantes ou Chefes intermediários para não se
“queimar” diante de seus gestores maiores. Participam apenas como reclamantes e
denunciantes da situação de segurança pública de certo bairro, localidade ou
município. São vetadas ao CCDS as proposituras de anseios populares para aplicação
de políticas públicas de segurança que atendam de forma eficaz.
Além disso, no espaço-temporal analisado algumas questões de
caráter externo foram detectados como fomentadores de obstáculos às políticas
públicas em segurança, tais como: a entrada e o crescimento das drogas; a
disponibilidade das armas de fogo; o efeito interativo entre esses dois mecanismos;
divisões competitivas internas dos órgãos de segurança pública; a implementação de
políticas tradicionais de segurança; a desorganização e a falta de planejamento efetivo
para uma competente política de segurança pública por parte do governo estadual, etc.
Esse fatores/causas têm sido dilaceradores da paz e da tranqüilidade pública, sobretudo
nos grandes centros urbanos de todo País.
162
As políticas públicas de segurança devem prescindir objetivamente a
identificação das causas e conseqüências do aumento da violência e da criminalidade.
Desta forma, é possível se avaliar a gravidade do problema que reivindica traçar
estratégias e ações concretas visando alcançar o combate e o controle da violência
criminal. Neste sentido, as políticas públicas de segurança necessitam basear-se por
objetivos e metas claras e definidas com medidas de ações estratégicas e avaliações
periódicas confiáveis. Um dos primeiros passos são as políticas sociais de inclusão dos
jovens no mercado de trabalho, educação de qualidade, esporte cultura e lazer. Outras
objetivas podem estar na inclusão de uma política educacional voltada para uma
cultura de paz e cidadania que deve está prevista nos currículos escolares desde a
educação infantil. Essas ações proporcionam perspectivas e estímulos a desenvolver
papéis de segurança e tranqüilidades públicas.
A segurança pública no Brasil melhorará na medida em que haja mais
esforços e trabalho conjunto dos governos federal, estadual e municipal, sobretudo o
municipal que tem acesso mais direto aos problemas sociais comunitários. Para isso é
preciso que os governos e sociedade trabalhem uma urbanização integrada, cuidando
não somente da infra-estrutura, mas também de programas de geração de renda,
treinamento profissionalizante nas várias áreas do esporte e cultura e, sobretudo com
investimento maciço na educação. Referindo-se às crianças de favelas que convivem
desde cedo com a violência e a criminalidade e que ficam expostas ao recrutamento
por parte de bandidos experientes, diz ser preciso possibilitar outras oportunidades e
outros modelos de adultos bem sucedidos no esporte, na cultura, no mercado de
trabalho. O bandido não pode ser o único exemplo de herói para esses jovens. É
163
preciso haver investimento não somente para o jovem adolescente, mas esses
programas devem ser iniciados desde a tenra idade, já no ensino infantil. É preciso
priorizar definitivamente o trabalho preventivo com políticas públicas de inclusão
social. Para isso, o poder público tem de ir até essas pessoas e não fasta-las sempre. A
falta da presença do Estado junto às massas têm contribuído, sobremaneira para a
insegurança pública.
Um exemplo de políticas públicas em segurança a ser seguido é o
trabalho dos governos municipais de Diadema em São Paulo, de Nova York, nos EUA
e de Bogotá, na Colômbia, salvaguardando as devidas diferenças. Em Diadema, a
diferença na área da segurança pública com a redução dos homicídios deveu-se à
suspensão da venda de bebidas alcoólicas depois das 23 horas. Em Nova York, além
das forças policiais serem municipais, o sistema de informação e captação de imagens
através de câmeras é sofisticado a ponto de mostrar, em tempo real, a parte da cidade
afetada, quem é vítima e agressor. Isso facilita a utilização e aplicação dos recursos, da
ação policial, de políticas sociais. Neste caso, é possível direcionar políticas de
segurança pública com as devidas especificidades de cada bairro. Em Bogotá, a polícia
foi melhor remunerada, modernizada, passando do modelo tradicional-reativo para um
modelo preventivo-científico. Além disso, houve muitos investimentos nos espaços
públicos, na melhoria do transporte público entre os bairros periféricos da cidade e
muito trabalho de prevenção social, no sentido de fomentar uma cultura de paz. Foi
política governamental de consenso, responsável e contando com a integração de
policiais, investigadores da procuradoria-geral, departamento de segurança nacional,
comitês de direitos humanos, gente ligada à saúde, à educação, o Exército e os
164
Conselhos de Segurança que proporcionaram as cidades de Bogotá e Medellín reduzir
drasticamente os índices de homicídios de 80 para 16 – por cada 100 mil habitantes24.
A redução da violência criminal nas duas principais cidades
colombianas se deu a partir da ocupação pelo poder público dos espaços urbanos
abandonados. As favelas e guetos de antes foram transformados em espaços culturais
com bibliotecas, brinquedotecas, ginásios poliesportivo e bancos para microcréditos
para atendimento local. Ao invés da isolação, o Estado aproximou-se desses locais
efetuando políticas públicas de inclusão para jovens e adultos numa ação conjunta nas
esferas governamentais da União, Estado e Município sem ideologia partidária para o
combate à violência e à criminalidade.
Para melhoria das políticas públicas para o combate e controle da
violência criminal no Brasil e no Ceará, algumas medidas emergenciais podem ser
viáveis, como: 1) o funcionamento dos Conselhos de Segurança Pública locais; 2) um
Conselho Superior dos Meios Audiovisuais; 2) a reabilitação do Estado com
estatísticas e melhores informações criminais, mais equipamentos e investimentos para
polícia, justiça e sistema prisional visando a repressão do crime e mais investimentos
na educação, saúde, empregos e profissionalização visando a prevenção da violência
criminal; 3) política criminal com cooperação internacional, revolução na informação,
controle das rotas da droga, luta contra o Crime Organizado, regulamentação das
armas de fogo; 4) mudança cultural por meio de integração social e a promoção da
igualdade dos cidadãos; 5) descentralização e o controle dos orçamentos públicos; e,
24 Época, nº. 457, 19/2/2007
165
6) responsabilização das associações locais e das elites intelectuais(CHESNAIS,
1999).
Os planejadores de políticas públicas governadores, prefeitos,
empresários, líderes comunitários, ONGs, universidades etc., todos precisam se juntar
se quiserem ter algum êxito contra o aumento da violência e da criminalidade no País.
Medidas em curto prazo podem ser efetivadas, tais como: a) identificação e ações
concretas nas áreas geográficas sensíveis e de riscos; b) iluminação pública de melhor
qualidade; c) urbanização de áreas abandonadas; d) construção de áreas esportivas; e)
resolução dos conflitos fundiários; f) atribuição de poderes às mulheres e aos líderes
comunitários; g) criação de organismos locais dedicados exclusivamente à prevenção
do crime; e, h) o engajamento de todas as pessoas que tenham conhecimento, aptidão e
prática na área da segurança pública como famílias, religiosos, policiais, médicos,
funcionários, líderes juvenis masculinos e femininos, acadêmicos, pesquisadores, etc.
(idem).
É inegável que no Brasil a partir do último governo de FHC, com a
criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP (1998) e do Plano
Nacional de Segurança Pública – PNSP (2000), a União passou a dispensar maior
atenção para área da segurança pública começando pelo aprimoramento na aplicação
dos Direitos Humanos por parte das autoridades policiais. No plano operacional
técnico e logístico, os Estados passaram a receber verbas da União para aplicação na
área da segurança pública. Instituído em 2001, o Fundo Nacional de Segurança Pública
– FNSP tem auxiliado os Estados em programas destinados à redução da violência e da
166
criminalidade. Com a criação do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, em
2003, no governo Lula, os repasses do FNSP passaram a obedecer normas e critérios
que valorizam ações como a reestruturação das polícias; da perícia criminal; e,
valorização e padronização de equipamentos e meios operacionais. De 2003 a 2005
foram contemplados 418 projetos, equivalente a um investimento de mais de R$ 800
milhões. No ano de 2006, o FNSP disponibilizou mais 302 milhões para contemplar os
diversos governos estaduais25.
Nesse mesmo período, o Estado do Ceará foi contemplado através do
MJ, com mais de R$ 31 milhões em investimentos para a segurança pública, entre
verbas do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN e do Fundo Nacional de
Segurança Pública – FNSP. Do FNSP foram repassados por meio de convênios ao
Estado do Ceará R$ 19 milhões, utilizados para a compra de 123 viaturas, 865
armamentos não-letais, 1063 armamentos letais (revólveres, pistolas, carabinas e
espingardas) e 1081 equipamentos de proteção (coletes, algemas, etc.), além de
investimentos diretos (equipamentos doados pela União sem ônus ao Estado). Esses
recursos possibilitaram, inclusive, a aquisição de 935 equipamentos de informática,
143 equipamentos eletrônicos e 782 equipamentos de comunicação. Nos investimentos
diretos foram 62 viaturas policiais, duas viaturas para as Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher (uma para Fortaleza e outra para o Crato), 02 caminhões para o
CBM, além de equipamentos de mergulho, proteção respiratória, individual e de
produtos perigosos, e instrumentos úteis no resgate de vítimas de acidentes. Em 2005 o
Ceará recebeu da SENASP o software de registro de informações estatísticas para as
25 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Relatório de Atividades 2003/2004/2005
167
Polícias Civil e Militar, o que exigiu a capacitação de agentes para a produção de
estatísticas, até então defasadas. Com esse novo instrumento é possível a
sistematização dos dados relativos aos pontos de maior necessidade de presença e
investigação policial. Deste modo, os gestores de políticas de segurança pública têm
melhores condições para planejamento e execuções de suas ações, incluindo, análises
comparativas de desempenho dos índices da violência criminal26.
No âmbito de investimento em pessoal de formação e valorização
profissional foi disponibilizado recursos financeiros para a realização de dois projetos
de pesquisa vencedores, inclusive, vencedores do Concurso Nacional de Pesquisas
Aplicadas em Segurança Pública e Justiça Criminal; Implantação de dois tele-centros
para a integração na Rede nacional de Ensino a Distância. Cada centro possui: 15
computadores, impressoras, mobiliário para o ensino, televisão e equipamentos
eletrônicos para a recepção e transmissão do sinal; Capacitação de 60 profissionais de
segurança pública em Direitos Humanos em parceria com a Cruz vermelha; Doação de
cinco kits com 160 livros para as instituições de ensino policial; Capacitação de 1.397
profissionais de segurança pública por meio da execução de convênio com a SENASP;
Implantação da Matriz Curricular Nacional para o Ensino Policial – distribuição da
matriz e capacitação dos profissionais de segurança pública para sua efetivação;
Capacitação de sete representantes de todas as organizações de segurança pública do
Estado sobre prevenção, investigação e desarticulação de organizações criminosas
relacionadas ao tráfico de seres humanos; Capacitação de policias civis e militares em
segurança de dignitários; Capacitação de três representantes de todas as organizações
de segurança pública do estado em Gestão em Segurança Pública; Capacitação de 189
26 Idem
168
profissionais na Força Nacional de Segurança Pública; e, capacitação de 6 supervisores
de segurança portuária27.
Outras providências como a criação e aprovação de algumas Leis
visando combater e controlar a violência criminal são de suma importância no âmbito
das políticas públicas. É o caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha28. Esta Lei é
considerada um marco histórico no combate a violência criminal contra mulheres.
Após muitos anos de luta, finalmente, o Estado brasileiro cria um dispositivo legal
para enxergar a violência doméstica e familiar. São várias mudanças que essa Lei
estabelece, tanto na tipificação criminal de violências contra mulheres, quanto nos
procedimentos policiais e judiciais. Pela Lei Maria da Penha ocorrem, pelo menos, 22
inovações. Dentre essas inovações: Estabelece as formas da violência doméstica contra
a mulher como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral; Determina que a
mulher somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz; ficam proibidas as penas
pecuniárias (pagamento de multas ou cestas básicas); Retira dos juizados especiais
criminais (lei 9.099/95) a competência para julgar os crimes de violência doméstica
contra a mulher; Altera o código de processo penal para possibilitar ao juiz a
decretação da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou
psicológica da mulher; Prevê um capítulo específico (o capítulo III) para o
atendimento pela autoridade policial para os casos de violência doméstica contra a
mulher; Permite a autoridade policial prender o agressor em flagrante sempre que
27 Idem, ibidem28 Maria da Penha foi vítima como exemplo mais claro de violência doméstica e familiar contra mulher. No ano de 1983, por duas vezes, seu marido tentou lhe assassinar. Na primeira tentativa ele usou uma arma de fogo e na segunda vez por eletrocussão e afogamento. As duas tentativas de homicídio resultaram em lesões e seqüelas irreversíveis à sua saúde, como paraplegia e outras. Maria da Penha transformou dor em luta, tragédia em solidariedade. É graças à sua luta e de tantas outras mulheres que culminou com a criação e aprovação da Lei que leva seu nome (Lei Nº. 11.340, de 1/8/2006)
169
houver qualquer das formas de violência doméstica contra mulher; O juiz poderá
conceder, no prazo de 48 horas, medidas protetivas de urgência (suspensão do porte de
arma do agressor, afastamento do agressor do lar, distanciamento da vítima, dentre
outras, dependendo da situação; O MP apresentará denúncia ao juiz e poderá propor
penas de 3 meses a 3 anos de detenção, cabendo ao juiz a decisão e a sentença final
etc.
Outra medida significativa foi a criação e aprovação da Lei Nº.
11.343, de 23 de Agosto de 2006. Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas
para repressão a produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e
dá outras providências. As novidades dessa nova Lei contra as Drogas é que o
dependente ou viciado dentro das regulamentações não deve ser preso, mas,
dependendo do caso, o juiz pode determinar ao poder público providências no sentido
de seu internamento. Em razão do pouco tempo em vigor esses dois dispositivos
legais, ainda, estão em caráter experimental quanto aos seus efeitos e conseqüências.
Entretanto, apesar desses investimentos e avanços significarem um
marco nas políticas públicas de segurança, a violência e a criminalidade não pararam
de ser praticadas. Esses avanços são alguns dos prismas pelos quais se pode pensar e
repensar a segurança pública dentro de um redimensionamento pluralista de idéias e
discussões. A questão da segurança pública não pode ser mecanizada e tomada apenas
como algo positivista onde se traça um planejamento unilateral de cima para baixo e se
170
aplica a fórmula mágica para se resolver o problema. É preciso haver articulação dos
governantes em todas as esferas e a participação efetiva da sociedade para um
consenso geral de tomadas de decisões.
Qualquer programa, planejamento ou plano de governo que vise o
desenvolvimento para resolução de problema ou desequilíbrio social necessita pautar-
se em pelo menos quatro qualidades políticas indispensáveis: representatividade;
legitimidade; participação da base; e planejamento participativo auto-sustentado. A
representatividade deve ser entendida como defensora das reivindicações e demandas
sociais do povo que elegeu seu representante. A legitimidade deve ser compreendida
como processo participativo fundado no Estado de Direito, de forma democrática e
comunitária respeitando as regras do jogo em comum. A participação de base é a
medula do processo, porque se caracteriza como a vontade da maioria, de baixo para
cima, do local para o regional, do regional para o nacional e não o inverso, como é
historicamente praticado no Brasil. Não havendo essa participação não há
consolidação democrática. O povo não pode servir apenas como massa de manobra,
matéria de exploração ou exército de reserva sem participação nas decisões políticas
governamentais. Por último, o planejamento participativo auto-sustentado composto
por três componentes básicos: capacidade de realizar o autodiagnóstico, ou seja,
entender com consciência crítica e autocrítica os problemas a partir da participação
comunitária; formulação de estratégias de enfrentamento dos problemas detectados, no
sentido de unir teoria à prática: saber para resolver e organização necessária (Demo,
1994).
171
Nessa linha de raciocínio, acredita-se que enquanto os organismos
responsáveis pela promoção da ordem e da segurança pública não forem coordenados
e fiscalizados em consenso com a sociedade civil e não mantiverem um elo de
integração permanente com os Conselhos Comunitários locais não se terá êxito no
controle da violência e da criminalidade. Para esse fim é necessário que o policiamento
comunitário, participativo signifique uma meta ideológica a ser alcançada por todos os
envolvidos. Este funciona como uma filosofia e uma estratégia organizacional de
parceria entre polícia e comunidade na prevenção da delinqüência com extrema
fidelidade nas ações entre ambos. (Trojanowicz e Bucqueroux, 1994).
Não resta dúvida de que a política pública de segurança no Brasil e no
Ceará tem demonstrado que é ineficiente. Basta se analisar os altos índices de
criminalidade e de violência nas mais variadas modalidades. A necessidade de mais
reformas nessa área e concomitantemente em outras de garantias sociais que estão
vinculadas direta ou indiretamente à segurança pública, como educação, emprego,
saúde, etc., devem ser prioridades. Entretanto, não se coaduna com a política em
segurança pública repressiva de combate a todo custo que muitas vezes é aplicada por
ocasião de ocorrência do aumento da violência e da criminalidade que abalam a
estrutura das elites brasileiras. É preciso reforma não só nos organismos policiais, mas
no judiciário e, urgentemente, no sistema penitenciário brasileiro.
Existem duas vias de políticas criminais para o combate e controle da
violência: a via repressiva (post factum), quando o crime já está instalado e precisa ser
combatido e a via preventiva (ante factum), antes que o crime ocorra. No Brasil é
172
consenso geral que a via repressiva já demonstrou ser ineficiente haja vista que a
criminalidade comum e organizada têm estado sempre numa escalada crescente,
sobretudo nos grandes centros urbanos (Gomes e Cervini, 1997).
Criou-se no Brasil uma forte demanda por políticas criminais duras
que exigem do poder do Estado respostas cada vez mais repressivas, criminalizadoras
e penalizadoras. A partir, sobretudo da década de 1990, essas políticas criminais duras
passaram a ser efetivadas com mais intensidade. Primeiro foi com a tentativa de
combater os crimes hediondos com a Lei Nº. 8.072/90 e em seguida com a Lei de
Combate ao Crime Organizado – LCCO (9.034/95). Esse modelo tradicional repressor
já demonstrou que não funciona e tem, ilusoriamente, transmitido a idéia de que o
Estado com políticas criminais repressivas pode erradicar do seio da sociedade toda
espécie de delitos penais por meio do combate (Gomes e Cervini, 1997; Gomes, Prado
e Douglas, 2000).
A ciência da criminologia atual aponta três modelos de políticas
criminais de prevenção à violência comum e ao Crime Organizado: a primária, a
secundária e a terciária. A primária tem por objetivo atacar as causas iniciais da
delinqüência, ou seja, procura ir às raízes do conflito criminal. É política social de
médio e longo prazo e exige melhoramentos profundos em serviços sociais como
educação, moradia, emprego, bem-estar, saúde, qualidade de vida, planejamento
familiar etc.; é a forma de prevenção mais demorada, porém, é a mais apropriada
política de prevenção à violência e à criminalidade (idem).
173
A segunda política de prevenção criminal é a do tipo de política
obstaculizadora ao criminoso, isto é, consiste em aplicar mais recursos humanos,
técnicos e logísticos na área de segurança. Isto significa aumentar o efetivo policial,
mais armamentos e equipamentos, mais viaturas e motocicletas; mais prisões etc. Esse
tipo de modelo político-criminal não objetiva detectar as causas ou raízes da
delinqüência, mas procura dificultar a execução do crime. Isoladamente, essa política
criminal não é ideal para combater a violência e a criminalidade, pois, seu resultado
será sempre o deslocamento do crime, ou seja, a mudança de lugar. Isto já ficou
evidente por ocasião das diversas operações militares, sobretudo no Estado do Rio de
Janeiro. As experiências dessas operações militares têm como efeito deslocar o crime
que sai do morro e desce para o asfalto, sai de um Estado e passa para outro, sai da
capital e vai para o interior etc. Essa é o tipo de política criminal simbólica que confia
na lei abstratamente severa. O problema é que, cientificamente, como demonstra a
criminologia atual, quase nada dessa política criminal ‘simbólica’ serve para atenuar o
gravíssimo problema da violência e da criminalidade (ibidem).
O terceiro tipo de política criminal visa evitar a reincidência do
criminoso. Este tipo de política também não se preocupa com as causas da
delinqüência e tem por objetivo evitar a não reiteração delitiva. Essa política criminal
não deve ser a primeira interessante para a sociedade, pois, ela é de caráter tardio e
somente atua após o crime ter acontecido. É apenas de caráter repressivo.
Dos três tipos de modelos político-criminais o mais apropriado,
induvidosamente, é o primeiro, ou seja, a prevenção primária. Entretanto, esse tipo de
174
política criminal não é preferível para os governantes por dois motivos principais: o
primeiro é porque esse modelo exige, num primeiro plano, uma política econômica
menos injusta, ou seja, faz-se necessário uma melhor redistribuição de renda e exige
maior vontade política para sua efetivação. O segundo motivo é porque essa política
criminal é de médio e longo prazos, contrário aos anseios de todos que sempre primam
por soluções imediatas. Todavia, não se pode esquecer que em virtude de se primar por
demandas de soluções imediatas ou emergenciais (que não são adequadas), a violência
e a criminalidade no Brasil vêm numa escalada ascendente e preocupante (ibidem).
A história aponta que na década de 1960, o aumento da criminalidade
nos centros urbanos se deu por conta do enorme êxodo rural. Na década de 1970-80,
em conseqüência desse êxodo rural sem planejamento, o aumento da criminalidade no
Brasil, em função do inchaço demográfico nos grandes centros urbanos, despontou
como uma problemática muita séria. Nessa década, inclusive, se formaram as
primeiras organizações criminosas consideradas clássicas que comandariam dentro e
fora dos presídios, ações criminosas organizadas, como foi o caso do Comando
Vermelho, no Rio de Janeiro. Foi também nessa década que o País enfrentou uma
enorme e abominável violência institucionalizada provocada pelo Regime Militar. Em
seguida, na década de 1990, com a inserção definitiva do País na globalização e na
política mercadológica sem fronteira, o neoliberalismo, além do aumento da
criminalidade convencional ou comum, o Brasil entrou na era do Crime Organizado,
tecnológico de caráter transnacional, que se expande vorazmente e continua sendo um
enigma diante das leis penais brasileiras. A proposta é que as ações objetivas de
175
contenção da violência criminal comum e organizada estejam articuladas com as ações
subjetivas entre a sociedade política e sociedade civil.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
I – Livros, Artigos e Sites
ADORNO, Sérgio. Violência, Estado e sociedade: notas sobre desafios à cidadania e
à consolidação democrática no Brasil. Cadernos CERU (São Paulo), nº. 6, p.37-51,
1995b. (Série, 2).
__. A gestão urbana do medo e da insegurança. São Paulo, 1996. 281p. Tese (Livre-
Docência) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo.
__. Insegurança versos direitos humanos – entre a lei e a ordem. Tempo Social (São
Paulo), v. 11, n.2, p.97-128, fev.2000.
ALMEIDA, Rosemary Oliveira. Segurança, Violência e Direitos: Cidadania e
policiamento comunitário. Universidade aberta do Nordeste. Ensino à distância.
Fortaleza, 2007, fascículo 09, p.148.
176
ARENDT, Hannah. A Condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
BAYLEY, David H. Padrões de policiamento. São Paulo: Edusp, 2001.
BARREIRA, César. Crimes por encomenda. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1988.
__. Questão de Política, Questões de Polícia: A Segurança Pública no Ceará. In: O
público e o privado. Fortaleza: UECE, 2004-. Semestral. Ano 2, nº. 4.
Julho/Dezembro, 2004.
BEATO FILHO, Cláudio C. Políticas Públicas de Segurança e a Questão Policial. In:
Perspectiva, v. 13, nº 4, São Paulo, Out./Dez., 1999.
__. Reinventando a polícia: a implementação de um programa de policiamento
comunitário. Belo Horizonte: CRISPUFMG, 2001.
BECCARIA, Cesare. De los delictos y de las penas. Tradução de Juan A. de lãs
Casas. Madrid: Alianza, 1982.
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
__. Liberalismo e Democracia. São Paulo: 6. ed. Brasiliense, 1994.
__. O Futuro da Democracia. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
BOMFIM, Manoel. A América Latina: Males de origem. Rio de Janeiro: Topbooks,
1993.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros,
2000.BRASIL, Maria Glaucíria Mota. A Segurança Pública no “Governo das Mudanças”:
Mobilização, Modernização e Participação. São Paulo: PUC, 2000. 325 Págs. Tese
(Doutorado em Serviço Social).
BRETAS, Marcos Luiz. A Guerra das Ruas. Povo e Polícia na Cidade do Rio de
Janeiro: Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997.
__. Ordem na Cidade. O exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de
Janeiro: 1907-1930. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1997.
177
__. A Polícia Carioca no Império In: Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.
12, nº 22, 1998, p. 219-234.
CAMPOS, Lauro. Neoliberalismo e Barbárie. Senado. Brasília, 1997.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 5ª. ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Editora
Fundação Perseu Abramo, 2000.
__. Público, privado, despotismo. In: NOVAES. São Paulo: Cia das Letras, 1992.
CHÂTÊLET, François, DUHAMEL, Olivier & PISIER – KOUCHINER, Evelyne.
História das Idéias Políticas; tradução, Carlos Nelson Coutinho. – Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 2000.
CHESNAIS, Jean Claude. A violência no Brasil. Causas e recomendações políticas
para a sua prevenção. In: Ciências. Saúde Coletiva, vol. 4, nº 1, Rio de janeiro: 1999).
COELHO, Edmundo Campos. Constituição e Segurança Pública. Indicador n. 28,
1989.
COTRIM, Gilberto. Filosofia para uma geração consciente: elementos da história do
mundo ocidental. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e Política: a dualidade de poderes e outros
ensaios. São Paulo: Cortez, 1994.
CRUZ, Marcus Vinícius Gonçalves & BARBOSA, Allan Claudius Queiroz. Uma
Abordagem Organizacional na Segurança Pública: Notas para Discussão In:
Observatório da Realidade Organizacional. Recife: PROPAD/UFPE: ANPAD,
2002.
178
DaMATTA. Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do
dilema brasileiro. 3. ed. São Paulo: Jorge Zahar Editor, 1981.
__. A violência brasileira. São Paulo, Brasiliense, 1982.
DEMO, Pedro. Pobreza Política. Campinas: Autores Associados, 1994.
DIMENSTEIN, Gilberto. Cidadão de papel. A infância, a adolescência e os Direitos
Humanos no Brasil. 11. ed. São Paulo: Editora Ática, 1994 (Série Discussão Aberta).
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Tradução de Carlos Alberto
Ribeiro de Moura et alli. São Paulo: Abril Cultural, 1978..
FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar,
1995.
FERNANDES, Francisco, LUFT, Celso Pedro & GUIMARÃES, F. Marques.
Dicionário Brasileiro Globo. – 43. ed. – São Paulo: Globo, 1996.
FERNANDES, Heloísa Rodrigues. Política e Segurança. A Força Pública do Estado
de São Paulo: SÃO PAULO: Alfa-ômega, 1974.
__.Rondas A Cidade: Uma Coreografia do poder. TEMPO SOCIAL, v. 1, n. 2, p.
121-134, 1989.
__.Política e segurança; prefácio: Florestan Fernandes. São Paulo: Alfa-ômega, 1973.
FIGUEIREDO, Diogo de. In: O Sistema de Segurança Publica no Brasil. Curso de
Formação de Soldados – PMCE. Fortaleza. 2000. 74p. Mimeo.
FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 1996.
__.Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1991.
FROTA, Maria Helena de Paula. OSTERNE, Maria do Socorro Ferreira (Orgs. ..[et.
alii.]. Família, Gênero e Geração : temas transversais. Fortaleza: EDUECE, 2004.
179
GOMES, Abel Fernandes, DOUGLAS, William e PRADO, Geraldo. Crime
Organizado e suas conexões com o poder público: comentários a Lei n. 9.034/95,
considerações críticas. Rio de Janeiro: Impetus, 2000.
GOMES, Luiz Flávio e CERVINI, Raúl. Crime Organizado: Enfoques
criminológico, jurídico (Lei 9.034/95) e político-criminal. 2. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais,1997.
GUINDANI, Miriam. O processo de gestão da segurança municipal. Revista O
público e o privado. Fortaleza: UECE, Semestral. Ano 2, nº 4, Julho /Dezembro,
2004.
GUSFIELD, J. R. The Culture of Public Problems: Drinking-Driving and the
symbolic order. In: BEATO FILHO, Cláudio Chaves. Políticas públicas de
segurança e a questão policial. Perspectiva, v. 13, nº 4, São Paulo, Out./Dez., 1999.
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado Eclesiástico e
Civil. In: Os Pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das
letras, 1995.
IANNI, Octávio. A sociedade global. 10. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o
pensamento de Hannah Arendt. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
LASKI, Haroldo J. O Liberalismo europeu. São Paulo: Mestre Jou, 1973.
LEMGRUBER, Julita (et al.). Quem vigia os vigias? Um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil: Rio de Janeiro: Record, 2003
180
KANT DE LIMA, Roberto. A Polícia da cidade do Rio de Janeiro: seus dilemas e
paradoxos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
MARIANO, Benedito Domingos. Por um novo modelo de polícia no Brasil: a inclusão
dos municípios no sistema de segurança pública. In: Associação Cearense do
Ministério Público – ACMP. Revista do Ministério Público. Fortaleza, ano 7, nº 15,
art. 05.
MARSHAL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.
MARTINS, Eduardo. Os pobres e os termos de bem viver: novas formas de controle
social no Império do Brasil. Assis: Dissertação (Mestrado em história política).
Universidade Estadual paulista. Faculdade de Ciências e Letras. 2003. 195p.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A crise da memória, História e Documentos:
reflexões para um tempo de transformações. In: SILVA, Zélia Lopes da (org.).
Arquivos, Patrimônio e Memória: trajetória e perspectivas. São Paulo: UNESP;
FAPESP, 1999.
MORAES FILHO, José Filomeno. Os Resultados Eleitorais no Ceará:
Competitividade, Continuidade e Mudança. In: http://www.fundaj.gov.br
MUNIZ, Jaqueline de Oliveira. Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser: cultura e
cotidiano da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado em
Ciência Política. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1999.
OLIVEIRA, Adriano. Um Estudo Etnográfico da Instituição Policial Militar. Polícia e
Democracia: Desafios à educação em direitos humanos. Recife: Bagaço, 2002. In:
Associação Cearense do Ministério Público – ACMP. Revista do Ministério
Público. Fortaleza, ano 7, nº 15, art. 05.
181
PAIXÃO, Antonio L. A política da polícia. Estudos Implementares FJP, 1993,
mímeo.
PAIXÃO, Antônio L. & BEATO FILHO, Cláudio C. “Crimes, vítimas e policiais”:
Tempo Social. São Paulo, v. 9, n. 1, maio, 1997.
PARENTE, Francisco Josênio Camelo. A Política Nordestina pós-64: considerações
sobre as especificidades cearenses. In: Nordeste (s), Novos Desafios: políticas
públicas e dinâmicas institucionais. Fortaleza: EDUECE, 2006.
PERALVA, Angelina. Violência e Democracia: O paradoxo brasileiro. São Paulo:
Paz e Terra, 2000.
PINHEIRO, Paulo Sérgio. O passado não está morto: nem passado é ainda (prefácio).
In: DIMENSTEIN. Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos no Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
PINHEIRO, Artur & COSTA, Wanilson Rodrigues (orgs.). O Ceará na Era das
Mudanças: Maranguape-CE., 2003.
PULEO, Alicia H. Filosofia, gênero y pensamiento crítico. Espanha: Universidad de
Valladolid, 2000.
QUINTANEIRO, Tânia, BARBOSA, Maria Lígia e OLIVEIRA, Márcia Gardênia.
Um Toque de Clássicos: Durkheim, Marx e Weber. Minas Gerais: UFMG, 2001.
RODRIGUEZ, Graciela S. Os Direitos Humanos das Mulheres. In: ALENCAR, Chico
(orgs.). Direitos mais humanos. Rio de Janeiro: Garamond, 1998.
REINER, Robert. A política da polícia; tradução Jacy Cárdia Ghirotti e Maria
Cristina Pereira da Cunha Marques. – São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2004.
182
RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: Guia para eficiência nos estudos. São
Paulo: Atlas, 1982.
SAPORI, Luís Flávio. A administração da justiça criminal numa área
metropolitana. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, ano 10, nº 29, p.
143-157, out., 1995.
__. A inserção da polícia na Justiça Criminal Brasileira: os percalços de um sistema
frouxamente articulado. In: MARIANO, Benedito Domingos, FREITAS, Isabel
(Org.). Polícia: desafio da democracia brasileira. Porto Alegre: Corag, 2002.
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1963. 4v.
SCOTT, Joan Wallach. A cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos do
homem. Florianópolis: Editora Mulher, 2002.
SILVA FILHO, Cel. José Vicente. Reflexões para uma Política Nacional de Segurança
Pública, VELLOSO, João Paulo do Reis & ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti
(Coord.). In: Pobreza, Cidadania e Segurança. Rio de Janeiro: José Olympio
Editora, 1999.
SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de general. São Paulo: Companhia das Letras,
2000.
SOARES, Maria Victória de Mesquita Benevides. A Cidadania Ativa. São Paulo:
Ática, 1988.
TELLES, V. da Silva. Direitos sociais afinal do que se trata? In: Revista USP, São
Paulo, nº37, p.34-45, mar./abr./mai.1998.
TROJANOWICZ, Robert & BUCQUEROUX, Bonnie. Policiamento Comunitário:
como começar? Tradução de Mina Seinfeld de Carakushansky – Rio de Janeiro:
Polícia Militar do Rio de Janeiro, 1994.
183
VELHO, Gilberto. Mudança, Crise e Violência. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2002.
XAVIER, Antonio Roberto. Síntese de história sócio-política do Brasil: da Colônia
à República Velha. Fortaleza, 2006. 78pp. (Monografia de Especialização apresentada
ao Programa de Pó-graduação da Universidade Regional do Cariri – URCA).
__. Do crime comum ao crime organizado: criminalidade e as políticas públicas de
segurança. Fortaleza, 2007. 234pp. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará – UECE).
ZAVERUCHA, Jorge. Frágil Democracia: Collor, Itamar, FHC e os Militares (1990-
1998). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. In: Associação Cearense do
Ministério Público – ACMP. Revista do Ministério Público. Fortaleza, ano 7, nº 15,
art. 05.
WAISELFISZL, Júlio Jacobo. Mapa da violência 2006: os jovens do Brasil. Brasília:
OEI, 2006.
WEFORT, Francisco. A cidadania dos trabalhadores. In: LAMOUNIER, B. et al.
(orgs.). Direito, cidadania e participação. São Paulo: T.A. Queiroz,1981.
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5. ed., Rio de Janeiro: LTC, 1982.
WILSON, J. Q. Thinking about crime. New York, Vintage Books, 1983.
WIEWIORCA, Michel. “O novo paradigma da violência”. Tempo Social; Revista de
Sociologia da USP, v. 9, nº. 1, 1977a, 2002.
http://www.ceara.gov.br
http://www.opovo.com.br
http://www.pmce.org
http://www.sspds.gov.br
184
http://www.saude.gov.br
http://www.wikipedia.org/wiki
http://diariodonordeste.globo.com
http://www.ndu.edu/chds/journal/PDF/Muniz-final.pdf
II – Legislação/Doutrina
BRASIL. Decreto Imperial Nº. 3.598/1866 (Termo Civil)
BRASIL. Decreto-Lei Nº. 667/69 (Vinculação das Polícias Militares ao Ministério do
Exército).
__. Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar)
__.1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar)
__. Lei Nº. 6.620/78 (Lei de Segurança Nacional)
__. Lei Nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
__. Lei Nº. 8.072, de julho de 1990. Dispõe sobre os Crimes Hediondos nos termos do
Art. 5º, inciso XLIII, da constituição Federal, e determina outras providências. In:
Brasil. Código Penal: Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de setembro de 1940, atualizado e
acompanhado de Legislação Complementar... 37. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.488-
450
__. Lei Nº. 8.429/92 (Improbidade Administrativa)
__. Lei Nº. 9.034/95 (Lei de Combate ao Crime Organizado – LCCO)
__. Lei Nº. 9.296, de 24 de julho de 1996. Regulamenta o Inciso XII, parte final, do
Art. 5º da Constituição Federal. In: Brasil. Código Penal. Disposto nesta Lei aplica-se
à Interceptação de Comunicações Telefônicas, de qualquer natureza, para provar em
investigação criminal e instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e
185
dependerá de ordem do Juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. São
Paulo: Rideel, 2000, p.397
III – Leis, Decretos e Resoluções Estaduais
Resolução Provincial Nº. 13, de 24 de maio de 1835 (Criação da Força Policial, atual
PMCE)
Lei Estadual N º 2.253/25 (Criação de Pelotão BM)
Decreto Nº. 075/35 (Criação do Corpo de Bombeiros Militar)
Lei Estadual Nº. 10.145/77 (Assessorias do Comando Geral da PMCE).
__. 10.273/79 (Promoção de oficiais)
Decreto Nº. 14.947/81(FESPOM)
__. 17.229/85 (Quadro de Organização da PMCE)
Lei Estadual Nº. 11.035/85 (Quadro de Organização da PMCE)
__. 11.673/90 (Desvinculação do CBMC da PMCE)
Decreto Nº. 24.934/98 (Criação da Diretoria da Cidadania)
__. 25.389/99 (Gerenciamento de Crises)
Lei Nº. 13.035/00 (Lei de Promoção da PMCE)
__. 13.034/00 (Estrutura Organizacional da PC)
Decreto Estadual Nº. 16.044/00 (Colégio Militar da PMCE)
Lei Estadual Nº. 12.199/00 (Criação do Colégio Militar da PMCE)
__. 26.555-A/001 (Criação do CIOPAER)
__. 13.297/03 (Criação da SSPDS)
__. 13.407/03 (Código Disciplinar PM/BM)
__. 13.438/04 (Estrutura Organizacional do CBMC)
186
__. 13.768/06 (Estatuto da PMCE)
__. 13.737/06 (Estatuto da PMCE)
IV – Documentos de Governo
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO DE 1789
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM DE 1948
REPÚBLICA FDERATIVA DO BRASIL. Constituição Federal. Brasília: Senado.
1988
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989
GOVERNO FEDERAL. Ministério da Justiça. Plano Nacional de Segurança
Pública/2000
__. Sistema Único de Segurança Pública/2003
__. Plano Nacional de segurança Pública / 2003
SENASP. Síntese do Relatório de Atividades/2003, 2004 e 2005
__. Departamento de Polícia Federal. Relatório de Operações da PF/ 2005-2006.
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social – SSPDS. Relatório de Operações Policiais /2005/2006
V – Jornais e Revistas
Jornal DIÁRIO DO NORDESTE
__. 01/02/03, - Polícia
__. 10/07/03, - Polícia
__. 19/09/03, - Polícia
__. 08/07/04, - Polícia
187
__. 27/07/04, - Polícia
__. 16/10/04, - Polícia
__. 19/03/05, - Polícia
__. 13/04/05, - Polícia
__. 28/06/05, - Polícia
__. 29/05/06, - Polícia
__. 10/09/06, - Polícia
__. 21/10/06, - Polícia
__. 23/03/07, - Polícia
__.26/03/07, - Polícia
Jornal O ESTADO de 19/05/04, - Polícia
Jornal O POVO de 25/11/02, - Polícia
__. 31/01/04, - Opinião
__. 08/05/04, - Polícia
__. 16/03/05, - Polícia
__. 11/04/05, - Polícia
__. 17/06/05, - Cotidiano
__. 06/09/05, - Cidade
__.04/09/06, - Cotidiano
__. 30/08/06, - Polícia
__. 06/06/07. – Polícia no Interior
REVISTA. Documento Verdade, nº. 04, Rio de Janeiro, 1994
__. Visão Jurídica nº. 09, Fevereiro de 2007.
188
APÊNDICE I
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE
CENTRO SOCIAIS APLICADOS – CESA
CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E
SOCIEDADE – MAPPS
ROTEIRO DE ENTREVISTA
189
ENTREVISTA EM ____/____/______
Nome: (opcional) _____________________________________________________
Sexo: masculino ( ) feminino ( )
Profissão: __________________________________________________________
Idade: ______________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________
1) Na sua opinião, qual (ais) a (s) função (ões) dos direitos humanos?
2) O que mais compromete a segurança pública no Estado do Ceará (fator/causa)?
3) E quais seriam as estratégias/soluções?
191
ANEXO I
Índice de eventos históricos relacionados às Polícias Militares
Ano Constituições e Decretos Eventos
1808
♦ Criação da Intendência Geral da Polícia da Corte
e do Estado do Brasil, no Rio de Janeiro, que deu
origem às atuais Polícias Civis Estaduais.
♦ A Intendência de Polícia nasceu com atribuições
judiciais (estabelecer punições aos infratores e
supervisionar o cumprimento das sentenças).
Além das atividades de polícia secreta,
investigação de crimes e captura de criminosos, a
Intendência era também responsável pela
administração da iluminação e obras públicas,
pelo abastecimento de água da cidade e outros
serviços urbanos.
♦ Transferência da
Família Real
Portuguesa para o
Brasil.
♦ O Brasil é elevado à
condição de Reino
Unido.
1809
♦ A Guarda Real era uma força de tempo integral,
organizada em moldes militares, e subordinava-se
inicialmente ao Ministério da Guerra e à
Intendência de Polícia que pagava seus uniformes
e salários. Ela nasceu sem função investigativa e
com atribuições de patrulha para reprimir o
contrabando, manter a ordem, capturar e prender
escravos, desordeiros, criminosos, etc.
1822
♦ 1º Império
♦ Independência do
Brasil1824 ♦ Promulgação da Constituição Imperial
1827
♦ Aprovação da lei que instituía a figura do Juiz de
Paz, um juiz leigo, eleito localmente que possuía
atribuições policiais e judiciárias, podendo
inclusive nomear "inspetores de quarteirão"
(voluntários civis não-remunerados), mas que não
detinha o controle das forças policiais.
♦ Criação das
Faculdades de Direito
de São Paulo e
Recife.
192
1830♦ Aprovação pelo Parlamento do Código Criminal
do Império
1831
♦ Dissolução da Guarda Real de Polícia pelo
Ministro da Justiça, em razão de um grave motim
no qual também participou o 26º Batalhão de
Infantaria do Exército regular.
♦ Decreto de Criação do Corpo de Guardas
Municipais Permanentes, para exercer as funções
da extinta Guarda Real, bem com as tarefas de
fiscalização da coleta de impostos.
♦ Criação da Guarda Nacional, uma organização
nacional, paramilitar, não-remunerada e
independente do Exército Regular. A Guarda
Nacional nasceu com múltiplas atribuições: Como
força nacional deveria defender a constituição e a
independência da nação, bem como ajudar o
exército na defesa das fronteiras. Como força
policial deveria contribuir para a manutenção da
ordem interna.
♦ Com a abdicação de
Pedro I é estabelecido
o período das
Regências.
1832
♦ Aprovação pelo parlamento do Código de
Processo Penal do Império
♦ Duque de Caxias é
chamado a estruturar
o Corpo de
Permanentes,
permanecendo como
seu comandante até
1839.
1866 ♦ Criação no Rio de Janeiro da Guarda Urbana,
uma força civil uniformizada e não-militarizada,
voltada paras as atividades de ronda.
♦ Parte do efetivo da
Polícia Militar do Rio
passou a servir como
unidade de infantaria
na Guerra do
Paraguai. Desde
193
estaépocaapolíciamilit
ar esta época, a
polícia militar começa
a tornar-se
gradativamente uma
força aquartelada.
Suas atividades de
patrulha urbana
passaram a ser mais
esporádicas, sendo
seus recursos
destinados para os
casos de emergência
pública, missões
extras e operações de
grande porte.
1871
♦ Realização da Reforma judicial que ampliou o
sistema judiciário, reduzindo as funções
judiciárias das polícias civis. 1885 ♦ Dissolução da Guarda Urbana
1889
♦ Todos os integrantes das organizações policiais
existentes tornam-se profissionais assalariados
com jornada de trabalho integral.
♦ Um golpe militar
extingue a monarquia
e instaura o Governo
provisório
republicano.
1890
♦ Publicação da Constituição Provisória da
República
♦ Código Penal da República
♦ Governo provisório
1891
♦ Promulgação da primeira Constituição da
República
♦ Marechal Deodoro
da Fonseca é eleito
presidente da
república pela
Assembléia
194
Constituinte.
1894
♦ Prudente de Moraes
é eleito o primeiro
presidente da
república, pelo voto
direto
1907
♦ O Governo do
Estado de São Paulo
contrata a "Missão
Militar Francesa" para
construir as bases do
ensino e instrução da
Força Pública do
Estado (atual Polícia
Militar)
1919
♦ O Ministro da
Guerra contrata a
"Missão Militar
Francesa" para
"modernizar" o
Exército Brasileiro,
sobretudo na área de
educação.
1930
♦ Getúlio Vargas
torna-se o chefe do
Governo Provisório
♦ O presidente
Washington Luís,
eleito pelo voto direto
em 1926, é deposto
pela Revolução de 30.
195
1934
♦ Promulgada a constituição da Segunda
República.
♦ Nesta carta é definida a competência da união
para legislar sobre a organização, efetivos,
instrução, justiça e garantias das polícias militares,
incluindo sua convocação e mobilização.
♦ Na parte que trata da "Segurança Nacional", as
Polícias Militares são definidas como forças
"reservas do exército" voltadas para a "Segurança
interna e manutenção da ordem".
♦ Getúlio Vargas é
eleito presidente da
república pela
Assembléia
Constituinte
1936
♦ Decreto-lei n.º 192 de 17/01/1936 determina que
as Polícias Militares devem ser estruturadas
segundo as unidades de infantaria e cavalaria do
exército regular.
1937
♦ Outorgada a carta constitucional que estrutura o
Estado Novo.
♦ Novo golpe de
estado e Getúlio
Vargas torna-se o
chefe do Estado
Novo.
1940 ♦ Publicação do atual Código Penal
1941♦ Publicação no diário oficial do atual Código de
Processo Penal 1946 ♦ Promulgada a nova constituição.
♦ Na parte que trata das "Forças Armadas", as
Polícias Militares são definidas como "forças
auxiliares e reservas do Exército", voltadas para a
"segurança interna e a manutenção da ordem".
♦ É mantida a competência da união para legislar
sobre a organização, efetivos, instrução, justiça e
garantias das polícias militares, incluindo sua
convocação e mobilização.
♦ Getúlio Vargas é
deposto pelas Forças
Armadas em 1945, e
o governo é entregue
ao presidente do
Supremo Tribunal
Federal.
♦ É convocada a 4ª
Assembléia
constituinte.
♦ O Gal. Eurico
196
Gaspar Dutra é eleito
presidente da
república pelo voto
direto.
1951
♦ Getúlio Vargas é
eleito presidente da
república pelo voto
direto.
1964
♦ O Mal. Castelo
Branco é eleito
presidente da
república pelo
Congresso Nacional.
♦ Golpe e instauração
do governo militar e
suspensão do estado
de direito. 1967 ♦ Outorgada a nova carta constitucional através do
Congresso Nacional .
♦ Nesta carta mantém-se o papel das Polícias
Militares definido nas cartas anteriores como
"forças auxiliares e reservas" do exército,
invertendo apenas a prioridade de suas atribuições.
As Polícias Militares devem "manter a ordem e a
segurança interna".
♦ É mantida a competência da união para legislar
sobre a organização, efetivos, instrução, justiça e
garantias das polícias militares, incluindo sua
convocação e mobilização.
♦ O decreto-lei n.º 31'7 de 13/03/1967 1) cria a
Inspetoria Geral das Polícias Militares - IGPM,
um novo órgão fiscalizador do Exército; 2) atribui
♦ O Mal. Costa e
Silva é eleito
indiretamente
presidente da
república.
197
às Polícias Militares o policiamento ostensivo
fardado; e 3) não determina a adoção dos modelos
de infantaria e cavalaria.
1968
♦ O Ato complementar n.º 40 de 30/12/1968
determina que os integrantes das Polícias Militares
não podem receber vencimentos superiores aos
dos militares regulares.
1969
♦ Outorgada a Constituição da República
Federativa do Brasil pelos ministros militares.
♦ Nesta carta suprime-se do texto a missão das
Polícias Militares de sustentação da segurança
interna, permanecendo a expressão "manutenção
da ordem pública" e a sua definição como "forças
auxiliares e reservas do exército".
♦ É mantida a competência da união para legislar
sobre a organização, efetivos, instrução, justiça e
garantias das polícias militares, incluindo sua
convocação e mobilização.
♦ É mantida a proibição aos policiais militares de
receberem vencimentos superiores aos dos
militares regulares.
♦ Os Decretos n.º 667 e 1.072 atribuem a
exclusividade do policiamento ostensivo fardado
às Polícias Militares, bem como proíbem que os
estados de criarem outra organização policial
uniformizada.
♦ O Gal. Emílio
Garrastazu Médici é
eleito indiretamente
presidente da
república.
1970 ♦ O Decreto-lei n.º 66.862 de 8/07/1970 determina
que as Polícias Militares deverão integrar o
serviço de informações e contra-informações do
198
Exército.
1982
♦ Retorno às eleições
diretas para
Governador de
estado.
♦ O Gal. João
Baptista Figueiredo é
eleito em 1979, por
via indireta, e inicia o
processo de abertura
política.
1985
♦ O Vice-presidente
José Sarney toma
posse como
presidente da
república após a
morte de Tancredo
Neves.
♦ Fim da ditadura
militar com a eleição
indireta de Tancredo
Neves para a
presidência da
república.
199
1988
♦ Esta carta autoriza os municípios a criarem
guardas municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações.
♦ É mantida a definição das Polícias Militares
como "forças auxiliares e reservas" do Exército.
♦ É mantida a IGPM.
♦ É mantida a competência da união para legislar
sobre a organização, efetivos, instrução, justiça e
garantias das polícias militares, incluindo sua
convocação e mobilização.
♦ Promulgada a constituição democrática.
♦ Esta carta apresenta um capítulo próprio para a
segurança pública definida como "dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos".
♦ O artigo 144 que trata das missões das polícias
brasileiras, determina que compete às polícias
militares "o policiamento ostensivo fardado e a
preservação da ordem pública". E às Polícias Civis
são atribuídas as funções de polícia judiciária e a
apuração das infrações penais.
1990
♦ Fernando Collor de
Mello é eleito
presidente da
república pelo voto
direto.
1992
♦ O Vice-presidente
Itamar Franco assume
a presidência da
república após o
impeachment de
Fernando Collor. 1995 ♦ Criação da Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, dentro da estrutura do Ministério da
♦ Fernando Henrique
Cardoso é eleito
200
Justiça presidente da
república pelo voto
direto.
1997
♦ Criação da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, dentro da estrutura do Ministério da
Justiça.
♦ As praças da Polícia
Militar de Minas
Gerais iniciam uma
greve que se propaga
por outros estados
brasileiros.
1999
♦ O Decreto de 01/06/1999 cria o Fórum Nacional
dos Ouvidores de Polícia.
♦ Fernando Henrique
é reeleito presidente
da república pelo voto
direto.
2001♦ O Governo Federal cria o Plano Nacional de
Segurança Pública29.
29 http://www.ndu.edu/chds/journal/PDF/Muniz-final.pdf, visitado em 29/12/2007
![Page 1: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/88.jpg)
![Page 89: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/89.jpg)
![Page 90: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/90.jpg)
![Page 91: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/91.jpg)
![Page 92: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/92.jpg)
![Page 93: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/93.jpg)
![Page 94: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/96.jpg)
![Page 97: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/99.jpg)
![Page 100: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/100.jpg)
![Page 101: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/101.jpg)
![Page 102: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/102.jpg)
![Page 103: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/104.jpg)
![Page 105: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/105.jpg)
![Page 106: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/109.jpg)
![Page 110: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/111.jpg)
![Page 112: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/112.jpg)
![Page 113: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/113.jpg)
![Page 114: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/115.jpg)
![Page 116: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/116.jpg)
![Page 117: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/118.jpg)
![Page 119: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/119.jpg)
![Page 120: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/120.jpg)
![Page 121: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/121.jpg)
![Page 122: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/122.jpg)
![Page 123: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/123.jpg)
![Page 124: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/124.jpg)
![Page 125: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/125.jpg)
![Page 126: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/126.jpg)
![Page 127: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/128.jpg)
![Page 129: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/129.jpg)
![Page 130: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/130.jpg)
![Page 131: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/131.jpg)
![Page 132: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/132.jpg)
![Page 133: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/133.jpg)
![Page 134: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/134.jpg)
![Page 135: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/135.jpg)
![Page 136: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/136.jpg)
![Page 137: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/137.jpg)
![Page 138: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/138.jpg)
![Page 139: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/139.jpg)
![Page 140: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/140.jpg)
![Page 141: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/141.jpg)
![Page 142: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/142.jpg)
![Page 143: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/143.jpg)
![Page 144: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/144.jpg)
![Page 145: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/145.jpg)
![Page 146: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/146.jpg)
![Page 147: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/147.jpg)
![Page 148: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/148.jpg)
![Page 149: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/149.jpg)
![Page 150: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/150.jpg)
![Page 151: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/151.jpg)
![Page 152: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/152.jpg)
![Page 153: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/153.jpg)
![Page 154: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/154.jpg)
![Page 155: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/155.jpg)
![Page 156: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/156.jpg)
![Page 157: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/157.jpg)
![Page 158: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/158.jpg)
![Page 159: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/159.jpg)
![Page 160: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/160.jpg)
![Page 161: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/161.jpg)
![Page 162: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/162.jpg)
![Page 163: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/163.jpg)
![Page 164: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/164.jpg)
![Page 165: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/165.jpg)
![Page 166: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/166.jpg)
![Page 167: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/167.jpg)
![Page 168: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/168.jpg)
![Page 169: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/169.jpg)
![Page 170: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/170.jpg)
![Page 171: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/171.jpg)
![Page 172: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/172.jpg)
![Page 173: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/173.jpg)
![Page 174: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/174.jpg)
![Page 175: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/175.jpg)
![Page 176: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/176.jpg)
![Page 177: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/177.jpg)
![Page 178: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/178.jpg)
![Page 179: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/179.jpg)
![Page 180: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/180.jpg)
![Page 181: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/181.jpg)
![Page 182: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/182.jpg)
![Page 183: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/183.jpg)
![Page 184: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/184.jpg)
![Page 185: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/185.jpg)
![Page 186: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/186.jpg)
![Page 187: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/187.jpg)
![Page 188: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/188.jpg)
![Page 189: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/189.jpg)
![Page 190: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/190.jpg)
![Page 191: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/191.jpg)
![Page 192: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/192.jpg)
![Page 193: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/193.jpg)
![Page 194: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/194.jpg)
![Page 195: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/195.jpg)
![Page 196: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/196.jpg)
![Page 197: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/197.jpg)
![Page 198: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/198.jpg)
![Page 199: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/199.jpg)
![Page 200: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/200.jpg)
![Page 201: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/201.jpg)
![Page 202: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/202.jpg)
![Page 203: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/203.jpg)
![Page 204: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/204.jpg)
![Page 205: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/205.jpg)
![Page 206: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/206.jpg)
![Page 207: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/207.jpg)
![Page 208: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/208.jpg)
![Page 209: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/209.jpg)
![Page 210: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/210.jpg)
![Page 211: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/211.jpg)
![Page 212: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/212.jpg)
![Page 213: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/213.jpg)
![Page 214: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/214.jpg)
![Page 215: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/215.jpg)
![Page 216: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/216.jpg)
![Page 217: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/217.jpg)
![Page 218: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/218.jpg)
![Page 219: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/219.jpg)
![Page 220: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/220.jpg)
![Page 221: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/221.jpg)
![Page 222: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/222.jpg)
![Page 223: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/223.jpg)
![Page 224: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE1].pdf · Tabela 1 – O que pensa a sociedade sobre os Direitos Humanos (pesquisa de campo), p. 73 Tabela 2 – O que pensam os profissionais](https://reader040.fdocumentos.com/reader040/viewer/2022031405/5c42522093f3c338af37dbf2/html5/thumbnails/224.jpg)




![UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - Portal da UECE1].pdf · universidade estadual do cearÁ programa de pÓs-graduaÇÃo em polÍticas pÚblicas mestrado acadÊmico em polÍticas pÚblicas](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5c6175a709d3f28f6c8d1e0b/universidade-estadual-do-ceara-portal-da-1pdf-universidade-estadual-do.jpg)