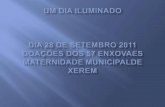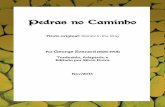UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE … · 2018-07-27 · É feita de acertos e tropeços......
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE … · 2018-07-27 · É feita de acertos e tropeços......
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
DINÂMICA DO SELF EDUCACIONAL DE ADOLESCENTES ENCAMINHADOS
PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM VIRTUDE DE QUEIXAS
ESCOLARES
Salvador
2017
MARINA LIMA DUARTE MOREIRA
MARINA LIMA DUARTE MOREIRA
DINÂMICA DO SELF EDUCACIONAL DE ADOLESCENTES ENCAMINHADOS
PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM VIRTUDE DE QUEIXAS
ESCOLARES
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação
em Psicologia, Instituto de Psicologia da Universidade
Federal da Bahia, como requisito parcial para obtenção do
título de Mestre em Psicologia.
Área de concentração: Psicologia do Desenvolvimento.
Orientadora – Profª Dra. Maria Virgínia Machado Dazzani
Salvador
2017
Figura 1 – Retrato da pesquisadora
Fonte: Ilustração elaborada por Renata Chaves Monteiro
AGRADECIMENTOS
Agrada pensar nos gracejos da vida
Como presentes que perpassam a alma
Através de gestos calorosos
De afirmação e valor.
Desejo ao fim da jornada
Levar os aprendizados da trajetória
Em uma mala sem fim.
Almejo deixar registrada na memória
Dos que ajudaram
A beleza dos momentos que compartilhei,
Aquecendo com minha história
Os sentimentos que reverberei
Na escrita da dissertação.
Verdade seja dita:
Nada mais pleno que o fim,
Mais motivante que o começo!
A vida, no entanto,
É feita de acertos e tropeços...
E nas quedas eu contei:
Com o apoio iluminado
De guias e parceiros de trabalho
Que no coração levarei.
(Marina Lima Duarte Moreira)
Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por me presentear com vida e possibilitar a
construção da minha trajetória até a academia.
Agradeço à minha mãe, Daisy, por ser fonte de inspiração, força e dedicação no trabalho com
Educação. A Matheus, meu irmão, agradeço o amor e abraços nos momentos de dificuldade.
Agradeço também ao meu pai, Paulo, que junto à minha mãe, possibilitou a concretização do
estudo no período do mestrado, dissertação e defesa. Renata, minha cunhada, pelo apoio com
sua arte.
Sou grata à minha orientadora, Virgínia Dazzani, por acreditar, incentivar, acolher e ser firme
em todos os momentos. Agradeço também aos mestres e estudantes que possibilitaram meu
crescimento e contribuíram com minha formação na Universidade Federal da Bahia.
Sou grata aos meus amigos pelo apoio, ação e acolhimento, especialmente: Moreno, Luiza,
Ágatha, Jamille, Fernanda, Joana Gomes, Igor, Camila Freitas e Lins, Lívia. Sou grata às
amigas que fiz na disciplina de metodologia: Verônica, Cláudia, Daniela e Ana Louise.
Obrigada pelas risadas, trocas e companheirismo durante todo o percurso.
Agradeço ao meu incrível, leve e alegre grupo de pesquisa, por toda ajuda e bons momentos
oportunizados. Gostaria de agradecer especialmente à colegas do programa: Verônica,
Adrielle, Alan, Bruno, Mariana e Eliseu, Brena e Julianin pois contribuíram no período de
produção da dissertação. A Ramon por toda colaboração e disponibilidade para ajudar no
detalhamento do estudo, serei eternamente grata.
Agradeço aos meus colegas de trabalho pela compreensão, especialmente: Leliane, Ivana e
Louane. Às escolas onde trabalhei, dedico esse estudo, como contribuição. Grata à Liliane,
Maria Eugênia, Andaiá, Walkyria e Joana Trigo, pela inspiração e incentivo.
Gostaria de agradecer à minha professora do primeiro semestre do curso de Psicologia. Que
perguntou aos alunos, na primeira semana de aula, que caminhos pretendiam seguir na
profissão. Eu expressei meu desejo de trabalhar em escolas, em contexto clínico, e ser
professora no ensino superior. Após uma risada jocosa, ela me respondeu: "todos nós
precisamos ter muito cuidado, pois quanto mais alto o degrau, maior a queda". Aos 30 anos, já
consegui atuar nos três contextos. À essa voz, a esse agente de referência, dedico minha
dissertação, minha transição. Para ela respondo com firmeza e ternura: não caí.
Figura 2 – Imagem do muro de uma escola, no trajeto entre a casa da pesquisadora e a UFBA
Fonte: Própria autora.
QUEIXA ESCOLAR
Toda gente sempre diz
Que o professor é o culpado
Ou que a mãe não deu educação
Ao menino endiabrado.
Mas será que é isso mesmo?
Apenas um ser apontado
Por uma responsa de todos
Escola, família, Estado.
Nesse sistema cruel
É tratado com réu:
O professor sobrecarregado
Na academia formado
Por currículo defasado
Pra rede concursado
Com salário de lascado.
Nesse sistema cruel
È tratado como réu:
A família segregada
Chamada desestruturada
Que o arrimo põe o pé na estrada
Pra garantir a garfada
Achando que a pátria-amada
Garante uma cria estudada
É esse jogo de empurra
Que nessa terra se enseja
Passado, presente, futuro
Envolvidos nessa peleja.
(Geisa Rodrigues Bispo)
MOREIRA, Marina Lima Duarte. 2017, 74 f. il. Dinâmica do self educacional de
adolescentes encaminhados para atendimento psicológico em virtude de queixas
escolares. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Instituto de Psicologia, Universidade
Federal da Bahia, Salvador, Bahia, 2017.
RESUMO
O tema da queixa escolar tem recebido atenção da comunidade acadêmica e sido objeto de
interesse de diversas áreas, tais como: psicologia, pedagogia, psiquiatria, neurologia e terapia
ocupacional. Diferentes explicações para os problemas relacionados ao processo de
escolarização de estudantes do ensino básico chegam aos serviços de atenção psicossocial e
de saúde, exigindo melhor preparo teórico e técnico dos profissionais para dar suporte às
diversas demandas. Na escuta dos adolescentes encaminhados, as vozes de agentes de
referência ganharam particular destaque quanto às demandas de encaminhamento referentes
às queixas escolares e repercussão na construção identitária dos estudantes durante a trajetória
escolar. Diante deste cenário, surgiu o interesse em analisar como adolescentes encaminhados
com queixa escolar para o Serviço de Psicologia expressam a participação das vozes dos
agentes de referência na dinâmica do Self e, mais especificamente, do Self educacional. O
estudo, portanto, apresenta a análise de dois casos a partir da realização de entrevistas
narrativas expondo o tema da queixa escolar, partindo da teoria do Self Dialógico para uma
discussão sobre dialogicidade, identificando também Posicionamentos do Eu (I-Positions) e
explorando, à luz da Psicologia Cultural de Base Semiótica, o desenvolvimento do Sistema do
Self Educacional dos jovens entrevistados. A pesquisa apresenta como resultados a expressão
das vozes dos agentes de referência na trajetória acadêmica dos estudantes, apontando para a
presença de signos reguladores semióticos presentes nos discursos desses agentes. Este
trabalho indica a necessidade de estudos que explorem o tema da queixa escolar a partir dos
diálogos estabelecidos no contexto educacional e construção identitária dos estudantes nos
respectivos percursos acadêmicos.
Palavras-chave: Self Educacional, Adolescência, Queixa Escolar, Psicologia.
MOREIRA, Marina Lima Duarte. 2017, 74 f. il. Dynamics of educational self of
adolescents referred for counseling because of school complaints. Dissertation (Master's
degree in Psychology). Institute of Psychology, Federal University of Bahia, Salvador, Bahia,
2017.
ABSTRACT
The school-complaint theme has received the attention of the academic community and it has
been the subject of interest in several areas, such as psycology, pedagogy, psychiatry,
neurology and occupational therapy. Different explanations for the issues related to the
students schooling process in primary schools reach the psychosocial and health care services,
demanding a better theoretical and technical development for supporting to the various
demands. Hearing the reffered adolescentes, the voices of the reference agentes got a peculiar
emphasis when related to the refferal demands relatad to the school-complaint and its
impacto on the identity construction of the students during their school trajectory. Facing this
scenario, the interest in analyze how teenagers reffered with school-complaint to the
psychological service express the role of the voices of the reference agentes in the dynamics
of the self, and, in particular, of the educational self emerged. The research, therefore, present
the analysis of two cases through the making of narrative interviews exposing the school-
complaint theme, from the dialogic-self theory to a debate over the dialogiticy, identifying
also the placement of the “I” (I-positions) and exploring, from the perspective of the semiotics
based cultural psychology, the self education system development of the young
students interviewed. The research presentes as results the expression of the voices of the
reference agents on the academic trajectory of the students, indicating the presence of
semiotcs regulating signs, that exist on the speech of those agents. This paper states the
necessity of future research that explores school-complaint theme through the dialogue based
on the educational context and the indentity construction of the students on their respective
academic trajectory.
Keywords: Educational Self; Adolescence; School-complaint; Psychology
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Retrato da pesquisadora .......................................................................................... 13
Figura 2 – Imagem do muro de uma escola, no trajeto entre a casa da pesquisadora e a UFBA
.................................................................................................................................................. 15
Figura 3 – Mediação Semiótica ................................................................................................ 15
Figura 4 – Mapa conceitual ...................................................................................................... 31
Figura 5 – Delineamento da Análise ........................................................................................ 38
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ENEM Exame Nacional do Ensino Médio
IFBA Instituto Federal da Bahia
OMS Organização Mundial da Saúde
TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
SUMÁRIO
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................... 14
2.1 DIALOGICIDADE (OU DIALOGISMO) NA TEORIA DO SELF DIALÓGICO .......... 16
2.2 POSICIONAMENTO DO EU (I-POSITIONS) ................................................................. 19
2.3 NARRATIVAS NA ESCOLA ........................................................................................... 21
2.4 SELF EDUCACIONAL ..................................................................................................... 22
3 A QUEIXA ESCOLAR ....................................................................................................... 26
4 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO ................................................................. 31
4.1 PROBLEMA ...................................................................................................................... 31
4.2 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 31
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 32
4.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS E ÉTICOS .................................................................. 32
4.4.1 Participantes .................................................................................................................. 33
4.4.2 Instrumentos .................................................................................................................. 33
4.4.3 Procedimentos de Produção de Dados ......................................................................... 34
4.4.3.1 Procedimentos éticos .................................................................................................... 35
4.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS ............................................................. 35
5 VOZES DOS AGENTES DE REFERÊNCIA E SELF EDUCACIONAL NA
TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE ADOLESCENTES COM QUEIXA ESCOLAR ..... 36
5.1 CASO BEATRIZ ................................................................................................................ 38
5.1.1 Dados da Adolescente .................................................................................................... 38
5.1.2 Contexto Acadêmico ...................................................................................................... 39
5.1.3 Contexto Familiar .......................................................................................................... 42
5.1.4 Contexto Clínico ............................................................................................................ 47
5.2 CASO GISELA .................................................................................................................. 50
5.2.1 Dados da Adolescente .................................................................................................... 50
5.2.2 Contexto Acadêmico ...................................................................................................... 51
5.2.3 Contexto Familiar .......................................................................................................... 54
5.2.4 Contexto Clínico ............................................................................................................ 57
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 60
APÊNDICES ........................................................................................................................... 68
11
1 INTRODUÇÃO
Vida é cenário
É roteiro sem fim
De experiências
Que a gente leva,
Que a gente deixa.
Registo aqui minha trajetória
Entre tanta história e pesquisa
Apresento meu produto
Em forma de estudo
Sobre o fenômeno da queixa.
(Marina Lima Duarte Moreira)
O tema da queixa escolar tem recebido atenção da comunidade acadêmica e sido
objeto de interesse de diversas áreas, tais como: psicologia, pedagogia, psiquiatria, neurologia
e terapia ocupacional. Entende-se por queixa escolar demandas formuladas por pais,
professores e coordenadores pedagógicos acerca de dificuldades e problemas apresentados
por estudantes em contexto escolar, como por exemplo: indisciplina, baixo rendimento
acadêmico e fracasso escolar (Dazzani, Cunha, Luttigards, Zucoloto & Santos, 2014).
É crescente, no Brasil, o encaminhamento de crianças e adolescentes com demanda de
queixa escolar para acompanhamento psicológico em diversos serviços de saúde (Neves &
Marinho-Araujo, 2006). De acordo com Cabral e Sawaya (2001), cerca de 70% das crianças e
adolescentes encaminhados para os serviços públicos de saúde apresentam queixas relativas a
dificuldades de aprendizagem ou problemas de comportamento na escola. Se, por um lado,
essa frequência tão elevada, identificada há quase 15 anos, levantou questionamentos a
respeito do funcionamento do sistema educacional, por outro, exigiu intervenções por parte
dos profissionais que atuam nesse contexto.
A queixa escolar entre adolescentes matriculados regularmente na educação básica
torna-se uma temática relevante, uma vez que as maiores taxas de abandono e fracasso escolar
do país, segundo o Ministério da Educação, se referem aos estudantes do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental. (Secretaria de Administração do Estado da Bahia, Brasil, 2004). Embora
esses dados sejam relativos ao ano de 2004, os índices de exclusão, dificuldades e repetências
são muito altos e, de acordo com Fonseca (1995), eles são reflexos de um fracasso maior: o do
sistema educacional.
Diferentes explicações para os problemas relacionados ao processo de escolarização
de estudantes do ensino básico chegam aos serviços de atenção psicossocial e de saúde,
12
exigindo melhor preparo teórico e técnico dos profissionais para dar suporte às diversas
demandas.
Meu interesse pelo tema da presente pesquisa surgiu a partir das minhas experiências
profissionais como professora de crianças do Ensino Fundamental I, orientadora educacional
do Ensino Fundamental II e psicóloga clínica de crianças e adolescentes no município de
Salvador – Bahia. Durante essas vivências foi possível observar o fenômeno da “Queixa
Escolar” sob diversos olhares, e notar as vozes de agentes de referência, presentes nas
narrativas dos estudantes, acerca das suas respectivas trajetórias acadêmicas. Minha
curiosidade sobre esse fenômeno fomentou a busca por referenciais teóricos que discutissem o
tema mais profundamente. Esse processo de pesquisa e investimento profissional me levou ao
mestrado acadêmico, a partir do qual foi possível delimitar, com mais clareza, meu objeto de
estudo, compreender melhor os aspectos a ele relacionados, além de levantar novos
questionamentos.
Na escuta dos adolescentes encaminhados ao serviço de psicologia, no qual eu
trabalhava, as narrativas relacionadas à queixa escolar ganharam particular destaque. Foi
possível observar, na época, que as narrativas produzem repercussões na construção
identitária dos estudantes durante as suas vidas e, especialmente, nas suas trajetórias
escolares. Diante deste cenário, surgiu o meu interesse em analisar as vozes dos agentes de
referência que participam dessas narrativas, dando atenção à dinâmica do self e, mais
especialmente, ao self educacional de adolescentes encaminhados com queixa escolar para
aquele serviço.
Embora muitos estudos busquem compreender as consequências das vozes dos agentes
de referência na escolarização de crianças em séries iniciais, é possível notar a escassez de
pesquisas considerando, especificamente, as vozes dos adolescentes. Faz-se necessário,
portanto, conhecer a expressão das diferentes vozes na dinâmica do self do estudante e no
processo de escolarização, uma vez que a vida escolar é produtora de significados. Desse
modo, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa idiográfica que utilizou como instrumentos
uma ficha de dados sociodemográficos e uma entrevista narrativa. O objetivo foi compreender
como adolescentes matriculados regularmente no Ensino Fundamental II, encaminhados com
queixa escolar para o Serviço de Psicologia, expressam as vozes dos agentes de referência na
dinâmica do self e, em especial, do self educacional.
O presente trabalho está fundamentado em alguns dos pressupostos da Psicologia
Cultural de base semiótica e da Teoria do Self Dialógico. Serão discutidos três conceitos
centrais a partir dessas duas teorias, quais sejam: Dialogicidade, Self Educacional e
13
Posicionamentos do Eu (I-Positions).
A Dialogicidade, ou dialogismo, se sustenta na metáfora do diálogo para a
caracterização do sujeito e dos fenômenos inerentes aos mesmos, tais como: o conhecimento,
a subjetividade e o discurso (Cunha, 2007). O Self Educacional diz respeito a uma construção
identitária, um processo constituído na relação dialógica com vozes dos agentes de referência
durante o período de escolarização dos sujeitos, de acordo com Tateo, Marsico e Iannaccone
(2013), enquanto o Self Dialógico envolve uma dinâmica de múltiplas vozes na mente que
leva a diferentes posicionamentos, I-Positions. A noção de I-position abarca a noção de
multiplicidade do Self preservando, ao mesmo tempo, coerência e unidade (Hermans, 2013).
Além dos conceitos descritos acima, serão discutidos aspectos relacionados à
definição do fenômeno da queixa escolar, a partir de uma revisão de literatura sobre este tema.
O segundo capítulo abarca a fundamentação teórica do estudo apresentando a
Psicologia Cultural e o Self Educacional, assim como a Teoria do Self Dialógico e, a partir
desta, os Posicionamentos de Si e Dialogicidade, enfatizando também as narrativas acerca da
expressão das vozes dos agentes de referência no contexto escolar. O terceiro capítulo traz
uma revisão bibliográfica referente ao tema da “Queixa Escolar” destacando o período da
adolescência. No quarto capítulo são apresentados o problema de pesquisa, objetivos geral e
específicos, assim como os procedimentos utilizados na coleta e análise de dados da pesquisa
qualitativa idiográfica. O quinto capítulo traz a análise de duas entrevistas narrativas
realizadas com adolescentes estudantes de escola pública e privada em Salvador, Bahia. O
trabalho se encerra com as considerações finais, indicando pontos de partida para novas
pesquisas.
14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Teoria é tela em branco
De artista em devoção
A produção de encanto
Alicerce, fundamentação.
Teoria é base, é contradição
Reinvenção, reconstrução,
Significar e produzir sentido.
Tornar colorido o branco que havia,
Transformar ideias em poesia.
(Marina Lima Duarte Moreira)
A cultura tem sido objeto de interesse de diversas áreas e é um conceito fundamental
para a compreensão da condição humana. Segundo Valsiner (2012), a cultura é usada em
vários sentidos. De um lado, o termo designa algum grupo de pessoas que estão reunidas
graças a algumas características partilhadas; de outro, tem sido causa de organizadores
psicológicos de sujeitos individuais. Sendo assim, parte dos sujeitos oferecem, ao mesmo
tempo, recursos, para lidar com questões individuais e coletivas. Desse modo, a cultura
funciona, portanto, dentro do sistema intrapsicológico das pessoas.
Outra proposição assumida por Valsiner (2012) é de que a cultura pertence à relação
da pessoa com o ambiente. Trata-se das diferentes formas que os sujeitos se relacionam com o
mundo, num processo onde pessoa e cultura são considerados inclusivamente separadas. A
cultura é, para ele, um processo de internalização e externalização, um conjunto de processos
posicionados (Valsiner, 2012). Esse posicionamento acontece no processo de tensão entre
normas, ideologias e valores. A posição é defendida como uma construção de sentidos, onde
quem narra assume um lugar moral em relação a ele mesmo, de forma a reagir aos discursos
dominantes (Moutinho & Conti, 2016)
O termo “cultura”, segundo Valsiner (2012), pode ser organizado por signos, numa
cadeia semiótica. A relação dos sujeitos com o sistema de signos se dá, de um lado, a partir do
funcionamento intrapsicológico e, de outro, através da dimensão interpessoal. O
funcionamento intrapsicológico pode envolver a própria experiência do sujeito com o mundo.
Semiótica, conforme Valsiner (2012), é uma ciência dos usos dos signos. Signos seriam
fabricados por mentes e essas mentes operam por meio de signos. Eles conectam as relações
do sujeito com o ambiente externo, enquanto a mediação semiótica ocorre no âmbito
interpessoal através da prática discursiva (Valsiner, 2012).
15
A mediação semiótica pode ser utilizada por instituições como ferramentas,
oferecendo ações orientadas por metas, regulando funções psicológicas e estabelecendo regras
para interações sociais (Valsiner, 2012). A escola é um exemplo de instituição utilizada como
ferramenta de controle social, na qual os seus agentes e estudantes desenvolvem crenças que
orientam as suas ações. Na escola, e a partir da escola, aprende-se regras de conduta, projeta-
se a vida para o futuro e regula-se as emoções. As instituições sociais, como aquelas de
ensino, visam propósitos particulares aparecendo como construtoras ativas de armadilhas
semióticas (Valsiner, 2012).
Abaixo, na figura 3, é apresentada uma ilustração de mediação semiótica extraída do
livro de Valsiner (2012), que nos ajuda na compreensão desse processo.
Figura 3 – Mediação Semiótica
Fonte: Valsiner (2012)
De acordo com Valsiner (2007), a psicologia cultural busca, enquanto ciência,
modelos explicativos sobre o funcionamento dos indivíduos socialmente. Procura desenvolver
métodos de estudo aplicáveis, generalizáveis que considerem os fenômenos que ocorrem na
trajetória de vida dos sujeitos.
16
Alguns conceitos são apresentados no presente estudo, dentre eles: Dialogicidade e
Posicionamento do Eu (I- Position), numa perspectiva da Teoria do Self Dialógico, e Self
Educacional. Para sua melhor compreensão serão descritos, a seguir, considerando-se a forma
como serão abordados nesta dissertação.
2.1 DIALOGICIDADE (OU DIALOGISMO) NA TEORIA DO SELF DIALÓGICO
Cunha (2007) considera que a troca mediada por um sistema semiótico (mesmo a
linguagem verbal), ocorrida no diálogo, é um processo contínuo. No dialogismo, tanto a
mente do sujeito como o sentido de self podem ser compreendidos como processos e
resultados da relação com outros indivíduos, pois a existência é sempre uma coexistência
(Holquist, 1990 citado por Cunha, 2007). Qualquer ser humano está, portanto, envolvido em
um processo comunicacional e relacional (Salgado & Hermans, 2005 citado por Cunha,
2007), donde a presença de outros indivíduos é fundamental e constitutiva.
Embora o estudo das contribuições de Bakhtin para a psicologia cultural não seja
objeto desta pesquisa, toma-se de empréstimo a sua compreensão da existência humana a qual
surge como diálogo, porque é sempre compartilhada e endereçada a outro sujeito (Cunha,
2007; Bakhtin,1993). Essa partilha ocorre em nível interpessoal ou intrapessoal. Bakhtin
(1993) afirma que não é possível ao sujeito escolher estar em diálogo, pois endereçamos
continuamente ao mundo e respondemos a ele. Nossa humanidade, segundo Cunha (2016),
está interligada, justamente, com essa responsividade. Os seres humanos são compelidos a
responder às demandas uns dos outros e são responsáveis pelas suas respostas, frente às
indagações desses outros. Para o dialogismo, a relação de comunicação é a base da existência,
pois nos coloca em relação com o outro. O contexto, então, situa e localiza o discurso no
tempo e no espaço, porque não existem mensagens independentes destes. Da mesma forma,
não existe contexto sem mensagens (Linell, 2007 citado por Cunha, 2007).
O diálogo possibilita a troca de saberes entre os indivíduos através da comunicação.
Por meio das narrativas tem-se acesso ao universo particular do sujeito, sentidos, significados
e signos presentes em sua história. O diálogo viabiliza o compartilhamento no mundo
simbólico e construções dentro de contextos culturais singulares e coletivos (Valsiner, 2012).
Para Valsiner (2012), o dialogismo implica em tornar as relações comunicativas em
definitivas para o sistema. O dialogismo, então, parte do pressuposto de que o homem é fruto
de processos relacionais e dialógicos. Através desses diálogos a criança em interação constrói
sua identidade. Valsiner (2012) afirma, ainda, que por meio dos signos presentes nas
17
narrativas expressas através do diálogo sobre a experiência passada, os sujeitos projetam o
futuro. Por meio desses signos as pessoas são capazes de criar o próximo momento. Esses
signos possibilitam que os indivíduos signifiquem o mundo e se permitam experimentá-lo
(Valsiner, 2012).
O referido autor salienta que, no processo de significação do mundo, os sujeitos se
movem entre estar em um determinado contexto e esforçar-se para sair do mesmo como
“migrantes mentais e permanentes aventureiros”, pois o futuro é incerto e o passado, de
acordo com ele, é reconstruído constantemente, quando o indivíduo se depara com a incerteza
desse futuro. O momento presente torna-se, então, uma fronteira (Valsiner, 2012). A produção
de fronteiras foi analisada nas entrevistas realizadas neste estudo, a partir do processo de
rupturas e transições vivenciados pelas adolescentes em suas respectivas trajetórias escolares.
Foram analisadas, também, nas narrativas dos participantes, as experiências vividas nas
trajetórias educacionais desses atores, a partir da qual se relaciona passado e projeções futuras
que serão, também, objeto de análise deste estudo.
A teoria dialógica de Hubert Hermans e a psicologia cultural de Jaan Valsiner
oferecem importantes recursos teóricos e metodológicos para se compreender o
desenvolvimento durante os anos da adolescência. Essas teorias possibilitam atentarmos para
as continuidades e descontinuidades nas trajetórias de vida de sujeitos em processos de
escolarização (Castro & Souza, 1994).
Segundo Zittoun (2012), a reflexão acerca da natureza do curso de vida é um objeto de
pesquisa científica recente. O estudo do curso de vida também pode ser considerado como um
esforço para a compreensão do sujeito em seu contexto, pois não há vida humana fora da
cultura (Zittoun, 2012).
A abordagem da vida útil relacionada ao desenvolvimento, segundo Zittoun (2012),
propõe que o papel da cultura, assim como do crescimento natural, são variáveis ao longo da
vida. As capacidades humanas, nesta perspectiva, crescem durante a trajetória dos seres
humanos. Depois de crescer, declinam com o tempo e, em algum ponto, o mesmo declínio é
tão significativo que não pode ser mais compensado pela cultura (Zittoun, 2012).
A psicologia do curso de vida, por outro lado, considera o desenvolvimento regulado
por seleção, otimização e compensação. Algumas habilidades são selecionadas e otimizadas.
Estas compensam suas fraquezas por outros meios (Baltes, 1986; Baltes, Staudinger &
Linderberger, 1999, citados por Zittoun, 2012).
Zittoun (2012) defende a ideia de que as transições nas trajetórias são reconhecidas
como pontos de virada, eventos que promovem mudanças substanciais na vida de um sujeito.
18
O desenvolvimento humano, portanto, está ligado às condições históricas, culturais, sociais e
seus aspectos facilitadores. Na medida em que há vida, há mudança. Coisas evoluem, se
movem, são construídas e se tornam organizadas até a decomposição e morte (Zittoun, 2012).
A percepção humana dos eventos que acontecem, graças aos marcadores sociais e
culturais, produzem tempo, como um sentido pessoal ou história coletiva. Quando um ser
humano se desenvolve, ele explora a esfera da experiência, os limites, assim como outras
esferas e contextos (Zittoun, 2012).
A escola encontra-se como um contexto rico em eventos e trocas sociais. A interação
dialógica dos estudantes favorece experiências de limites e transições proporcionadas pelos
marcadores sociais, posto que a escola reproduz o sistema. Na medida em que um sujeito
constrói sua trajetória educacional em instituições e demais esferas educativas, ele insere em
sua percepção de si e de mundo novos sentidos para a sua identidade, deixando também nesse
percurso marcas pessoais, a partir das trocas dialógicas, na cultura coletiva.
Salgado e Hermans (2005) afirmam que a característica de um diálogo é a relação
que se estabelece entre mensagens comunicativas. O self dialógico surge a partir do diálogo
entre diferentes vozes que interagem e das mudanças de posicionamento durante a vida a
partir dessa interação. Implica na combinação entre continuidade e descontinuidade,
continuidade na linha das coisas que pertencem ao Eu do sujeito e descontinuidade uma vez
que, as mesmas coisas, são representadas por diferentes vozes (Hermans, 2001). O diálogo
abre a oportunidade de diferenciar o mundo interior de um único e mesmo indivíduo sob a
forma de uma relação interpessoal estabelecida com outros sujeitos em comunicação. Todas
as coisas podem ser vistas como coexistentes (Hermans, 1999; 2013).
O “outro” funciona na dinâmica do self dialógico com duas qualidades: as posições
externas do self que geram tensões entre vozes reais e as vozes dos outros que foram
construídas na imaginação do indivíduo. Neste contexto, diálogos externos e internos
interagem modificando e desenvolvendo um ao outro (Hermans, 2013). Por esse motivo, o
presente trabalho objetiva analisar como adolescentes, encaminhados com queixa escolar para
o serviço de Psicologia, expressam a participação das vozes dos agentes de referência na
dinâmica do self educacional, atentando para os posicionamentos do Eu e sistema do self
educacional.
Histórias pessoais possibilitam compreender as pessoas como agentes de
posicionamento. Este modelo de compreensão do posicionamento nos oferece a possibilidade
de visualizar construções identitárias como duplas, ou seja, os indivíduos como capazes de
analisar a forma como o mundo referencial é construído, como personagens no tempo e
19
espaço, sendo protagonistas ou antagonistas, heróis ou vilões e, a partir desse posicionamento,
analisar a forma como o mundo referencial é constituído. Ao mesmo tempo, somos capazes
de mostrar como o mundo referencial (de um passado que é relevante para o presente) é
formado em função do engajamento interativo (Bamberg et al., 2011).
De acordo com Bamberg et al. (2011), as histórias de vida são mais que
recapitulações de eventos passados: elas abarcam uma definição de personagem. As nossas
identidades narrativas são as histórias que vivemos e uma história é uma ação situada em si
mesma, que transcende a noção de simples história. Ela age, sustentando, alterando ou criando
mundos de relação social (Gergen & Kaye, 1998).
O self é constituído nas transições pessoais envolvidas em vínculos sociais, imagens
e redes de significados (Bruner, 1997). Essa perspectiva, segundo Grandesso (2011),
compreende um self como uma pluralidade de selves possíveis, um constante processo de “vir
a ser” na linguagem. O self pode ser compreendido como um fenômeno de fronteiras em
constante mudança. Nessa perspectiva, pode-se falar em múltiplas histórias de vida com
possibilidades de narrativas diversas sobre o curso da vida do sujeito (Shootter, 1999, citado
por Grandesso, 2011). No processo de negociação com essas vozes, o estudante pode escolher
diferentes rumos para suas trajetórias acadêmicas (Grandesso, 2011).
Os adolescentes, então, negociam com essa pluralidade de vozes de outros
significativos que participam na dinâmica do self educacional. O objetivo do presente estudo,
portanto, foi analisar esse fenômeno atentando para os diversos posicionamentos e
reposicionamentos das estudantes.
2.2 POSICIONAMENTO DO EU (I-POSITIONS)
O self é baseado em polifonia, ou seja, a expressão de várias vozes diferentes. O
“outro” surge como um constituinte do Eu, considerado, portanto, como dinâmico e
heterogêneo, por ser comporto pelas diversas vozes ou I – Positions (Grossen & Orvig, 2011).
Teorias de self dialógico propõem um self descentralizado, que é percebido como
multivocal. O self dialógico, portanto, envolve uma dinâmica de múltiplas vozes na mente que
leva a diferentes posicionamentos, I-Positions. As vozes intervêm na mente do sujeito e nas
mentes de outras pessoas através do diálogo. Nesse movimento, posições diferentes são
assumidas por um “I”- Eu contínuo e trazidas para a comunicação. A noção de I-position
envolve a noção de multiplicidade do self preservando, ao mesmo tempo, coerência e unidade.
O self está envolvido em processos de posicionamento e reposicionamento (Hermans, 2013).
20
Segundo Jesus (2016), o conceito de Self proposto por Hermans (2001) não apresenta
uma característica de entidade centralizadora, mas, uma pluralidade de posições
descentralizadas, transmitindo a noção tanto de unidade como de multiplicidade do self de um
sujeito. De acordo com esse autor, “o self se situa entre posições diferentes e, muitas vezes,
opostas, e cada Posição é dotada de uma voz que tem o papel de manter relações dialógicas
com as outras posições. Cada voz tem a sua própria história, suas próprias experiências”
(Jesus, 2016, p. 41). As relações estabelecidas entre vozes e as posições diversas, acabam por
compor um self complexo, mas estruturado narrativamente. As diferentes posições do Eu (I-
Positions) contam histórias particulares na trajetória dos indivíduos e podem ser
compreendidas como narrativas particulares de diferentes personagens (Hermans, 2001;
Valsiner; 2012, citados por Jesus, 2016, p. 42).
As posições do Eu, segundo Jesus (2016), podem duvidar, discordar, aceitar,
contraditar ou negociar com outas posições do Eu. Essas posições, de acordo com o mesmo
autor, se organizam de forma hierárquica em um mesmo sujeito, estabelecendo relações de
subordinação e dominância. Ainda segundo Jesus (2016), o sujeito, nessa dinâmica, acaba por
se dividir entre o que ele pode vir a ser e o que, de fato, é. Para Valsiner (2012), cada posição
ocupada pelo sujeito traz em si componentes significativos do self do indivíduo.
Jesus (2016) defende a ideia de que o self dialógico é social, não por estar relacionado
às outras pessoas, mas porque essas outras pessoas ocupam posições de self com vozes
múltiplas. Nessa perspectiva, a mente pode ser comparada com a sociedade, pois as formas de
funcionamento de ambas são semelhantes.
O self dialógico funciona como uma “sociedade da mente”, pois existem semelhanças
entre os papéis ocupados e o funcionamento no mundo interno e no mundo externo à pessoa
(Hermans, 2002 citado por Jesus, 2016). Para Jesus (2016, p. 42), “as relações que se
estabelecem entre as posições, na sociedade e no self, são ditadas pelo caráter da dominância e
pelo poder social”.
De acordo com Hermans (2001), o self dialógico pode ser composto por posições
externas e internas. As posições externas são percebidas como parte do ambiente, como a
percepção dos outros indivíduos para ele enquanto sujeito. As internas, no entanto, se referem
às características percebidas pela pessoa como sendo próprias dela, seguem a percepção que
um indivíduo possui de si mesmo. Todas as posições, segundo o mesmo autor, fazem parte de
um self relacionado ao ambiente. As posições internas e externas não se encontram isoladas
entre si, estão em movimento, junto às mudanças culturais; uma dinâmica depende, portanto,
da outra (Hermans, 2001).
21
As narrativas dentro do espaço educacional seguem então esse movimento composto
por vozes e posicionamentos diversos do sujeito na dinâmica dialógica do self do estudante
durante sua trajetória escolar.
Segundo Mattos (2013), ainda são necessários estudos a respeito de processos
subjetivos vivenciados na juventude. De acordo com a autora, pesquisas neste campo
favorecem a elucidação de processos que regulam as relações entre jovens e contextos,
possibilitando a compreensão das mudanças constantes que ocorrem nesse momento do ciclo
vital da pessoa e que intensificam processos de transformação do self.
Os jovens são construtores ativos em suas trajetórias de vida. Esse processo ocorre a
partir de interpretações que os mesmos fazem das oportunidades presentes no ambiente, de
acordo com os sentidos formulados acerca de si mesmos e seu lugar no mundo, suas
motivações, valores e experiências (Mattos, 2013).
A mediação semiótica é importante nos processos de ruptura e transição vivenciados
por estudantes (Zittoun, 2006, 2007a citada por Mattos, 2013). As rupturas podem ser
causadas por fatores externos ao sujeito ou internos e acabam por direcionar o indivíduo para
escolhas distintas. Superar essas rupturas envolve mudanças profundas que catalisam novos
processos que envolvem um novo posicionamento ou re-posicionamento do sujeito. Esses
posicionamentos demarcam uma nova organização do self do indivíduo produzindo novos
sentidos se si no mundo (Zittoun, 2006, 2007a citada por Mattos, 2013).
Zittoun (2006 citada por Mattos, 2013) afirma que as experiências juvenis implicam
em transformações identitárias que geram um reposicionamento no campo simbólico e social
do sujeito. Essas transições demandam novas habilidades e produzem novos aprendizados.
Nesse processo de construção de sentido, através da reelaboração dos campos cognitivos e
emocionais, o estudante produz um sentido de continuidade de si através dos diferentes
contextos em que transita.
Assim, a escola é um contexto rico em interações sociais e possibilita a comunicação e
novos aprendizados a partir dos diálogos que permeiam a instituição e seus agentes de
referência.
2.3 NARRATIVAS NA ESCOLA
A narrativa é importante tanto para a relação do sujeito com a cultura quanto para a
estruturação da vida pessoal. A habilidade na estruturação e compreensão da narrativa é
fundamental para a formação identitária dos indivíduos, assim como para a construção de um
22
“lugar” no mundo, um papel na sociedade (Bruner, 2001).
Para construir esse “lugar” no mundo, o indivíduo precisa se comunicar, pois o
diálogo favorece a formação identitária e a formação de um espaço de pertencimento social.
Para que a narrativa se torne um instrumento na produção de significados para um sujeito, no
entanto, é necessário, produzi-la, discuti-la, analisá-la e compreender seus mecanismos
(Bruner, 2001).
Uma narrativa constrói, na linguagem do sujeito, o que ainda não foi dito, o inédito em
um arranjo ao relacionar histórias diferentes e situações dispersas que reúnem eventos
decorrentes da narrativa como um todo (Grandesso, 2011). De acordo com Anderson (1997,
p. 216), “Vivemos nossas narrativas e nossas narrativas tornam-se nossas vidas; nossas
realidades tornam-se nossas histórias e nossas histórias tornam-se nossas realidades”. Em
qualquer discurso, mesmo sozinho, é possível perceber o eco das vozes de outros discursos
que foram realizadas em lugares diversos, em diferentes ocasiões e situações (Grossen &
Orvig, 2011). Essa narrativa polifônica permite, então, a exposição de variadas perspectivas.
A possibilidade de diálogo permite a diferenciação entre o mundo interior e a concepção de
um mundo singular, único. As diferentes perspectivas apresentadas mostram variados
contextos, variados sujeitos e diversas concepções de mundo (Hermans, 2001). As narrativas
expressas acabam por orientar práticas educativas e permitem o desenvolvimento escolar dos
estudantes (Tateo, Marsico & Iannaccone, 2013). Essas narrativas são marcadas pelo tempo,
estruturam a realidade e oferecem um senso de self permitindo um reconhecimento de si
mesmo (Valsiner, 2012).
2.4 SELF EDUCACIONAL
Este estudo foi desenvolvido partindo da noção de dinâmica do self e, mais
especificamente, do self educacional. Neste sentido, de acordo com Tateo, Marsico e
Iannaccone (2013), o self educacional é constituído na relação dialógica com vozes dos
agentes de referência na trajetória escolar de estudantes, e que contribuem para a formação
identitária do sujeito no processo de escolarização.
O self educacional envolve a construção identitária durante os anos escolares e se
refere à emergência do self, a partir da interação dialógica entre vozes de referência com
estudantes em contexto educacional. Trata-se de um processo dialógico que ocorre no período
de escolarização envolvendo múltiplas vozes que expressam diferentes pontos de vista e
modulações, a partir de pontos específicos relacionados às experiências escolares e
23
educacionais (Tateo, Marsico & Iannaccone, 2013).
Quando crianças e adolescentes interagem com vozes dos agentes de referência, em
contexto educacional, os diferentes pontos de vista expressos nas narrativas desses adultos
contribuem para a construção identitária dos estudantes, oferecendo diferentes possibilidades
referentes a que tipos de pessoas eles podem ser no presente e no futuro (Tateo, Marsico &
Iannaccone, 2013). Segundo Valsiner (2012), é através da experiência passada que os sujeitos
criam os próximos momentos, momentos futuros da experiência através dos signos. Esses
signos possibilitam significar a experiência no mundo.
O self educacional é constituído na dinâmica dialógica, descrita anteriormente, com
vozes de outros significativos sobre a trajetória acadêmica de estudantes. Esse processo
contribui na formação identitária dos indivíduos na escola (Tateo et al., 2013).
Essa dinâmica do self educacional envolve a multivocalidade no contexto escolar e a
construção da identidade na trajetória de escolarização. Essa multivocalidade envolve
diferentes vozes, diferentes narrativas, através da expressão de diferentes pensamentos e
concepções acerca das experiências vividas no contexto educacional (Tateo et al., 2013).
A ideia de queixa escolar se relaciona com a dinâmica do self educacional, quando a
mesma pode ser compreendida como uma narrativa polifônica em que o estudante se encontra
envolvido em um processo ativo e contínuo de posicionamento e reposicionamento diante de
outros sujeitos significativos que participam na construção de sentidos, a partir da emergência
de diferentes vozes (Mattos, 2013). Essa dinâmica de posicionamento e reposicionamento não
assume uma relação causal. Ela representa o movimento de papéis que são assumidos
simultaneamente e que possibilitam a mudança no processo de construção identitária sem que
uma posição seja consequência de outra.
Segundo Grandesso (2011), a possibilidade de construção e reconstrução de
significados encontra-se no processo dialógico, através do qual coevolucionam a dimensão
social da fala e a singularidade da produção individual. Para que haja ressignificação é preciso
um questionamento a respeito de um significado existente, uma reflexão e reconstrução desse
mesmo significado. O outro, nesse momento, torna-se fundamental no processo dialógico que
leva à transformação pessoal e social.
As narrativas, no entanto, são construídas em uma dimensão histórica, expressas e
negociadas nos contextos do sujeito, a sua produção. Portanto, não é um ato individual, mas
uma produção coletiva (Grandesso, 2011). Adolescentes frente às queixas e diferentes vozes
têm a possibilidade de negociar, aceitar, questionar o que é escutado.
Na trajetória escolar, crianças e adolescentes experienciam o contato com o passado
24
através do que foi aprendido no levantamento de conhecimentos prévios e possibilidades
futuras de construção de conhecimento, relações sociais e identidade (Tateo et al., 2013).
Abordar o tema self ou identidade é discorrer sobre a constância das narrativas em andamento,
que passam por diversas mudanças (Grandesso, 2011). Portanto, a internalização das vozes
acaba por orientar ações no contexto educacional durante o desenvolvimento e história de
vida daqueles atores sociais envolvidos no processo (Tateo et al., 2013). Por esse motivo, faz-
se necessário compreender como adolescentes encaminhados com queixa escolar para o
Serviço de Psicologia expressam a participação das vozes de outros significativos na dinâmica
do self e, mais especificamente, self educacional.
Os profissionais da escola e os familiares estão envolvidos com o fenômeno da queixa,
assim como os profissionais de saúde aos quais os estudantes são endereçados (Dazzani,
2007). A função da educação é permitir que os sujeitos ajam no mundo desenvolvendo suas
habilidades e pleno potencial. Entretanto, a tendência é que a educação alimente e reproduza a
cultura que a apoia e, nesse sentido, sua proposta pode ir de encontro a esse desenvolvimento
ao qual se propõe para um estudante. De acordo com Bruner (2010), o ensino não pode ser
interpretado como instrumento de uma realização individual e, ao mesmo tempo, ser uma
técnica reprodutiva da manutenção de uma cultura (Bruner, 2010). Trata-se, então, de um
impasse ainda sem resposta, visto que existe um ponto de tensão entre a missão coletiva da
escola e a necessidade de considerar especificidades individuais dos(as) estudantes.
A relevância da vida escolar não pode estar relacionada apenas à promoção de
desenvolvimento de habilidades cognitivas, laborais e afetivas. Ao criar espaços de
possibilidades de relações entre atores internos e externos, a escola promove a constituição do
self (Gomes, Padovani, Dazzani, & Ristum, 2014).
Segundo Gomes (2014), o processo de escolarização é transpassado comumente por
momentos de descontinuidades e continuidades. As mudanças no contexto educacional e nas
relações que se estabelecem dentro dele, com o avançar dos anos, colocam os adolescentes
frente a situações que requerem transformações identitárias com a finalidade de solucionar
novos problemas que surgem durante esse processo.
Crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem dividem-se, portanto, na
tentativa de corresponder positivamente, confrontar expectativas e projeções das vozes dos
outros de referência em relação a sua vida acadêmica ou viver experiências de ambiguidade
na aceitação e rejeição dessas vozes, ao mesmo tempo.
Durante as interações de vozes no processo educacional, os recursos simbólicos
internalizados pelos estudantes tornam-se elementos constitutivos do self educacional. Esses
25
instrumentos acabam por administrar dimensões cognitivas dos estudantes − sociais e
emocionais − em qualquer tempo em que o sujeito esteja envolvido em contextos
considerados educacionais (Marsico & Iannaccone, 2012).
Embora se compreenda que os fatores psicológicos que envolvem as dificuldades ou
problemas experienciados no contexto escolar não são os únicos determinantes na causa de
desencadeamento do fenômeno da queixa escolar, torna-se pertinente evidenciar a dimensão
desse problema nos diferentes contextos dos adolescentes e tornar lúcidas as implicações
desse processo na ressignificação da vivência educacional.
26
3 A QUEIXA ESCOLAR
Escola é ponto de continuação
Ponto de encontro e desencontro,
Paradoxo da construção.
Base de estudante em formação,
Identidade e produção.
Escola é alento e insatisfação,
Reprodução de sistema e fracasso.
Escola é cansaço e também dedicação.
Não é desistência, é resistência.
Escola é queixa e união.
(Marina Lima Duarte Moreira)
A qualidade na educação, no ensino e aprendizagem, passou a ser mais discutida com
a ampliação do atendimento à queixa escolar pelos serviços de saúde (Oliveira, 2007). Até a
década de 1990 a qualidade do ensino e aprendizado na educação era um tema pouco visível
frente às questões como os altos índices de evasão e reprovação registrados no Brasil. Para
Oliveira (2007), exclusão e desigualdades ainda aparecem no sistema educacional; entretanto,
de uma forma diferenciada daquela que ocorria em 1990. O sistema educacional no país
mostra-se com inúmeros problemas que envolvem graves consequências sociais: evasão,
dificuldades de aprendizagem, violência, crianças fora da escola, entre outros relacionados à
educação básica no Brasil.
Essa realidade indica que pouco foi feito na última década do século XX, no que tange
aos princípios da educação básica para todos no país (Guzzo, 2001). A democratização do
acesso à escola e a regularização da frequência nesse contexto trouxeram para esse sistema o
desafio de assumir a responsabilidade pelo aprendizado de todas as crianças e jovens
(Oliveira, 2007). No entanto, é impossível pensar na responsabilidade pelo aprendizado e
educação assumida pela escola sem pensar na relação que esta estabelece com as famílias dos
estudantes.
Segundo Wagner (2011), desde seu surgimento, enquanto instituição social de
educação formal, a escola possui uma forte relação com a instituição familiar. Com a criação
dos centros urbanos e a inserção da mulher no trabalho, a partir de determinado momento
histórico, as escolas passaram a dividir com as famílias a função de educar. Existe hoje, no
entanto, uma polêmica acerca dos papéis das duas instituições quanto às tarefas educativas, a
quem cabe educar os estudantes, se a educação deveria ocorrer em domicílio ou se caberia à
escola, enquanto instituição educacional, essa função (Wagner, 2011).
27
Uma das propostas para atingir pontos em comum entre os dois contextos educativos
(família e escola) é a coerência entre práticas educativas. Para isso, segundo Wagner (2011),
faz-se necessário um espaço de acolhimento, ajuda e aprendizado de estratégias eficazes no
acompanhamento dos estudantes.
Pesquisas sobre queixa escolar têm sido alvo de interesse de profissionais de diferentes
áreas e podem ser úteis para profissionais de educação e de saúde que buscam participar mais
efetivamente no processo de escolarização de estudantes (Souza, 2000; Neves, & Marinho-
Araujo, 2006; Braga & Morais, 2007; Nakamura, Lima, Tada, & Junqueira, 2008; Bray, &
Leonardo, 2011). Essas pesquisas podem gerar benefícios para profissionais que trabalham no
atendimento clínico de adolescentes com esse histórico.
De acordo com Bruner (2001), a escola é uma das primeiras instituições da vida de
uma criança, além da família. Ela se configura como um dos primeiros contextos que
possibilita a interação social e a imersão na cultura. Torna-se, portanto, um espaço rico em
construção de significados. Esse contexto possibilita o diálogo entre diferentes versões de
mundo, através das narrativas entre atores sociais que nele circulam.
O movimento dialógico no espaço escolar colabora na construção das histórias
individuais dos estudantes que estão inseridos nas diversas instituições de ensino. É por meio
dessa interação com demais sujeitos que a criança conhece a cultura e assimila como ela
mesma concebe o mundo ao seu redor. Através da relação com o outro ela constrói seu lugar
na sociedade (Bruner, 2001).
A escola é, portanto, um palco de vivência da juventude e espaço social significativo
na história e desenvolvimento do sujeito. Experiências nesse espaço educacional são
caracterizadas por mudanças e desafios que podem ter efeitos na constituição identitária do
indivíduo (Gomes, 2014). A queixa escolar e seus desdobramentos, como qualquer discurso,
podem afetar seriamente o modo como a pessoa se organiza frente às demandas escolares,
produzindo significações no self que poderão guiar seus posicionamentos dentro e fora do
desse contexto.
Diversos pesquisadores brasileiros estudaram o fenômeno da queixa escolar (Barros,
Mendonça, & Santos, 2011; Dazzani et al., 2014; Fonseca, 1995; Neves & Marinho-Araujo,
2006; Patto, 2010). Esses estudos apresentam dados referentes aos altos índices de
encaminhamento de demandas relacionados à queixa escolar para diversos serviços de saúde.
No intuito de lidar com as demandas de queixa escolar, família e escola buscam
parcerias mediadas por profissionais de psicologia em prol de estratégias mais efetivas para o
desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Contudo, Braga e Moraes (2007, p. 46) revelam
28
que “O psicólogo, muitas vezes, desconhece a complexa rede de relações imbricadas na
manifestação da queixa escolar, deixando à margem determinações sociais e institucionais
que influenciam na produção das dificuldades escolares”. Para que o encaminhamento e
acompanhamento terapêutico seja efetivo, cabe o envolvimento da família e escola enquanto
instituições de suporte no processo de escolarização.
A família torna-se tema de interesse, a partir da relação/parceria estabelecida com as
escolas, considerando-se seu papel, sua função e contribuição no processo educacional, e
ainda conforme os modelos de participação no processo educacional do sujeito. Verifica-se aí
um complexo jogo de relações sociais que permeia o processo institucional da educação
(Dazzani & Faria, 2009)
As duas instituições, família e escola, são contextos fundamentais para o
desenvolvimento das crianças, porque permitem interações entre atores sociais e colaboram
para a formação do sujeito. Faz-se necessário, portanto, o reconhecimento mútuo da
importância de cada um deles em prol de estratégias que visem o desenvolvimento do
estudante na sociedade (Marcondes & Sigolo, 2012).
Se por um lado uma maior escolaridade é considerada como uma possibilidade de
melhoria de renda e saúde, aumento da empregabilidade e redução da criminalidade
(Menezes-Filho, 2007, citado por Gomes, 2014), por outro lado, experiências relacionadas ao
fracasso podem ser configuradas como fator de risco social (Barros, Mendonça, & Santos,
2011, citado por Gomes, 2014).
Em pessoas em situação de risco social e pessoal os efeitos das mudanças e
estabilidades podem interferir no desenvolvimento e ajustamento psicológico. Todos os
sujeitos experienciam mudanças e constâncias (estabilidade e continuidade) ao longo do ciclo
de vida. Eles vivenciam essas alternâncias tanto individualmente quanto em grupo
(Bronfenbrenner, 2005).
O desenvolvimento de um estudante em situação de risco envolve desafios contextuais
e individuais que aumentam a vulnerabilidade do sujeito apontando para resultados que
interferem no desenvolvimento. Tradicionalmente, os fatores de risco estavam relacionados à
pobreza e maus tratos; porém, esses fatores de risco são analisados hoje enquanto processos
que envolvem a quantidade de exposição aos fatores de risco, o tempo, o momento e o
contexto (Engle, Castle, & Menon, 1996, citados por Amparo, Galvão, Cardenas, & Koller,
&, 2008). De acordo com Dazzani et al. (2014), todos os problemas relacionados ao processo
de escolarização, a não aprendizagem e às dificuldades encontradas durante a trajetória
escolar podem se configurar como queixa escolar.
29
No contexto educacional, métodos e processos de ensino e aprendizado vão se
diversificando quanto às identidades e às ações dos profissionais que trabalham no sistema de
ensino. Formas de agir são portadoras de diversificados valores que são nutridas de
interpretações sociais e das redes de relações que as estruturam politicamente (Duarte &
Junqueira, 2013).
As queixas escolares passaram a expressar problemas de aprendizagem dos estudantes,
donde se assume uma perspectiva individualista, retirando das instituições de ensino a
necessidade de repensar suas práticas pedagógicas e ações educativas, desimplicando os
autores no fazer educativo (Pereira, 2004). Alguns professores tendem a reproduzir em classe
discursos de preconceito, atribuindo aos estudantes a responsabilidade pelo baixo desempenho
acadêmico, por exemplo.
As dificuldades de aprendizagem de alguns estudantes não excluem, no entanto, o
potencial intelectual dos mesmos. Existem estratégias alternativas específicas para cada caso
em particular. Muitos indivíduos, com demandas de queixa escolar, se convencem de que não
podem aprender e fracassam na escola, apesar do esforço realizado pelos mesmos e pelos
demais atores escolares. Algumas expectativas de desenvolvimento acadêmico, portanto,
podem gerar desequilíbrios emocionais que interferem na aprendizagem (Neves & Marinho-
Araujo, 2006). Segundo Silva e Rodrigues (2014), nos dias atuais, o atendimento à queixa
escolar deve ser pautado na minimização das dificuldades apresentadas pelo sujeito,
favorecendo o desenvolvimento de competências necessárias para a vida acadêmica.
Bruner (2001) aponta para a relevância da escola enquanto instituição que deveria
favorecer a construção identitária do sujeito oportunizando a inserção social. Por outro lado,
alguns autores, tais como Cabral e Sawaya (2001), Dazzani et al. (2014) e Neves e Marinho-
Araujo (2006), indicam a relevância da formação na prática cotidiana dos profissionais de
saúde, pois são eles que recebem os estudantes encaminhados com a demanda de queixa
escolar para atendimento. De acordo com esses autores, esses profissionais podem atuar não
apenas intervindo, no sentido de desenvolver competências e minimizar as dificuldades, mas,
também, implicando todos os atores sociais envolvidos no processo de escolarização do
estudante, de forma a contribuir com o desenvolvimento global do sujeito. Esses trabalhos
atentam, sobretudo, para a descentralização da queixa no estudante e a formação acadêmica
que possa criar as competências necessárias para lidar com os encaminhamentos.
O atendimento à queixa escolar deve envolver diversos atores sociais, tais como: pais
e/ou responsáveis, diretores, funcionários e professores implicados no desenvolvimento global
dos estudantes. Silva e Rodrigues (2014) atentam para a necessidade de reflexão crítica acerca
30
do tema da queixa, enfatizando a necessidade de contextualização da demanda e de análise, a
partir de uma ótica proativa.
Um sistema educacional deve ajudar aqueles que estão se desenvolvendo em uma
cultura a encontrar uma identidade dentro dela, um lugar que permita o olhar para o singular,
sem perder de vista o todo da sociedade, do contexto. As escolas, segundo Bruner (2001),
devem cultivar a identidade, alimentá-la e parar de desconsiderá-la. As instituições de ensino
têm um dever social a cumprir, mas, no fazer educativo, não se deve perder o foco na
formação particular de cada sujeito implicado na construção da sua trajetória escolar. A escola
não olha o sujeito enquanto aluno único em função da sua missão coletiva. Faz-se necessário,
portanto, alimentar a identidade do indivíduo em desenvolvimento no contexto educacional
(Bruner, 2001).
Considerando a fundamentação teórica exposta acima, foi delimitado o objeto de
estudo da pesquisa que segue na próxima seção.
31
4 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
Seriam ricos os não limites
Na fronteira do pensar,
Mas a linha tênue não nos permite estudar
O universo em amplitude.
Delimitar é atitude que permite segurar nas mãos
Os pássaros que poderiam voar.
(Marina Lima Duarte Moreira)
Figura 4 – Mapa conceitual
Fonte: própria autora
4.1 PROBLEMA
Como adolescentes encaminhados com queixa escolar para o Serviço de Psicologia
expressam a participação das vozes dos agentes de referência na dinâmica do self e, mais
especificamente, do self educacional?
4.2 OBJETIVO GERAL
Analisar como adolescentes, encaminhados com queixa escolar para o serviço de
Psicologia, expressam a participação das vozes dos agentes de referência na dinâmica do self
educacional, atentando para os posicionamentos do Eu, a partir de suas narrativas.
32
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar e analisar como os adolescentes significam as queixas escolares
tecidas sobre si mesmos;
b) identificar e analisar as diferentes vozes relacionadas ao processo de
escolarização de estudantes sobre os quais são tecidas as queixas escolares;
c) analisar possíveis tensões relacionadas às diferentes vozes de agentes de
referência;
d) identificar as expectativas dos adolescentes sobre seu futuro (pessoal,
profissional e acadêmico) e sua relação com o processo atual de escolarização.
4.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS E ÉTICOS
De forma a tornar a produção mais coerente com o marco teórico, este estudo
considerou alguns aspectos metodológicos apresentados por Valsiner (2007, 2012), a partir da
psicologia cultural de base semiótica.
Para Valsiner (2012), a metodologia é um processo através do qual o conhecimento
científico é produzido. Ainda segundo o autor, é necessário repensar as formas metodológicas
convencionais, de modo a oferecer abertura para uma nova fase da psicologia do
desenvolvimento.
Considerando que a proposta de trabalho foi analisar como adolescentes,
encaminhados com queixa escolar para o serviço de Psicologia, expressam a participação das
vozes de agentes de referência na dinâmica do Self educacional, atentando para os
posicionamentos do Eu, a utilização do método qualitativo e idiográfico foi pertinente.
O método qualitativo foi utilizado no estudo, considerando-se, então, as narrativas dos
adolescentes participantes, com a finalidade de acessar as vozes de agentes de referência
através do discurso relacionado ao processo de escolarização, atentando para os diversos
posicionamentos e reposicionamentos.
De acordo com Molenaar & Valsiner (2005), cada experiência humana é singular,
única no tempo e não pode ser reproduzida. Para Valsiner (2012), os estudos idiográficos
concebem esses fenômenos singulares dentro da irreversibilidade do tempo, ou seja, dentro da
passagem cronológica. Segundo Moreno e Branco (2014), o método idiográfico permite o
estudo das questões psicológicas e fenomenológicas de forma contextual e em profundidade.
33
A generalidade, nesse modelo, se baseia na ideia de que conhecimentos sistêmicos produzidos
no estudo de casos individuais podem ser aplicados em novos casos também individuais.
4.4.1 Participantes
Participaram do estudo três estudantes da rede pública e privada de ensino,
encaminhados para serviços de atendimento psicológico na cidade de Salvador, Bahia. Duas
delas estavam vinculadas ao ensino público da cidade durante o período da entrevista e apenas
uma estudante tinha sido vinculada anteriormente ao ensino privado. Entretanto, esta última
desistiu da participação da pesquisa, ao deixar de frequentar o serviço de atendimento
psicológico. Vale salientar que as participantes foram encaminhadas para esse serviço em
virtude de demandas relacionadas à queixa escolar, tais como baixo desempenho acadêmico,
repetências, indisciplina, baixa frequência e permaneceram em atendimento até a data da
coleta de dados. Foram consideradas relevantes, também, as queixas levadas pelos
participantes.
De acordo com os critérios estabelecidos para a participação no estudo, os
participantes deveriam possuir entre 10 e 19 anos − faixa etária que compreende a
adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (Oselka & Troster, 2000).
Além disso, os participantes deveriam estar vinculados às escolas de Ensino Fundamental II e
Ensino Médio e deveriam ser escolhidos por acessibilidade. O caráter privado ou público das
instituições de ensino não foi considerado critério de seleção dos participantes; entretanto,
essa caracterização da escola figuraria eventualmente como um ponto de análise a partir das
suas narrativas, uma vez que as distintas realidades dos contextos educacionais poderiam
produzir diferenças importantes na cultura pessoal e coletiva dos sujeitos.
4.4.2 Instrumentos
Foram realizadas entrevistas narrativas com duas participantes selecionadas estudo.
Essa técnica contempla as narrativas das adolescentes e evidencia as vozes dos agentes de
referência como parte de uma complexa rede semiótica que envolve a dinâmica do self
educacional.
Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), a entrevista narrativa objetiva estimular o
participante entrevistado a falar, contar uma história a respeito de um acontecimento relevante
34
na sua vida. A proposta é reconstruir, a partir das falas dos participantes, acontecimentos
sociais diretamente, ou seja, narrar, com profundidade, histórias que remetam ao tema central
de estudo.
Na entrevista narrativa o contador da história narra fatos relevantes da sua vida, de
acordo com sua perspectiva de mundo. Portanto, a explicação de acontecimentos é seletiva e
está de acordo com os fatos que o sujeito considera importante sobre uma determinada
temática (Jovchelovitch & Bauer, 2002). Foi utilizada uma questão disparadora para iniciar a
entrevista com as duas participantes do estudo, qual seja, “Eu gostaria que você me falasse da
sua vida escolar, de quando começou a estudar até os dias atuais”.
Além do uso da entrevista narrativa, foi aplicada uma ficha de dados
sociodemográficos com a finalidade de realizar um levantamento de algumas informações
adicionais referentes às participantes. Essas informações foram úteis na análise dos dois
casos.
4.4.3 Procedimentos de Produção de Dados
O projeto foi apresentado aos responsáveis pelo serviço de atendimento psicológico e
foi solicitada indicação de casos triados previamente pelos profissionais da clínica,
considerando como critérios de seleção, adolescentes que estavam vinculados às escolas de
Ensino Fundamental II de escolas públicas e/ou privadas de Salvador, encaminhados para
acompanhamento psicoterapêutico com a demanda de queixa escolar.
A pesquisadora entrou em contato com os responsáveis legais, por telefone fornecido
pelas estudantes selecionadas para apresentação da proposta de pesquisa e convite formal para
participação no estudo. Foram agendadas as entrevistas em local e horário acordados
previamente com as participantes que consentiram em participar do estudo.
Inicialmente foi realizada uma entrevista narrativa piloto, a partir da questão
disparadora citada logo acima. Após a entrevista piloto, a pesquisadora fez os ajustes
necessários para proceder às entrevistas com as participantes do estudo, considerando pontos
relevantes para a compreensão da produção da queixa escolar, especialmente relacionadas à
negociação com as vozes dos agentes de referência na dinâmica do self educacional.
35
4.4.3.1 Procedimentos éticos
Foram respeitados os procedimentos éticos para pesquisa com seres humanos. Os
responsáveis pelos estudantes, dispostos a participar, assinaram um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) autorizando a participação no estudo. As estudantes adolescentes
assinaram um termo de assentimento escrito confirmando a anuência na participação no
estudo.
4.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS
Foram analisados os dados sociodemográficos, após a realização de todas as
entrevistas, com a finalidade de buscar informações que se relacionassem ao contexto
educacional, ambiente familiar e social. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas
na íntegra. Em seguida, elas foram analisadas em profundidade fundamentadas no tema
central do estudo.
36
5 VOZES DOS AGENTES DE REFERÊNCIA E SELF EDUCACIONAL NA
TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE ADOLESCENTES COM QUEIXA ESCOLAR
Dar voz e som
É dom de músico e poeta,
De professor e aprendiz.
É troca ritmada,
Comunicação sem fim
De histórias expressas ou guardadas
Jamais silenciadas
De trajetórias, de caminhadas.
(Marina Lima Duarte Moreira)
A análise dos casos será dividida em três diferentes contextos em que os agentes de
referência estão inseridos: Escola, Família e Clínica, que fazem parte do contexto maior − o
Educacional. Os três contextos em que as expressões das vozes dos agentes de referência
serão analisadas, se conectam à demanda de Queixa Escolar e à construção do lugar de
“queixa”.
Estudos sobre a medicalização nas escolas apontam para a culpabilização das famílias,
da higiene nas instituições de ensino, cujos diagnósticos estão relacionados às causas e efeitos
dos poucos cuidados básicos oferecidos. A medicina se ocupa pela responsabilização dos
alunos a partir de crenças acerca de baixa instrução da população, não fiscalização nas escolas
e aposta na necessidade de diagnósticos a serem realizados nas instituições de ensino para
posterior encaminhamento para especialistas, enfatizando a necessidade de atendimento
clínico (Moysés, 2008)
A medicina construiu, ao longo dos anos, as doenças do não-aprender-na-escola e o
processo demandou serviços de saúde especializados, estando a escola e especialistas como
competentes, responsáveis pela resolução dessas demandas. A partir deste momento, a
medicina se apropriou, cada vez mais, do objeto aprendizagem, sem mudanças significativas,
apenas estendendo seu campo normativo (Moysés, 2008).
Uma das especificidades da comunicação humana, segundo Bruner (1990), encontra-
se no papel da construção de significados. Os adolescentes sentem e percebem seus contextos,
desenvolvendo expectativas, assim como memórias, que ganham significados na interação
com outros sujeitos, ou através de reflexões pessoais.
A ideia central da psicologia cultural entende cada pessoa como uma instância no
tempo e espaço. Instância essa, absolutamente única e, quando exposta aos diferentes tipos de
ambientes e discursos, compreende os mesmos de forma partilhada permanecendo em
37
interações com outros sujeitos. Existe, também, uma forma de entendimento único a respeito
do mundo, traduzido nas próprias mentes, integrados com outros traços de experiências
pessoais (Zittoun, 2012).
O processo de internalização e externalização podem ser identificados como processos
através dos quais os significados são produzidos coletiva e individualmente (Zittoun, 2012).
Um ponto de partida é afirmar que tudo muda constantemente, dentro de uma constante
tensão entre continuidade e mudança. Somos ao mesmo tempo o mesmo e não o mesmo
(Zittoun, 2012).
Nem toda mudança, entretanto, produz consequências duráveis. As mudanças
transitivas são parte das mudanças entre sujeitos e contextos. As mudanças intransitivas são
chamadas de rupturas, momentos em que os modos de ajustamento são interrompidos. Essas
rupturas podem ser consequência de fatores externos e pessoais. Elas podem ser esperadas ou
inesperadas. As rupturas podem ser também chamadas “pontos de viragem” ou “pontos de
bifurcação” em uma determinada trajetória (Zittoun, 2012). Alguns caminhos são fechados,
outros abertos e alguns não decididos (Zittoun, 2012).
As rupturas geralmente abarcam mudanças intransitivas substanciais que geram
transições, processos de adaptação ao ambiente. Rupturas seguidas de transições são, segundo
Zittoun (2012), mudanças rápidas ou catalisadas.
A natureza normativa de transições é facilitadora de movimentos de mudanças e
posicionamentos, pois o desenvolvimento humano não é linear, não pode ser previsto. O
mundo em que vivemos é, na maioria das vezes, imprevisível (Zittoun, 2012). A trajetória de
vida também é multilinear, pois existem vários caminhos para chegar em pontos semelhantes
num curso de vida (Zittoun, 2012). Nesse sentido, cursos de vida dependem de eventos
aleatórios, de alguns aspectos pessoais e de forças sociais. Elas não são previsíveis (Zittoun,
2012). Rupturas que geram transições são produzidas através de uma passagem a outra dentro
das esferas de experiências próprias do indivíduo (Zittoun, 2012).
A adolescência, de modo geral, é um período que é atravessado por diversas rupturas e
transições, mudanças de esferas da experiência que podem ocorrer em um curto período de
tempo. Os adolescentes passam mais tempo no mundo social e imaginário, quando
comparados a indivíduos adultos (Zittoun, 2012). Cada uma das esferas da experiência pode
envolver processos de transições, e os adolescentes podem experienciar uma pluralidade de
identidades, criando eventos de limite, tensões, passagens, mudanças ou reflexivos, apenas,
através das rupturas e transições que experienciam (Zittoun, 2012).
38
Quando os estudantes avançam em suas trajetórias eles acumulam transições. A
experiência pessoal não envolve apenas a acumulação de vivências distintas; implica na
reelaboração no sistema de orientação pessoal (Zittoun, 2012).
Figura 5 – Delineamento da Análise
Fonte: Própria autora
5.1 CASO BEATRIZ
“Metade do mundo se baseia na escola porque é realmente onde se passa muito
tempo. Onde você aprende muita coisa.”
5.1.1 Dados da Adolescente
Beatriz, nome fictício escolhido para a primeira participante entrevistada, possuía 15
anos na época da entrevista. Morava com os pais e irmão, quatro anos mais novo, em
Salvador (Bahia). A estudante frequentou escolas particulares da sua cidade até ser aprovada
no Instituto Federal da Bahia (IFBA), nos primeiros meses de aula do Ensino Médio. A
entrevista aconteceu no período de transição entre a escola particular e o Instituto Federal da
Bahia.
Beatriz começou a frequentar a psicoterapia aos 10 anos de idade e foi encaminhada,
na época, em virtude do bullying sofrido no contexto escolar. A narrativa da adolescente
emergiu de forma não linear, mas foi possível identificar pontos de ruptura e transição, assim
como mudanças de I-Positions na dinâmica do self da estudante.
39
Nota-se, através da entrevista narrativa, a prevalência de três posicionamentos da
estudante (I-Positions): “Eu-Estudante Excelente”, “Eu-Filha Nota 10”, e “Eu-Aluna
Sozinha”, que se revezam na dinâmica de integração do self. Beatriz afirma: “Nesse
momento, o mais importante para mim é a escola e a família e os amigos... A minha vida toda
são essas três coisas”.
Beatriz optou por narrar sua história a partir do segundo ano do Ensino Fundamental I,
mesmo sendo convidada a narrar desde o início da sua trajetória acadêmica. O período
escolhido pela adolescente correspondeu ao mesmo período em que iniciou a psicoterapia.
5.1.2 Contexto Acadêmico
A trajetória acadêmica de Beatriz foi marcada por dificuldades relacionadas ao
conteúdo programático de disciplinas e foco no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Beatriz é uma estudante muito exigida pelos agentes de referência (pais) em relação ao alto
desempenho acadêmico. Alguns elementos que revelam essa preocupação, como indicativos
da demanda da queixa escolar apresentada como, por exemplo, autoexigência em relação ao
bom desenvolvimento acadêmico estavam presentes na narrativa de Beatriz:
Nesse momento minha maior preocupação é questão da escola. O IFBA,
esse ano, não ensina Biologia, nem Geografia, nem Redação. Só ano que
vem e, eu estou pensando: o que é que eu vou fazer agora? Porque isso não
é bom para quando você for fazer o ENEM, Beatriz, você ficar um ano sem
essas matérias. Ou talvez minha maior preocupação seja, de fato, o ENEM1.
O interesse precoce pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) apareceu no
discurso relacionado às projeções futuras de inserção na Universidade e mercado de trabalho.
Essas projeções correspondem às expectativas dos pais que surgem nas narrativas da
adolescente como vozes de agente de referência e serão apresentadas no decorrer o estudo:
eu vou começar a trabalhar e depois que eu terminar a faculdade, eu vou
começar a ganhar dinheiro, eu vou me mudar para morar com minhas
amigas, depois de um tempo eu vou mudar para morar sozinha, ter meu
próprio carro, fazer essa vida que todo mundo já planeja, sabe? A meta
básica praticamente.
A concepção de meta básica é uma construção social internalizada por Beatriz, como
processo linear de construção de carreira bem-sucedida, prestigiada e reconhecida
1 Doravante, as narrativas dos sujeitos de pesquisa serão escritas em itálico como forma de salientá-las e
diferenciá-las do referencial teórico.
40
financeiramente. Bens materiais aparecem como exemplos dessa conquista promovida pela
ascensão social consequente do alto investimento nos estudos e na dedicação profissional. Ela
se compara a outros indivíduos da cultura: “fazer essa vida que todo mundo já planeja”. Nesse
momento, ela sai do lugar de indivíduo com escolhas particulares para se colocar enquanto
sujeito coletivo, na expectativa de corresponder aos ideais coletivos, reconhecidos e
valorizados.
Beatriz estudou em três instituições de ensino caracterizadas, por ela, como marcantes,
sendo a primeira de grande importância por ter sido sua escola por 10 anos consecutivos:
O IFBA é uma oportunidade única, mas eu ainda sinto muita saudade da
escola que eu estudava (primeira escola). Eu passei dez anos da minha vida
lá e eu ainda sinto muita falta daquilo. Acabei me afastando um pouco das
minhas amigas, não todas, mas eu me afastei um pouco e, é meio triste.
Apesar de ter se adaptado às duas instituições seguintes, lugares nos quais permaneceu
por menos de um ano cada, Beatriz relatou forte desejo de retornar à primeira instituição. Ela
narra, de forma não linear, vivências marcantes na primeira escola e estabelece uma
comparação com a instituição pública de ensino, na qual havia sido aprovada recentemente.
Sua fala apresenta uma carga afetiva e em seu discurso aparecem amizades e perdas
consequentes da ruptura, representada pela mudança de instituição educacional: “As maiores
amizades que eu já fiz na vida foram na escola e são amizades que, sinceramente, eu
pretendo levar para vida toda”. As amizades representam elementos de grande importância.
A estudante narra acerca das exigências da escola e as relaciona diretamente ao
comportamento das figuras parentais, no que diz respeito ao processo de escolarização
relacionando as expectativas de bom desempenho acadêmico no espaço escolar à tentativa de
corresponder às exigências da família: “Escola realmente dá muita pressão, porque os pais
cobram... a carga horária às vezes é muito puxada”.
Os professores são avaliados pela estudante por sua interação com os alunos: diálogos,
fora e dentro de sala, piadas e outras demonstrações afetivas que revelem interesse na relação
com os estudantes, não pelo seu desempenho enquanto profissionais, não são avaliados pelos
conteúdos que ensinam, métodos de ensinar ou pela exigência marcada como pertencente à
instituição escolar. Ela delega aos professores uma carga afetiva promovida através da
interação com os estudantes, considerada, por ela, como saudável apenas quando existe algum
vínculo e diálogo. Ela revela uma carga afetiva depositada nas figuras dos agentes de
referência, nesse caso professores, no processo de escolarização da estudante: “Tem
professores muito legais, às vezes... tem professor que não é muito legal não, né? Mas eu já
41
tive professores ótimos que foram meus amigos mesmo, assim, sabe? Que eu encontrava eles,
que eu conversava com eles”.
Beatriz indica signos presentes nas vozes parentais que ganham significado na sua
trajetória acadêmica, na medida em que se tornam mediadores semióticos, participando do
movimento de posicionamento da estudante. A Posição do Eu “Eu- Estudante Excelente” está
relacionada ao signo “excelente”, indicando uma possível expectativa da adolescente de
corresponder à exigência paterna referente aos estudos. Ela revela angústia em relação ao
ENEM: “Meu pai, ele é um pouquinho bipolar na verdade... ele cobra muito! Muito mesmo...
ele acha que é a única coisa que eu faço da vida; então eu tenho que fazer tipo: excelente.
Também tem muita preocupação com isso. Ele se preocupa muito com as coisas da escola”.
Segundo Gomes (2014), os posicionamentos e rearranjos diferenciados ocorreram
quando lhes foram atribuídas novas tarefas, responsabilidades, oferecidas por instituições
sociais no presente, assim como projeções futuras. Essas projeções exigiram da jovem
mecanismos de mediação semiótica do self.
Moreno (2015) afirma, em sua tese, que a mediação semiótica é um princípio
regulador da conduta na atividade própria do sujeito e dos outros na cultura. A autora utiliza a
definição de Vygotsky de mediação semiótica. Os instrumentos mediam a relação do ser com
seu mundo físico promovendo mudanças no contexto, controlando, desta forma, a natureza
(Vygotsky, 1962, citado por Moreno, 2015).
Há uma grande expectativa parental que remonta aos anos iniciais de escolarização. Os
seus pais criaram expectativas de sucesso e os relacionarem ao futuro mercado de trabalho.
Essa expectativa está presente na ideia de que um excelente desempenho acadêmico
favoreceria a inserção no mercado, ao alcance de prestígio, reconhecimento financeiro e de
possibilidade de aquisição de bens para uma sequência linear projetada na ideia da construção
social de “qualidade de vida” e de “sucesso” (cultura coletiva): “você está aprendendo para
entrar na faculdade, para ganhar um emprego”. O signo “Excelente” emerge na dinâmica
dialógica estabelecida com a figura paterna, e esse posicionamento se configurou como parte
do seu self educacional, na medida em que, para ela, tornou-se importante estar no lugar de
aluna dedicada, esforçada, excelente.
Os pais ofereceram suporte para as escolhas referentes às questões experienciadas
dentro do contexto escolar. As escolhas quanto às instituições de ensino, no entanto, foram
definidas por seus pais, sem a sua participação. Ela informa que o irmão foi aprovado em uma
instituição de ensino considerada muito boa em Salvador e que os pais decidiram que ela,
então, precisaria de uma escola onde o ensino fosse mais “reforçado”. Esse ponto será
42
discutido adiante.
Beatriz revela insatisfação com a mudança da escola: “Quando eu entrei na escola
nova todo mundo era mais barra pesada. Tinha gente que bebia, tinha colegas que faltavam
aula pra ir na praia, que ficava na frente... eu ficava me perguntando: gente o que é que eu
faço? Isso é muito doido pra mim”.
5.1.3 Contexto Familiar
Beatriz apresentou, segundo ela, um baixo rendimento no oitavo ano; em uma
disciplina sentiu dificuldades para estudar e apresentou um escore equivalente à média escolar
que, para ela e sua família, seria considerado baixo. A justificativa que a adolescente
apresenta é: “No oitavo ano eu estava preocupada, porque meus pais sempre falaram muito
que Ensino Médio eu teria que estudar todo dia e tirar notas “perfeitas”; então, a ideia que
eu tinha do Ensino Médio é que eu não ia mais ter vida social e eu precisaria começar a
investir nisso no nono ano”. A adolescente afirma que, ainda no oitavo, os pais alertaram:
“Ano que vem sua vida vai mudar. Você vai ter que estudar muito! E eu pensei: tenho que
aproveitar agora enquanto dá!”.
Os signos apresentados pelos agentes de referência parentais funcionam como
catalizadores no movimento de escolha da estudante, no sentido de menor investimento nos
estudos, antecipando uma projeção de dificuldades referentes à rotina acadêmica que
prejudicariam sua vida social. Outro ponto a ser destacado é o valor atribuído pela adolescente
e família ao escore, no sentido de que a média escolar não era suficiente. O escore era
considerado baixo. O signo “Perfeição” relacionado ao escore, já antecipa um posicionamento
que será apresentado pela estudante no decorrer desta análise.
A conduta humana é orientada por valores, enquanto signos hipergeneralizados de
regulação semiótica (Branco & Valsiner, 2012 citados por Mattos, 2016). A Psicologia
Cultural compreende o self como um sistema autorregulador e autocatalítico que orienta o
sujeito para o futuro, possibilitando, ou não, a emergência de sentidos novos, que exercem
certo controle nos posicionamentos das pessoas (Valsiner, 2002 citado por Mattos, 2016). Os
signos hipergeneralizados são reconhecidos por toda uma cultura quanto aos seus
significados. Os pais de Beatriz foram descritos como “presentes” e as vozes dessas figuras de
referência foram expressas predominantemente na sua dinâmica dialógica, especialmente no
que diz respeito ao contexto educacional, quando comparadas a outros agentes de referência,
tais como professores, amigos, terapeuta.
43
Beatriz, no período em que participou do estudo, estava vivenciando situações que lhe
exigiam diferentes rearranjos e Posicionamentos do Eu (I- Positions). Ela enfrentava desafios
pessoais relacionados ao nível de cobrança dos seus pais que lhe exigiam melhor escore
acadêmico, alto rendimento nas disciplinas (muito superior à média escolar) e preparação para
aprovação em alguma universidade pública. De acordo com as suas palavras:
Eu era o tipo de aluna que meus pais cobravam muito e eu prestava muita
atenção na aula, tipo, de um jeito até exagerado... Meu pai também é bem
rigoroso em tudo, na verdade, tudo. Escola é o principal, mas, é em tudo.
Tipo, como meu pai, minha mãe também cobra bastante: largue esse celular
e vá estudar. Eles acham que ainda não está o bastante.
Beatriz se posiciona com relação à escola, de forma a corresponder às exigências
parentais, se colocando no lugar de “aluna excelente” e se dedicando aos estudos como tarefa
primordial.
A estudante traz em sua narrativa alguns aspectos da relação com o irmão mais novo.
Destaca pontos positivos na relação fraternal com o irmão, tais como: apoio, diversão,
preocupação. Entretanto, de acordo com ela, o seu irmão, em situações de conflito, cobra
frequentemente um melhor desempenho acadêmico. Vez ou outra ele a questiona: “Olha eu
passei no Colégio Militar. E você? Não passou no IFBA”. Ela aponta uma certa ambivalência
nessa relação fraternal: “quando a gente brigava, ele ficava esfregando isso na minha cara. Aí
depois, quando eu passei no IFBA ele ficou muito feliz por mim. Eu fiquei até surpresa”. Em
momentos de conflito, o irmão reproduz as falas do pai, revelando não apenas uma exigência
de bom desempenho e aprovação em instituições reconhecidas pela família, como o status de
comparação entre os dois. A competição entre ambos é velada, mas os dois tentam
corresponder ao nível de excelência exigidos pelos pais.
As projeções futuras de Beatriz respondiam às exigências da família e da escola, as
quais enfrentava desde o início da sua trajetória acadêmica. Enfatiza-se a necessidade de
dedicação precoce aos estudos, visando méritos relacionados à aprovação em instituições de
ensino superior e eventuais empregos que proporcionassem ascensão social e prestígio.
Embora tentasse responder às exigências parentais, demonstrava pessimismo quanto à vida
adulta: “No Ensino Médio você vai ter que estudar todo dia e tirar notas perfeitas”. A
expectativa da adolescente com relação ao seu futuro prevê dificuldades no percurso para o
alcance de seus objetivos: “eu sei que depois, quando começar a faculdade, tudo vai ficar
bem pior do que já é na escola e, depois, vai ficar pior ainda porque eu terei que trabalhar,
terei que me ganhar dinheiro, vou me preocupar muito”.
44
A expectativa dos pais, enquanto agentes de referência, projetadas no signo
“perfeição”, a partir da narrativa da adolescente, aparece com um marcador semiótico que vai
orientar projeções futuras da adolescente, antecipando angústias e movimentos proativos, no
sentido de alcançar essa perfeição na trajetória acadêmica.
Os signos são definidos como meios artificiais que cumprem uma função de
estimulação; portanto, mediam a relação do ser, consigo e com os outros. Eles são orientados
internamente (Vygotsky, 1962, 2008 citado por, Moreno, 2015). O desenvolvimento das
funções psicológicas superiores, consequentemente, é gerado a partir de combinações entre
signos e instrumentos (Moreno, 2015).
A mediação semiótica permite aos sujeitos regular as funções psicológicas, tanto no
nível pessoal como interpessoal. As instituições regulam as ações orientadas por metas,
monitorando regras sociais que permitem a transformação dos sistemas humanos e de culturas
pessoais e coletivas (Valsiner, 2007, 2012 citado por, Moreno, 2015). Dessa maneira, criar,
empregar e regular signos nos leva a processos de significação permanentes que têm um
caráter dinâmico nas vidas dos sujeitos (Moreno, 2015). Segundo a mesma autora, alguns
signos são mediadores, ou seja, adquirem um movimento constante e generalizante que lhes
transformam em marcador semiótico, adquirindo poder de regulação nos processos de
significação.
Seus pais apareceram em sua narrativa como referência no acompanhamento escolar.
Eles estão presentes em toda a narrativa sobre a sua trajetória acadêmica. Sempre avaliaram o
seu comportamento, o seu desempenho acadêmico (especialmente o escore), monitoraram os
estudos dentro e fora da escola, instruíam nas atividades escolares realizadas em casa,
orientavam nos procedimentos de como ela deveria estudar e a auxiliavam nas tarefas das
disciplinas. Essas figuras parentais surgiram no discurso, também, como suporte no
enfrentamento de desafios sociais, tais como bullying, busca por profissionais especializados
para orientação, psicoterapia e decisão sobre mudanças referentes ao espaço escolar,
posteriormente: “[...] o meu irmão passou no Colégio Militar e meu pai queria me botar em
uma escola boa também. Ele ficou preocupado, tipo: ah! Seu irmão vai para uma escola
ótima e você vai ficar aí?”.
Quanto às projeções futuras, relacionadas ao mercado de trabalho, a estudante
encontra-se em dúvida acerca da área profissional a seguir, seja pelo perfil de trabalho, seja
pelo reconhecimento financeiro e prestígio social:
Ainda não sei bem qual carreira eu vou seguir, estou entre: Medicina,
Arquitetura, Jornalismo e Cinema. Mas não importa qual eu fizer, vou fazer
45
Cinema depois. Porque Cinema é uma área mais arriscada e tem chance de
não dar muito certo, então eu vou fazer alguma coisa mais segura e depois
vou fazer Cinema, que é o que eu realmente gosto.
Estabilidade financeira aparece como sinônimo de segurança, no discurso de Beatriz.
Esse valor atribuído ao reconhecimento financeiro e estabilidade no mercado de trabalho está
presente no discurso parental, nas narrativas acerca da excelência, preocupação com o ENEM
e dedicação aos estudos. Beatriz deixa de priorizar seu desejo de estudar Cinema, a fim de
corresponder aos ideais dos pais.
É possível notar, a partir da narrativa de Beatriz, uma cultura pessoal, apesar do pouco
poder de negociação com o posicionamento “Eu-Filha Nota 10”. Na adolescente transparece
uma tensão entre atender à expectativa parental e buscar seu desejo pelo Cinema como
prioridade em sua carreira profissional pretendida.
A estudante trata como “épico” o evento “fechar a média global de matemática” no
início Ensino Fundamental e relata frustração ao “fechar médias globais” de disciplinas tais
como Artes e Religião: “a primeira global que eu fiz foi de Religião e Artes. Tipo, isso foi
triste”. A adolescente apresenta uma hierarquia de valores pessoais atribuídos às disciplinas,
reproduzindo uma cultura coletiva do sistema de validação para escores altos em matérias
consideradas relevantes para aprovação no ENEM e relacionadas ao reconhecimento no
mercado de trabalho. Cinema, por exemplo, torna-se segunda opção para a adolescente, sendo
este, um curso que, para ela, apresenta menor estabilidade e, está relacionado às artes. A
matemática, para a adolescente, aparece relacionada às profissões de mais estabilidade
financeira e, por esse motivo, aparece como relevante no discurso de Beatriz. Essa valoração
relacionada às disciplinas sugere projeções e expectativas parentais, já incorporadas pela
adolescente, assumidas como escolhas pessoais futuras.
Nota-se uma dificuldade da adolescente em negociar com as vozes dos agentes de
referência parentais quanto às exigências de disciplina, rotina e de escore: “Você tem que
estudar e tirar dez”. Houve uma promoção de mudanças em sua postura de estudante, na
tentativa de apresentar aos pais resultados diferentes, que comprovavam uma correspondência
ao que esperavam dela enquanto estudante, ou as dificuldades por ela enfrentadas na escola.
Nessa relação emergiu o posicionamento “Eu-Filha Nota dez”, com o qual Beatriz se
identificou e, para o qual tentava corresponder às projeções parentais.
Alguns fatores contribuíram para a reafirmação desse signo e posicionamento, tais
como: o reconhecimento da média exigida em casa, diferente da exigida pela escola, sendo
um ponto acima, ou seja, oito: “a média na minha casa nunca foi sete, porque a média do meu
46
pai é oito. Ele sempre deixava isso claro. Abaixo de oito era como se você tivesse tirado
abaixo da média”. Para não ser considerada uma aluna “mediana”, Beatriz se esforçava na
tentativa de excelência para chegar ao escore máximo, dedicando-se de forma “até exagerada”
aos estudos.
Na narrativa da adolescente pôde-se perceber como emergente a I-Position do “Eu-
Estudante-Excelente” e “Eu-Filha Nota 10”, desde os anos iniciais relatados e a dinâmica de
reposicionamento do self, a partir das vozes expressas dos agentes de referência, pais e
professores, bem como sua participação no sistema do self educacional: “Algumas situações
que ocorrem na escola, não são muito legais, tipo quando você vai e tira uma nota baixa”.
Observa-se uma dificuldade da adolescente em negociar com as vozes dos agentes de
referência parentais quanto às exigências de disciplina, rotina e de escore: “Você tem que
estudar e tirar dez”, dizia o pai. A adolescente promoveu mudanças em sua postura de
estudante, na tentativa de apresentar aos pais resultados diferentes, que comprovavam uma
correspondência ao que esperavam dela enquanto estudante. Nessa relação, a nota 10 ganha
um significado próximo ao de “excelência” e Beatriz constrói uma postura de estudante que
corresponde tanto em escore quanto em adequação comportamental e passa a utilizar o signo
“aluna nota 10”. Esse valor numérico passa a ser um valor simbólico na constituição da sua
identidade integrando-se ao seu sistema do self educacional. Nessa relação emergiu o
posicionamento “Eu-Filha Nota 10”, com o qual Beatriz se identificou e, a partir do qual
tentava corresponder às projeções parentais.
Alguns fatores contribuíram para a reafirmação do signo “Nota 10” e alguns
posicionamentos, tais como, o reconhecimento da média exigida em casa, diferente da exigida
pela escola, sendo um ponto acima, ou seja, oito. A integração de orientações pessoais e
valores funcionam como um sistema aberto em constante mudança (Branco & Valsiner, 2012
citados por Mattos, 2016). Alguns valores, no entanto, podem, com o tempo, tornarem-se
dominantes ou permanentes em relação a outros valores, dependendo do poder que exercem
de regulação no sistema e de experiências que o indivíduo experimenta ao longo da sua
trajetória (Mattos, 2016). O valor “Nota 10” deixou de ocupar um lugar de escore para
representar um valor atitudinal da adolescente integrado ao sistema do self educacional.
47
5.1.4 Contexto Clínico
Beatriz trouxe o tema do bullying em alguns momentos da sua narrativa. Ela disse não
se recordar sobre o motivo da violência sofrida na escola. Enfatizou, apenas, seu sentimento
de exclusão em classe, quando ocorriam frequentes risos direcionados a ela, sem um motivo
justificado, para a adolescente, e o desejo cada vez menor, do seu grupo de colegas, em
compartilhar momentos de lazer com a estudante:
[...] a sala quase toda que me perturbava muito. Tipo, acho que já passava
de brincadeira porque era toda hora e as vezes me excluíam quando eu
queria brincar também. Era só aquilo. Não entendia direito o que estava
acontecendo. O que era bullying? Estavam fazendo isso por quê? Mas me
excluíam muito, mesmo! E eu tinha umas amigas também e elas iam brincar
com outras pessoas e me deixavam lá. Aí, eu passava muito tempo sozinha e
era bem triste, né?”.
O signo “Sozinha” aparece, então, no discurso de Beatriz relacionado ao sentimento de
tristeza, sendo o ponto inicial para a busca da Psicoterapia: “Meus pais estavam desesperados
sem saber o que fazer. Iam na escola, falavam. A escola dizia que ia resolver, mas, não
resolviam nada”. Segundo a adolescente, a decisão acerca do encaminhamento para a
psicóloga foi dos pais, mediante o não posicionamento efetivo da instituição educacional
frente à violência sofrida. Nesse período da vida da estudante, os amigos e colegas surgem
como vozes de referência; entretanto, são os gestos e comportamentos de discriminação,
exclusão e desafeto que prevalecem nessa relação. Nenhuma fala desses colegas e amigos
aparece; por esse motivo; Beatriz não consegue identificar o fator alvo de violência, mas os
risos constantes e a exclusão surgem como comportamentos que revelam um movimento
disfuncional no grupo., o que gerava sofrimento para a estudante.
Esses episódios de discriminação, exclusão e desafeto se tornaram tão frequentes na
época, que lhe causaram muito sofrimento, levando seus pais a decidirem buscar a escola e a
psicoterapia como recursos para ajudá-la a lidar com essa questão: “Meus pais estavam
desesperados sem saber o que fazer. Eles iam na escola, falavam, eles (profissionais da
escola) diziam que iam resolver, mas não resolviam nada... aí, eles me colocaram na
psicóloga”. A escola, segundo ela, foi negligente quanto a este quadro de violência.
Beatriz narra o processo psicoterapêutico que vivenciou por cinco anos. A psicóloga
que a atendeu surge, então, enquanto agente de referência relevante na sua trajetória
educacional e como suporte no processo de construção identitária: “ela me ajudou muito. Eu
estava muito insegura com essa coisa toda acontecendo, muito sem saber o que fazer e ela me
48
ajudou conversando comigo, me deixou mais tranquila, segura. Me falou mais o que deveria
fazer, como fazer, agir e tal. Ajudou bastante”. A psicóloga passa a ser referência no suporte à
demanda e no auxílio em relação à flexibilização diante do grande esforço e necessidade de
autonomia frente às figuras parentais. A voz da psicóloga passa a ser fundamental para a
compreensão de suas atitudes na trajetória acadêmica e nas demandas nascidas no contexto
escolar.
Beatriz frequentou a psicoterapia até o momento em que participou deste estudo e
relatou, na entrevista, que suas demandas eram escolares, não mais referentes ao problema do
bullying sofrido por ela, pois este já havia sido resolvido no início do Ensino Fundamental II.
Atualmente, ela apresenta apenas as queixas referentes ao alto nível de exigência dos pais
com relação à escola, mesmo apresentando um bom desempenho acadêmico.
De acordo com Mattos (2016), quando ocorre uma descontinuidade no sistema do self
de uma pessoa jovem, os signos promotores possibilitam que o sujeito se afaste da experiência
presente e construa pontes de sentido entre o passado e o futuro, promovendo continuidade no
sistema do self através do tempo e dos diferentes espaços. No caso de Beatriz, a psicoterapia
surge como principal recurso para lidar com a violência em classe. A participação da família
na escolha pelo encaminhamento e acompanhamento da estudante, nesse serviço de saúde,
emerge como suporte e incentivo, uma vez que é possível notar, através da análise da
entrevista, como um todo, uma hierarquia das vozes de agentes de referência, estando os pais,
acima dos demais sujeitos participantes do processo de escolarização. A redução da violência
contra Beatriz na escola é apontada, quando ela narra a respeito do sexto ano, mas a troca de
turma no sétimo marca essa transição, fim do bullying, de forma mais efetiva.
Beatriz permaneceu na mesma escola no Ensino Fundamental II, experienciando,
porém, uma nova transição relacionada à mudança de turma no sétimo ano. A decisão partiu
da adolescente, após experiências com o grupo do sexto ano, juntamente com a melhor amiga,
insatisfeitas com conflitos no grupo. Beatriz relata que seu grupo costumava “brigar”
bastante. Os conflitos não apareceram como relevantes em seu discurso. Quando questionada
sobre a opção de mudança de sala, Beatriz discorreu sobre a necessidade de acompanhar a
amiga, sua grande referência, no período pós-bullying: “Saímos eu e minha melhor amiga, por
causa de conflitos do grupo, não com a gente. Os conflitos presentes no grupo atrapalhavam
as aulas e isso prejudicava sua atenção e desempenho. O grupo estava brigando muito, sabe?
Minha amiga decidiu sair; então, pensei: Não vou ficar aqui sozinha para ficar brigando”.
Beatriz decide sair da escola.
49
A decisão de mudança de escola foi anterior à aprovação no IFBA:
Enquanto eu não sabia que tinha passado no concurso, eu fiquei estudando
eu comecei o ensino médio em outra escola e, foi bem diferente quando eu
cheguei lá. Na escola que eu passei dez anos, todo mundo era mais
quietinho, mais certinho, assim, mais inocente que nem eu. Tipo muito
inocente. Eu cansei de voltar para sala sozinha porque o pessoal ficava na
biblioteca e eu ia para aula.
O signo “sozinha” ressurge na segunda escola. O posicionamento “Eu-Aluna Sozinha”
está presente, embora a adolescente revele que os amigos possuem grande importância na sua
vida e se configurem como agentes de referência.
Beatriz revela ambivalência em relação às experiências da adolescência:
[...] tem gente que diz que esse é o melhor momento da vida e, às vezes, eu
realmente acredito nisso, porque eu tenho minhas amigas, a gente se diverte
muito... e tem o lado ruim também, né? Porque muita gente tipo, meus pais,
por exemplo, não entendem mais o que é ser adolescente, não entendem
mais... A adolescência é doída, completamente maluca.
A participante de nossa pesquisa faz projeções futuras relacionadas aos ideais de vida
bem-sucedida: “o que eu preciso alcançar é o trabalho dos sonhos, uma casa própria, o
carro, essas coisas assim”. Ela rompe com as ideias tradicionais da cultura, apenas quando
afirma: “Pela sociedade, também eu preciso casar e ter filhos, mas eu não penso muito
nisso... o que eu preciso é estar bem com o que eu estiver vivendo. O que eu preciso, mesmo,
é estar feliz do jeito que eu estiver”. Nesse momento, ela demonstra uma autonomia,
revelando características identitárias que não aparecem relacionadas a nenhuma voz de agente
de referente presente em seu discurso.
A estudante encerra sua narrativa trazendo uma elaboração acerca da sua trajetória nos
contextos da família, escola e clínica revelando uma metáfora de obstáculos e enfrentamentos,
relacionando a trajetória educacional com o curso de vida do ser humano: “Uma vez eu li que
se você pode encarar a vida como se fosse um jogo de videogame. Como se até os 18 anos
fosse uma versão beta e depois você tem que pagar para jogar. Li isso no Facebook uma
vez”.
A frase que Beatriz elege como metáfora para encerrar sua narrativa, torna-se
simbólica, na medida em que ela consegue sintetizar sua trajetória incluindo projeções
pessoais futuras em uma colocação que traz como objeto central: um videogame (recurso
valorizado por adolescentes). O signo “jogo” apresenta a perspectiva da estudante a respeito
da dinâmica constitutiva do sujeito no sistema do self educacional e a infância/adolescência
como períodos de investimento gratuito, uma vez que, para ela, os agentes de referência
50
parentais são hierarquicamente mais elevados, responsáveis em suas vozes, ações e sustento.
Versões de vida, não gratuitas para a estudante, são projetadas em sua expectativa de futuro.
O “Pagar”, como signo, não possui apenas um significado para Beatriz. Para ela, existe o
“Pagar” recurso financeiro para alcance de uma vida estável socialmente, e o “Pagar”
enquanto sacrifícios, esforços pessoais necessários para o sustento de uma vida adulta na
cultura coletiva.
O caso a seguir apresenta algumas características similares ao analisado acima, quanto
às figuras que emergem como agentes de referência e vozes expressas com mais frequência
no sistema do self educacional. Algumas experiências relatadas no contexto escolar são
semelhantes, assim como no contexto clínico, apresentando uma diferenciação maior nas
experiências referentes ao núcleo familiar.
5.2 CASO GISELA
“Eu diria que a minha experiência na escola foi educativa, porque eu aprendi com
pontos negativos, a deixar tudo positivo.”
5.2.1 Dados da Adolescente
Gisela tinha 14 anos no período da entrevista e cursava o nono ano do Ensino
Fundamental II, em uma escola da rede privada de Salvador. Filha única de pais separados,
enfrentou desafios na primeira instituição de ensino. No quinto ano do ensino fundamental
precisou lidar com problemas referentes à socialização. Ela se isolava boa parte do tempo e
tinha dificuldade com o processo de formação e rompimento de vínculos. No Ensino
Fundamental II permaneceu enfrentando desafios referentes às desavenças com amigos,
dificuldades na interação com colegas, que consideravam suas afinidades infantis inadequadas
para a faixa etária. Ela apresentou baixo desempenho em matemática por um curto período,
além de problemas no núcleo familiar como: o adoecimento da mãe. Essas dificuldades
interferiram na sua dinâmica de interação com colegas da escola.
Mesmo sendo convidada a fazer o relato da sua trajetória escolar desde os primeiros
anos de ensino, Gisela optou por fazer um recorte com narrativas sobre o ano de ingresso na
psicoterapia, o que ocorreu no encerramento do Ensino Fundamental I e ingresso no Ensino
Fundamental II. A escolha denotou a importância atribuída por ela ao processo de ruptura e
51
transição, que será descrito na análise abaixo, marcado pela mudança de escola e ano letivo,
concluindo o Ensino Fundamental I, passando para o Ensino Fundamental II. A reverberação
semiótica no self educacional aparece de forma linear no período escolhido pela adolescente
para ser narrado, contemplando a participação das vozes de agentes de referência (pais, irmão,
professores, colegas, amigos e terapeuta), afetos, motivações e tensões que levaram aos quatro
posicionamentos identificados: “Eu-Estudante Retraída”, “Eu-Estudante Recaída”, “Eu-
Colega Infantil” e “Eu-Escritora”. Esses posicionamentos serão analisados no estudo a partir
dos seguintes contextos: acadêmico, familiar e clínico, como no caso estudado anteriormente.
A dinâmica de posicionamento e reposicionamentos na vida de Gisela, surge em sua
trajetória relacionada principalmente ao contexto escolar, indicando uma participação
dialógica de vozes de agentes de referência (pais, professores, colegas, amigos e terapeuta) no
sistema do self educacional da adolescente, contribuindo para sua formação enquanto
estudante e constituição identitária. Esses posicionamentos aparecem através da narrativa da
estudante na expressão de marcadores semióticos catalizadores, responsáveis por transições
significativas na vida dela.
5.2.2 Contexto Acadêmico
No relato sobre a primeira escola, a estudante fez referência em seu discurso a muitos
conflitos e episódios de bullying praticados por um colega, que a chamava de “gordinha e
dentuça”, fazendo referência a ela como “Mônica”, personagem dos desenhos em quadrinhos
de Maurício de Souza. Essa voz emergiu na narrativa da estudante como um agente de
referência expressando atos de violência que marcaram a trajetória da estudante. Outras vozes
de colegas, no discurso de Gisela, apareceram descritas, porém, não expressas. Iniciar a
narrativa com esse marcador de violência, sugeriu, desde o início da entrevista, dificuldades
enfrentadas no processo de socialização com outros estudantes, vindo a interferir em seu
processo enquanto estudante, requerendo a primeira demanda por terapia. Tratava-se,
primordialmente, de questões relacionadas ao isolamento e conflitos com as amizades
próximas e colegas de turma. Quando questionada sobre a demanda de encaminhamento
narrou: “eu ficava superchateada com esse menino. Foi um dos motivos que eu também entrei
na terapia. Foi bem na época que minha mãe começou a ter o problema de saúde e que eu
comecei a ter a inimizade com minhas amigas”. A mãe de Gisela apresentou um quadro de
saúde grave, um câncer, pouco tempo depois do início do processo psicoterapêutico da
estudante.
52
Gisela frequentava a escola pertencente à família no Ensino Fundamental I e buscava
o pai, funcionário da instituição, nas horas do intervalo, evitando, assim, estar com os colegas.
Esse movimento da estudante ocorria quando aconteciam conflitos, bullying, por vezes, sem
um motivo justificado pela adolescente. Aparecia apenas como uma necessidade de
isolamento do grupo. Nesse período foi indicado à família, pela psicóloga da escola,
acompanhamento psicológico clínico com a demanda: retraimento social e conflitos
frequentes com colegas. Ela tem sido acompanhada pela mesma psicoterapeuta desde os 10
anos.
Gisela descreveu, em sua entrevista, a transição do Ensino Fundamental I para o
Ensino Fundamental II como uma experiência difícil:
Sempre fui uma criança que gosta muito de leitura. Quando eu era pequena,
já tinha lido um livro que era quase uma lista telefônica. Na minha antiga
escola eu era uma das melhores alunas. Minhas notas eram tipo:8, 9, 10.
Quando mudei de escola achei difícil, porque, do sexto ano para cima
sempre fica mais complicado, muitos professores e, no ano passado (oitavo
ano), eu fiquei de recuperação em matemática.
A adolescente apresentou baixo desempenho acadêmico no oitavo ano do ensino
fundamental, quando foi para recuperação em Matemática. Ela relatou que obteve o apoio dos
pais que pagaram um profissional para aulas particulares e não recriminaram a reprovação na
disciplina. Ela não atribuiu o baixo desempenho acadêmico a nenhum fator relacionado ao
contexto escolar ou familiar. Relatou apenas sentir dificuldade nos conteúdos programáticos
das disciplinas.
Gisela trouxe as figuras parentais como participantes assíduos das suas atividades
escolares. A adolescente atribuiu um valor positivo a essa participação na sua trajetória
acadêmica e, esse valor, perpassou sua narrativa do início ao fim. A expressão das vozes dos
pais, enquanto agentes de referência, foram predominantes no discurso da adolescente quando
comparadas às vozes da terapeuta, professores, amigas e colegas. Ainda sobre a transição de
escola relatou: “eu tive muitos problemas nesses anos que eu fiquei no meu novo colégio: de
personalidade, de afinidade com amigos, com o estudo e foi uma pequena dificuldade que eu
já estou melhorando”. Toda a narrativa de Gisela é projetada em perspectivas positivas
quanto à resolução de problemas e desafios no contexto escolar: “eu aprendi com pontos
negativos, a deixar tudo positivo.”
As relações de amizade apareceram em seu discurso como as mais prejudicadas na sua
trajetória acadêmica. Foram muitos os episódios de brigas e reconciliações envolvendo
amigos desde o quinto ano até o momento da entrevista. Ela aponta esses conflitos como um
53
aspecto contribuinte para a I-Position “Eu-Aluna Retraída”. A adolescente ofereceu uma
dimensão maior a essas questões enfatizando a relevância da demanda para a mesma.
O self do sujeito é social e emerge a partir de encontros relacionais com múltiplas
alteridades em esferas diferentes da experiência humana. Os encontros dialógicos com
múltiplos outros sociais, segundo Mattos (2016), tornam-se internalizados na forma de
posicionamentos (I-Positions). De acordo com a mesma autora, os posicionamentos dos
sujeitos em relação aos outros, eles mesmos e acontecimentos do contexto, são incorporados
afetivamente.
A mediação semiótica relacionada à participação parental, enquanto vozes de agentes
de referência, pode ser destacada como as mais presentes nesses períodos marcados por
rupturas e transições, tais como: mudança de escola, adoecimento da mãe, fim e início de
amizades no contexto escolar, baixo desempenho acadêmico. Os pais de Gisela apareceram
em seu discurso como figuras participantes do cotidiano escolar, grandes incentivadores na
resolução de conflitos, no envolvimento com disciplinas, participação em reuniões
pedagógicas, instrução para realização de tarefas em casa, suporte financeiro no pagamento de
profissionais para lecionar disciplinas isoladamente, apoio aos projetos profissionais presentes
e futuros e busca por auxílio de profissionais especializados para acompanhamento
psicoterapêutico.
Quando Gisela apontou o motivo da procura pela psicoterapia, falou sobre o
adoecimento materno: “minha mãe que teve problema de saúde e eu fiquei muito chateada,
muito retraída”. Uma hipótese para os momentos de isolamento apresentados pela estudante,
quando não ocorriam os conflitos é a “chateação”, com a dificuldade frente ao grave quadro
clínico de saúde da mãe. Gisela continua:
Não queria mais estar com as meninas da minha idade na escola e queria
ficar com meu pai que trabalha na escola e acabava ficando com ele na
hora do intervalo. Meus pais e a psicóloga da escola acharam que eu tinha
que fazer terapia, tinha que colocar as coisas que eu sentia para fora. Que
isso seria bom, e foi bom. Isso refletia nas minhas relações sociais.
O signo “Retraída” surge no discurso da estudante e reforça o posicionamento “Eu-
Aluna Retraída”. Ela apresenta uma consciência do isolamento e o signo presente nas vozes
dos agentes de referência, pais e psicóloga escolar, passa a fazer parte do seu vocabulário,
ganhando um significado pessoal e indicando um posicionamento ocupado pela estudante, a
partir da demanda de encaminhamento psicoterapêutico.
54
5.2.3 Contexto Familiar
No mesmo ano em que a psicoterapia teve início, a mãe de Gisela desenvolveu um
câncer. A família batalhava, desde o período do encaminhamento da adolescente para
psicoterapia, aos nove anos, até o período da entrevista, para manter a mãe da adolescente
saudável, visto que estava submetida a inúmeros tratamentos e cirurgias em virtude da sua
condição de saúde.
A descoberta do quadro clínico de câncer da mãe aconteceu quando Gisela iniciou o
acompanhamento psicoterapêutico indicado pela escola, pelas demandas referentes ao seu
processo de socialização. Desde então, os períodos de bem e mal-estar da mãe foram
acompanhados por desafios e superações de Gisela na escola. A adolescente apresentava
queixas quando sua mãe não estava bem de saúde e conseguia superar seus obstáculos quando
a mesma apresentava melhora no seu quadro clínico. Isso promoveu mudanças no sistema do
self de Gisela, na medida em que a estudante trouxe em seu discurso signos distintos e novos
posicionamentos que serão descritos a seguir.
Gisela falou com naturalidade sobre o adoecimento da mãe e cuidados necessários
para com a sua saúde. Ela narrou sobre o apoio nos procedimentos necessários, colocando-se
como cuidadora, em seu discurso, uma vez que morava sozinha com a mãe: “ela sempre me
ajuda no que eu preciso e está sempre comigo. Eu sempre ajudo ela no que ela precisa
também”. A adolescente falou desse apoio como recíproco. Segundo Gisela, a mãe a ajudava
com a rotina escolar aconselhando-a, também, para melhor desenvolvimento dos seus
vínculos com colegas e, em contrapartida, a jovem auxiliava com alguns procedimentos
necessários para o cuidado da mãe durante o tratamento: “Ela é uma pessoa maravilhosa, ela
não é só mãe. É amiga. Às vezes ela dá uma de mãe chata. Mas é pelo meu bem. Disso eu
tenho certeza. Ela me ajuda na relação com amigos, ela me faz pensar. Ela também me ajuda
muito com o estudo, com o incentivo na literatura”.
A relação com os pais foi apontada como positiva. A estudante afirmou que gostava
muito do pai e da mãe e citou elementos muito positivos, características e valores que
ajudaram no seu desenvolvimento: “inteligência, amizade, companheirismo, tudo isso, os dois
têm comigo”. Sobre críticas, a estudante discorre:
[...] os pontos negativos dos meus pais seriam que eles brigam, um pouco.
Meu pai sempre quer ter razão nas coisas. A minha mãe menos. Ela fica
chateada comigo muito raramente e é mais por minha causa, porque eu
provoco mesmo. Porque eu, de vez em quando, gosto de responder, essas
coisas de adolescente, que sempre faz isso.
55
As críticas assinaladas fazem referência à rotina, tais como: brigas relacionadas ao
comportamento, aborrecimentos, que Gisela retrata como “comuns”, “coisas de adolescente”.
Mais uma vez ela traz valores que transmitem ideias culturais, construções coletivas a respeito
dos adolescentes.
Gisela falou do seu encaminhamento para a psicoterapia, colocando o retraimento
como a principal motivação. Foi possível identificar a emergência do signo: “Retraída” ao
longo da sua narrativa. Para descrever esse signo emergente, ela falou sobre o seu isolamento
em relação às amigas durante conflitos e relacionou a mudança de comportamento
relacionado ao adoecimento da mãe. Gisela identificou, na sua trajetória, momentos de
retraimento, isolamento, pouca interação e muitos impasses nas relações de amizade,
justamente em períodos de piora do quadro clínico da sua mãe. Foi possível identificar um
novo posicionamento “Eu-Aluna Recaída”, que será descrito abaixo.
Apesar de relatar com naturalidade, a estudante falou sobre a dificuldade que sentiu ao
lidar com a realidade da saúde materna, trouxe em seu discurso certo desconforto que a levava
a essa postura mais “retraída”: “Eu sempre fui boa em várias coisas, mas depois eu tive uma
queda, uma retraída, mas que agora eu voltei, subindo ao topo. A queda teve a ver com o
problema de saúde de minha mãe. Ela teve câncer”. Quando questionada sobre o que ela
considerava “queda”, a estudante respondeu: “Não um foi só um prejuízo nas notas... quando
fui para a escola que estou hoje, tive uma recaída porque minha mãe também teve uma
recaída”.
Quando a mãe apresentava melhora frente ao tratamento ou deixava o hospital, ela
acompanhava o movimento apresentando menos demandas frente aos desafios no contexto
escolar. No período da entrevista, a mãe estava melhor, inclusive conduzindo a adolescente
até o local para participação do estudo. É possível que essa melhora do quadro clínico esteja
relacionada à fala transcrita acima: “agora voltei, subindo ao topo”. As vozes parentais,
referentes ao quadro clínico materno, reproduzem o discurso médico acerca da saúde física da
mãe. É possível analisar o signo “Recaída” como mediador semiótico e catalizador na vida da
estudante quando ganha sentido para vida da adolescente, que se considera não saudável
mentalmente ou emocionalmente. Gisela, quando narra sobre as demandas escolares, utiliza a
fala acerca das dificuldades e relaciona com a sua “personalidade”.
No decorrer da entrevista, foi possível notar que Gisela trocou o signo “Retraída” por
“Recaída”, termo clínico para o agravamento do quadro de adoecimento, e substituiu o signo
“Aluna Retraída” por “Aluna Recaída” alterando, consequente, posicionamento “Eu-Aluna
Recaída”, em todas as suas falas, a partir da primeira troca. Quando a sua mãe tem uma
56
“Recaída” no agravamento do seu câncer, Gisela costuma apresentar “Recaída” nas notas, nos
conflitos com amizades, no comportamento, isolamento:
tive uma recaída porque minha mãe também teve uma recaída.
Quando ela ficou pior eu acabei ficando muito chateada, com
problema com amigos e tal e eu cheguei a querer mudar de sala no
ano passado, mas eu mudei de ideia e eu continuei na mesma sala.
Porque minha afinidade com meus amigos ficou melhor.
A adolescente utilizou o termo “Recaída” para falar a respeito das oscilações de
humor e comportamento dos pais: “Eu não poderia ter pai melhor. Ele tipo, ele pode de vez
em quando ter uma pequena recaída, ficar bravo, reclama. De vez em quando ele fala mais
alto do que queria e aí fica parecendo que está brigando, mas ele faz qualquer coisa por
mim”. Gisela tem dificuldade em apresentar críticas ou queixas em relação às figuras
parentais. Qualquer queixa é seguida de elogio, como mecanismo de compensação pelo
aspecto revelado como negativo. Porém, as queixas escolares seguiram emergindo na sua
trajetória justamente nos períodos de agravamento do quadro clínico da mãe, como se a sua
condição de desenvolvimento escolar saudável não fosse possível frente à condição de
adoecimento da materna.
É possível notar vulnerabilidade da estudante frente às situações experienciadas em
casa em relação ao quadro clínico da mãe. Há uma aliança forte de Gisela com a figura
materna. É possível analisar esse vínculo, na medida em que emergem no discurso inúmeros
elogios, uma associação direta das queixas apresentadas na escola com o adoecimento da mãe,
relação esta deflagrada pela própria adolescente. Nota-se pouca negociação com a voz dessa
agente de referência, fator que será discutido mais adiante. Na medida em que a mãe
apresenta uma recaída, um agravamento na saúde física, Gisela apresenta comportamentos
não saudáveis para o seu desenvolvimento emocional e psicológico na escola, produzindo
queixas antes consideradas “Sanadas”. Utilizo aqui a expressão “Sanadas”, justamente para
enfatizar esse movimento indiferenciado, dependente da figura da mãe vinculado ao signo
“Saúde”. O mesmo signo “Recaída” é compartilhado por ambas; porém, o significado aparece
distinto nos posicionamentos que ocupam. A queixa escolar de Gisela surge como sintoma, no
momento em que a jovem se posiciona como “Recaída” e, não mais, “Retraída”.
Quando Gisela muda de posicionamento de “Retraída” para “Recaída”, ela sai do
lugar de aluna isolada, em conflito, para o de uma aluna não saudável no contexto escolar,
implicando uma necessidade de atenção da família, da escola e da psicoterapia. A estudante
“Retraída”, aos nove anos, foi encaminhada para psicoterapia, a estudante “Recaída” é a que
permanece em acompanhamento psicoterapêutico até os dias atuais.
57
5.2.4 Contexto Clínico
A estudante começou a frequentar a psicoterapia aos nove anos de idade, quando
cursava o quinto ano do Ensino Fundamental I. Seus pais buscaram ajuda de um profissional,
após a indicação da psicopedagoga da escola, pois a relação de Gisela com outras crianças
estava prejudicada por conflitos, bullying e isolamento frequente, conforme o já referido.
Gisela falou que adorava ler e escrever e projetou sua carreira a partir desse seu
interesse; afirmava que queria ser escritora. O signo “Escritora” emergiu em seu discurso e
foi sustentado por pais e professores, vozes de agentes de referência que incentivaram sua
produção escrita, valorizando esse talento e respeitando o desejo de gênero literário eleito por
Gisela, como mais relevante: ficção. A adolescente afirmou na entrevista que já escreveu oito
livros de ficção e estava escrevendo o seu nono, todos envolvendo magia e realidade. Ela
conta que seus livros falam sobre uma vida que todas as pessoas gostariam de ter.
Considerando-se o quadro clínico da mãe e os desafios enfrentados por Gisela na escola, a
busca pelo misto entre magia e realidade, na comunicação escrita, revela um desejo particular
de construção de um sistema ideal, um mundo imaginário.
Seus pais apareceram como grandes incentivadores na dinâmica dialógica da
estudante, através da comunicação oral e escrita, visto que um dos motivos que a levou buscar
a psicoterapia foi a necessidade de expressar verbalmente sentimentos aparentes no
comportamento de conflito e isolamento. Além dos pais e professores, alguns autores
serviram de inspiração para Gisela nessa atividade de expressão através da língua escrita.
A estudante afirmou ter enfrentado alguns problemas com colegas de escola que, por
não gostarem dos mesmos gêneros e temas que ela, a consideravam infantil, imatura: “eu
gostava de coisas que eles achavam que, para nossa idade, já não era mais necessário –
magia, por exemplo”. As vozes dos agentes de referência, colegas de classe, aparecem muito
na descrição desse período, através de falas dos pais, aconselhando Gisela no sentido de não
se importar com as opiniões alheias, enfatizando a necessidade de respeito às diferenças, e
sugerindo à estudante não modificar seus gostos ou comportamentos em função das
expressões das vozes dos colegas.
O signo “Infantil” foi catalizador na transição, deslocamento de posicionamento de
Gisela em direção a um novo posicionamento “Eu-Colega Infantil”. Esta se tornou uma
demanda terapêutica, uma vez que se sentiu desencorajada a fazer coisas que gosta ou
escrever sobre os temas que eram de seu interessante. A pouca autoestima apareceu no
discurso como um obstáculo da atualidade. Gisela encontrou, nas vozes parentais e da
58
psicoterapeuta, reforço para lidar com o signo “Infantil” que causava um sentimento de
desconforto e exclusão.
Os seus pais interviram conversando com a adolescente sobre os comentários dos
colegas da escola: “Eles disseram que eu não deveria ligar para essas coisas, porque escrever
e gostar desses temas, é uma coisa minha e que se eles não gostam, eu não preciso mudar,
não devo mudar por causa deles. E eu segui o conselho”. Essas falas de regulação semiótica
possibilitaram que Gisela retomasse seu interesse por literatura, com seu gênero favorito,
buscando apoio em narrativas que ofereciam suporte para seu movimento enquanto escritora.
A ênfase no talento para escrita tornou signo “Escritora” promotor, na medida em que
possibilitou o reposicionamento da adolescente, de um lugar considerado “Infantil” para um,
de talento, correspondente às projeções futuras da própria adolescente. Surge, então, o
(Re)Posicionamento “Eu-Escritora”, possibilitando na trajetória acadêmica um lugar de
destaque, relevante para o sistema do self educacional de Gisela, não mais relacionado à
problema de autoestima, mas ao movimento de construção identitária e consolidação presente
a partir de aspirações futuras.
Segundo Valsiner (2007/2012), o sistema de Self dialógico pode ser considerado
autorregulador, uma vez que possibilita a criação de um senso pessoal sobre o que está
acontecendo. O indivíduo possui, portanto, um papel ativo na construção da sua trajetória, de
forma a atingir seus objetivos de vida (Moreno, 2015).
A adolescente se posicionou ativamente, empoderada na sua escolha no que se refere
às suas aspirações profissionais futuras. Engajada em seus investimentos com a leitura e
escrita, sua projeção profissional foi acolhida e incentivada pelas figuras parentais, tendo
também na escola um espaço de valorização e reconhecimento por parte dos professores que
elogiam as suas produções escritas. Ela não revela quais elogios foram expressos por essas
vozes dos agentes de referência pais e professores.
A noção de irreversibilidade do tempo possibilita considerar que um indivíduo não
pode voltar a um estado anterior; suas experiências tornam-se singulares por esse motivo.
Todos os participantes da cultura, segundo Moreno (2015), são importantes para o
desenvolvimento do indivíduo, principalmente os que possuem vínculos afetivos considerados
pela autora como privilegiados: pais, professores, irmãos etc.
As vozes dos pais de Gisela aparecem, em toda sua narrativa, como agentes de
referência, participantes, incentivadores, presentes no suporte frente a obstáculos enfrentados
por ela na escola. Gisela acatava opiniões, se aliando às vozes dos agentes de referência –os
pais – aceitando as propostas dessas vozes. Ela considerava que as falas parentais deveriam
59
nortear seus comportamentos. Confiava e seguia os conselhos considerando as falas positivas
para seu desenvolvimento presente e futuro. A estudante não apresentou discordâncias em
relação às narrativas parentais, enquanto agentes de referência: “Eu gosto dos meus colegas
como amigos, eu respeito e, se não quiserem gostar de mim, eu vou respeitar eles. Uma coisa
é: eles não podem me desrespeitar... meus pais dizem exatamente isso. Que eu tenho que
respeitar, que eu não tenho que gostar, da mesma maneira, que eles precisam respeitar, mas,
não têm que gostar de mim”. Essa pouca negociação com as vozes parentais pode estar
relacionada à hierarquia de vozes dos agentes de referência, uma vez que essas falas são mais
comuns e significativas para a estudante no seu percurso acadêmico.
O self torna-se um espaço favorável para negociação entre o eu e o outro, que vão
além de negociações de papéis sociais, referindo-se, também, aos estados afetivos e
significados reflexivos (Hermans, 2001 citado por Mattos, 2016). O self, portanto, pode ser
visto como um sistema de posicionamentos, uma estrutura, em um campo de possíveis
sentidos de si mesmo, tornando-se um espaço de negociação de valores e crenças que
predominam em esferas diferentes da experiência humana (Mattos, 2016)
O caso Gisela apresenta valores relacionados à representação das figuras parentais. A
dificuldade em negociar com essas vozes ou, até mesmo, queixar-se delas, pode estar
relacionada à fragilidade experienciada no núcleo familiar em função do adoecimento
materno. Essa proteção denota um cuidado de Gisela com as figuras parentais, em retribuição
aos cuidados que as mesmas possuem com a adolescente, na medida em que é acolhida frente
aos conflitos e violências experimentados na relação com os colegas.
Signos diversos aparecem nos casos contribuindo para transições, mudanças de
posicionamento da estudante, que contribuem para a percepção de si enquanto agente de
transformação na cultura coletiva e pessoal.
O sistema do self educacional de Gisela apresenta uma estudante, ainda, pouco
autônoma na trajetória educacional, apesar de muito envolvida com temas e contexto escolar.
O caso torna-se rico posto que estabelece, em sua análise, uma ponte que possibilita
relacionar educação e saúde, enfatizando a necessidade de mais estudos acerca do tema da
queixa escolar, a partir da aliança entre escola, família e clínica, como contextos promotores
do desenvolvimento e relevantes na construção identitária do sujeito.
60
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do fim ao começo
Todo passo
Corre o risco de tropeço.
A esperança ao caminhar
É a semente que brota
Na planta do pé.
O pesquisador que se propõe andar,
Precisa reconhecer que é
Possível errar e acertar
O caminho.
Importante saber
Que a água do broto do saber
É a possibilidade de crescimento
No avesso do conhecimento.
(Marina Lima Duarte Moreira)
A dinâmica de posicionamento no self dialógico e as projeções futuras aparecem
relacionadas ao sistema do self educacional das duas estudantes entrevistadas, porquanto
contemplam mudanças de valores através da mediação semiótica e posicionamento no
contexto educacional. Isto favorece a construção de uma identidade de estudante através do
reconhecimento de trajetórias construídas, pontes entre uma posição e outra, promovendo a
formação identitária das adolescentes, reconhecimento de si mesmas nas histórias narradas,
considerando-se o contexto escolar como palco para cenas positivas e negativas, rupturas e
transições marcadas como significativas nas entrevistas narrativas.
As duas adolescentes escolheram narrar suas trajetórias a partir do período em que
iniciaram a psicoterapia, apesar de terem sido convidadas a narrar desde o ano inicial da
trajetória escolar. Esse dado pode ser relacionado ao fato de terem tido conhecimento da
pesquisa, através do termo de assentimento, cujo tema “queixa escolar” faria interface com a
área da Psicologia.
Em ambos os casos, o bullying apareceu como um dos motivos pelos quais procuraram
a psicoterapia, expressando violências vividas pelas duas adolescentes em contexto escolar.
Apesar de ser um tema recorrente em instituições de ensino, pouco se é validado, enquanto
fator que implica na saúde emocional de estudantes acerca da queixa escolar. Em ambos os
casos, as narrativas não descreveram suporte oferecido pela escola nesses casos de violência.
O bullying é citado como demanda de busca pelo acompanhamento terapêutico, mas
intervenções do espaço escolar não são expressas nas narrativas analisadas. O caso Beatriz
revela, inclusive, a busca parental pelo apoio clínico frente ao não posicionamento da
61
instituição de ensino.
Outra similaridade pôde ser notada – as jovens trouxeram as vozes parentais como
mais presentes em comparação aos outros agentes de referência. A idade de ambas pode ser
um fator contribuinte para o posicionamento elevado dessas vozes de referência, uma vez em
que ambas as adolescentes apresentam pouca negociação, sem tentativas de enfrentamento ou
rejeição das expectativas parentais. As adolescentes não apresentam queixas escolares de
conduta desviante ao padrão coletivo; as queixas revelam estudantes mais passivas frente às
vozes adultas, sem posições de enfrentamento a essas figuras. Gisela enfrenta colegas, mas
traz sofrimento frente aos conflitos e Beatriz coloca-se em posição passiva, apenas crítica em
relação aos demais estudantes.
Professores e psicoterapeutas são citados nas narrativas e valores lhes são atribuídos,
mas as falas não são expressas nas narrativas das estudantes. São enfatizadas, apenas, ações
positivas que reverberam na motivação das estudantes diante das dificuldades encontradas no
ambiente acadêmico. As figuras dos psicólogos são valorizadas no acolhimento e suporte,
principalmente referente à demanda de bullying, possivelmente por se tratar de uma queixa
escolar que envolve violência.
Vozes de colegas, enquanto agentes de referência, aparecem expressas em atos
violentos e negativos. Poucas falas desses agentes de referência surgem de forma positiva,
apesar das adolescentes identificarem como importantes, e queridas, as amizades que
possuem, denotando uma ambivalência em relação aos colegas de sala. Os grandes amigos
são citados, mas suas vozes não aparecem expressas nas narrativas enquanto suporte ao
enfrentamento das demandas educacionais.
Foi possível notar pouca negociação com as vozes dos agentes de referência parentais.
As duas adolescentes correspondiam às expectativas dos agentes de referência parental.
Beatriz apresentou mais ambivalência em relação à concordância com as vozes, mas não se
posicionou de forma a contrariá-las na sua trajetória educacional, nem nas projeções futuras,
aceitando como suas as aspirações projetadas e incorporadas como pessoais. Gisela, por sua
vez, conseguiu deslocar-se do posicionamento “Eu-Colega Infantil” prejudicial para sua
estima, consequente da interação com as vozes dos demais estudantes, para a valorização do
“Eu-Escritora” a partir das narrativas de incentivo dos professores, pais e terapeutas. Nesse
caso, em particular, mais vozes foram descritas e expressas como promotoras.
A partir do estudo, foi identificada a necessidade de aprofundamento da pesquisa, no
sentido de investigar a negociação com as vozes dos agentes de referência no self educacional
das estudantes, de forma a oferecer às vozes identificadas, não apenas o espaço de expressão,
62
mas de relação com as mudanças de posicionamento das estudantes, a partir das negociações
estabelecidas. O estudo contribuiu para a identificação dos contextos em que as vozes dos
agentes de referência predominam: acadêmico, familiar, clínico.
Os posicionamentos e reposicionamentos das estudantes, relacionados às rupturas e
transições experimentadas, participaram dos seus sistemas do self educacional, na medida em
que permitiram reflexões acerca de escolhas presentes e projeções futuras, contribuindo para a
construção identitária das adolescentes, a partir das vozes dos agentes de referência que
surgiram em seus respectivos percursos de escolarização, sendo expressas nos dois casos as
vozes parentais, com mais frequência.
As vozes dos agentes de referência expressas receberam significados variados para as
estudantes, que escutaram e orientaram trajetórias educacionais pertencentes ao curso de vida
de ambas. As expressões das mesmas foram mais significativas no núcleo familiar, mas essa
representatividade não excluiu a possibilidade de significação das demais vozes a partir das
ações dos agentes de referência presentes no contexto. O sistema do self educacional não pode
ser analisado separadamente do movimento dialógico que ocorre em contexto educacional;
este aparece nesse período de jornada acadêmica e promove mudanças, tanto na constituição
da identidade, quando nas projeções de futuro, envolvendo, no caso de ambas as estudantes,
projeções de carreira voltadas para instituições de ensino superior que levariam ao exercício
de profissões ambicionadas, por elas, no futuro.
Por fim, deixo, através da expressão de minha própria voz, enquanto estudante de
mestrado e agente de referência em instituições educacionais, a possibilidade de recomeço, a
partir dos novos questionamentos que poderão ser levantados na leitura do estudo realizado.
Deixo aqui, não um ponto final, mas reticências ou um ponto de continuação para aqueles que
ambicionam favorecer o estudo sobre queixa escolar, self educacional, vozes, identidade,
dialogicidade, posicionamento do eu e educação. Com a esperança de acerto em minhas
análises, finalizo este trabalho, no intuito de que novos olhares possam focar outras vertentes
e interfaces para enriquecê-lo, levantar novas questões, a partir de lacunas possivelmente
deixadas no decorrer da escrita. Que os produtos contemplem a reflexão sobre como articular
esses conhecimentos florescendo saberes que possam ser semeados, preenchendo os buracos
fertilizados para germinar novas sementes com qualidade e maturidade de frutos para uma
excelente colheita.
63
REFERÊNCIAS
Amparo, D. M., Galvão, A. C. T., Cardenas, C., & Koller, S. H.. (2008). A escola e as
perspectivas educacionais de jovens em situação de risco. Psicologia escolar e
Educacional, 12(1), 69-88. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
85572008000100006&lng=en&tlng=pt.
Anache, A.A. (2010). Psicologia Escolar e educação especial: versões, inserções e
mediações. Em Aberto, Brasília, 23(83), 73-93.
Anderson, H. (1997). Conversation, language, and possibilities: a postmodern approach to
therapy. New York: Basic Books.
Andrada, E. G. C. (2007). O Treinamento de suporte parental (TSP) como fator de
promoção do suporte parental e do desempenho escolar de crianças na primeira série.
Tese de doutorado. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC.
Bakhtin, M. M. (1993). Toward a philosophy of the act (V. Liapunov, Trad.) Austin, TX:
University of Texas Press.
Bamberg, M.; De Fina, A., & Shiffrin, A. (2011). Discourse and identity construction. In
Seth J. Schwartz, Koen Luyckx, Vivian L. Vignoles. (Eds). Handbook of identity theory
and research. New York : Springer. pp. 177-199.
Barros, R; Mendonça, R., Santos, D., & Quintaes, G. Determinantes do desempenho
educacional no Brasil. Texto para discussão nº 834. IPEA, 2001. Recuperado de
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2160/1/TD_834.pdf.
Braga, S. G., & Morais, M. L. S. (2007). Queixa escolar: atuação do psicólogo e interfaces
com a educação. Psicologia USP, 18(4), 35-51. Recuperado de
https://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642007000400003.
Brasil. Resultados do Saeb 2003 Brasil. Ministério da Educação. Brasília, 2004. Recuperado
de http://download.inep.gov.br/download/saeb/2004/resultados/BRASIL.pdf.
Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings human: bioecological perspectives on
human development. London: Sage.
Bruner, J. (1997). Atos de significação. Porto Alegre: Artes Médicas.
Bruner, J. (2001). A cultura da educação. Porto Alegre: Artmed.
Cabral, E., & Sawaya, S. M. (2001). Concepções e atuação profissional diante das queixas
escolares: os psicólogos nos serviços públicos de saúde. Estudos de Psicologia, 6(2),
143-155.
Castro, L. R., & Souza, S. J. (1994). Desenvolvimento humano e questões para um final de
século: tempo, história e memória. Psicologia Clínica. Rio de Janeiro. Pontifícia
64
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Centro de Teologia e Ciências Humanas.
Departamento de Psicologia, 6.
Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos quantitativo, qualitativo e misto. Porto
Alegre: Artmed.
Cunha, C. A. C. (2007). Processos dialógicos de auto-organização e mudança: um estudo
microgenético. (Tese de Mestrado em Psicologia, Instituto de Educação e Psicologia,
Universidade do Minho, Portugal). Retirado de:
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7261/1/Processos%2520Dial%25C3
%25B3gicos%2520de%2520Auto-
Organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520Mudan%25C3%25A7a_Um%2
520Estudo%2520Microgen%25C3%25A9tico_Carla%2520Alexandra%2520Castro.pdf
Dazzani, M. V. M., Cunha, E. O., Luttigards, P. M., Zucoloto, P. C. S. V., & Santos, G. L.
(2014). Queixa escolar: uma revisão crítica da produção científica nacional. Revista
Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar. 18(3), 421-428.
Duarte, M. R. T., & Junqueira, D. S. (2013). A propagação de novos modos de regulação no
sistema educacional brasileiro: o Plano de Ações Articuladas e as relações entre as
escolas e a União. Pro-Posições, 24(2), 165-193. Retirado de
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73072013000200012&lng=en&tlng=pt.
Ebbeck, M.; Saidon, S. B.; Rajalachime, R.; Teo, l. Y. (2013). Children’s voices: providing
continuity in transition experiences in singapore. Early Childhood Educ J, 41, 291–298.
Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: a
meta-analysis. Educational Psychology Rewiew, 13, 1-22.
Fonseca, V. (1995). Introdução às dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: Artes
Médicas.
Gergen, K. & Kaye, J. (1998). Além da narrativa na negociação do sentido terapêutico. In:
S., McNamme, S. & Gergen, K. (Orgs.). A terapia como construção social. (pp. 201-
222). Tradução por Claúdia Dornelles. Porto Alegre: Artes Médicas
Gomes, R. C. (2013). A constituição do self educacional de adolescentes: a produção
dialógica de sentidos acerca da participação dos pais na vida acadêmica. (Dissertação
de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA,
Brasil.
González Rey, F. (2002). Pesquisa qualitativa e subjetividade: caminhos e desafios. São
Paulo: Thomson Learning.
Grandesso, M. (2011). Sobre a reconstrução do significado: uma análise epistemológica e
hermenêutica da prática clínica. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Grossen, M.; Salazar Orvig, A. (2011). Dialogism and dialogicality in the study of the self.
Culture & Psychology, 17(4), 491-509.
65
Hermans, H.J.M. (1992). Unhappy self-esteem: A meaningful exception to the rule. Journal
of Psychology, 126, 555-570.
Hermans, H. J. M. (1999). Dialogical thinking and self-innovation. Culture & Psychology,
5, 67-87.
Hermans, H. J. M. (2001). The dialogical self: toward a theory of personal and cultural
positioning. Culture & Psychology, 7(3), 243-281.
Hermans, H. J. M. (2002). The dialogical Self as a society of mind: Introduction. Theory &
Psychology, 12(2), 147–160.
Hermans, H.J.M. (2013). The dialogical self in education. Journal of Constructivist
Psychology, 26(2), 81-89.
Holquist, M. (1990). Dialogism: Bakhtin and his world. London: Routledge.
Jesus, C. R. C. (2016). A relação professor-aluno e a constituição do self educacional em
adolescentes do ensino médio. (Dissertação de mestrado), Instituto de Psicologia,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil.
Jovchelovitch, S., & Bauer, M. W. (2002). Entrevista narrativa. In: M. W. Bauer & G.
George (Orgs.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático.
Petrópolis: Vozes.
Ligorio, M. B. & César, M. (Eds). (2013). The interplays between dialogical learning and
dialogical self. Charlotte: Information Age Publishing, Inc.
Linell, P. (2007). Dialogicality in languages, minds and brains: is there a convergence
between dialogism and neuro-biology?. Language Sciences,
doi:10.1016/j.langsci.2007.01.001.
Marcondes, K. H. B., & Sigolo, S. R. R. L. Comunicação e envolvimento: possibilidades de
interconexões entre família-escola?. Paidéia, 2012. Recuperado de
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103863X2012000100011&
lng=en&nrm=iso> Acesso em 03/05/2015.
Marsico, G., & Iannaccone A., (2012). The work of schooling. In J. Valsiner (Ed). Oxford
handbook of culture and psychology (pp. 830-868), New York: Oxford University
Press.
Mattos, E. (2013). O desenvolvimento do self na transição para a vida adulta: um estudo
longitudinal com jovens baianos. (Tese de doutorado), Instituto de Psicologia,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil.
Mattos, E. (2016). A mediação semiótica da "responsabilidade": um estudo sobre a
construção de valores na transição para a vida adulta. Psicologia USP, 27(2), 178-188.
https://dx.doi.org/10.1590/0103-6564D20160002.
Moreno, M. R., & Branco, A. M. (2014). Desenvolvimento das significações de si em
crianças na perspectiva dialógico-cultural. Psicologia em Estudo, 19(4), 599-610.
66
Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
73722014000400599&lng=en&tlng=pt. 10.1590/1413-73722189303.
Moutinho, K., & De Conti, L. (2016). Análise narrativa, construção de sentidos e identidade.
Psicologia: Teoria e Pesquisa, 32(2), 1-8. Recuperado de
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v32n2/1806-3446-ptp-32-02-e322213.pdf.
Moysés, M. A. A. A medicalização da educação infantil e no ensino fundamental e as
políticas de formação docente: a medicalização do não aprender-na-escola e a invenção
da infância anormal. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 31. Caxambu-MG, 2008.
Acesso: 04 jul. 2013
Molenaar, P. C. M., & Valsiner, J. (2008). How generalization works through the single
case: A simple idiographic process analysis of an individual psychotherapy. In S.
Salvatore, J. Valsiner, S. Strout-Yagodzynski, & J. Clegg (Eds.), Yearbook of
idiographic science (Vol. I) (pp. 23–38). Rome: Firera Publishing.
Neves, M. M. B. J., & Marinho-Araujo, C. M. (2006). A questão das dificuldades de
aprendizagem e o atendimento psicológico às queixas escolares. Aletheia, (24), 161-
170.. Recuperado de
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
03942006000300015&lng=pt&tlng=pt. o
Oliveira, R. P. (2007). Da universalização do ensino fundamental ao desafio da qualidade:
uma análise histórica. Educação e Sociedade, Campinas, 28(100), 661-690.
Oselka, G., & Troster, E. J. (2000). Aspectos éticos do atendimento médico do adolescente.
Revista da Associação Médica Brasileira, 46(4), 306-307. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
42302000000400024&lng=en&nrm=iso.
Patto, M.H.S. (2010). A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia.
São Paulo: Casa do Psicólogo. (Trabalho original publicado em 1999).
Pereira, M. L. I. E. M. (2004). Projeto Prisma: uma alternativa de trabalho com crianças
com queixa escolar. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação. Universidade de
São Paulo.
Pires, A. (2008). Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaio teórico e metodológico. In:
Poupart, Jean et al. (org.) A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e
metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes.
Salgado, J., & Hermans, H. J. M. (2005). The return of subjectivity: From a multiplicity of
selves to the dialogical Self. E-Journal of Applied Psycholgy: Clinical Section, 1, 1-13.
Salvatore, S., & Valsiner, J. (2008). Idiographic science on its way: towards making sense of
psychology. In S. Salvatore, J. Valsiner, S. Strout, & J. Clegg (Eds). Yearbook of
idiographic science. Vol. 1. Roma: Firera Publishing Group.
Silva, R. L. M., & Rodrigues, M. C. (2014). Atendimento à queixa escolar: experiência do
projeto Seape no Centro de Psicologia Aplicada da UFJF. Psicologia em Revista, 20(3),
67
479-493. Disponível em: https://dx.doi.org/DOI - 10.5752/P.1678-
9563.2013v19n1p119.
Tateo, L., Marsico, G., & Iannaccone, A. (2013). Educational Self. A fruitful idea? In
Ligorio, M. B. & César, M. (Eds). The interplays between dialogical learning and
dialogical self, (pp. 219-252). Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc.
Valsiner, J. & Cabell, K. (2012). Self-making through synthesis: extending dialogical self
theory. In H. J.M. Hermans & T. Gieser (Eds.) Handbook of dialogical self theory. (pp.
82-97). NY: Cambridge University Press.
Valsiner, J. (2007). Culture in minds and societies. Foundations of Cultural Psychology
LA/New Delhi: Sage, pp. 19-57.
Valsiner, J. (2012). Fundamentos da psicologia cultural: mundos da mente, mundos da vida.
Porto Alegre: Artmed.
Wagner, A. (2011). Desafios psicossociais da família contemporânea. Porto Alegre:
Artmed.
Wheeler, P. (1992). Promoting parent involvement in secondary schools. NASSP Bulletin,
76 (546), 28-35.
Zittoun, T. (2006). Transitions: development through symbolic resources. Charlotte, NC:
Information Age Publishing.
Zittoun, T. (2007). Symbolic resources and responsibility in transitions [Versão eletrônica].
Young, 15, 193-211.
69
Apêndice A – Entrevista Narrativa com o adolescente
Pergunta disparadora: Eu gostaria que você me falasse da sua vida escolar, de quando
começou a estudar até os dias atuais.
70
Apêndice B – Ficha de Dados Sociodemográficos
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Caso: ____________
Nome do(a) estudante: ________________________________________________________
Data de nascimento: _______________________
Endereço:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Motivo do encaminhamento/demanda:____________________________________________
Telefones: __________________________________________________________________
Religião: ___________________________________________________________________
Escolaridade: _______________________________________________________________
Trabalha? ( )sim ( )não. Se sim, qual a
ocupação?____________________
Seus pais moram juntos?_______________________________________________________
Seus pais trabalham? Se sim, em que eles
trabalham?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Até que série seus pais estudaram? ______________________________________________
Quantas pessoas moram com você? Quem são? ____________________________________
Grau de parentesco Idade
Qual a renda da família?
Até 01 salário mínimo ( ).
De 01 a 02 salários mínimos ( ).
De 02 a 03 salários mínimos ( ).
Mais de 04 salários mínimos ( ).
Alternativa de contato:
Nome: _____________________________________________________________________
Telefone: ___________________________________________________________________
Data e local da entrevista ______________________________________________________
71
Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Eu, ........................................................................................., responsável legal pelo(a)
estudante .................................................................................................., convidado(a) a
participar da pesquisa intitulada "Vozes Parentais no Sistema do Self Educacional de
Adolescentes com Queixa Escolar ." Proposta por mim, Marina Lima Duarte Moreira, sob
orientação da professora Dr.ª Maria Virginia Machado Dazzani. Tal estudo tem como objetivo
analisar como adolescentes com queixa escolar, encaminhados para o serviço de Psicologia,
negociam a participação das vozes parentais no sistema do Self educacional, atentando para os
posicionamentos criados e suas reverberações na organização do Self educacional. Pesquisas
sobre queixa escolar são alvo de interesse de profissionais de diferentes áreas e os resultados
podem contribuir ajudando profissionais de educação e de saúde que buscam participar mais
efetivamente no processo de escolarização de estudantes. Também poderão ser beneficiados
profissionais que trabalham no atendimento clínico de adolescentes com esse histórico. O
estudo possui um desenho de pesquisa qualitativo que tem como objetivos específicos
investigar a partir das narrativas dos adolescentes as experiências que permitam: (a)
Conhecer as trajetórias escolares de estudantes com queixa escolar; (b) Conhecer as
continuidades e descontinuidades nas trajetórias de vida de sujeitos em processos de
escolarização; (c) Identificar e analisar concepções sobre a queixa escolar entre os
estudantes;(d) Identificar e analisar as vozes parentais relacionadas ao processo de
escolarização de estudantes com queixa escolar; (e)Identificar as expectativas dos
adolescentes sobre a vida acadêmico-profissional e sua relação com o processo atual de
escolarização; (f) Analisar possíveis tensões relaciondas às expectativas contidas nas vozes
parentais. Para a execução da pesquisa, O estudante responderá, individualmente, a entrevistas
narrativas, que serão gravadas em áudio.
Receberá resposta a qualquer dúvida sobre a pesquisa em qualquer momento que desejar.
Assim como terá total liberdade para retirar o seu consentimento, a qualquer momento, e
deixar de participar da pesquisa sem qualquer penalização ou prejuízo para você ou para
terceiros. Seu anonimato será assegurado, buscando respeitar a integridade moral, intelectual,
social e cultural, isto é, não será divulgado quem forneceu as informações. Os possíveis riscos
desta pesquisa envolvem o receio de suas falas se tornarem públicas e inibição por expor
informações pessoais e conjugais. Tendo em vista que os instrumentos remetem, entre outros
aspectos, à trajetória de acolhimento, poderão gerar ansiedade ao tocar aspectos subjetivos de
suas vidas. Tais riscos serão minimizados mediante esclarecimentos adicionais sobre a
natureza da pesquisa e sobre o sigilo, sempre que for solicitado ou que o pesquisador
identifique que seja necessário. Além disso, caso os participantes manifestem interesse ou
necessidade, será garantido o atendimento psicológico especializado em instituições com
serviços gratuitos ou com baixo custo. O sigilo será resguardado e a entrevista será em local
reservado. A participação não acarretará custos ou terá compensação financeira. Caso seja
verificado algum prejuízo com a pesquisa, será indenizado se comprovado o prejuízo
mediante avaliação judicial.
Universidade Federal da Bahia – UFBA
Instituto de Psicologia – IPS
Programa de Pós-graduação em Psicologia – PPGPSI
Mestrado e Doutorado
72
O benefício relacionado à participação será uma melhor compreensão de como adolescentes
com queixa escolar, encaminhados para o serviço de Psicologia, negociam a participação das
vozes parentais no sistema do Self educacional, atentando para os posicionamentos criados e
suas reverberações na organização do Self educacional. Os dados coletados serão utilizados
exclusivamente para a construção de relatórios de pesquisa, bem como para a divulgação para
fins científicos.
No momento em que houver necessidade de esclarecimentos sobre sua participação na
pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores através do telefone (71)
98878-2430, bem como com o Comitê de Ética em Pesquisa responsável. Desta forma, se
concordar, por sua livre vontade, em participar desta pesquisa, por favor, assine este termo de
consentimento livre e esclarecido ficando com uma cópia para si. Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a)
Domicílio: (rua, praça, conjunto):
Bloco: /Nº: /Complemento:
Bairro:/ CEP:/ Cidade:/ Telefone:
Contato de urgência: Sr(a)
Domicílio: (rua, praça, conjunto):
Bloco: /Nº: /Complemento:
Bairro:/ CEP:/ Cidade:/ Telefone:
Endereço dos responsáveis pela pesquisa
MARINA LIMA DUARTE MOREIRA
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Domicílio: (rua, praça, conjunto):
Rua Professor Carlos Ott, 142
Bloco: /Nº: /Complemento:
Casa 10
Bairro:/ CEP:/ Cidade:/ Telefone:
Stella Maris. 41600-665. Salvador, BA. (71)988782430
Endereço dos responsáveis pela pesquisa
MARIA VIRGÍNIA MACHADO DAZZANI
Instituição: Universidade Federal da Bahia
ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no
estudo dirija-se ao:
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia
Rua Aristides Novis, estrada de São Lázaro, 197
CEP 40210-730 – Salvador, BA
Telefax: +55 71 3283- 6442/ +55 71 98707- 1083
Cidade:____________________, BA, ___________de ______________de_________
__________________________________________________
(Assinatura do pesquisador responsável. Deve-se rubricar todas as páginas)
__________________________________________________
(Assinatura do pesquisador responsável. Deve-se rubricar todas as páginas)
Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a)
voluntári(o,a) ou responsável legal e rubricar
as demais folhas
Nome e Assinatura do(s) responsável(eis) pelo estudo
(Rubricar as demais páginas)
73
Apêndice D – Termo de Assentimento
Termo de Assentimento
Eu, ........................................................................................., Estudante convidado(a) a
participar da pesquisa intitulada "Vozes Parentais no Sistema do Self Educacional de
Adolescentes com Queixa Escolar ." Proposta pela Psicóloga, Marina Lima Duarte
Moreira, sob orientação da professora Dr.ª Maria Virginia Machado Dazzani. Tal estudo
tem como objetivo analisar como adolescentes com queixa escolar, encaminhados para o
serviço de Psicologia, negociam a participação das vozes parentais no sistema do Self
educacional, atentando para os posicionamentos criados e suas reverberações na
organização do Self educacional. Pesquisas sobre queixa escolar são alvo de interesse de
profissionais de diferentes áreas e os resultados podem contribuir ajudando profissionais
de educação e de saúde que buscam participar mais efetivamente no processo de
escolarização de estudantes. Também poderão ser beneficiados profissionais que
trabalham no atendimento clínico de adolescentes com esse histórico. O estudo possui um
desenho de pesquisa qualitativo que tem como objetivos específicos investigar a partir
das narrativas dos adolescentes as experiências que permitam: (a) Conhecer as trajetórias
escolares de estudantes com queixa escolar; (b) Conhecer as continuidades e
descontinuidades nas trajetórias de vida de sujeitos em processos de escolarização; (c)
Identificar e analisar concepções sobre a queixa escolar entre os estudantes;(d) Identificar
e analisar as vozes parentais relacionadas ao processo de escolarização de estudantes com
queixa escolar; (e)Identificar as expectativas dos adolescentes sobre a vida acadêmico-
profissional e sua relação com o processo atual de escolarização; (f) Analisar possíveis
tensões relaciondas às expectativas contidas nas vozes parentais. Para a execução da
pesquisa, O estudante responderá, individualmente, a entrevistas narrativas, que serão
gravadas em áudio.
Receberá resposta a qualquer dúvida sobre a pesquisa em qualquer momento que desejar.
Assim como terá total liberdade para retirar o seu consentimento, a qualquer momento, e
deixar de participar da pesquisa sem qualquer penalização ou prejuízo para você ou para
terceiros. Seu anonimato será assegurado, buscando respeitar a integridade moral,
intelectual, social e cultural, isto é, não será divulgado quem forneceu as informações. Os
possíveis riscos desta pesquisa envolvem o receio de suas falas se tornarem públicas e
inibição por expor informações pessoais e conjugais. Tendo em vista que os instrumentos
remetem, entre outros aspectos, à trajetória de acolhimento, poderão gerar ansiedade ao
tocar aspectos subjetivos de suas vidas. Tais riscos serão minimizados mediante
esclarecimentos adicionais sobre a natureza da pesquisa e sobre o sigilo, sempre que for
solicitado ou que o pesquisador identifique que seja necessário. Além disso, caso os
participantes manifestem interesse ou necessidade, será garantido o atendimento
psicológico especializado em instituições com serviços gratuitos ou com baixo custo. O
sigilo será resguardado e a entrevista será em local reservado. A participação não
acarretará custos ou terá compensação financeira. Caso seja verificado algum prejuízo
com a pesquisa, será indenizado se comprovado o prejuízo mediante avaliação judicial.
O benefício relacionado à participação será uma melhor compreensão de como
adolescentes com queixa escolar, encaminhados para o serviço de Psicologia, negociam a
participação das vozes parentais no sistema do Self educacional, atentando para os
posicionamentos criados e suas reverberações na organização do Self educacional. Os
dados coletados serão utilizados exclusivamente para a construção de relatórios de
pesquisa, bem como para a divulgação para fins científicos.
74
No momento em que houver necessidade de esclarecimentos sobre sua participação na
pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores através do telefone (71)
98878-2430, bem como com o Comitê de Ética em Pesquisa responsável. Desta forma, se
concordar, por sua livre vontade, em participar desta pesquisa, por favor, assine este
termo de consentimento livre e esclarecido ficando com uma cópia para si. Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a)
Domicílio: (rua, praça, conjunto):
Bloco: /Nº: /Complemento:
Bairro:/ CEP:/ Cidade:/ Telefone:
Contato de urgência: Sr(a)
Domicílio: (rua, praça, conjunto):
Bloco: /Nº: /Complemento:
Bairro:/ CEP:/ Cidade:/ Telefone:
Endereço dos responsáveis pela pesquisa
MARINA LIMA DUARTE MOREIRA
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Domicílio: (rua, praça, conjunto):
Rua Professor Carlos Ott, 142
Bloco: /Nº: /Complemento:
Casa 10
Bairro:/ CEP:/ Cidade:/ Telefone:
Stella Maris. 41600-665. Salvador, BA. (71)988782430
Endereço dos responsáveis pela pesquisa
MARIA VIRGÍNIA MACHADO DAZZANI
Instituição: Universidade Federal da Bahia
ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no
estudo dirija-se ao:
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia
Rua Aristides Novis, estrada de São Lázaro, 197
CEP 40210-730 – Salvador, BA
Telefax: +55 71 3283- 6442/ +55 71 98707- 1083
Cidade:____________________, BA, ___________de _______________de_________
__________________________________________________
(Assinatura do pesquisador responsável. Deve-se rubricar todas as páginas)
_________________________________________________________________
(Assinatura do pesquisador responsável. Deve-se rubricar todas as páginas)
Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a)
voluntári(o,a) ou responsável legal e rubricar
as demais folhas
Nome e assinatura do(s) responsável(eis) pelo estudo
(Rubricar as demais páginas)