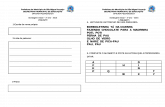UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA PROGRAMA DE … Cristina... · AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA PROGRAMA DE … Cristina... · AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA...
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED)
ANA CRISTINA SANTANA MATOS
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS CONTADORES DE HISTÓRIAS EM HOSPITAIS: O CASO DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER, EM SALVADOR-BAHIA
Salvador
2012
ANA CRISTINA SANTANA MATOS
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS CONTADORES DE HISTÓRIAS EM HOSPITAIS: O CASO DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER EM SALVADOR-BAHIA
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós Graduação em Educação, da
Faculdade de Educação da Universidade
Federal da Bahia como requisito parcial
para obtenção do grau de Mestre em
Educação.
Orientador: Profa.Dra. Alessandra Santana
Soares Barros.
Salvador
2012
SIBI/UFBA Faculdade de Educação – Biblioteca Anísio Teixeira Matos, Ana Cristina Santana. Avaliação de resultados da qualificação de voluntários contadores
de histórias em hospitais: o caso da associação Viva e Deixe Viver, em Salvador-Bahia / Ana Cristina Santana Matos. – 2012.
193 f. Orientadora: Profª Drª. Alessandra Santana Soares Barros.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, 2012.
1. Avaliação. 2. Qualificações profissionais. 3. Competência
funcional. 4. Voluntários nos hospitais. 5. Humanização da assistência a saúde.I. Barros, Alessandra Santana Soares. II. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação. III. Título
CDD 371.26 – 22.ed.
TERMO DE APROVAÇÃO
ANA CRISTINA SANTANA MATOS
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
CONTADORES DE HISTÓRIAS EM HOSPITAIS:
O CASO DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER EM SALVADOR-BAHIA.
Dissertação aprovada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Educação,
Universidade Federal da Bahia, pela seguinte banca examinadora:
________________________________________ Profa.Dra. Alessandra Barros
(Orientadora)
Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e Profa. da Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia – FACED
__________________________________
Profa. Dra. Isabella Pinto
Doutora em Administração pela Universidade Federal da Bahia e Profa. do Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia – ISC
__________________________
Prof.Dr. Uaçai Lopes
Doutor. em Educação pela Universidade Federal da Bahia e Prof. da Universidade Estadual de Feira de Santana
– UEFS
Salvador, de de 2012.
Ao meu querido Deus.
À família, aos amigos, aos mestres.
Aos participantes da pesquisa e aos que
me ajudaram nesta trajetória.
AGRADECIMENTOS
A Deus, pela sua unção.
A meus pais, Neide Leão e Dejair Matos, pelo amor e incentivo.
A meus irmãos, Cristiane Matos, Felipe Leão e aos sobrinhos Beatriz Silva e Victor Hugo,
pelo amor que compartilhamos
À Professora Orientadora Alessandra Barros, pelos ensinamentos e por me incentivar a
acreditar em mim mesma, quando tudo parecia difícil.
Ao Professor Robinson Tenório, pelo apoio nos momentos cruciais deste trabalho e por me
acolher no grupo de pesquisa em avaliação, que muito me tem ensinado a caminhar nesta
trajetória de pesquisadora. Muito obrigado, professor, pela sua constante presença, mesmo
quando não está perto!
À professora Regina Antoniazzi, pela confiança.
A Raymundo Dantas, amigo querido, que sempre me motivou a crescer e aprender coisas
novas.
A Mávila Andrade e Luciene Leite, pela ajuda e dedicação em todos os momentos.
A Márcia Simões, por me ter apresentado novas possibilidades de estudo na área de
treinamento.
A Valdir Cimino e a todos os membros da Associação Viva e Deixe Viver, por
compartilharem sonhos.
Aos voluntários, que, presentes ou não na pesquisa, foram a razão de este trabalho existir e
por me ensinarem que a solidariedade é possível.
A Miriam Borges, por todo o apoio nos momentos cruciais deste trabalho.
Ao grupo de pesquisa, por compartilhar conhecimentos e pelos amigos que nos tornamos
nesta trajetória acadêmica.
Às amigas Ângela, Conceição e Luciana, pelas orações semanais na minha casa, o que me deu
força na presença de Deus.
Processos e técnicas são menos importantes do que
as suas atitudes. Deve também sublinhar-se que é a
maneira como as suas atitudes e os seus processos
são apreendidos que é importante para o paciente,
de uma importância crucial.
Carl Rogers, 1961
RESUMO
MATOS, Ana Cristina. Avaliação de resultados da qualificação de voluntários contadores de
histórias em hospitais: o caso da Associação Viva e Deixe Viver em Salvador-Bahia. 2012.
193f. Dissertação (Mestrado em Educação)-Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.
Há crescente preocupação com a capacitação de voluntários que prestam trabalho sem
remuneração a entidades públicas ou privadas em forma de ajuda humanitária. Discussões
sobre a qualificação desses sujeitos têm logrado dimensões novas no Brasil e no mundo. Esta
dissertação apresenta uma pesquisa de avaliação de resultados da qualificação oferecida aos
voluntários de uma entidade não governamental que propõe a humanização de hospitais – a
Associação Viva e Deixe Viver. O estudo de caso teve um recorte no Município de Salvador e
avaliou, a partir de uma amostra de 51 sujeitos, os resultados da qualificação nos níveis
conhecimento e atitude. A pesquisa de campo utilizou metodologias que integraram a
abordagem quantitativa e qualitativa, com triangulação de disciplinas, teorias, métodos e
dados. Verificou-se que o treinamento oferecido pela Associação contribui no nível de
conhecimento, sendo este grupo avaliado após três anos de formados. O nível atitude, por não
ser verificado na prática, não foi avaliado em profundidade, mas trouxe resultados
importantes para a pesquisa. As contribuições dos grupos focais, cujo objetivo foi avaliar o
treinamento a partir da percepção dos participantes, aprofundaram e trouxeram elementos
importantes para construção da avaliação. Resultados foram encontrados no nível de
habilidades interpessoais, mesmo não sendo foco do estudo. As conclusões da pesquisa
apresentam novos desafios para estudos na área.
Palavras-chave: Avaliação, Qualificação, Competências, Voluntariado, Humanização na
Saúde.
ABSTRACT
MATOS, Ana Cristina. Evaluation of the qualification results of story tellers in hospitals: the
case of the Associação Viva e DeixeViver in Salvador-Bahia. 2012. 193f. Dissertation
(Master’s Degree in Education)- Federal University of Bahia, Salvador, 2012.
There is growing concern about the training of volunteers who work without pay, for provide
public or private entities, as a form of humanitarian aid. Discussions about the qualification of
these individuals have gained new dimensions in Brazil and worldwide. This dissertation
presents the research on the results of the evaluation of the qualifications offered to
volunteers, by a nongovernmental entity which proposes more humanized hospital services –
the Associação Viva e Deixe Viver. The case study, restricted to the city of Salvador,
evaluated from a sample of 51 subjects, the results of their qualification levels in terms of
knowledge and attitude. The field research used a methodology which integrates quantitative
and qualitative approaches, with triangulation of disciplines, theories, methods and data. The
training, offered by the Association, was found to qualify the volunteer at the knowledge
level. This group was evaluated after three years of graduation. The attitude level, while not
being specifically verified in practice, has not been evaluated in depth, but has brought
important results for the research. The contributions of the focus groups, which aimed to
evaluate the training from the participants’ perceptions, deepened and brought important
elements for the construction of the evaluation. Some results were found for the interpersonal
level skills even though these were not focused in the study. The findings present new
challenges for further researches in the area
Keywords: Evaluation, Qualification, Skills, Volunteer, Humanization in Health.
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Exemplo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa no contexto escolar.... 20
Quadro 2 – Síntese das Concepções de Qualificação (Manfredi, 1998).................................. 36
Quadro 3 – Síntese das Principais Concepções sobre o Conceito de Qualificação................. 37
Quadro 4 – Modelo utilizado de escala de 7 pontos ..............................................................101
LISTA DE FIGURAS
Figura 1– Mapa conceitual das cinco primeiras dimensões da avaliação............................. 23
Figura 2 – Modelo de Avaliação Integrado e Somativo....................................................... 28
Figura 3 – Módulo Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver.................... 108
Figura 4 – Fundamentos Filosóficos do Voluntariado.......................................................... 109
Figura 5 – Planejamento Pessoal e Gestão do Tempo........................................................... 110
Figura 6 – Vivendo Positivamente......................................................................................... 110
Figura 7 – Ambientação Hospitalar..................................................................................... 112
Figura 8 – A Arte de Contar Histórias.................................................................................. 113
Figura 9 – Processo de Morrer e Morte................................................................................ 114
Figura 10 – Vivência Terapêutica.......................................................................................... 115
Figura 11 – Folclore Infantil.................................................................................................. 116
Figura 12 – Treinamento em Hospitais.................................................................................. 117
Figura 13 – Médias Gerais dos Módulos Avaliados.............................................................. 118
Figura 14 – Resultado da Questão de Correspondência dos Módulos Avaliados.............. 118
Figura 15 – O que você recomendaria que o Contador evitasse fazer no Hospital.............. 120
Figura 16 – Eu não faltaria à Contação de Histórias............................................................. 121
Figura 17 – Quando uma Contação de Histórias não saiu como o esperado........................ 122
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Número de Contadores formados em Salvador................................................... 89
Tabela 2 – Controle de Frequência da Atividade Voluntária................................................. 90
Tabela 3 – Evasão de Voluntários Contadores de Histórias.................................................. 99
Tabela 4 – Perfil de Atuação dos Voluntários Contadores de História................................ 105
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABRH Associação Brasileira de Recursos Humanos
APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CEBs Comunidades Eclesiais de Base
CHA Conhecimento, Habilidade e Atitude
CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
IAVE Association for Volunteer Effort
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
GTH Grupo de Trabalho em Humanização
LBA Legião Brasileira de Assistência
MAIS Modelo de Avaliação Integrado e Somativo
ONGs Organizações Não Governamentais
OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
PNH Política Nacional de Humanização
PNHAH Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar
SPSS Statistical Package for Social Sciences
SUS Sistema Único de Saúde
TD&E Treinamento, Desenvolvimento e Educação
VFI Volunteer Function Inventory
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 16
1 AVALIAÇÃO...................................................................................................................... 19
1.1 UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL DA AVALIAÇÃO................................................. 19
1.2 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EM TREINAMENTO............................................ 24
1.2.1 Avaliação de Resultados em Treinamento................................................................... 29
1.3 DISCUSSÕES ACERCA DO CONCEITO DA QUALIFICAÇÃO E DA
COMPETÊNCIA ................................................................................................................ 30
1.4 QUALIFICAÇÃO: REFLETINDO SOBRE A DIMENSÃO DO CONCEITO............. 34
1.5 COMPETÊNCIAS: REFLETINDO SOBRE A DIMENSÃO DO CONCEITO ............ 37
1.6 A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE A COMPETÊNCIA E A APRENDIZAGEM ..... 40
2 VOLUNTARIADO........................................................................................................... 42
2.1 CONCEITO E HISTÓRIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO..................................... 42
2.2 A IDEOLOGIA DA CULTURA MODERNA DO VOLUNTARIADO...................... 47
2.3 FACES DA SOLIDARIEDADE: ALTRUÍSMO E EGOÍSMO................................... 53
2.4 IDENTIDADE, MOTIVAÇÕES E BENEFÍCIOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO. 56
2.5 PROFISSIONALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO VOLUNTÁRIA.............. 59
2.6 VOLUNTARIADO NA SAÚDE: ESPECIFICIDADES................................................. 61
3 O HOSPITAL E O CONTEXTO DA HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE....................... 65
3.1 O AMBIENTE HOSPITALAR................................................................................ 65
3.2 HUMANIZAÇÃO E DESUMANIZAÇÃO NO CONTEXTO DA SAÚDE.......... 68
3.3 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO – PNH........................................... 73
3.4 A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E DO BRINCAR NO
CONTEXTO HOSPITALAR ................................................................................................. 77
4 DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO E MÉTODO................................................ 81
4.1 DESCRIÇÃO DO CASO............................................................................................. 81
4.1.1 Descrição do Caso em Nível Nacional.......................................................................... 81
4.1.2 Descrição do Caso realizado em Salvador-Bahia.......................................................... 86
4.1.2.1 Início das atividades da Associação Viva e Deixe Viver junto à Santa Casa......... 87
4.1.2.2 Descrição e Objetivos do Projeto Pedagógico avaliado em Salvador.................... 89
4.2 A DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA............... 93
4.2.1 Fontes e Dados.............................................................................................................. 96
4.2.2 Categorias e Subcategorias........................................................................................... 97
4.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA.......................................................................... .. 97
4.3.1 Caracterização e Escopo do Estudo.............................................................................. 98
4.3.2 Seleção e Caracterização da Amostra............................................................................ 99
4.3.3 Instrumentos e Medidas............................................................................................... 100
4.4 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS...........................................................................102
4.4.1 Coleta de Dados.............................................................................................................103
4.4.2 Registro..........................................................................................................................104
4.4.3 Análise de Dados...........................................................................................................104
5 RESULTADOS.............................................................................................................. 105
5.1 RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA............................................. 105
5.1.1 Características dos Sujeitos da Pesquisa...................................................................... 105
5.1.2 Nível Conhecimentos.................................................................................................. 107
5.1.2.1 Resultado geral de cada módulo avaliado............................................................. 117
5.1.2.2 Resultado da questão de correspondência............................................................. 118
5.1.3 Nível Atitude.......................................................................................................... 119
5.2 RESULTADOS PESQUISA QUALITATIVA.............................................................. 122
5.2.1 Análise das Questões Abertas do Questionário...................................................... 123
5.2.2 Análise do Grupo Focal........................................................................................ ..... 132
5.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS............................................................................. 15 7
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................... 163
REFERÊNCIAS................................................................................................................ 168
APÊNDICES ....................................................................................................................... 178
ANEXO................................................................................................................................. 193
16
INTRODUÇÃO
O trabalho voluntário, também denominado voluntariado, é o exercício de uma
atividade espontânea realizada por uma pessoa para beneficiar outras pessoas, grupos e
organizações, sem remuneração por tal prestação de serviço.
Voluntários são assim pessoas que, através da doação de suas potencialidades e
talentos, ajudam a uma causa social.
Há crescente preocupação com a capacitação de voluntários que prestam trabalho sem
remuneração em entidades públicas ou privadas em forma de ajuda humanitária. A discussão
sobre a qualificação desses sujeitos tem ganhado dimensões novas no Brasil e no mundo.
A profissionalização do trabalho voluntário é tema discutido a partir da década de 90,
e um dos instrumentos em nível mundial desta discussão foi a “Declaração Universal do
Voluntariado”, aprovada pela Association for Volunteer Effort (IAVE), em conferência
realizada na cidade de Paris, em 1990. Nela, aparecem ferramentas de gestão do trabalho
voluntário, e, como deveres da entidade que atua com voluntários, preconiza garantir
treinamento apropriado e fazer avaliação regular dos serviços por eles prestados.
O voluntariado, além de trazer satisfações para si, pode favorecer a instituição que o
promove. Especificamente no meio hospitalar, fortemente estruturado e cientificista, esse tipo
de contribuição incrementa a humanização dos cuidados.
O setor saúde tem como missão cuidar do mais precioso valor humano – a vida.
Segundo Moniz e Araújo (2006), é crucial pesquisar com maior profundidade o treinamento
oferecido aos voluntários, acompanhando e avaliando os programas de capacitação e
formação fornecidos no âmbito das instituições, especialmente no que concerne à saúde.
Esses autores ainda apontam uma questão muito importante trazida em pesquisas
sobre voluntariado na saúde: na sua maioria, os hospitais contam apenas com a própria
disposição e empenho dos indivíduos, que voluntariamente atuam sem preparo ou
acompanhamento, ao contrário do profissional da saúde, que pode se apoiar na formação e no
aparato técnico.
O voluntário necessita de qualificação e educação permanente para o seu
aprimoramento, neste caso específico, na área hospitalar, que requer, além de conhecimento
de sua atividade, atitudes diante de situações como perdas e mortes, presentes no hospital.
17
Este estudo teve como objetivo avaliar os resultados da qualificação oferecida a
voluntários, que são contadores de histórias, formados em uma Associação denominada Viva
e Deixe Viver, no Município de Salvador, Bahia.
Com a perspectiva de atuar em prol da humanização em hospitais, a Associação Viva
e Deixe Viver foi fundada em agosto de 1997, em São Paulo, e tem como missão promover
entretenimento, cultura e informação educacional através do estímulo à leitura e ao brincar.
Visa transformar a internação hospitalar de crianças e adolescentes em um momento mais
alegre e agradável, contribuindo positivamente para o bem-estar de seus familiares e equipe
multidisciplinar. Atualmente, a instituição se distribui em nove estados no Brasil, sendo a
pesquisa realizada no Município de Salvador, Bahia.
A instituição pesquisada é uma entidade sem fins lucrativos, não governamental,
certificada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP, conforme Lei no 9.790, de 23/03/1999.
Escolhida como caso, por ser uma instituição a trabalhar com voluntários de forma
profissionalizada no campo da saúde, já formou em Salvador, em parceria com a Santa Casa
de Misericórdia da Bahia, através do Hospital Santa Izabel, 155 voluntários contadores de
histórias desde 2007.
Esta dissertação teve a seguinte questão como problema de pesquisa : Um programa e
qualificação para voluntários contarem histórias em hospitais consegue desenvolver
competências requeridas para sua atuação no complexo ambiente hospitalar ?
A avaliação proposta nesta pesquisa privilegia a avaliação de resultados, sendo o
conhecimento e as atitudes, os níveis avaliados neste estudo.
A discussão de treinamento, qualificação e competência privilegiou neste estudo o
contexto da formação do trabalhador voluntário com a sua especificidade de atividade, que
não é em forma de emprego nem geradora de renda, mas se situa como trabalho. Assim, a
proposta é avaliar os resultados do treinamento que é oferecido aos voluntários para atuarem
em hospitais.
Este trabalho está dividido em seis partes: a primeira apresenta o referencial teórico
construído a partir da revisão de literatura de quatro grandes temas: Avaliação, Avaliação de
Treinamento, Qualificação e Competências; a segunda apresenta o referencial teórico sobre o
sujeito da pesquisa – o voluntário; a terceira discute o campo de práticas do voluntariado, o
hospital, e discute a Política de Humanização; a quarta parte apresenta o método, incluindo:
(a) descrição do caso; (b) delimitação do problema e os objetivos da pesquisa; (c) perguntas e
objetivos da pesquisa; (d) delineamento da pesquisa; (e) procedimentos operacionais.
18
A quinta parte apresenta e discute os resultados encontrados. Finalmente, na sexta
parte, são apresentadas as considerações finais, recomendações, contribuições e limitações da
pesquisa.
19
1 AVALIAÇÃO
1.1 UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL DA AVALIAÇÃO
Existem diversas abordagens que tratam sobre o que é avaliação. O conceito da
avaliação e a sua finalidade estão inter-relacionados.
De acordo com Lopes (2009), avaliação é uma atividade que consiste no levantamento
de informações fidedignas e precisas sobre um objeto ou processo para subsidiar uma tomada
de decisão com vistas à melhoria do objeto ou processo. Para esse autor, a avaliação comporta
três grandes momentos:
(a) o primeiro momento do diagnóstico, de busca de informações de qualidade, ou
seja, fidedignas e precisas;
(b) o segundo momento de julgamento, de tomada de decisão, em que as informações
previamente levantadas, organizadas e analisadas servirão de subsídio para uma tomada de
decisão com relação ao processo de avaliação;
(c) e, finalmente, faz parte ainda da avaliação, um terceiro momento que é o uso dessa
decisão no sentido de melhoria do processo.
Segundo Tenório (2010), o conceito de avaliação é uma construção eminentemente
social e histórica, que nasce gradativamente e tem-se consolidado nos últimos anos à medida
que as relações sociais se modificam.
A prática da avaliação, portanto, depende de fatores como: objetivos da pesquisa,
perfil de quem avalia interesses institucionais e, principalmente, os pressupostos que norteiam
o trabalho.
Para Oskamp (1981), há dois grandes tipos de avaliação: a avaliação formativa e a
somativa.
A avaliação formativa analisa programas em seus vários estágios, focalizando o
processo no qual eles operam e produzindo um retorno para ajudar a desenvolver sua
operação. A pesquisa formativa é, frequentemente, menos elaborada do que a avaliação feita
posteriormente e menos preocupada com delineamentos de rigor científico e com a
significância estatística.
Já a avaliação somativa é aplicada em um estágio posterior à avaliação, analisa,
principalmente, os resultados do programa e inclui monitoração de operações, avaliação de
impacto e análise de eficiência. Por se deter nos resultados, a avaliação somativa busca a
20
verificação e não a descoberta, ou seja, centra-se claramente na verificação do quanto o
programa cumpriu seus objetivos e que outros efeitos ele gerou.
Gouveia (2006), afirma que, de modo a contemplarmos todos os objetivos, funções,
efeitos e momentos dos diferentes tipos de avaliação, deveremos ainda fazer referência a
outro propósito possível da avaliação – o diagnóstico.
A consideração desta função avaliativa acaba por fazer com que a avaliação atravesse
todo o processo formativo:
(a) no primeiro nível, interpretando os dados da situação (diagnóstico);
(b) no segundo nível, acompanhando e corrigindo os processos de elaboração
(regulação);
(c) no terceiro nível, averiguando o alcance dos objetivos definidos (classificação).
Num dado contexto de aprendizagem escolar, pôde-se exemplificar a avaliação
diagnóstica, formativa e somativa a partir do quadro abaixo:
Quadro 1 – Exemplo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa no contexto escolar.
DIAGNÓSTICA FORMATIVA SOMATIVA
Objetivo
Saber se, em dado momento,
os alunos dispõem ou não
dos conhecimentos e
capacidades necessárias para
enfrentar uma aprendizagem
Objetivo
Regular e proporcionar um
duplo feedback (professor e
aluno)
Objetivo
Fornecer um balanço de
determinada etapa, permitir
uma decisão quanto ao
futuro escolar
Momento
– No início
Momento
– Durante todo o processo
de aprendizagem
Momento
– No final
Função
– Prognóstico
Função
– Regulação
Função
– Atribuição de uma
classificação (situa os
alunos uns em relação aos
outros)
Fonte: GOUVEIA (2006, p.79). Portugal. Jan. 2006.
21
A avaliação comporta, portanto, diferentes objetivos e funções e será discutida
historicamente neste capítulo, ainda que sucintamente.
Segundo Tenório (2010), a avaliação emerge nos primeiros anos do século XX e vai
adquirindo diferentes conformações ao longo deste último século. Existem dimensões da
avaliação que correspondem a elementos constitutivos da ideia contemporânea de avaliação e
que foram reconhecidas paulatinamente, estando cada dimensão relacionada a um momento
histórico, o que torna possível falar em quatro dimensões da avaliação: medida, objetivo,
julgamento e negociação.
Irei recorrer ainda a esse autor para examinar o surgimento, ao longo da história, das
cinco dimensões que constituem uma definição da avaliação:
Inicialmente, a primeira geração de avaliadores no início do século XX,
primeiro momento de reflexão sistemática sobre avaliação, considerou que
avaliar era medir; o papel do avaliador era o de quantificar, estabelecer
medida, de aplicar testes, e, portanto, nessa primeira concepção de avaliação
praticamente a avaliação se identificava com o diagnóstico quantitativo,
como a atividade de medida da realidade.
Este tipo de avaliação foi insuficiente, pois a avaliação deve considerar os
objetivos do processo e verificar se aqueles objetivos estão sendo atingidos –
sendo esta uma reflexão elaborada pela segunda geração de avaliadores, já
na década de cinqüenta, que avançou na compreensão da avaliação
entendendo – a como sendo uma verificação da adequação ou não dos
objetivos previamente estabelecidos no processo.
Desta forma, a avaliação deixava de ser simplesmente um diagnóstico
quantitativo, uma medida, para ser também uma análise qualitativa da
consecução dos objetivos do processo avaliado. No conjunto, avaliar
significava diagnosticar o objeto, qualitativa e quantitativamente, verificando
os objetivos e analisando o grau de consecução destes objetivos. Nesta
concepção de avaliação, como diagnóstico, a avaliação se assemelha
fortemente à pesquisa, e o papel do avaliador se aproxima do papel do
pesquisador.
Isto se revelou posteriormente insuficiente, e já nos anos setenta, a idéia de
que na avaliação era preciso tomar uma decisão com base no diagnóstico
(considerando os objetivos e suas medidas) tomou conta da nova geração de
avaliadores e passou-se a ter uma idéia de avaliação mais rica, em que o
julgamento, como forma de tomada de decisão, passou a ser essencial. O
avaliador passa a ter uma função adicional semelhante à do juiz, que julga e
decide com base nas evidências. (TENÓRIO, 2010, p.17-18).
Durante a década de 60, afirmam Tenório e Lopes (2010), surge um tipo de avaliação
que põe em evidência a preocupação com a resolução de problemas sociais mais relevantes e
a aplicação de métodos com rigor científico.
22
De acordo com Calmon (apud TENÓRIO; LOPES, 2010), os trabalhos de Michael
Sriven e Donald Campbell destacam-se por trazer contribuições marcantes: uma tipologia
para a teoria de avaliação, introduzindo a distinção entre avaliação formativa, com o objetivo
de gerar feedback para a melhoria do programa, e avaliação somativa, objetivando o
julgamento do mérito do programa.
Mais recentemente, nos anos noventa, a ideia de que essa tripla concepção de medir,
verificar objetivos e julgar era inadequada, colocou em consideração a ideia de negociação
como elemento inerente à avaliação.
O modelo, com base na metáfora do avaliador como juiz que detém o poder extremado
na avaliação, é criticado por não atender a interesses dos avaliados.
A demanda social colocada pela sociedade contemporânea é que os envolvidos no
processo devem participar, tanto na definição da avaliação, quanto das etapas de diagnóstico,
da tomada de decisão, bem como do uso dos seus resultados.
Segundo Roche (2002), os projetos não podem ser julgados como tendo sido um
“sucesso” ou “fracasso”, se as percepções daqueles que a intervenção pretende beneficiar,
divergem drasticamente dos funcionários do projeto ou de um avaliador externo. Valorizar a
sabedoria e o julgamento das pessoas comuns é, portanto, um elemento crítico de qualquer
processo de avaliação.
Na proposta de construção de um significado atual de avaliação, Tenório (2010)
propõe que interessados pela avaliação participem também da melhoria do processo proposto.
A essa quarta dimensão, adiciona uma quinta, de avaliação, que conforma a ideia da avaliação
como envolvimento, comprometimento. Tanto o avaliador como interessados passam a ter
compromisso com a melhoria do objeto ou processo avaliado.
O mapa conceitual dessas cinco dimensões proposto por Tenório (2010, p.19) inclui a
dimensão do compromisso, sendo um aspecto social da avaliação:
23
Figura 1 – Mapa conceitual das cinco primeiras dimensões da avaliação.
Fonte: TENÓRIO (2010, p.19).
No mapa da Figura 1, pode-se observar o triplo caráter da avaliação: avaliação é, ao
mesmo tempo, (1) pesquisa (aspecto técnico da avaliação); (2) gestão (aspecto político da
avaliação); e (3) compromisso com a sustentabilidade (aspecto social da avaliação).
As avaliações podem analisar organizações, funções, procedimentos, políticas,
projetos, etc. Segundo Araújo (2005), avaliar é atribuir valor, e, por mais objetivados que
sejam os métodos avaliatórios, os valores atribuídos carregam, em si, a subjetividade do
avaliador.
É premente considerar a participação dos atores e, principalmente, dos usuários, na
avaliação. De fato, essa é uma questão que precisa ser considerada, porque, em última
instância, os programas são desenhados em função de seus beneficiários.
Uma investigação que pretenda desvendar um objeto de natureza qualitativa
deve, obrigatoriamente, prever a utilização de uma estratégia que permita a
apreensão dos sentidos dos fenômenos, e, ao mesmo tempo, respeite sua
complexidade, riqueza e profundidade. (UCHIMURA; BOSI, 2002.
p.1.568).
As metodologias quantitativas e qualitativas são importantes na construção da
avaliação, e uma não substitui a outra, sendo na maioria das vezes complementares.
ASPECTO TÉCNICO DA
AVALIAÇÃO
INTELIGÊNCIA:
A busca da verdade VONTADE:
Capacidade de tomar decisões
AMOR:
Capacidade de
reconhecer o outro
DIAGNÓSTICO TOMADA DE DECISÃO
MELHORIA DE
PROCESSO
DISTANCIAMENTO APROXIMAÇÃO
MEDIDA
(QUANTITITIVA)
OBJETIVOS
(QUALITATIVA)
JULGAMENTO
(DECISÃO INDIVIDUAL)
NEGOCIAÇÃO
(DECISÃO COLETIVA) COMPROMISSO
1ª
dimensão
2ª
dimensão
3ª
dimensão
4ª
dimensão
5ª
dimensão
ASPECTO POLÍTICO DA
AVALIAÇÃO
ASPECTO SOCIAL
DA AVALIAÇÃO
24
1.2 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EM TREINAMENTO
Antes de conceituar e apresentar a avaliação, é importante fazer a distinção de
conceitos importantes que envolvem o estudo da área. Para tanto, irei utilizar como referência
as bases conceituais desenvolvidas na área de Treinamento, Desenvolvimento e Educação –
TD & E, que diferenciam informação, instrução, treinamento, desenvolvimento e educação.
Segundo Vargas e Abbad (2006), informação é uma forma de indução de
aprendizagem, podendo ser definida como módulos ou unidades organizados de conteúdo,
disponibilizados em diferentes meios, com ênfase nas novas tecnologias da informação. Pode-
se dar, por exemplo, por meio de portais corporativos, links, bibliotecas virtuais, boletins,
folhetos e similares.
Já instrução pode ser definida como uma forma mais simples de estruturação de
eventos de aprendizagem, que envolve definição de objetivos e aplicação de procedimentos
instrucionais. É utilizada para transmissão de conhecimentos, habilidades e atitudes simples
por intermédio de eventos de curta duração, como aulas e similares. Os materiais podem
assumir a forma de cartilhas, manuais, roteiros, etc., podendo em alguns casos, ser
autoinstrucionais.
O treinamento, segundo esses autores, já é um conceito que comporta várias definições
na literatura, embora inúmeras destas possuam coerência entre si. A definição de Goldstein
(1991, apud VARGAS; ABBAD, 2006) é que treinamento é uma aquisição sistemática de
atitudes, conceitos, conhecimento, regras e habilidades que resultem na melhoria do
desempenho do trabalho.
Outra definição importante é trazida pelo United Kingdom Department of
Employment (1971, apud LATHAM, 1988), que se refere a treinamento como o
desenvolvimento sistemático de padrões de comportamento, atitudes, conhecimentos-
habilidades, requeridos por um indivíduo, de forma a desempenhar adequadamente uma dada
tarefa ou trabalho.
Segundo Nadler (1984, apud VARGAS; ABBBAD, 2006), a expressão
desenvolvimento tem uma única e identificada função: refere-se à promoção de aprendizagem
para empregados (ou não), visando ajudar a organização no alcance dos seus objetivos. É uma
aprendizagem voltada para o crescimento individual, sem relação com um trabalho específico.
25
A definição de educação aplicada ao contexto do trabalho, segundo ainda esse autor, é
uma aprendizagem para preparar o indivíduo para um indivíduo para um trabalho diferente,
porém identificado, em um futuro próximo.
Vargas e Abbad (2006) propõem alguns exemplos de ações educacionais que podem
estar associados a cada um dos diferentes tipos de conceito:
(a) Informação: módulos ou unidades organizadas de informações e conhecimentos,
disponibilizados em diferentes meios (portais, links, textos impressos, bibliotecas virtuais,
banco de dados, materiais de apoio a aulas, folhetos e similares;
(b) Instrução: forma mais simples de estruturação de eventos de aprendizagem, que
envolve definição de objetivos e aplicação de procedimentos instrucionais. É utilizada para
transmissão de conhecimentos, habilidades e atitudes simples e fáceis de transmitir ou
desenvolver por intermédio de eventos de curta duração. Os materiais assumem a forma de
cartilhas, manuais, roteiros, aulas e similares, podendo, em alguns casos, ser
autoinstrucionais;
(c) Treinamento: eventos educacionais de curta e média duração, compostos por
subsistemas de avaliação de necessidades, planejamento instrucional e avaliação, que visam
melhoria do desempenho funcional, por meio da criação de situações que facilitem a
aquisição, a retenção e a transferência da aprendizagem para o trabalho. A documentação
completa de um evento educacional dessa natureza contém a programação de atividades,
textos, exercícios, provas, referências e outros recursos;
(d) Desenvolvimento: refere-se ao conjunto de experiências e oportunidades de
aprendizagens, proporcionadas pela organização e que apoiam o crescimento pessoal do
empregado sem, contudo, utilizar estratégias para direcioná-lo a um caminho profissional
específico. Gera situações similares aos demais tipos de ações educacionais, porém, neste
caso, constituem-se apenas em ferramentas de apoio e estímulo a programas de
autodesenvolvimento como os de qualidade de vida e gestão de carreira;
(e) Educação: programas ou conjuntos de eventos educacionais de média e longa
duração que visam a formação e qualificação profissional contínuas dos empregados. Incluem
cursos técnicos profissionalizantes, cursos de graduação, cursos de pós-graduação lato sensu
(especialização) e stricto sensu (mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado)
As avaliações de Programas de formação não são iguais. Segundo Mourão e Palácios
(2006), existem não apenas uma variação em relação ao conteúdo do programa a ser avaliado
(que, por vezes, demanda dos avaliadores um conhecimento específico da área), como
também uma variação em relação aos tipos de avaliação. Assim, os avaliadores necessitam
26
conhecer os tipos de avaliação e identificar o mais indicado para aquele determinado
programa de formação profissional.
Para Mourão (2004), a avaliação é um processo que necessariamente inclui algum tipo
de coleta sistemática de dados.
Essas definições mostram que não se trata apenas de um evento isolado, mas do estudo
de um fenômeno complexo.
Panceri (2007, p. 54) afirma que a avaliação consiste em verificar se a formação está
dando resultados. A formação só tem sentido se forem levados em conta os seus resultados e
“[...] para ultrapassar esta questão, é necessário saber colocar o problema, sabendo o que se
quer avaliar, por que e em que condições esta avaliação é realizável”. Outro aspecto relevante
para autora é a utilidade: a quem servem os resultados da avaliação e a que se destinam?
Interrogar-se sobre os efeitos da formação pressupõe que se tenham previamente definidas
tais questões.
Borges-Andrade (2002) define avaliação de treinamento como um processo que inclui
sempre algum tipo de coleta de dados, usado para se emitir um juízo de valor a respeito de um
treinamento, ou um conjunto de treinamentos.
Para Goldstein (apud MOURÃO, 2004), avaliação é a coleção sistemática de
informações descritivas e de julgamento, necessárias para tornar efetivas as decisões de
treinamento relativas a seleção, adoção, valor e modificação de várias atividades
instrucionais, compreendendo medidas relativas ao que acontece durante o treinamento
(avaliação de processo) e medidas relativas aos resultados posteriores ao treinamento. Medir
resultados refere-se a critérios, tais como aprendizagem e performance, que representam
vários graus de resultados.
Sobre avaliação de treinamentos, é possível afirmar, segundo Panceri (2007), que
houve uma profissionalização, no sentido de que foram criados modelos com propostas de
procedimentos e métodos, assim como critérios próprios para avaliar treinamento.
Existem, segundo Mourão (2004), dois modelos de avaliação de treinamento que são
internacionalmente conhecidos e usados: o de Kirkpatrick (1976) e o de Hamblin (1978). O
de Kirkpatrick sugere quatro níveis de avaliação: reações, aprendizagem, desempenho no
cargo e resultados, enquanto o de Hamblin subdivide resultados em mudança organizacional e
valor final. Ambos os autores avaliaram que esses níveis mantêm entre si um forte
relacionamento positivo.
O modelo de Kirkpatrick possui quatro níveis:
(a) Avaliação de reação (nível 1): mede a satisfação dos participantes;
27
(b) Avaliação de aprendizagem (nível 2): avalia conhecimentos, habilidades e atitudes
advindos pela ação da formação. O aprendizado é relativo à captação, pelos cursistas, de
significados, princípios, fatos e técnicas;
(c) Avaliação de Comportamento (nível 3): avalia a transferência das aquisições do
treinamento para situações de trabalho. A diferença deste nível para o segundo é que um foca
na aprendizagem e outro no comportamento, na aplicação dos princípios e técnicas no
trabalho;
(d) Avaliação de Resultados (nível 4): neste modelo de Kirkpatrick, a avaliação de
resultados diz respeito a resultados finais do programa, sendo considerado o nível mais
importante e difícil de todos.
Já o modelo de Hamblin propõe uma avaliação de treinamento em cinco níveis:
(a) Reação: que levanta atitudes e opiniões dos treinandos sobre os diversos aspectos
do treinamento (satisfação);
(b) Aprendizagem: que verifica se ocorreram diferenças entre o que os treinandos
sabiam antes e depois do treinamento, ou se os seus objetivos instrucionais foram alcançados;
(c) Comportamento no cargo: que leva em conta o desempenho dos indivíduos antes e
depois do treinamento, ou se houve transferência para o trabalho efetivamente realizado;
(d) Organização: que toma como critério de avaliação o funcionamento da
organização, ou mudanças que nela possam ter ocorrido em decorrência do treinamento;
(e) Valor final: que tem como foco a produção ou o serviço prestado pela organização,
o que geralmente implica comparar custos do treinamento com os seus benefícios.
No Brasil, Borges-Andrade (2002) construiu um Modelo de Avaliação Integrado e
Somativo – MAIS, representado pela Figura 2, que tem sido amplamente utilizado. O modelo
sugere que uma avaliação deve levar em conta múltiplas variáveis classificadas em cinco
componentes: insumos, procedimentos, processos, resultados e ambiente, este último com
quatro subcomponentes. O autor explica que há maior probabilidade de existirem relações de
dependência entre os componentes e subcomponentes que são vizinhos (separados por linhas
contínuas ou pontilhadas), principalmente no sentido esquerda-direita.
28
Figura 2 – Modelo de Avaliação Integrado e Somativo.
Fonte: Borges-Andrade (1982, p.33)
Borges-Andrade (2002) apresenta as seguintes definições para os cinco componentes
do modelo: (a) insumos – no referido modelo, são definidos como os fatores físicos e sociais e
estados comportamentais, geralmente associados ao treinando, anteriores ao treinamento e
que podem afetar sua realização (ex.: experiências anteriores na organização e motivação
antes do treinamento); (b) procedimentos – são as operações realizadas para produzir os
resultados instrucionais, geralmente controladas pelo instrutor ou por algum meio de entrega
da instrução (ex.: sequência de objetivos, exercícios realizados, retroalimentação recebida
pelo treinando); (c) processos – são definidos como as ocorrências resultantes da realização
dos procedimentos e geralmente associadas a desempenhos intermediários dos treinandos,
mas podendo predizer resultados finais (ex.: relações interpessoais desenvolvidas no
treinamento); (d) resultados – outro componente do MAIS se refere ao que foi aprendido
pelos treinandos ou por eles alcançado ao final do treinamento (ex.: qualquer habilidade
adquirida ou atitude desenvolvida); (e) ambiente – dividido em quatro subcomponentes:
necessidades, apoio, disseminação e resultados em longo prazo.
O objetivo de trazer alguns modelos de avaliação em treinamento é discutir um dos
níveis que interessa a este trabalho: Avaliação de Resultados em Treinamento.
29
1.2.1 Avaliação de Resultados em Treinamento
Em diversos modelos de avaliação de treinamento, os resultados, referem-se a um dos
seus principais focos de interesse.
As variáveis relativas a resultados, segundo Borges-Andrade (2006), indicam o
primeiro sucesso ou fracasso de um programa e correspondem aos dois primeiros níveis de
indicadores de efetividade de modelos, como os de Kirckpatrick (1976) e Hamblin (1978).
Essas variáveis se referem ao desempenho final imediato pretendido ou às
consequências inesperadas (desejáveis ou indesejáveis) de um treinamento. Exemplos de
variáveis de resultados são as aquisições de CHAs – Conhecimento, Habilidade e Atitude,
indicadas pelos objetivos de um programa. (BORGES-ANDRADE, 2006).
Segundo Morrinson (1977, apud MAGALHÃES; BORGES–ANDRADE, 2001), esse
conjunto de competências podem ser assim descritos:
(a) Conhecimento: refere-se a um corpo organizado de informações de natureza
técnica ou administrativa, o qual, se aplicado, faz com que o desempenho adequado do
trabalho seja possível;
(b) Habilidades: refere-se à capacidade de desempenhar operações de trabalho com
facilidade e precisão. As especificidades das habilidades normalmente implicam um padrão
de desempenho requerido para operações efetivas do trabalho;
(c) Atitude: é a predisposição do indivíduo que se manifesta verbalmente ou não,
assumindo caráter de favorabilidade ou desfavorabilidade em relação a um objeto, pessoa ou
fato, ou denota sentimentos do trabalhador a respeito do que ele faz ou sobre a organização
em que trabalha ou alguma pessoa competente.
Essa definição é a mais usada pelos teóricos da Psicologia Instrucional, bem como
pelos profissionais que adotam este tipo de enfoque para planejar o ensino em situações
educacionais e de treinamento para o trabalho.
Em uma avaliação, as variáveis referentes a resultados podem ser hipotetizadas como
consequências de quase todos os demais componentes do MAIS: necessidades, insumos,
procedimentos, processos, apoio e disseminação, podendo ser preditoras dos efeitos em longo
prazo. Segundo Borges Andrade (2006), se um participante adquire competências, é provável
que utilize o que aprendeu no ambiente de trabalho, a menos que algum elemento do
componente ambiente impeça que isto aconteça.
30
Apesar de esta pesquisa não adotar nenhum modelo de avaliação na íntegra, o modelo
MAIS, contribuiu para sua formulação em avaliação de treinamento. A seguir, serão
discutidos os conceitos de qualificação e competências, que, a partir deste ponto, serão
fundamentais na construção deste trabalho.
1.3 DISCUSSÕES ACERCA DO CONCEITO DA QUALIFICAÇÃO E DA
COMPETÊNCIA
Segundo Bastos (2006), no âmbito da sociologia e da pedagogia, há uma intensa
problematização em torno dos conceitos de qualificação e competência. Mais
especificamente, no campo da sociologia do trabalho e na sua interface com a educação, há
uma larga tradição do uso do conceito da qualificação para investigar os impactos das
transformações tecnológicas.
Esse autor afirma que há posicionamentos extremamente críticos que reduzem todo
esse movimento a estratégias de ampliar o controle e a exploração dos trabalhadores.
É no cenário mundial e nacional, marcado por crises nos contextos de trabalho e
educação, que se situa a discussão sobre qualificação e competências. Segundo Druck (2001),
no caso brasileiro, o debate acerca da necessidade de qualificar a força de trabalho tomou
conta de todos os setores da sociedade – instituições governamentais/oficiais, ONG’s –
Organizações Não Governamentais, sindicatos, empresas, universidades – enfim, a
qualificação tem sido colocada como a grande solução para os problemas de desemprego e
subemprego no Brasil.
Ainda segundo essa autora (2001), no campo da produção teórica, há uma longa
trajetória de diferentes concepções sobre qualificação nas diversas áreas das ciências
humanas, constituindo uma ampla literatura estrangeira e nacional, que tem seu início nos
anos 50/60. Estas noções diferentes em geral estão associadas às concepções de
desenvolvimento socioeconômico ou de proposições de modelos de desenvolvimento que se
tornam hegemônicos numa determinada época.
Segundo Manfredi (1999), o modelo de qualificação formal tornou-se hegemônico,
vinculado à ideia de escolaridade, passando a ser um indicador de desenvolvimento
econômico e até mesmo transformado em índice estatístico utilizado por agência de
planejamento para avaliação e propostas de políticas educacionais.
31
Antoniazzi (2005) assim descreve as noções de qualificação:
(a) como sinônimo da preparação de “capital humano”, nascendo associada à
concepção de desenvolvimento socioeconômico dos anos 50 e 60, da necessidade de planejar
e racionalizar os investimentos do Estado no que diz respeito à educação escolar, visando, no
nível macro, garantir uma maior adequação entre as demandas dos sistemas ocupacionais e do
sistema educacional. Os principais teóricos da Teoria do Capital Humano, Schultz e Harbison,
defendem a importância da instrução e do progresso do conhecimento como ingredientes
fundamentais para a formação do chamado capital humano, de recursos humanos – solução
para a escassez de pessoas possuidoras de habilidades-chave para atuarem nos setores em
processo de modernização.
Ainda, a teoria do capital humano buscava apagar a diferença entre capital e trabalho,
mascarando as contradições de classe, igualando “a categoria de capital à capacidade dos
indivíduos ‘potencializada’ com educação ou treinamento” (ANTONIAZZI, 2005, p.06).
(b) “qualificação formal” – gestada e referenciada pela capacidade de cada Estado
Nacional expandir quantitativamente e qualitativamente seus sistemas escolares, restringindo-
se ao binômio emprego/educação escolar.
Embora a qualificação profissional estivesse presente nas pesquisas de Sociologia do
Trabalho e na Economia da Educação, foi somente nos anos subsequentes ao movimento
estudantil de 1968 que se multiplicaram estudos ligando educação e trabalho do ponto de vista
das Ciências Sociais, estabelecendo-se um entrelaçamento mais claro entre Sociologia do
Trabalho e Sociologia da Educação (PAIVA, 1999, apud ANTONIAZZI, 2005).
Foi Paiva (1999, apud ANTONIAZZI, 2005) que trouxe a discussão entre trabalho e
educação, mas o impulso significativo foi dado ao tema da qualificação profissional da
Sociologia do Trabalho, a partir do campo educacional, em meados dos anos 90 do século
passado.
A noção de qualificação, como ressalta Antoniazzi (2005), é polissêmica, podendo ser
assumida com várias acepções e tomada, para efeitos de pesquisa, sob ângulos e enfoques
distintos. A qualificação para alguns é considerada na perspectiva da preparação para o
mercado de trabalho, que envolve um processo de formação profissional adquirido por um
percurso escolar e através da experiência profissional. Outros entendem a qualificação como
um processo de qualificação/desqualificação, próprio da organização capitalista do trabalho.
Segundo essa autora, uma terceira visão aborda e define a qualificação a partir da
investigação de situações concretas de trabalho, chamada de qualificação real e operacional. É
uma visão que se origina na sociologia do trabalho francesa.
32
A década de 90, como afirma Druck (2001), primou pela epidemia da qualificação.
Governo, ONGs, sindicatos, empresas estatais, Sistema “S”, universidades, fundações, todos
se envolveram com a qualificação do trabalhador, que passou a ser a grande mágica para a
solução do desemprego e do subemprego, agora com uma nova roupagem.
Segundo uma pesquisa realizada por Leite (1996, apud MANFREDI, 1999, 30),
parece haver certo consenso quanto à noção de qualificação:
A capacidade de mobilizar saberes para dominar situações concretas de
trabalho e transpor experiências adquiridas de uma situação concreta a outra.
A qualificação de um indivíduo é sua capacidade de resolver rápido e bem os
problemas concretos mais ou menos complexos que surgem no exercício de
sua atividade profissional.
Ainda segundo essa autora, o exercício dessa capacidade mencionada acima implicaria
a mobilização de competências adquiridas ou construídas mediante aprendizagem, no decurso
da vida ativa, tanto em situações de trabalho como fora deste.
Assim, a discussão se concentra sobre a polêmica substituição da noção de
qualificação pela de competência, que trata das habilidades que o trabalhador deve adquirir,
como capacidade de agir, decidir em diferentes situações, intervir, saber fazer, tendo como
referência sempre o indivíduo e não mais o posto de trabalho.
A qualificação é um conceito central na relação trabalho-educação, de natureza ampla,
e incorpora desde a ideia de qualificação para o trabalho, até o de se estar socialmente
qualificado para este. O conceito de qualificação possui, portanto, a dimensão: conceitual,
social e instrumental.
A dimensão conceitual é expressa pela existência de uma certificação; a dimensão
social é expressa pelo conjunto de direitos advindos do processo de certificação e, por fim, a
dimensão instrumental se processa no ato do trabalho onde a subjetividade do trabalhador é
referida.
Nesse entendimento, o termo competências inscreve-se como uma sobrevalorização da
dimensão instrumental da qualificação, a partir da subjetividade do trabalhador no processo de
trabalho, e enfraquece as duas dimensões centrais no conceito de qualificação (conceitual e
social) ao reafirmar apenas uma.
Embora seja um conceito impreciso, a noção de “competência” ganhou, gradualmente,
ascendência no mundo produtivo porque conta com a vantagem de ter nascido no âmbito da
empresa e de estar centrada nos novos atributos pessoais e profissionais do trabalhador. Além
33
disso, recupera uma dimensão pouco estudada dos processos de qualificação – a dimensão
subjetiva do trabalho, isto é, sem mediações a um sujeito e a uma subjetividade (HIRATA,
1998, apud ANTONIAZZI, 2005, p.12).
A competência, segundo Araújo (1999), não está necessariamente ligada à formação
inicial. Ela pode ser adquirida em empregos anteriores, em estágios de formação, em
atividades fora da profissão e familiares. É tratada como uma característica individual e pode
ser apresentada como capacidade real de trabalho.
No rastro da competência, ganham evidências, segundo esse autor, termos que
procuram qualificar os saberes, e destacam-se o saber-fazer e o saber-ser.
O saber fazer está ligado, portanto, ao saber instrumentalizado, operacionalizado, e o
saber-ser associa-se à subjetividade humana, e que mobiliza conteúdos pessoais e internos na
solução de problemas e diante de situações diversas de trabalho.
Segundo Araújo (1999), sob a lógica das competências, procura-se mobilizar, na
produção, o trabalhador em todas as suas dimensões – intelecto, força física, emoções,
atitudes, habilidades, etc.
O então chamado “modelo de competência” tem-se difundido pela Europa e também
chegou ao nosso país. Conforme Manfredi (1999, p.29-30):
No Brasil, a noção de competência, apesar de já ser conhecida no âmbito das
ciências humanas (notadamente no campo das ciências da cognição e da
lingüística) desde os anos 70, passa a ser incorporada nos discursos dos
empresários, dos técnicos dos órgãos públicos que lidam com o trabalho e
por alguns cientistas sociais, como se fosse uma decorrência natural e
imanente ao processo de transformação na base material do trabalho. [...] No
discurso dos empresários há uma tendência a defini-la menos como “estoque
de conhecimentos/habilidades”, mas, sobretudo como capacidade de agir,
intervir, decidir em situações nem sempre previstas ou previsíveis.
No modelo de competências, a aprendizagem está voltada para a ação, e a sua
avaliação seria pautada nos resultados observáveis. A competência é a capacidade de resolver
um problema em uma situação dada.
A noção de competência na literatura em termos gerais, segundo Tanguy (apud
MOTTA, BUSS; NUNES, 2001), é que:
[...] competências é a capacidade de articular e mobilizar conhecimentos,
habilidades e atitudes, colocando-os em ação para resolver problemas e
enfrentar situações de imprevisibilidade em uma dada situação concreta de
trabalho e em um determinado contexto cultural.
34
Deluiz (apud MOTTA, BUSS; NUNES, 2001) amplia o leque de novas competências
requeridas ao trabalhador para além da dimensão cognitiva, intelectual e técnica,
incorporando aquelas de natureza organizacional ou metódica, comunicativas,
comportamentais, sociais e políticas.
Segundo Bastos (2006), os conceitos de qualificação e de competência se ajustam,
portanto, a dois contextos ou momentos distintos do mundo do trabalho. O primeiro reporta-
se a um mundo com a atividade econômica mais estável, concorrência limitada, emprego
formal, força das entidades sindicais e um modelo de organização do trabalho fundado em
cargos definidos com tarefas prescritas e programadas.
Ainda para esse autor, são opostas as características que marcam o momento atual no
qual emerge e ganha força a noção de competências. Sem dúvida, no entanto, os processos de
regulação do trabalho, a partir do modelo de competências, natureza do contrato e políticas de
remuneração e benefícios, enfrentam dificuldades técnicas e políticas que dificultam a sua
efetiva implementação nas organizações imersas numa cultura – nacional e/ou organizacional
– mais coletivista. No entanto, quando se trata dos processos de organização do trabalho
(definição de postos) e de preparação dos indivíduos para desempenhá-lo (as ações de
TD&E), o conceito de competência se mostra muito mais apropriado e não enfrenta as
resistências que seu uso mais ampliado suscita.
1.4 QUALIFICAÇÃO: REFLETINDO SOBRE A DIMENSÃO DO CONCEITO
Como existe, na grande maioria dos conceitos científicos nas ciências
sociocomportamentais, uma enorme variedade na forma de se definir e trabalhar com o
conceito de qualificação, irei recorrer a Bastos (2006) para discutir o conceito nas suas
dimensões:
Em Marx, “[...] o conceito de qualificação é tomado enquanto um conjunto de
condições físicas e mentais que compõe a capacidade ou a força de trabalho despendida em
atividades voltadas para a produção de valores de uso” (MACHADO,1994, p.9).
Na sociologia do trabalho francesa, surge o interesse investigativo sobre qualificação
profissional, e George Friedman, nos anos 40 e 50, se ocupou em seus trabalhos empíricos
com o conteúdo da qualificação. Nestes termos, a noção de qualificação aparece associada à
complexidade da tarefa e ao domínio requerido de saberes para executá-las. Friedman tomava
35
a qualificação como a qualidade do trabalho e o tempo de formação necessário para realizá-la.
Tal perspectiva é considerada como “substancialista” ou “essencialista”
Aqui, segundo Bastos (2006, p.29), a qualificação vincula de forma bastante direta o
desenvolvimento tecnológico ao conjunto de habilidades e conhecimentos para lidar com esse
desenvolvimento. Há, portanto, a qualificação do trabalho (o seu conteúdo) e uma
qualificação do trabalhador (o domínio de saberes necessários para executar o trabalho)
Outro nome importante é Pierre Naville, cujas pesquisas são fundantes para outra
matriz interpretativa do fenômeno da qualificação profissional – a matriz “relativista”. Por
essa concepção, “[...] a qualificação não se reduz ao conteúdo do trabalho por envolver uma
relação complexa entre as operações técnicas e a estimativa de seu valor social” (DUBAR
apud BASTOS, 2006, p.29).
A resposta ao conceito de qualificação requer uma perspectiva histórica que leve em
consideração a diversidade de condições sociais, econômicas e políticas em diferentes
momentos do tempo: diferentes sociedades terão, em diferentes épocas, critérios distintos para
definir o que é um trabalho qualificado. Bastos (2006) conclui que a qualificação não é uma
“coisa” ou um atributo que possa ser descrito em sua essência, não se podendo tomar a
qualidade do trabalho como determinante da qualificação.
Além da vertente sociológica francesa, Manfredi (apud BASTOS, 2006), apresenta
outras perspectivas na sua análise dos significados, que têm sido atribuídas às noções de
qualificação e competência, no âmbito de vários domínios disciplinares.
Traçado o quadro geral abaixo, Manfredi (1998) termina opondo uma visão marxista
às demais, ao afirmar que a questão da qualificação pode ser vista por dois eixos:
(a) a qualificação como preparação para o mercado de trabalho, envolvendo um
processo de formação profissional, um percurso escolar e de experiência que permite a
inserção e manutenção no mercado;
(b) a qualificação como um processo de desqualificação-qualificação, que resulta da
relação social entre capital e trabalho.
A essas duas vertentes, a autora acrescenta a corrente de estudos da sociologia
francesa, que produziu importantes pesquisas sobre a qualificação em situações concretas de
trabalho.
36
Quadro2 – Síntese das Concepções de Qualificação (MANFREDI, 1998, p.30)
AS NOÇÕES DE QUALIFICAÇÃO A PARTIR DA ECONOMIA DA EDUCAÇÃO Qualificação como sinônimo de preparação de
“capital humano”
a) Vincula-se à teoria do “capital humano”
dos economistas americanos T. Schultz e
F. Harbinson nos anos de 1970.
b) Trata a questão no nível macrossocial e
destaca a importância da educação para o
desenvolvimento socioeconômico.
c) Forma recursos humanos (habilidades,
experiências, educação) para atuarem nos
processos de desenvolvimento do país.
d) Gera políticas educacionais e criação de
sistemas de formação profissional
vinculados às necessidades dos setores
mais organizados do capital.
A noção de qualificação formal
a) Também voltada para o nível macrossocial,
apóia-se na noção de qualificação como
titulação, diplomação, certificação de pessoas.
b) Embasa o planejamento da demanda de
profissionais, considerando o mercado ou as
necessidades sociais.
c) Avalia o custo-benefício dos investimentos em
educação, com a taxa de retorno medida pelos
ganhos salariais associados ao maior tempo de
escolaridade.
d) Taxas médias de escolarização e duração da
escolaridade passam a ser parâmetros
internacionais de avaliação e replanejamento
das políticas educacionais.
AS NOÇÕES DE QUALIFICAÇÃO A PARTIR DA SOCIOLOGIA DO TRABALHO
O modelo taylorista e fordista de qualificação
a) Qualificação “adstrita” ao posto de
trabalho: as normas e os manuais já
definem o conjunto de tarefas e
habilidades esperadas de cada posto de
trabalho (matriz job/skills).
b) Existe uma relação direta entre perfil
requerido e requisitos formais
(escolaridade, experiência, etc.). A
qualificação é algo adquirido
(conhecimentos, habilidades, destrezas)
pelo indivíduo ao longo de sua trajetória
escolar e de experiência no trabalho.
c) Formar para o trabalho é sinônimo de
treinamento básico que assegure o
desempenho nas tarefas do cargo.
d) Entra em crise com as transformações no
mundo do trabalho.
A qualificação social do trabalho e do trabalhador
a) Expressão da perspectiva marxista, trabalha
com a polaridade: qualificação-desqualificação
como um fenômeno dialético e sociocultural,
rompendo as visões tecnicistas e unilaterais.
b) Desqualificação: alienação, fragmentação,
divisão entre trabalho manual e intelectual. É
algo inerente ao processo de trabalho capitalista
que requer o controle e a disciplina. O
trabalhador não tem autonomia para conceber e
definir ritmo e intensidade do trabalho.
c) Qualificação: possibilidade de uma apropriação
criadora, e não simples repetição/reprodução.
Os trabalhadores, como sujeitos coletivos, se
constroem e se qualificam no e a partir do
trabalho, apesar do controle do capital.
Fonte: BASTOS, (2006, p.30).
Segundo Bastos (2006), apesar da grande diversidade que marca os usos do conceito
de qualificação, como visto até o momento, podemos sintetizá-los em três concepções que
assumem nuanças específicas em trabalhos de diferentes autores. Têm a qualificação:
(a) como um conjunto de características das rotinas de trabalho, expressas
empiricamente como tempo de aprendizagem no trabalho ou por capacidades adquiríveis por
treinamento; deste modo, qualificação do posto de trabalho e do trabalho se equivalem;
37
(b) como uma decorrência do grau de autonomia do trabalhador e, por isso mesmo,
oposta ao controle gerencial;
(c) como construção social, complexa, contraditória e multideterminada.
Na síntese elaborada pelo autor, encontram-se as perspectivas e os elementos
característicos da qualificação pelas três concepções discutidas em seu trabalho.
Quadro 3 – Síntese das Principais Concepções sobre o Conceito de Qualificação
Perspectivas
Conjunto de atributos dos
postos de trabalho
Grau de autonomia no trabalho
Construção social
Elementos característicos
Características descritas nas rotinas e postos de trabalho, nos planos
de classificação de cargos.
Aquisição mediante educação e treinamento.
Desconsideração do conjunto de habilidades adquiridas ao longo da
vida – “qualificações tácitas”.
Foco no processo de trabalho e grau de controle do trabalhador.
Foco em como o trabalho é dividido e gerenciado.
Excessiva divisão e disciplina: expropriação do saber e perda
progressiva.
Amplia o conceito: “é um processo socialmente construído em
situações históricas”.
É mais do que escolaridade e exigências do posto.
Vai além da competência técnica: elementos da origem – gênero,
etnia, personalidade.
Dispõe regras socialmente partilhadas.
Fonte: Bastos (2006, p.33).
1.5 COMPETÊNCIAS: REFLETINDO SOBRE A DIMENSÃO DO CONCEITO
Perreneud (1999) afirma que a competência situa-se além dos conhecimentos e, para
ele, não se forma com a assimilação de conhecimentos suplementares, gerais ou locais, mas
sim com construção de um conjunto de disposições e esquemas que permitem mobilizar os
conhecimentos na situação, no momento certo e com discernimento.
Segundo Dias et al. (2010), apesar da aparente simplicidade do conceito de
competência, sua aplicação tem sido considerada relativamente complexa. A aplicação do
conceito de competência não aceitaria um tratamento homogêneo e unidimensional, condição
que, em geral, acompanha a apropriação das práticas gerenciais mais difundidas entre as
organizações. Ao contrário, esse conceito parece ser objeto de uma diversidade de
perspectivas, tais como a da economia e estratégia (PORTER, 1980; CORIAT; WEINSTEIN,
38
1995; TEECE et al.,1997), da educação (PERRENEUD,1999), da sociologia do trabalho
(HIRATA,1994; ROPÉ; TANGUY,1997), do direito (FERREIRA FILHO,1997) e da
administração.
O conceito de competência foi proposto de forma estruturada pela primeira vez, em
1973, por David McClelland, buscando trazer uma abordagem mais efetiva que os testes de
inteligência nos processos de escolha de pessoas para as organizações. A partir daí, o conceito
é ampliado para dar suporte a processos de avaliação e para orientar ações de
desenvolvimento profissional. Outro autor expoente na estruturação do conceito é Boyatzis
(apud FISCHER, 2010), que, a partir da caracterização das demandas de determinado cargo
na organização, procura fixar ações ou comportamentos efetivos esperados.
Autores como Le Boterf (1994; 2000; 2001; 2003) e Zarifan (1996; 2001) exploram o
conceito de competência associado à ideia de agregação de valor e entrega a determinado
contexto de forma independente do cargo, isto é, a partir da própria pessoa. Outros autores
também buscaram estruturar o desenvolvimento do conceito de competência e/ou efetuaram
uma revisão bibliográfica, destacando-se entre eles: Pary (1996), McLagan (1997) e
Woodruffe (1991), de acordo com o que relata Fischer (2010).
Segundo autores, na sua maioria de origem norte-americana, que desenvolveram
trabalhos nos anos 70, 80 e 90, competência é o conjunto de qualificações que permite à
pessoa uma performance superior em um trabalho ou situação.
Parry (1996, p.50) resume o conceito de competência como sendo um “[...] um cluster
de conhecimentos, Skills e atitudes” relacionados, que afetam a maior parte de um job (papel
ou responsabilidade) , que se correlaciona com a performance do job, que possa ser medido
contra parâmetros bem aceitos, e que pode ser melhorada através de treinamento e
desenvolvimento”.
Essa abordagem associando competências às qualificações foi disseminada no Brasil
nos anos 80 e início dos anos 90, associada à ideia de perfil de conhecimentos, habilidades e
atitudes (CHA) necessário para que determinada pessoa possa ter uma boa performance em
seu cargo (DUTRA, 2004, apud FISCHER et al., 2010).
Outra definição de competências, segundo Fischer et al. (2010) e graças ao trabalho
desenvolvido por Le Boterf (1994), Fleury (1995) e Zarifian (1996), associa-se competências
às realizações das pessoas e ao que elas provêm, produzem e/ou entregam ao meio onde se
inserem, trazendo, como exemplo, que competência não é um estado ou um conhecimento
que se tem, nem é resultado de treinamento. Na verdade, competência é mobilizar
conhecimentos e experiências para atender às demandas e exigências de determinado
39
contexto, marcado geralmente pelas relações de trabalho, cultura da empresa, imprevistos,
limitações de tempo e de recursos, etc. Nessa abordagem, portanto, pode-se falar de
competências apenas quando há competência em ação, traduzindo-se em saber ser e saber
mobilizar o repertório individual em diferentes contextos.
Alguns autores pensam a competência como a somatória dessas duas linhas, ou seja,
como as características da pessoa podem ajudá-la a se entregar com maior facilidade.
McLAGAN, 1997; PARRY, 1996, apud FISCHER, 2010). Entrega aqui corresponde ao
conceito de efetiva ação do indivíduo no exercício de suas atividades no trabalho. A entrega
traduz a real contribuição do profissional no cumprimento de determinada competência.
Parte-se do pressuposto de que, tanto com o olhar sobre o indivíduo quanto sobre a
organização, quanto maior for o grau de complexidade de sua entrega, maior será sua
capacidade de diferenciar-se e de adicionar valor ao negócio (BECKER, 2010).
Em uma classificação dos subtemas dos estudos das competências, Dias et al. (2010)
coletaram as seguintes tendências acerca da abordagem competências:
(a) competências individuais e/ou gerenciais: referem-se à competência de indivíduos,
cuja entrega é resultante de trabalho individual, na perspectiva de Parry (1988), Le Boterf
(1995), Zarifian (2001) e Dutra (2004);
(b) competências coletivas e/ou grupais: referem-se a competências coletivas, cuja
entrega é resultado de trabalho coletivo, na perspectiva de Le Boterf (2000), Dejoux (2001),
Figueiredo (2003) e Ruas (2005);
(c) competências organizacionais: referem-se a competências que dizem respeito à
estratégia da empresa e são evidentemente também competências coletivas, na perspectiva de
Hamel e Prahalad (1995), Fleury e Fleury (2000; 2004) e Ruas (2005);
(d) conceito de competência: refere-se ao debate acerca da construção e natureza do
conceito de competências, na perspectiva de Le Boterf (1995), Zarifan (2001), Fleury e Fleury
(2002), Dutra (2004).
Le Boterf defende, de forma veemente, o caráter situacional da competência humana
aplicada ao trabalho, destacando-se mais o ato e o contexto do que os recursos em si, embora
estes sejam, sem dúvida, relevantes. “A competência requer instrumentalização em saberes e
capacidades, mas não se reduz a essa instrumentalização” (LE BOTERF,1997, p.48).
Esse mesmo autor defende a ideia de que o contexto em que se trabalha e a cultura da
organização exercem influência no processo de “passagem” à competência. Para La Boterf
(1997, p.48), esta (a competência) realiza-se na ação e não a precede.
40
Afirma ainda que só é competência o que faz um sentido particular para o profissional,
ou seja, aquilo que apresenta um significado particular para sua cultura: “O profissional
mobiliza suas competências em função de um projeto que comporta para ele uma
significação, ao qual ela dá um sentido” (LE BOTERF, 1997, p.155).
Os estudos de Sandberg (1994) apontam para o fato de que as competências são
construídas a partir do significado do trabalho e não implicariam, assim, somente a aquisição
de atributos. Para esse autor, é importante não só a competência que é desenvolvida, mas
como ela é desenvolvida e como se dá a prática do trabalhador. (SARSUR; FISCHER;
AMORIM, 2010).
Zarifian (2001) aborda a competência, não só a partir da análise objetiva dos postos de
trabalho, mas discute a evolução dessa concepção para uma gestão da e pela competência,
pensando na combinação de conhecimentos (aptidão), experiências (ação), análise e avaliação
da empresa (resultados). Para esse autor, as competências são assunção de responsabilidades e
o desenvolvimento de atitude reflexiva sobre o trabalho, o que amplia o entendimento desta
nomenclatura para aspectos mais sociais. Isso implica analisar as mutações sofridas pelo
trabalho e sua organização em um contexto mais amplo e histórico.
1.6 A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE A COMPETÊNCIA E A APRENDIZAGEM
Competência profissional, para Le Boterf (1999, apud Freitas; Brandão, 2006), é
decorrente da aplicação conjunta, no trabalho, de conhecimentos, habilidades e atitudes –
CHA, que representam os três recursos ou dimensões da competência.
Comparando essas três dimensões da competência, com as proposições de autores da
área de pedagogia e planejamento instrucional, Freitas e Brandão (2006) afirmam que é
possível identificar semelhanças conceituais entre a aprendizagem e a competência. Afirmam
ainda que a aprendizagem representa o processo ou o meio pelo qual se adquire a
competência, enquanto a competência representa uma manifestação do que o indivíduo
aprendeu. Tanto a aprendizagem quanto a competência, portanto, estão relacionadas ao
conceito de mudança.
Na aprendizagem, a mudança é verificada por meio da comparação dos escores de
testes aplicados antes e depois da estratégia educacional adotada, como é o caso das provas
aplicadas no início e no final de uma disciplina. No que concerne à competência, a mudança é
41
observada quando se compara o desempenho do indivíduo antes e depois do processo de
aprendizagem. Em resumo, a competência, demonstrada pelo desempenho do indivíduo,
geralmente é visualizada como uma nova forma de realizar as tarefas, com mais qualidade e
precisão (FREITAS E BRANDÃO, 2006).
Pode-se dizer, então, que a competência é resultante da aplicação de conhecimentos,
habilidades e atitudes adquiridos pela pessoa em qualquer processo de aprendizagem, seja este
natural ou induzido. Ela revela, inexoravelmente, que o indivíduo aprendeu algo novo, porque
mudou sua forma de atuar (FREITAS; BRANDÃO, 2006).
Nesta pesquisa, a medida de aprendizagem acerca de determinados conhecimentos
adquiridos através do treinamento pelos voluntários indica competência para a execução do
trabalho como contadores de histórias.
No próximo capítulo, será apresentado o sujeito de pesquisa deste estudo - os
voluntários.
42
2 VOLUNTARIADO
2.1 CONCEITO E HISTÓRIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO
À palavra “voluntário” vem do adjetivo latino voluntarius que, por sua vez, deriva da
palavra voluntas ou voluntatis, que significa “capacidade de escolha, decisão”, assim como
“anseio” e “desejo”. Como adjetivo, foi encontrada sua primeira ocorrência na língua
portuguesa no século XV, com o significado de “espontâneo” (CUNHA apud ORTIZ, 2001,
p. 29).
Atualmente, é utilizada como substantivo, para “[...] aquele que se oferece para uma
tarefa a que não estava obrigado” e, ainda, ao indivíduo que se alista espontaneamente num
exército (LAROUSSE CULTURAL, 1992, p.453).
Voluntário, no Dicionário Houaiss, diz respeito ao que não é forçado, que só depende
da vontade; espontâneo, que se pode optar por fazer ou não, aquele que se dedica a um
trabalho sem remuneração, prestando ajuda quando necessário. Já filantropia tem origem
grega e significa profundo amor à humanidade, desprendimento, generosidade para com
outrem, caridade. (HOUASSIS, 2009).
O trabalho voluntário (também denominado de voluntariado) pode ser entendido como
a realização de qualquer atividade na qual a pessoa (voluntário) oferte, livremente, o seu
tempo para beneficiar outras pessoas, grupos, ou organizações, sem retribuição financeira ou
material. (WILSON apud SOUZA; LAUTERT; HILLESHEIN, 2010).
Segundo Martins Filho (2002 apud ORTIZ, 2007, p.20), foi na Idade Média que surgiu
a primeira distinção entre o trabalho profissional, que tem retribuição terrena, e aquele que
caracterizaria o estado religioso, cuja recompensa seria extraterrena:
[...] trabalho profissional: o trabalho no meio do mundo, no exercício de uma
profissão ou ofício, correspondia a um serviço que mereceria uma
retribuição terrena, na base de honorários e salário; estado religioso: o
serviço prestado pelo religioso a Deus e à comunidade correspondia à
resposta a uma vocação divina, segundo a qual o homem esperaria uma
retribuição extra-terrena.
43
Segundo Garrafa e Selli (2006), a atividade voluntária organizada surgiu na Europa,
quando a urbanização e o êxodo rural associado à industrialização, em seus primórdios,
trouxeram consequências negativas para amplas parcelas da sociedade. No mundo rural pré-
industrial, algumas instituições eram responsáveis pela solução de problemas, como fome,
doença e catástrofes naturais que pudessem atingir indivíduos ou grupos. A família extensa de
caráter patriarcal, as instituições religiosas ou mesmo a comunidade tinham tal atribuição.
Não existia, ainda, um Estado capaz de propor políticas de amparo aos necessitados.
Além de contribuírem para a solução de questões sociais, segundo estes autores, as
organizações voluntárias tiveram um papel importante na defesa da sociedade contra o
exercício arbitrário do poder do Estado. Intermediárias entre o indivíduo isolado e a sociedade
política, coube às associações voluntárias (partidos políticos, sindicatos, instituições de
intelectuais, associações religiosas) promover a defesa da sociedade civil contra o poder
arbitrário do Estado.
Para Weffort (1998, apud GARRAFA; SELLI, 2006), o processo de democratização
política experimentado na Europa muito deveu a elas. O mesmo pode-se dizer dos Estados
Unidos. Adeptos do liberalismo político, os construtores do Estado norte-americano
reservaram um amplo espaço à auto-organização da sociedade civil, dotando as comunidades
de um grande poder para gerir seus destinos sem a interferência pública.
Para discorrer sobre a história do voluntario brasileiro, recorro a Ortiz (2007, p.22-23),
que afirma em sua tese:
Assim como nos Estados Unidos, a história da prática da filantropia e do
voluntariado no Brasil foi marcada pelos propósitos e pelo estilo de nossos
colonizadores. Diferente deles, a colonização aqui foi feita, a exemplo de
outros países da América Latina, como empreendimento do estado. Assim
que chegaram, os portugueses trataram de instalar os aparatos burocráticos
da coroa e, com eles, as estruturas hierárquicas da igreja católica.
As misericórdias portuguesas foram estabelecidas no século XVI, com a
fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos (1543). As misericórdias
constituíram-se, assim, em todo o império ultramarino português e, de forma
destacada, no Brasil, como fator unificador de toda a política assistencial. O
voluntariado daí resultante foi marcado, desde o princípio, por fortes
vínculos religiosos e por uma inserção política centralizada no estado.
Neste sentido, cabe destacar que as Santas Casas ofereciam diversos tipos de
assistência, como esmolas, a assistência aos presos pobres e suas famílias, os
dotes a jovens órfãs e pobres, a concessão de tumbas, as rodas de expostos e
sua atividade principal que é assistência hospitalar aos enfermos.
44
A participação das mulheres como voluntárias sempre foi importante nas sociedades
filantrópicas e teve sua expressão máxima através da Rainha Leonor de Portugal, viúva do Rei
D. João II e irmão do Rei D. Manoel, o Venturoso, que fundou as Santas Casas de
Misericórdias e sempre manifestou sua preocupação com o sofrimento dos pobres.
Segundo Silveira (2002 apud ORTIZ, 2007, p.23), entre as diversas organizações
filantrópicas fundadas nessa época, constavam as religiosas, as de saúde e os educandários,
assim como as instituições de assistência aos imigrantes e associações profissionais. Nelas, a
participação feminina aumentou consideravelmente, sendo que, no início do século XX, as
“[...] damas caridosas eram as principais agentes do voluntariado no país”.
Segundo Costa (2000), no Brasil colonial, os hospitais de caridade foram as primeiras
unidades de atendimento à saúde dos pobres, marinheiros, índios. Deram origem às Santas
Casas e adotavam o compromisso (estatuto) de Lisboa. Os irmãos da Santa Casa têm como
compromisso primordial, praticar as 14 obras da misericórdia: sete espirituais e sete corporais,
que são:
Espirituais: ensinar os ignorantes, dar bons conselhos, punir os faltosos com
compreensão, consolar os infelizes, perdoar as injúrias recebidas, suportar as deficiências do
próximo, orar a Deus pelos vivos e pelos mortos.
Corporais: tratar os doentes, resgatar os cativos e visitar os presos, vestir os nus, dar de
comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, abrigar os pobres e os peregrinos.
Ainda segundo Costa (2000), a Santa Casa de Lisboa, em verdade, é a continuação do
primitivo sistema de filantropia originado nas albergarias (hospedarias) que, desde o século
XI, existiam no norte de Portugal e na Itália. O substantivo hospital é a tradução da palavra
hospitale (do latim), que significa hospedaria. Hospitale era a albergaria onde se acolhiam os
doentes.
Em continuação à história cronológica do voluntariado no Brasil, recorri a Sberga
(2002, apud ORTIZ, 2007), que destaca resumidamente:
Em 1908, chega ao Brasil o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, cuja finalidade
era a de prestar assistência médica em áreas de conflito armado. Em 1910, surgiu o primeiro
grupo de escotismo, com o objetivo de ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião.
Em 1930, na era Getúlio Vargas, o Estado passa a ter um papel cada vez mais
centralizador em relação à política assistencial em todo o país e, em 1935, foi promulgada a
Lei de Declaração de Utilidade Pública, que passou a regular a colaboração do Estado com as
instituições filantrópicas. Em 1942, em plena ditadura Vargas, foi fundada a Legião Brasileira
45
de Assistência (LBA), a ser presidida pela primeira dama do País, com o objetivo de
coordenar a política de assistência social.
Em 1961, é fundada a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), cuja
missão é a de prestar assistência e desmistificar a deficiência mental na comunidade.
Os governos militares que sucederam ao golpe de 1964, diminuíram
consideravelmente as verbas destinadas às obras sociais. Para canalizar a força do movimento
estudantil e amortecer o impacto dos conflitos sociais, foi implantado, em 1967, o projeto
Rondon, cuja finalidade era a de levar universitários voluntários a prestar assistência a
comunidades carentes em todo o interior do País.
Em 1977, a pastoral do menor instituiu uma nova modalidade de voluntariado, com o
apoio de casais que se dispunham a acompanhar adolescentes em regime de liberdade
assistida. Por outro lado, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) promoviam redes
populares de solidariedade, para dar conta dos mais diversos problemas vividos pela
população mais carente.
Já a pastoral da criança foi fundada em 1983, vinculada à Conferência Nacional dos
Bispos no Brasil (CNBB), com o objetivo de treinar lideranças comunitárias e mobilizar as
famílias carentes para o combate à mortalidade infantil, assim como em atividades para
melhoria de sua qualidade de vida em geral.
Na década de 90, observam-se alterações bastante significativas no que tange às
políticas sociais no Brasil, através da corrente de liberalismo americano com uma proposta de
“Estado mínimo”. Ao mesmo tempo a globalização da economia promoveu um aumento nas
disparidades sociais, o que acarretou o agravamento dos problemas sociais, levando à
indignação setores mais politizados da população civil brasileira.
Em 1993, o sociólogo Herbert de Souza, empenhou-se em organizar a sociedade
brasileira no combate à fome, com a Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida. Sua
campanha, amplamente divulgada na mídia, foi também um marco na expansão das ONGs
(organizações não governamentais).
Em 1995, a partir do Conselho da Comunidade Solidária, presidido pela então
primeira dama Ruth Cardoso, e através dele foi instituído, em 1997, o Programa Voluntários,
com a missão de promover e fortalecer o voluntariado no Brasil. Um dos objetivos principais
foi disseminar uma “moderna cultura do voluntariado”, preocupada com a eficiência dos
serviços e a qualificação de indivíduos e instituições. Com essa perspectiva, foram criados 34
centros de voluntariado, em 15 Estados e no Distrito federal.
46
Quanto à legislação do trabalho voluntário no Brasil, esta ação só foi regulamentada
no Brasil apenas em 1998, pela Lei n0. 9.608/98, pelo então presidente Fernando Henrique
Cardoso. De acordo com a Lei, independente do motivo que leva uma pessoa ao serviço, para
ser caracterizado como voluntário, o trabalho deve ocorrer por vontade própria, sem
remuneração, prestado por um indivíduo isoladamente e para uma organização sem fins
lucrativos, com objetivos públicos.
Segundo Landim, em pesquisa sobre o voluntariado (2001), a preferência é realizar
ações voluntárias em instituições religiosas (57%) e de assistência social (17%), o que
corresponde a 74%, sendo o restante dividido em pequenas porções entre as áreas de saúde,
educação, defesa dos direitos e ação comunitária. O perfil do voluntariado brasileiro desta
pesquisa é o cidadão mais propenso a doar seu tempo às práticas religiosas. Esses dados estão
relacionados à história da origem do voluntariado no Brasil, de caráter religioso.
Para Caldana e Figueredo (2008, p.474, grifos dos autores), “[...] a educação, ligada à
transmissão de princípios religiosos, promove o fortalecimento da cultura do voluntário e
constitui importante elemento de manutenção desta lógica”.
Devemos distinguir, dentro desse universo de conceituação de voluntariado, o que são
ações pontuais e ações duradouras. Caldana e Figueredo (2008), distinguem ato voluntário e
trabalho voluntário, ao afirmar que uma ação pontual é um ato voluntário, enquanto ações
duradouras seria trabalho voluntário. As doações estariam também numa categoria à parte.
Já existe a mensuração do trabalho voluntário estimando a proporção em que o
voluntariado participa nas entidades filantrópicas, ou seja, a média de horas recebidas como
doações e os respectivos valores não registrados contabilmente por algumas organizações.
Segundo Milani Filho, Corrar e Martins (2003), os recursos humanos representam a
essência do terceiro setor, devendo estar profundamente comprometidos com as respectivas
causas sociais de suas entidades.
Segundo Kaplan e Norton (1996 apud MILANI FILHO, CORRAR; MARTINS, 2003,
p.160), “fazerem a diferença” e não reconhecer contabilmente uma característica essencial das
entidades filantrópicas pode parecer estranho. Reconhece-se, portanto, a receita pelo serviço
prestado voluntariamente, utilizando-se como referência o valor de mercado, caso este serviço
fosse contratado.
Segundo pesquisa realizada, com uma amostra de 16 entidades paulistanas, Milani
Filho, Corrar e Martins (2003) demonstram que o voluntariado representa, em média, 45,1%
da força do trabalho total das entidades, observando-se que a média amostral de dedicação ao
serviço voluntário é de 4,5 horas por semana.
47
Por esse estudo, em média, cada organização pesquisada possuía 363 voluntários e
recebia cerca de R$ 36,3 mil por mês em serviços prestados por voluntários, ou seja, se o
voluntário cobrasse pelo seu trabalho, as organizações desembolsariam a quantia citada. Se
levarmos em consideração que em São Paulo existiam, no período da pesquisa, 286
organizações cadastradas anualmente, esse valor esteve em torno de R$ 124,7 milhões.
Segundo Merege (2009), informações do independent sector demonstram que o
percentual de pessoas voluntárias atinge cerca de 49% da população, que doa mais de 20
bilhões de horas anuais, o que corresponde a um valor de US$ 201 bilhões – um valor
significativo, superando muitos PIBs do planeta.
2.2 A IDEOLOGIA DA CULTURA MODERNA DO VOLUNTARIADO
A cultura moderna do voluntariado é bastante discutida e foi muito divulgada com o
apoio da mídia, principalmente no Ano Internacional do Voluntário, em 2001. Desde a década
de 90, tem-se defendido a criação de uma cultura “nova” e “moderna” de voluntariado em
nosso país.
Bonfim (2010, p.15), em uma análise sobre “a ‘cultura do voluntariado’, conclui que
esta é resultado de uma dinâmica social complexa, permeada de contradições, em que o
componente ideológico é decisivo para sua expansão e efetivação. A ‘cultura de crise’, ou
seja, a ideia de que todos estão sendo penalizados com a crise e que a saída desta requer, além
de sacrifícios, ajuda mútua, é terreno fértil para a expansão da atividade voluntária, que
aparece como saída para a resolução dos problemas sociais.
Segundo Cunha (2005, [p.6] grifos do autor), “a construção de um novo voluntariado
foi considerada em duas vertentes: a primeira é a das relações entre atores que deram
sustentação e visibilidade ao novo voluntariado como opção de ação de enfrentamento de
problemas sociais, especificamente os relacionados ao aumento da desigualdade. Os
principais promotores foram a Comunidade Solidária e o Programa Voluntários (criados no
primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso e atrelados à esfera estatal) e os
empresários que passaram a atuar no que se convencionou chamar de responsabilidade social
das empresas”.
A segunda face dessa construção é a ideia mesma de novidade, que define o trabalho
voluntário desse período como uma ação que se diferencia de outras anteriores (desde ações
48
filantrópicas até ações que remetam aos moldes de movimentos sociais ou organizações
coletivas de reivindicação) e sinaliza um momento de amadurecimento e aperfeiçoamento nas
formas de participação social.
O “Programa Voluntários” foi criado pelo Conselho da Comunidade Solidária, em
dezembro de 1996, com a missão de contribuir para a promoção, valorização e qualificação
do trabalho voluntário no Brasil. Este Programa nasce na gestão do então presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Esse governo incentivou a constituição de uma rede nacional de Centros de
Voluntariado no Brasil, que são organizações autônomas e independentes, financeira e
administrativamente, e que buscava atender às especificidades da região onde estavam
inseridas. O ano de 2001 foi declarado pelas Organizações Unidas como Ano Internacional do
Voluntário.
No desenvolvimento de hipóteses dos pontos de sustentação do conjunto de ideias ao
qual pertencem as que caracterizam o novo voluntariado, na expressão de Cunha
(2005,p.124), o qual assinala que, “a partir do centro do poder político, formaram-se redes de
colaboração de poder econômico (empresários e organizações de fomento) e de influência
social, reconhecidamente utilizados como meios eficazes de convencimento”.
A constante aparição do tema no debate público, com o apoio de grandes meios de
comunicação, centros de estudos e pesquisa ou dirigentes políticos, mais comumente trazendo
afirmações em vez de questões, também pode ser vista como rede que, sustentando aquele
ideário, chama a atenção para a causa do voluntariado.
Segundo relatório do Instituto Faça Parte, que surgiu com o objetivo de gerenciar as
atividades do Ano Internacional do Voluntariado, em 2001, em balanço realizado, o tema
voluntariado esteve presente em diversos veículos de comunicação. Em publicidade, foram 50
horas na TV, 400 horas em rádio, 50 páginas de mídia impressa, 200 horas em painéis
luminosos. Em mídia espontânea, 2000 páginas de reportagens, 200 horas em canais de
televisão e 300 horas de rádio (CUNHA, 2005).
O princípio mais evocado para fundamentar essa iniciativa, como enfatiza Cunha
(2005), é o de cidadania, que, apesar de já ter ocupado campos de referência e significação
distintos, é reduzido, junto com o conceito de solidariedade, a um mesmo campo de
significação.
O livro Gerenciamento de Voluntários (2000, p.11), elaborado e disseminado pelo
Centro de Voluntários de São Paulo no Brasil, traz conceitos de voluntariado como:
49
“voluntariado combativo”, “a caminho de um novo modelo”, “novos conceitos de
voluntariado”, e afirma:
A década de 90 abre as portas de um novo perfil de voluntariado que supera
o anterior e reposiciona-o como um cidadão que, motivado por valores de
participação e solidariedade, doa seu tempo, trabalho, talento e competência,
de maneira espontânea e não remunerada, em prol de causas de interesse
social e comunitário.
Esse conceito vai trazer uma proposta de atuação diferente para a ação voluntária, com
superação da ação antiga. E, como “novo conceito” de voluntário, o Centro de Voluntários
(2000, p.13) assim entende:
As antigas concepções de voluntariado, como ação de caridade, como
assistencialismo, ou como militância política, estão superadas. Hoje, vêm
sendo substituídas pela concepção de voluntariado como forma de ação
cívica que tem como objetivo a mobilização de pessoas, empresas e
organizações visando resolver problemas sociais, assegurar direitos humanos
e sociais por meio da responsabilidade conjunta do Estado e da Sociedade
Civil, representada pelos cidadãos, pelas ONGs, fundações e empresas.
O discurso defende a ideia de que o voluntário é também responsável pela resolução
dos problemas sociais, não cabendo apenas ao Estado este papel, mas a toda a sociedade civil.
Sobre o que se entende por sociedade civil, não é interesse deste estudo, pois o
aprofundamento desta questão aqui não é relevante. Mas vale discutir, pela defesa como
categoria que Costa (1997, apud CUNHA, 2005), faz de sociedade civil, por sua adequação,
no sentido de dar conta de uma parte do conjunto dos atores sociais que mantêm seu interesse
em intervir nas decisões ou encaminhamentos dados aos problemas pela esfera estatal, mas
não querem ser associados nem à participação partidária, nem à estrutura do Estado.
Entretanto, o emprego da noção de sociedade civil como categoria analítica sofreu
esgarçamento de significado por seu uso exacerbado como categoria política.
Para Listz (2005, apud MOUSSALLE, 2008, p.37), a noção do papel da sociedade
civil na arena pública é analisada da seguintes maneira:
O conceito de sociedade civil representa uma terceira dimensão da vida
pública, diferente do governo e do mercado [...] em vez de sugerir a idéia de
uma arena para a competição econômica e a luta pelo poder político, passa a
significar exatamente o oposto: um campo onde prevalecem os valores de
solidariedade.
50
Fica, porém, aqui a reflexão sobre que sociedade civil é esta, de enquadre difícil nos
moldes do primeiro setor – o poder público, e do segundo setor, que diz respeito ao setor
privado, e a qual possui uma lógica diferente destes dois setores, mas defende,
principalmente, as questões de interesse público.
Retornando à discussão sobre o novo voluntário, para o Centro de Voluntários (2000,
p.13), é importante ressaltar que cabe ao novo voluntário:
Buscar a qualificação da sua atuação e as organizações sociais, a eficiência e
eficácia dos serviços que prestam. Além do espírito de solidariedade, exige-
se a qualidade técnica da ação voluntária.
Isso demonstra que fazer o bem é importante, mas aqui o “novo voluntariado” precisa
fazê-lo bem, dedicando-se à qualificação que precede a sua ação.
Falar de “antigo” ou “novo” voluntário, atuação “assistencialista” ou
“transformadora”, vai marcar profundamente as discussões em torno desse tema. E nesse
ponto as opiniões divergem.
Segundo Ortiz (2000), [p.28] por meio da história do voluntariado, desde o tradicional
assistencialismo religioso e individualizante, passando pela militância político-religiosa, até o
engajamento no terceiro setor, o trabalho voluntário tem-se apresentado como resposta a
demandas – religiosas, políticas, sociais, econômicas, subjetivas, etc. –, que são, antes de
tudo, históricas.
O fato é que uma discussão que nos leve a sair em defesa de uma forma de
voluntariado que consideremos, por um critério particular, como mais “moderna” ou mais
politizada, contras as demais, atende apenas aos interesses dos defensores de uma ou outra
ideologia.
Cunha (2005, p.12) afirma em sua pesquisa sobre novo voluntariado que existe uma
separação entre o discurso institucional e a fala dos voluntários, pois estes demonstravam que
a procura pelo trabalho voluntário estava fortemente atrelada às suas experiências
particulares, e sua motivação era descrita em termos de experiências.
Já o discurso institucional se fazia presente ao defender a importância desse
envolvimento e concentrava ideias de cidadania, participação, justiça, democracia, Estado e
mudanças sociais.
Segundo o Centro de Voluntários (2000, p.12):
51
Hoje não é possível conceber uma ação social eficiente sem o envolvimento
da comunidade, da população usuária, não havendo soluções em longo
prazo. Por essa perspectiva, o voluntariado assume um papel decisivo no
encaminhamento de soluções às exigências sociais.
Impresso nesse discurso, a participação voluntária significa, portanto, a possibilidade
de mudanças, em que o sujeito voluntário é promotor de mudanças dos problemas sociais.
Contrário a esse discurso, Araújo (2008), afirma que o voluntarismo e a assistência
social concorrem de forma permanente na sociedade brasileira, estimulados pelos governos
através de estratégias políticas com o fim de manter em constante estado de equilíbrio as
forças sociais latentes de inconformidade dos excluídos sociais em face das suas condições de
vida.
Mas o que se percebeu, no cenário do chamado do novo voluntariado, foi o silêncio
em relação à garantia dos direitos sociais, e, no discurso da chamada sociedade civil, “agindo
por si mesma”, remete-se esta transferência de responsabilidade à própria sociedade na
resolução dos problemas sociais.
Para Araújo (2008, p.247), a solidariedade induzida pelo governo na década de 90 é
ambígua, por encobrir mecanismos excludentes, uma vez que o solidarismo, aqui apregoado
de conteúdo humanitário, é despossuído de caráter ético-político. A sua política difunde a
solidariedade impregnada na cultura brasileira assistencial de abnegação e benemerência. A
solidariedade coloca-se na perspectiva dos direitos sociais: “[...] solidariedade como elemento
dos direitos sociais torna-se solidariedade social cidadã quando do processo de prestação de
assistência aos excluídos sociais”.
Ainda para esse autor, o voluntariado não tem, por sua natureza e organização,
condições de responsabilizar-se por necessidades coletivas, como proteção social.
Já Demo (2002) afirma que o apelo à solidariedade pode esconder, à revelia, efeitos de
poder, sobretudo quando provêm do centro do sistema capitalista ou das elites em cada país. E
ainda, para Demo, trata-se de uma formidável polêmica que não se pretende em absoluto
resolver, mas discutir no contexto da compreensão dialética não linear, entender até que ponto
a solidariedade pode ser ancorada na história concreta, e até que ponto é truque de
domesticação.
Ainda para esse autor, a solidariedade tem sido um discurso contraditório ao extremo,
quando analisado na trama de poder: pode ser algo honesto e desonesto, bem como pode ter,
em posturas que se querem honestas, efeitos contrários, à sua revelia, à medida que provoca
subalternidades imperceptíveis e não menos eficazes. O cúmulo desse efeito para Demo é
52
esperar que o excluído seja solidário com os agentes da exclusão, ou, na linguagem de Paulo
Freire, que o oprimido espere sua libertação do opressor.
O grande desafio das propostas solidárias é o que Harding (1998, apud DEMO, 2002)
chama de Standpoint epistemology: a capacidade honesta de respeitar o ponto de vista de
outra cultura.
Embora esse posicionamento para Demo seja idealizado visivelmente, porque,
hermeneuticamente falando, é impraticável ver pelos olhos dos outros, trata-se de cultivar
suficiente autocrítica para não cair rapidamente em posturas colonialistas. Significa o gesto
generoso de tentar entender o outro a partir do outro. Esse tipo de solidariedade não parte do
solidário, mas do outro. Não implica alinhamento subalterno por parte do outro, antes busca
proporcionar ao outro condições para que possa comandar sua emancipação.
Bernabé (2003) faz distinção do “militante” e do “voluntário” quando afirma:
O militante aposta por uma “causa”, em sentido forte e amplo, com ele
corresponde o componente ideológico (interpretação da realidade). O
voluntário vive perfeitamente sem formas ideológicas nem questionamentos
ético-religiosos de grande tamanho. O sonho é só ajudar.
Esse autor afirma, portanto, que o militante aposta em uma causa em amplo sentido
ideológico e o voluntário não, ou seja, o voluntário não se implica politicamente.
Além disso, para o mesmo autor (2003), a solidariedade supõe estar disposto a tomar
partido e sempre se supõe perder algo, pois “não existe solidariedade indolor”.
Já García Roca (2001, apud CARBALLAL, 2009, p.4) percebe o voluntariado como
um instrumento de políticas públicas, ao declarar:
Nos próximos anos [...] para seguir desenvolvendo o Estado de bem-estar,
necessitaremos destes movimentos voluntários, para fazer novas prestações
sociais. Deste modo, o voluntariado se converte em um instrumento de
políticas públicas das administrações que, a troco de concessão de
subvenções, esperam a aceitação por parte das organizações do Terceiro
Setor de seu caráter instrumental.
No conceito de “solidariedade crítica” trazido por Selli e Garrafa (2005), existe a
capacidade de o agente (voluntário) discernir, ou seja, de possuir critérios capazes de ajudá-lo
a discriminar a dimensão social e a política, que estão indissociavelmente presentes na relação
solidária.
53
Mas em que medida isso é possível, se o agente voluntário procura muitas vezes o
trabalho por motivações pessoais e para satisfazer a suas necessidades de pertencimento? Esta
é uma questão colocada para reflexão e mais adiante será discutida, quando se tratar sobre
motivações dos voluntários.
Não existem garantias nem fórmulas nesta discussão sobre o fazer ou não fazer
voluntariado. É preciso conhecer as influências do discurso neoliberal, quando se trata de
promover e disseminar uma cultura de solidariedade entre as pessoas, para que as relações não
se tornem utilitárias e de dominação.
2.3 FACES DA SOLIDARIEDADE: ALTRUÍSMO E EGOÍSMO
Do ponto de vista ontológico, voluntariado é uma manifestação de solidariedade. Ao
falar de solidariedade tomaremos como ponto de partida a analise de Durkheim (apud SILVA
et al., 2004) sobre solidariedade. Ele estudou as questões ligadas à natureza do laço social,
isto é, as relações dos indivíduos entre si e as relações de cada indivíduo com a coletividade.
Para descrever esses dois tipos de relações, decidiu observar as formas de
solidariedade: como acontecem nos agrupamentos (sua morfologia) e como funcionam (sua
fisiologia). Dessas observações, deduziu dois tipos de solidariedade: a mecânica e a orgânica.
Xiberras (1993, apud SILVA et al., 2004, p.99), em sua releitura de Durkheim, explica
que a solidariedade mecânica é o laço social que acontece nas sociedades tradicionais, onde os
agrupamentos são estáveis e restritos, e as relações entre os indivíduos acontecem pela via da
semelhança entre as funções no grupo e a identidade das representações. A semelhança é o
que liga as pessoas umas às outras:
Experimentam os mesmos sentimentos, aderem aos mesmos valores e
reconhecem o mesmo sagrado. A solidariedade exprime-se, por assim dizer,
natural ou mecanicamente, isto é, no pensamento de um homem do século
XIX. Simplesmente, por contato ou proximidade dos homens entre si.
A solidariedade orgânica é comum nas sociedades modernas, onde a divisão do
trabalho possibilita diferenciações cada vez maiores nas funções de cada profissão. A
solidariedade orgânica tem como princípio a diferenciação.
54
Os indivíduos não se assemelham, mas têm consciência de participar, enquanto partes,
do bom funcionamento da totalidade (XIBERRAS, 1993, apud SILVA et al., 2004, p.99).
Durkheim (apud SILVA et al., 2004) percebeu em seus estudos que a solidariedade
orgânica não funcionava tão naturalmente como ele imaginava. O termo orgânica ele colheu
da biologia, ciência em pleno progresso em sua época, para entender esta rede complexa de
relações semelhantes a um organismo vivo.
Ainda para Durkheim, um conceito que se faz necessário nesse contexto é o de
densidade moral: “[...] coesão que existe à volta dos valores, interditos ou imperativos
sagrados, que liga os indivíduos ao todo social” (XIBERRAS, 1993, apud SILVA et al, 2004,
p.99-100).
Assim, a consciência coletiva interage com todos eles e forma a solidariedade.
Nesse contexto, o autor ressalta que o egoísmo é a postura do eu individual que se
afirma, com excesso, diante do eu coletivo. A individuação é uma postura que considera a
própria personalidade como prioridade, em detrimento das personalidades coletivas. O
egoísmo não gera solidariedade.
As práticas solidárias, portanto, por esse entendimento, deve propiciar ajuda como
ação concreta em função da necessidade de outra pessoa, no respeito à diferença,
proporcionando aprendizado com o outro.
Lipovetsky (1994, apud SILVA et al., 2004) reflete sobre o individualismo na
sociedade contemporânea como um processo de uma ética indolor. Os estudos desse autor nos
ajudam a entender os processos pelos quais as sociedades ficaram reféns da expressão “tu
deves”. Esse dever exigia dominar-se a si próprio, sacralização das virtudes privadas e
públicas, exaltação da abnegação e desinteresse.
Lipovetsky (1994, apud SILVA et al., 2004, p.104) assegura que essa fase chegou ao
seu final. O termo dever passa a não ser mais utilizado desde os meados do século passado:
Entramos em outro momento considerado por esse autor como pós-moralista das
democracias. Ele afirma que:
A retórica sentenciosa do dever já não reside no coração da nossa cultura,
substituímo-la pelas solicitações do desejo, pelos conselhos do foro
psicológico, pelas promessas de felicidades e de liberdade aqui e agora.
Essa cultura é extremamente individualista, e cada um defende seus interesses e não há
lugar para o outro, é a sociedade do culto ao “eu”, fruto de uma sociedade “narcisista”.
55
Assim sendo, Lipovetsky (1994, apud SILVA et al., 2004, p.104) afirma que os
valores altruístas deixaram de ser evidências morais aos olhos dos indivíduos e das famílias
“[...] e essa moralidade individualista não é novidade da sociedade moderna”. O que pode
parecer novo é a sua forma de expressão:
Nas nossas sociedades, o altruísmo erigido em princípio permanente de vida
é um valor desqualificado, associado a uma vã mutilação do eu: a nova era
individualista conseguiu a proeza de atrofiar nas próprias consciências a
autoridade do ideal altruísta, desculpabilizou o egocentrismo e legitimou o
direito de cada um viver para si próprio.
Dessa maneira, defende o autor, não é que as pessoas tenham deixado de ajudar umas
às outras, mas o que mudou foi o lugar que o outro ocupa nesta relação de ajuda e motivação.
Para Silva et al. (2004), a motivação para ajudar o outro passa por uma hierarquia
pessoal: vontade de ajudar a outra pessoa, aliada ao desejo pessoal de ajudar a si mesmo e de
ocupar o tempo livre. Para essa autora, isso se traduz em ação voluntária. Então, “[...] a ação
voluntária nutre-se de um plus individual, de um excesso que só faz sentido ao ser
reconhecido pelo outro, numa relação que pode ser intima ou publica” (SILVA, 2001, apud
SILVA, 2004, p.105).
Nesse sentido, é paradoxal o estímulo à ação voluntária e à solidariedade através do
discurso apresentado pela mídia, onde a benemerência e a caridade são regidas pelo dever
indolor.
As relações sociais de interesse, presentes no trabalho social assistencial, imprimem
uma dinâmica particular. Para entendê-las, valem as referências elaboradas por Bourdieu
(1994, apud ARAÚJO, 2008).
Bourdieu (1994) aborda a concepção de interesse como um investimento no qual estão
presentes aspectos libidinosos nas relações sociais. Para ele, no relacionamento interpessoal,
instala-se um jogo, um posicionamento, que implica envolvimento e um despertar de
interesses. Em outras palavras, é um processo de participação, visando a um alvo que deve ser
atingido. Nesse jogo, existem correlações de forças, de onde emergem interesses diversos
dentro de um mesmo espaço social.
Araújo (2008) afirma que é com esse entendimento que ocorrem as relações sociais do
agente social voluntário doador, cujo interesse é apresentado de forma desinteressada, o que
leva a inferir que, na ação assistencial, está presente um capital simbólico, que nada mais é do
que valores altruístas existentes nas práticas sociais. Isso demonstra que existe, por trás do
desinteresse, aparente um ganho simbólico.
56
Em 2001, Ano Internacional do Voluntário, foi vinculado um discurso na mídia que
dizia que “voluntariado é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que você ajuda, é
também ajudado”, reforçando a ideia de que, por trás de cada ação, existe um ganho, um
lucro, nessa relação. Isso mostra os interesses presentes nessa relação, permeados por
altruísmo e egoísmo simultaneamente, inerentes ao voluntário.
Aqui, o capital que está em jogo, não é o monetário, estando baseado em trocas
simbólicas, que correspondem à contrapartida que os voluntários recebem no exercício de sua
atividade, como, por exemplo, reconhecimento pela sua atividade, formação de grupos
identitários, melhoria da autoestima, novas habilidades e até possibilidade de melhorar seu
currículo profissional.
Esses ganhos na atividade voluntária são expressos por Morales et al. (2009, p.148),
quando afirmam que, através do voluntariado envolvido em atividades de ajuda, objetivam em
troca obter algum beneficio. Esses autores chamam de “voluntário induzido” o indivíduo que
obtém ganho explícito nesta relação como, por exemplo, um estudante que trabalha como
voluntário e ganha um certificado pela sua experiência.
2.4 IDENTIDADE, MOTIVAÇÕES E BENEFÍCIOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO
Segundo a Fundação Abrinq pela Defesa dos Direitos da Criança (1995):
Voluntário é o ator social e agente de transformação, que presta serviços não
remunerados em beneficio da comunidade. Doando seu tempo e
conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso
solidário, e atende não só às necessidades do próximo, como também aos
imperativos de uma causa. O voluntário atende também suas próprias
motivações pessoais, sejam elas de caráter religioso, cultural, filosófico ou
emocional. (apud DOMENEGHETTI, 2001, p.78).
Conforme a citação acima – “O voluntário atende também suas próprias motivações
pessoais, sejam elas de caráter religioso, cultural, filosófico ou emocional” –, situando, assim,
a ação voluntária no campo da motivação.
Destaco, para esta discussão, as motivações de caráter emocional, sendo conscientes e
até inconscientes, da ação voluntária, que está ligada ao mito do herói, presente nas histórias
57
contadas, campo de estudo da psicologia analítica, que não é objeto deste trabalho, mas traz
no seu bojo o desejo inconsciente de “salvar” o outro.
Para Araújo (2008), a essência motivacional do voluntariado tanto pode ser a
religiosidade como algo de ordem psicológica. A tônica é a doação, gestada de valores
religiosos da crença judaico-cristã, associados às necessidades psicológicas, como forma de
compensar inquietações ante problemas sociais.
Meister (2003, apud BONFIM, 2010) cita as variadas motivações que levam uma
pessoa a desenvolver uma atividade voluntária. São elas: altruísmo, filantropia, solidariedade;
compromisso político e participação cidadã; motivações religiosas; tempo livre; fuga de crises
e problemas pessoais; conhecimentos de outras realidades; busca de Justiça social; sentimento
de culpa; busca de relações humanas; busca de experiência profissional; busca de limites
pessoais.
Para esse autor, não importa qual seja o tipo de motivação que leva uma pessoa a
desenvolver uma atividade voluntária, o importante é que ela tenha uma finalidade social.
Segundo Fajardo (apud BONFIM, 2010, p. 87-88):
Qualquer pessoa pode ser voluntária com independência de sua situação
pessoal e dos motivos que a induzem a isso. A motivação, seja qual for, tem
servido de pretexto para tomar a decisão. A partir deste momento, deve-se
transformar em um trabalho sério, com objetivos e com uma metodologia
que contemplem a pessoa marginalizada como protagonista absoluta.
Nota-se aqui que, na formação do voluntário, a busca por resultados da ação voluntária
aparece com extrema importância. Para Meister (2003, apud BONFIM, 2010), mesmo que os
valores que fundamentam tal ação ainda sejam, em grande parte, aqueles do passado (amor ao
próximo, altruísmo dever cristão), a forma de instrumentalizá-los é outra; isto, para ele, é o
que faz o diferencial.
Numa pesquisa realizada com 594 voluntários, Silva et al. (2004) observaram que as
motivações para o exercício deste trabalho diferenciam-se em cinco categorias: assistencial,
humanitária, política, profissional e pessoal, sendo assim definidas:
(a) Assistencial: o desejo de ajudar o outro é o traço mais forte da fala desse tipo de
motivação. O outro aqui é entendido como alguém carente de afeto, de coisas materiais, de
informação e de conhecimento.
(b) Humanitária: esta motivação apresenta-se nas falas como o desejo de contribuir de
alguma forma com o outro, sendo este entendido como semelhante, próximo. Nesse tipo de
58
motivação, há expectativa de troca entre o voluntário e o usuário do serviço. Contém ainda a
possibilidade de crescimento espiritual no exercício da atividade voluntária;
(c) Política: a motivação política se expressa por evidenciar uma preocupação com o
exercício de cidadania. O trabalho voluntário seria, então, identificado como uma ação
emancipatória, tanto para o voluntário quanto para o beneficiário do serviço;
(d) Profissional: a motivação do voluntário é a possibilidade de experimentar os
conhecimentos adquiridos na universidade. Nela é comum o desejo de adquirir experiência
profissional, entrar em contato com a prática do curso em que estuda, aplicar os
conhecimentos profissionais e obter emprego nas ONGs;
(e) Pessoal: a motivação para esse voluntário é vinculada ao tratamento terapêutico, à
busca de relacionamento interpessoal, à experiência de vida, à busca de retorno emocional
numa expressão típica de entreajuda.
Segundo a autora, essas motivações se apresentam exclusivas ou associadas.
Rubin e Thorelli (1984, apud MONIZ; ARAÚJO, 2008) revelam que, embora muitos
voluntários não admitam a necessidade de recompensa, tais expectativas parecem esclarecer
quanto às diferenças motivacionais.
Em outras palavras, quanto maiores os benefícios para o voluntário – como
desenvolver relacionamentos, oportunidade de ensinar e aprimoramento pessoal –, mais
prolongada será sua permanência na atividade.
Para esses autores, as motivações para se prestar serviços voluntários variam quanto à
idade e às expectativas de recompensa. Voluntários mais jovens buscam desenvolver
habilidades lucrativas que resultem em reforço econômico, enquanto os mais velhos procuram
uma troca ou convívio reforçador social.
Identificar as motivações do voluntário é um campo fértil e estudado por muitos
pesquisadores, e as motivações dependem também do perfil de cada pessoa que se aproxima
do voluntário: idade, escolaridade, renda, sexo. As pesquisas têm muitas coisas em comum,
como, por exemplo, a preferência pelas mulheres em exercer tal atividade, mas vai haver
algumas variações, podendo o voluntariado servir a diferentes funções pessoais, sociais e
psicológicas.
59
2.5 PROFISSIONALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO VOLUNTÁRIA
A profissionalização do trabalho voluntário é tema discutido a partir da década de 90,
e, segundo Domeneghetti (2001), um dos instrumentos em âmbito mundial desta discussão foi
a “Declaração Universal do Voluntariado”, aprovada pela Association for Volunteer Effort
(IAVE) em conferência realizada na cidade de Paris, em 1990, inspirada na Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948) e na Convenção dos Direitos da Criança (1989).
Nessa declaração, aparecem as ferramentas de gestão do trabalho voluntário, e, no
item “Deveres da Entidade”, que diz respeito como as organizações devem atuar com os
voluntários, é colocado que estas devem:
(a) divulgar as políticas necessárias para o desenvolvimento da atividade voluntária,
definir critérios de participação do voluntário e verificar que as funções indicadas sejam
cumpridas por todos;
(b) confiar a cada pessoa tarefas adequadas, garantindo treinamento apropriado;
(c) fazer avaliação regular e reconhecer o trabalho do voluntário;
(d) prover ao voluntário cobertura e proteção adequada contra riscos, durante a
execução da sua tarefa, bem como providenciar cobertura por danos causados a terceiros;
(e) facilitar reembolso das despesas do voluntário;
(f) definir as condições sob as quais a organização ou o voluntário podem encerrar seu
compromisso um com o outro
Pode-se perceber nessa declaração que as ferramentas de Gestão em Recursos
Humanos se fazem presentes, desde a seleção do perfil adequado para atuar em determinadas
atividades até a avaliação do trabalho dos voluntários.
O Centro de Voluntariado em seu curso de voluntários, em 1998, afirma:
Quem é o voluntário? É a pessoa que doa o seu trabalho, suas
potencialidades e talentos em uma função que o desafia e gratifica em prol
de uma realização pessoal. (DOHME, 1998, apud ORTIZ, 2007, p.33).
Nessa definição do trabalho voluntário, fica evidente que o voluntário é doador de suas
habilidades, competências e de seu tempo em prol de uma causa social. A autora traz alguns
elementos que devem compor o trabalho dos voluntários:
60
Qualificação: o conceito moderno de voluntariado está muito ligado à
execução de um trabalho qualificado, que leva em conta o talento e as
habilidades de quem o executa;
Satisfação:é um trabalho exercido com prazer, garra, que fascina e dá um
sentimento de plenitude de quem o executa.
Doação: a entrega de horas de sua vida em prol do próximo, da comunidade,
é resultado de um amor transbordante, que precisa se materializar por meio
da ação.
Realização: é um trabalho que tem um compromisso com o êxito, com o
sucesso, que está determinado a cumprir com os objetivos propostos.
Em resumo, o trabalho voluntário é uma ação de qualidade, feito com prazer
em direção a uma solução que não precisa ser necessariamente grande, mas
precisa ser eficiente. (DOHME, 1998, apud ORTIZ, 2007, p.33).
Aqui, como produto dessa cartilha institucional, aparece a qualificação como fator
importante para a organização e que leva em consideração aspectos individuais importantes,
como talentos e habilidades do sujeito voluntário para a obtenção da qualidade e eficiência do
serviço prestado.
Para Bonfim (2010, p.93), coloca-se a necessidade de “profissionalizar o
voluntariado”, ou seja, submeter o voluntário às formas de planejamento e gestão mais
modernas, possibilitando assim o máximo do seu aproveitamento dentro da instituição.
Segundo Teodósio (2002, apud BONFIM, 2010, p.93), “[...] a gestão da mão de obra é um
dos aspectos mais relevantes do gerenciamento das organizações do terceiro setor”.
Na publicação de como implantar um setor de voluntários numa instituição, em seu
livro Gerenciamento de Voluntários, o Centro de Voluntariado de São Paulo (2000) recorreu
ao campo de gestão de pessoas orientando os coordenadores:
(a) na admissão do voluntário, levando em conta o recrutamento, a seleção, a não
admissão;
(b) na preparação do voluntário, desde orientação ao treinamento à formação da
equipe;
(c) no monitoramento e manutenção, que consistem em integração junto às equipes,
comunicação, supervisão e administração de conflitos;
(d) sobre avaliação e feedback;
(e) quanto à valorização e ao reconhecimento da ação voluntária;
(f) sobre o desligamento do voluntário.
61
Existe um regimento criado pelo Centro de Voluntariado de São Paulo (2000), que
discorre sobre como o voluntário deve proceder nas instituições em que prestam serviço,
abordando aspectos como: pontualidade, assiduidade, notificação de faltas, comunicação de
férias, atualização de telefone e endereços pessoais, como proceder com a imprensa e a equipe
técnica da instituição, o uso de equipamentos de escritório e eventuais reembolsos de despesas
provenientes de seu trabalho.
Isso demonstra que o voluntariado foi, pelo menos no discurso, se profissionalizando
nos moldes do trabalho formal, mantendo a lógica do mercado. Embora movido pela
solidariedade, preocupa-se com aspectos profissionais e com seus resultados, buscando a
eficiência.
2.6 VOLUNTARIADO NA SAÚDE: ESPECIFICIDADES
Com toda a complexidade que é um hospital, o voluntariado na saúde assume um
lugar também diferenciado na discussão das suas práticas. Um dos motivos é pela
especificidade do hospital, que exige um conhecimento prévio por parte do voluntário para o
cuidado consigo mesmo e com os pacientes.
Moniz e Araújo (2008) afirmam que tanto a experiência prática quanto as reflexões de
alguns especialistas alertam sobre a necessidade de organização e gerenciamento adequado da
atuação voluntária, especialmente no que concerne à saúde.
Esses autores ainda apontam uma questão muito importante identificada em pesquisas
sobre voluntariado em saúde, onde, na sua maioria, os indivíduos contam apenas com a
própria disposição e empenho, sem preparo ou acompanhamento. Ao contrário do profissional
da saúde, que pode apoiar-se na formação e no aparato técnico, o voluntário pode ficar
exposto ao estresse, tornando-se inadequado e, em casos mais graves, comprometer a
assistência ao paciente.
Os autores referenciados concluíram que o voluntário necessita de treinamento e
educação permanente: para o aprimoramento da sua atividade, neste caso, na área hospitalar.
Além de treinamento, se requer do voluntário atitude perante a morte, pois, apesar de
ser extremamente evitada na cultura ocidental, a morte dentro de um hospital se faz presente
diariamente, sendo muito comum ouvir dos voluntários, em hospitais, relatos sobre perdas,
mutilações, dores e morte.
62
Segundo Cantril (1991) e MacEarchern (1962) (apud MONIZ; ARAÚJO, 2008), além
de trazer satisfações no plano individual, o voluntariado pode favorecer a instituição que o
promove. Especificamente no meio hospitalar, fortemente estruturado e cientificista, este tipo
de contribuição incrementa a humanização dos cuidados.
O cuidado é presente historicamente no hospital. Para Heidegger (1989, apud BOFF,
1999, p.34), o cuidado é ainda algo mais que um ato e uma atitude entre outras:
Do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori, antes de toda
atitude e situação do ser humano, o que sempre significa dizer que ele se
acha em toda atitude e situação de fato [...] cuidado significa um fenômeno
ontológico-existencial básico.
Boff (1999) afirma que o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano, antes
que ele faça qualquer coisa. E, se fizer, ela sempre vem acompanhada de cuidado e imbuída
de cuidado. Significa, como ressalta o autor, reconhecer o cuidado como um modo-de-ser
essencial, sempre presente e irredutível à outra realidade anterior.
Segundo Souza et al. (2003), o ato de cuidar envolve diferentes aspectos da
personalidade e necessidades do cuidador, aspectos que determinam o tipo de trabalho e o
local onde o voluntário vai exercitar sua solidariedade.
Numa pesquisa realizada com mulheres por esses pesquisadores, sobre aspectos da
motivação para o trabalho voluntário com doentes oncológicos, através de um estudo
colaborativo entre Brasil e Portugal, foi utilizado o inventário Volunteer Function Inventory
(VFI), composto por 30 questões avaliando seis funções motivacionais como: Valores,
Experiência, Social , Carreira, Proteção e Autoestima para exercer a atividade em saúde.
Os resultados dessa pesquisa foram que, nas duas amostras, a grande maioria tinha
tido experiências pregressas com o câncer em suas vidas pessoais e em seus relacionamentos
familiares: 95 % das brasileiras e 83% das voluntárias portuguesas.
Os resultados mostraram também que, independente de fatores culturais, próprios de
cada país, parece existir um padrão motivacional que envolve este tipo de trabalho. O
altruísmo foi o aspecto motivacional mais importante encontrado nas amostras. Por outro
lado, a escolha deste tipo de trabalho (pacientes oncológicos) está ancorada nas suas
experiências anteriores.
Essa ocorrência é importante, segundo os pesquisadores, pois demonstra que um dos
fatores relacionados à motivação para trabalho voluntário parece ser a necessidade de
reparação de um acontecimento traumático anterior ou a perda de entes queridos relacionados
63
a isso. Assim, esse comportamento altruísta convive com uma personalidade que também
manifesta aspectos egoístas.
As contribuições da bioética têm enriquecido a perspectiva de análise sobre o tema
voluntariado. Selli e Garrafa (2008, apud MARTINS, BERUSA; SIQUEIRA, 2010), a partir
de princípios da bioética e da convicção do potencial dos prestadores de trabalho voluntário,
propõem a solidariedade crítica e o voluntariado orgânico como mecanismos de intervenção e
transformação da sociedade. A adjetivação critica diz respeito à capacidade de discernir as
dimensões sociais e políticas que estão presentes na ação solidária. O voluntário orgânico
seria aquele que tem como motivação o exercício da solidariedade crítica.
O conceito de voluntariado orgânico, por sua vez, foi construído segundo Selli e
Garrafa (2006), por analogia ao conceito de intelectual orgânico desenvolvido por Gramsci
(1979, apud SELLI; GARRAFA, 2006), que é entendido como uma participação ativa e
beneficente das pessoas que desenvolvem a atividade voluntária na construção das condições
necessárias à democratização efetiva do Estado, em todas as suas dimensões, neste caso
especifico, na área de saúde.
Moniz e Araújo (2006), nos resultados de sua pesquisa sobre trabalho voluntário em
saúde na relação com estresse e burnout, destacam também elementos significativos para a
inserção do voluntário em saúde: a experiência anterior com a doença (pessoal, familiar ou no
círculo social), a busca de realização pessoal no atendimento às necessidades pessoais, o
interesse em atender às necessidades de um grupo especifico (doentes, hospital ou a própria
instituição voluntária) e a influência social.
Para esses autores, embora não exista ganho material, há um ganho pessoal no
exercício da atividade, que se manifesta pelas gratificações associadas a: desenvolvimento,
aprendizado e experiência; reconhecimento social (respeito e valorização); mudança de
valores pessoais (desprendimento e revisão de preconceitos); senso de utilidade e importância
pessoal (ocupação de tempo e contribuição para o grupo);satisfação (prazer pessoal); relação
afetiva prazerosa com o atendido; alcance de ideais religiosos, minoração e superação dos
próprios problemas e dificuldades, aprimoramento de experiências anteriores, realização de
projeto de vida, conquista e ampliação do circulo social.
Moniz e Araújo (2006) concluem também que, embora existam insatisfações, é
possível colocar a hipótese de que o voluntariado reveste-se como um valor e constitui-se
como uma estratégia de enfrentamento, colocando como crucial pesquisar, com maior
profundidade, o treinamento oferecido aos voluntários, acompanhando e avaliando os
programas de capacitação e formação fornecidos no âmbito das instituições.
64
Nas suas pesquisas, esses autores afirmam também que o trabalho voluntário tende a
se aproximar do trabalho profissional, constituindo-se em uma categoria que precisa ser
incorporada e entendida na instituição hospitalar.
Ainda para os autores, nota-se que a figura assistencialista vem cedendo lugar à
imagem do voluntário responsável e integrado à equipe de saúde e à unidade hospitalar. No
entanto, diante dessa institucionalização, é necessário dar maior clareza entre o que é papel ou
competência do voluntário e aquilo que é dever e compromisso do Estado.
Das possíveis consequências da atividade para o voluntário, destaca-se, por exemplo,
aquela apontada por Midlarsky (1991, apud MONIZ; ARAÚJO, 2008), que considera que a
ajuda a outras pessoas constitui uma forma de enfrentamento aos agentes estressores daquele
que ajuda. Esse comportamento não permite que um indivíduo se sinta vítima, mas torna um
agente que continua tendo capacidade para agir, além de reagir.
Como agente, ele pode ajudar a si próprio, promovendo a distração dos próprios
problemas, aumentando o senso de valor e significado da própria vida, aumentando o senso de
autocompetência, melhorando o senso de humor e promovendo a sua integração pessoal.
O voluntário pode auxiliar na humanização hospitalar, assunto discutido no próximo
capítulo.
65
3 O HOSPITAL E O CONTEXTO DA HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE
3.1 O AMBIENTE HOSPITALAR
Data de 816 a origem do termo “hospital”, para designar o estabelecimento nos quais
se cuida dos doentes. Na Idade Média, as práticas da caridade e a hospitalidade tinham o selo
político-ideológico da Igreja Católica, mas os cuidados médicos e hospitalares da atualidade
trazem a marca do que é próprio da racionalidade regida pelas relações de poder de nossa
época. Nada é mais humano que as práticas do poder, seja lá qual for a sua forma histórica.
(ORTIZ, 2007).
As crescentes mudanças econômicas e sociais trazidas com o mercantilismo, a
importância maior conferida às municipalidades para o equacionamento dos problemas
comunitários e o interesse progressivo de subordinar o clero às autoridades civis impuseram
gradativa mudança aos hospitais do Ocidente. Com a criação dos Estados monárquicos, os
hospitais vieram para a administração pública.
É a partir daí que o médico começa a se tornar sua figura central e simbolizá-lo, o que
não acontecia no hospital antigo. O médico aparece com o Estado, indissociavelmente ligado
a outro tipo de poder que não era clerical, com funções delegadas pela autoridade pública.
Passava a ser competência exclusiva sua examinar, internar, prescrever e dar alta. A partir do
século XVII, começando na Holanda, o hospital torna-se, além de campo das práticas
médicas, instrumento de formação e aperfeiçoamento (RIBEIRO, 1993).
Segundo Pitta (1999, p.39), “o surgimento do Hospital como cenário privilegiado da
tecnologia médica, cumprindo finalidades terapêuticas, é fato relativamente recente e tem
como marco das transformações de suas atribuições o final do século XVIII”.
Ribeiro (1993, p.25) ressalta que “o hospital, como campo fecundo de experiências
diversas, passava a ter, paulatinamente, uma nova missão: a de incorporar tecnologias a
princípios artesanais, passando estas, no século seguinte, a ser industrialmente produzidas”.
Pitta (1999, p.44) afirma que as diferentes funções que o hospital tem desempenhado
ao longo de sua história, têm dificultado em muito a tarefa dos que buscam entender o
processo de trabalho hospitalar como um corpo de práticas institucionais articuladas às
demais práticas sociais numa dada sociedade e submetidas a determinadas regras históricas,
econômicas e políticas.
66
Segundo Ribeiro (1993, p.27), a medicina adquiriu uma eficácia inimaginável. Pode
agora coibir a dor, o sofrimento e a morte por meio do saber e da experiência de suas equipes
de tecnólogos (não mais da ação individual dos médicos) que se escondem, quase anônimos,
atrás de máquinas e máscaras, e do hospital.
Ainda há uma contabilidade hospitalar precisa e automatizada, trazida no discurso de
Ribeiro (1993, p.27):
Há uma contabilidade hospitalar precisa e automatizada de tudo, com
números de internações, de altas, de dias de permanência e taxas de
morbidade e mortandade. Planejam-se investimentos e medem-se custos.
São tecnologias administrativas e empresariais que lhe dão aura de eficiência
e resolutividade nunca tida antes e que o diferenciam de outra tradicional
instituição médica, o consultório.
O hospital possui contornos próprios:
A percepção de sua imprescindibilidade social é absoluta, a segurança de
eficácia quase materializável, a solidariedade entre seus pares intrínseca, a
autoridade incontestável e a onipotência, uma das suas características. São
poucas as instituições sociais que gozam de tanto reconhecimento público
como o hospital. Mesmo quando a experiência pessoal não confirma as
expectativas, as críticas se fazem contra “aquele” hospital e não a instituição
hospitalar. (RIBEIRO, 1993, p.26).
Empenhados em fazer viver os ameaçados pela morte, o hospital contemporâneo tem
outras missões, entre elas, a de adiá-la, torná-la indolor e ocultá-la.
Ribeiro (1993, p. 28) assinala:
Nos anos de 1930 a 1950, ocorre a transferência da morte para o hospital,
como missão quase exclusivamente sua. Não se trata de recuperar o doente,
mas de interditar a morte, de adiá-la, medicalizando-a. O que era uma
cerimônia tornou-se um processo tecnológico com a intervenção médica.
Afinal, só se pode morrer no hospital e sob cuidados estranhos. (RIBEIRO,
1993, p.28).
E relata no seu discurso as novas funções do hospital:
O hospital moderno possui outras missões, além dessas, algumas herdadas
de sua etapa precedente, outras mais recentes. Ele é um aparelho formador
de profissionais em permanente qualificação independente de ser, stricto
sensu, uma escola. Ao qualificar técnicos, ele simultaneamente qualifica e
avaliza tecnologias – tecnologias que são hoje produtos industriais,
mercadorias. É um local privilegiado, onde essas e outras mercadorias,
67
principalmente as de maior valor de uso e conseqüentemente de troca,
podem ser vendidas. Entre elas, o trabalho. (RIBEIRO, 1993, p.29).
Assim, ao lado da missão de recuperar a força de trabalho e devolvê-la ao mercado, o
hospital contemporâneo reproduz, de outro modo, o capital. É essa nova missão, de instituição
que reproduz o capital de muitas maneiras, que caracteriza o hospital contemporâneo.
(RIBEIRO, 1993, p.29)
Este autor conceitua o novo hospital:
O hospital contemporâneo não apenas é uma instituição que evoluiu. É
muito mais, é uma instituição nova. Suas missões são outras, conquanto
resguardadas algumas que as precederam. Mudaram suas características,
suas finalidades, sua administração, seus sujeitos, seus instrumentos e
processos de trabalho. O elemento sem dúvida mais constante dessa
trajetória tem sido o homem que sofre e morre. (RIBEIRO, 1993, p.31).
Segundo Godoi (2004), a doença, a dor e o sofrimento se tornaram um imenso
mercado onde quem tiver maiores possibilidades, poderá explorá-los com maior sucesso. Isso
tem gerado, na verdade, o comércio da doença, deixando fora de foco o fato de que não é o
hospital que precisa do doente ou do paciente, é o doente que precisa do hospital.
Para esse autor, quando o paciente é a razão da existência, ele não deveria perder o
nome ou a dignidade durante uma internação hospitalar. Tampouco deveria ter a sua doença
como sendo mais importante que ele mesmo. Ao deixar de ser o objeto e passando a ser o
sujeito do tratamento, o paciente resgata a importância individual e a dignidade que o
tratamento possa lhe tirar (GODOI, 2004).
Quanto à função do médico, o que este faz é aplicar um saber datado, utilizá-lo como
instrumento de sua prática sobre outros homens, e saber que a medicina normalizou segundo o
modo de produção, as necessidades e os valores criados em cada sociedade. Não há dúvida de
que o médico detém razoável grau de autonomia e poder correlato, em decorrência de sua
atribuição intransferível de prescrever e intervir, mas é a instituição hospitalar, muito mais do
que os médicos, especialistas ou não, que determina quase tudo (RIBEIRO, 1993).
O doente do hospital padece de um mal diagnosticado como orgânico, que tornou
indispensável sua internação. Ele é internado para ser tratado ou tecnicamente cuidado para
morrer (RIBEIRO, 1993).
Ao descrever o processo de submissão do paciente no hospital, Ribeiro (1993, p.50)
afirma:
68
O processo de submissão do doente do hospital é mais amplo, mais profundo
e sem escolha. Ele é um doente assumido, por si e por todos, que carece de
uma intervenção médica, tão sistematizada quanto sua doença; doença que se
externalizou não apenas na subjetividade de suas queixas, mas na
objetividade dos outros elementos diagnósticos que o médico toca, vê e
interpreta. O doente internado é, em síntese, o doente, aquele sobre o qual a
ciência médica exacerba o seu positivismo, e pode afirmar a transposição da
linha demarcatória da normalidade. Sua patologia precisa ser reconhecida e
classificada.
Segundo Pitta (1999), por uma cultura própria, em que as relações de poder e
disciplina atravessam as diversas atuações no seu interior sem serem vistas ou examinadas de
forma clara, até porque não se manifestam de modo transparente, é tendência instituída
infantilizar o doente, submetendo-o ao paternalismo, fato que se manifesta de incontáveis
maneiras no dia a dia do hospital. Ao doente cabe confiar no médico e na medicina,
comunicando suas experiências íntimas, pessoais e corporais. Em contrapartida, não é sequer
de bom tom, ou melhor, fere as recomendações éticas e técnicas mais elementares, que um
gesto afetivo e igual apareça na relação do técnico com o enfermo.
O hospital não é apenas o lugar onde as pessoas se tratam e curam; é, também, onde se
morre e onde, paradoxalmente, a morte é negada (ARIÈS, 1988, apud RIBEIRO, 1993).
3.2 HUMANIZAÇÃO E DESUMANIZAÇÃO NO CONTEXTO DA SAÚDE
Ao se pensar em humanização, remete-se ao termo cuidado, e este esteve presente na
antiga literatura romana pela palavra cura, traduzida por cuidado, atenção, interesse. A radical
importância do cuidado para o ser humano aparece no mito, chamado de cuidado, recolhido
pelo autor romano Higino. Segundo Heidegger (1989, apud BOFF, 1999, p.34):
“Do ponto de vista existencial, o cuidado de acha a priori, antes de toda a
atitude e situação do ser humano, o que sempre significa dizer que ele se
acha em toda atitude e situação de fato. O cuidado se encontra em toda a raiz
do ser-humano, antes que ele faça qualquer coisa. E, se fizer, ela sempre vem
acompanhada de cuidado e imbuída de cuidado. Significa reconhecer o
cuidado como um modo-de-ser essencial, sempre presente e irredutível à
outra realidade anterior. É uma dimensão fontal, originária, ontológica,
impossível de ser totalmente desvirtuada”.
69
Heidegger (1995) desenvolveu a hipótese de que a atitude, a condição e a ação de
“estar cuidando” são as que melhor nos permitem compreender o sentido da nossa existência
como seres humanos. É o cuidar que revela, simultaneamente, o mundo em que (já sempre) se
está vivendo, o mundo que (sempre a partir deste em que se está lançado e como modo de
significá-lo e transformá-lo) se antecipa, se escolhe e se negocia como futuro desejado, e os
sujeitos que antecipam, escolhem e negociam esse mundo que compartilham e projetam.Nesse
sentido filosófico-existencial, o cuidado em Heidegger é entendido como o elemento
existencial que permite a autocompreensão e a (re)construção contínua e simultânea da
condição humana (AYRES, 2006).
Segundo Giordani (2008), no ato de cuidar, já deveria estar embutido o sentido da
humanização da assistência ao ser humano, família e comunidade, apesar de a abordagem
humanística em foco existir mais na teoria do que no cotidiano de muitas instituições.
Para Deslandes (2006), o significado da desumanização seria o de “tratar pessoas
como coisas”, indicando a persistente ação de não reconhecer o doente como pessoa e sujeito,
mas como objeto de intervenção clínica. Nessa racionalidade, as pessoas doentes seriam vistas
como um conjunto de necessidades padronizadas, atendidas por serviços igualmente
estandardizados.
Revisitar o debate da humanização nos mostra a persistência de alguns dilemas éticos,
morais e religiosos. Sua constância pode ser explicada seja pela complexidade da reflexão que
envolve (em que consiste humanizar o cuidado de saúde? o que seria desumanizá-lo?), seja
pela permanência de certas estruturas que alicerçam a produção de cuidados em saúde e que,
portanto, reproduzem e atualizam as dinâmicas relacionais aí presentes (DESLANDES,
2006).
A descrição de um conjunto de práticas, lógicas e interações que poderiam ser
reconhecidas como fatores de desumanização, está presente em estudos realizados desde os
anos 50 por diversos campos da saúde (CASATE; CORRÊA, apud DESLANDES, 2006).
Considera-se a sociologia médica norte-americana uma referência histórica
importante para conceituar a humanização e a desumanização do cuidado com a saúde, tendo
ainda como ambição a expectativa de consolidar um modelo teórico capaz de guiar
investigações. Na década de 70, registra-se a eleição dessas relações e práticas como um
objeto de estudo sistemático da sociologia médica (DESLANDES, 2006).
Alguns destaques são inevitáveis, tais como a investigação de Goffman (1961) que
retrata os intensos processos de despersonalização ocorridos em hospitais psiquiátricos e
70
permitirá, posteriormente, indagar em que medida tais mecanismos se mostram presentes nos
demais hospitais. (DESLANDES, 2006).
Geiger (1975), médico e professor de medicina preventiva, cria um modelo explicativo
sobre a desumanização no sistema médico, que articula três ordens de causas:
(a) a ordem social, considerada por ele como desigual, racista e exploratória, cujas
lógicas e critérios segregacionistas influenciaram o sistema médico;
(b) a racionalidade científica e tecnológica ocidental cujas tendências à fragmentação,
ao hermetismo e à especialização seriam obstáculos a uma visão holista do ser humano, além
de impedir o acesso à compreensão e a conseqüente participação na tomada de decisões
médicas;
(c) a subcultura médica e a organização da profissão médica que invocam os estudos
de Freidson (1970) sobre suas formas de autorregulação e proteção contra a crítica e a
supervisão externa, as barreiras de comunicação existentes na relação médico-paciente e a
formação médica (DESLANDES, 2006).
O esforço de produzir modelos explicativos tem ainda o texto da socióloga Jan
Howard (1975) como importante referência, por ser um dos primeiros trabalhos propostos no
campo da sociologia médica, nesse período, para a conceituação e a análise da humanização
do cuidado.
Howard (1975), em ampla revisão bibliográfica de textos dos anos 60 e início dos anos
70, apresenta um modelo que identifica onze práticas produtoras de desumanização dos
cuidados e oito práticas consideradas humanizadoras, já identificadas pelos pesquisadores em
estudos anteriores e na literatura de narrativas de pacientes e médicos.
As práticas produtoras de desumanização seriam:
(a) tratar pessoas como coisas, ou não reconhecer o doente como pessoa e sujeito, mas
como objeto de intervenção clínica;
(b) Enfatizar a tecnologia, isto é, a prática do cuidado predominantemente realizado
por intermédio de máquina e procedimentos, mas sem interação do doente e do cuidador;
(c) Submeter o doente à experimentação, que são as formas antiéticas de pesquisa
experimental com seres humanos;
(d) ver a pessoa como problema, desconsiderando as necessidades subjetivas e
reduzindo a pessoa doente à sua patologia;
(e) tratar as pessoas como de menos valor, ou seja, considerar certas pessoas como
sendo inferiores;
71
(f) tratar as pessoas de forma isolada, que expressa a despersonalização, a reclusão, a
solidão e a não reciprocidade entre pessoas doentes e seus cuidadores no sistema de saúde;
(g) tomar as pessoas como recipientes de cuidados subpadronizados, significando que
a algumas pessoas se dispense um cuidado inferior, de menor qualidade;
(h) considerar pessoas sem escolha, que é a falta de autonomia do sujeito doente no
espaço hospitalar e na relação com o profissional de saúde;
(i) manter a neutralidade e a objetividade biomédica, que geram interações frias e
distanciadas com os pacientes;
(j) colocar as pessoas em ambientes estáticos e estéreis, o que diz respeito ao ambiente
hospitalar, uma vez que a decoração e outras formas de ambiência já se revelavam, nessa
época, como fatores para a humanização da assistência;
(l) não levantar o debate moral sobre a responsabilidade dos profissionais na
preservação da vida, considerando uma desumanização negar tal direito, incluindo-se aí as
polêmicas sobre eutanásia, aborto e o desligamento de tecnologias de suporte da vida
(HOWARD, apud DESLANDES, 2006).
Segundo Deslandes (2006), o modelo de Howard (1975) que descreve a
desumanização dos cuidados da saúde, mais do que efetivamente produzir um exercício de
conceituação, apresenta um amplo quadro descritivo, capaz de fornecer uma espécie de guia
para identificar empiricamente a humanização a partir de oito condições que considera
“necessárias e suficientes”. Estas estão filiadas a dimensões ideológicas, da estrutura das
interações paciente-cuidador e psicológicas.
A dimensão ideológica tem como característica ser norteada pelas seguintes práticas
do cuidado: o intrínseco valor da vida humana, a insubstituibilidade de cada ser humano e as
pessoas consideradas em sua integralidade.
Nesse bloco, discutem-se as questões da igualdade, da equidade, da saúde como
direito, do direito ao atendimento diferenciado (reconhecimento das identidades únicas) a
partir do sujeito percebido na sua integralidade.
Os fatores associados à “[...] estrutura em que se dão as interações entre cuidadores e
pacientes” (HOWARD, 1975, p.43) referem-se à liberdade de ação, ao status de igualdade e
ao compartilhamento na tomada de decisões. Esses três aspectos estão interligados no modelo
apresentado.
Este bloco trata de questões discutidas no campo de humanização, envolvendo o
questionamento sobre até que ponto os pacientes têm autonomia e legitimidade para a tomada
de decisões.
72
Howard traz outro aspecto à discussão:
Dimensão psicológica como fator de humanização: a empatia e o afeto. A
discussão sobre o acolhimento, a importância do diálogo, da conversa se
afastará do status de senso comum e ganhará enquadramentos teóricos da
filosofia, da psicologia e psicanálise, sendo vistos como estratégicos na
produção dos cuidados em saúde. (apud DESLANDES, 2006, p.44).
Em relação ao movimento humanização na saúde, recorro a Rios (2009, p.11-16), para
discorrer sobre este processo de retomada de valores:
O uso histórico da Humanização o consagra como aquele que rememora
movimentos de recuperação de valores humanos esquecidos, ou solapados
em tempos de frouxidão ética. No nosso horizonte histórico, a humanização
desponta, novamente, no momento em que a sociedade pós-moderna passa
por uma revisão de valores e atitudes. A humanização se fundamenta no
respeito e valorização da pessoa humana e constitui um processo que visa à
transformação da cultura institucional, por meio da construção coletiva de
compromissos éticos e de métodos para as ações de atenção à saúde e de
gestão dos serviços.
No sentido filosófico, a humanização é “um termo que encontra suas raízes no
humanismo, corrente filosófica que reconhece o valor e a dignidade do homem – a medida de
todas as coisas – considerando sua natureza, seus limites, interesses e potenciais. O
humanismo busca compreender o Homem e criar meios para que os indivíduos compreendam
uns aos outros”. (RIOS, 2009, p.10)
A partir dessa perspectiva e da retomada de valores éticos, a humanização nasce
dentro do SUS – Sistema Único de Saúde. Os princípios do SUS são totalmente de inspiração
humanista: universalidade, integralidade, equidade e participação social.
No ano de 2000, o Ministério da Saúde, sensível às manifestações setoriais e às
diversas iniciativas locais de humanização das práticas de saúde, criou o Programa Nacional
de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), que estimulava a disseminação das
ideias de humanização, os diagnósticos situacionais e a promoção de ações humanizadoras de
acordo com as realidades locais.
Em 2003, o Ministério da Saúde, passou o PNHAH por uma revisão e lançou a Política
Nacional de Humanização (PNH), que mudou o patamar de alcance da humanização dos
Hospitais para toda a rede SUS e definiu uma política que focou, principalmente, os processos
de gestão e de trabalho.
73
3.3 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO – PNH
Segundo Martins (2006), o Programa Nacional de Humanização da Assistência
Hospitalar (PNHAH) foi criado no ano de 1999, pela Secretaria da Assistência à Saúde do
Ministério da Saúde.
Os objetivos desse Programa foram: melhorar a qualidade e a eficácia da atenção
dispensada aos usuários de rede hospitalar; recuperar a imagem dos hospitais entre a
comunidade; capacitar os profissionais dos hospitais para um conceito de atenção à saúde
baseado na valorização da vida humana e da cidadania; conceber a implantar novas iniciativas
de humanização, beneficiando tanto os usuários como os profissionais de saúde; estimular a
realização de parcerias e trocas de conhecimento; desenvolver um conjunto de
indicadores/parâmetros de resultados e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado.
Já a Política Nacional de Humanização – PNH foi criada em 2003 para efetivar os
princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública
no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.
O Programa Nacional de Humanização à Assistência Hospitalar (2003) tem como
premissa, além da preocupação com a saúde brasileira, o aspecto da relação usuário da saúde
com o profissional da saúde:
Os inúmeros avanços no campo da saúde pública brasileira – operados
especialmente ao longo das últimas duas décadas – convivem, de modo
contraditório, com problemas de diversas ordens. Se podemos, por um lado,
apontar avanços na descentralização e na regionalização da atenção e da
gestão da saúde, com ampliação dos níveis de universalidade, eqüidade,
integralidade e controle social, por outro, a fragmentação e a verticalização
dos processos de trabalho esgarçam as relações entre os diferentes
profissionais da saúde e entre estes e os usuários; o trabalho em equipe,
assim como o preparo para lidar com as dimensões sociais e subjetivas
presentes nas práticas de atenção, fica fragilizado. (BRASIL. PNH, 2003,
p.5).
O que justifica a criação da política, acima de tudo, é viabilizar a saúde digna para
todos, a partir de modelos de gestão e de atenção, aliados aos de formação dos profissionais
de saúde, como está expresso em seu marco teórico-político:
O debate sobre os modelos de gestão e de atenção, aliados aos de formação
dos profissionais de saúde e aos modos com que o controle social vem se
exercendo, é, portanto, necessário e urgente. Necessário para que possamos
74
garantir o direito constitucional à saúde para todos, e urgente porque tal
debate é uma condição para viabilizar uma saúde digna para todos, com
profissionais comprometidos com a ética da saúde e com a defesa da vida. É
por isso que propomos uma Política Nacional de Humanização da Atenção e
da Gestão da Saúde. (BRASIL. PNH, 2003, p.5).
Outro ponto importante trazido no próprio corpo do texto da política diz respeito à
nomenclatura “humanização”, já que é redundante se falar em humanos:
E por que falar em humanização quando as relações estabelecidas no
processo de cuidado em saúde se dão entre humanos? Estaríamos com esse
conceito querendo apenas “tornar mais humana a relação com o usuário”,
dando pequenos retoques nos serviços, mas deixando intocadas as condições
de produção do processo de trabalho em saúde? (BRASIL. PNH, 2003, p.6).
A política também critica ações de caráter “vago”, como ações humanitárias de caráter
filantrópico, voluntárias e reveladoras de bondade, quando afirma:
Devemos tomar cuidado para não banalizar o que a proposição de uma
Política de Humanização traz ao campo da saúde, já que as iniciativas se
apresentam, em geral, de modo vago e associadas a atitudes humanitárias, de
caráter filantrópico, voluntárias e reveladoras de bondade, um “favor”,
portanto, e não um direito à saúde. Além de tudo, o “alvo” dessas ações é,
grande parte das vezes, o usuário do sistema, que, em razão desse olhar,
permanece como um objeto de intervenção do saber do profissional. Raras
vezes o trabalhador é incluído e, mesmo quando o é, fica como alguém que
“também é ser humano” (!) e merece “ganhar alguma atenção dos gestores.
(BRASIL. PNH, 2003, p.6).
Sobre o que é humanizar, o texto traz a seguinte definição (p.06):
Tematizar a humanização da assistência abre, assim, questões fundamentais
que podem orientar a construção das políticas em saúde. Humanizar é, então,
ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com
acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de
trabalho dos profissionais.
É também destaque da política se apresentar como uma “política” e não como
programa de humanização, pois tem como objetivo de operar transversalmente em toda a rede
SUS:
O risco de tomarmos a Humanização como mais um programa seria o de
aprofundar relações verticais em que são estabelecidas normativas que
“devem ser aplicadas e operacionalizadas”, o que significa, grande parte das
vezes, efetuação burocrática, descontextualizada e dispersiva, por meio de
ações pautadas em índices a serem cumpridos e em metas a serem
75
alcançadas independentemente de sua resolutividade e qualidade. Com isso,
estamos nos referindo à necessidade de adotar a Humanização como política
transversal, entendida como um conjunto de princípios e diretrizes que se
traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e nas
instâncias do sistema, caracterizando uma construção coletiva. (BRASIL.
PNH, 2003, p.7).
Outro ponto importante na discussão é a política enquanto estratégia de interferência
no processo de produção de saúde:
Assim, tomamos a Humanização como estratégia de interferência no
processo de produção de saúde, levando-se em conta que sujeitos sociais,
quando mobilizados, são capazes de transformar realidades transformando-
se a si próprios nesse mesmo processo. Trata-se, então, de investir na
produção de um novo tipo de interação entre os sujeitos que constituem os
sistemas de saúde e deles usufruem, acolhendo tais atores e fomentando seu
protagonismo. (BRASIL. PNH, 2003, p.8).
Sendo também uma estratégia para alcançar a qualidade da atenção e da gestão,
estabelecem-se a partir das dimensões “atitudes” éticas-estéticas-políticas, características
fundamentais entre e para os sujeitos que produzem saúde:
A Humanização, como um conjunto de estratégias para alcançar a quali-
ficação da atenção e da gestão em saúde no SUS, estabelece-se, portanto,
como a construção/ativação de atitudes ético-estético-políticas em sintonia
com um projeto de co-responsabilidade e qualificação dos vínculos inter-
profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde. Éticas porque
tomam a defesa da vida como eixo de suas ações. Estéticas porque estão
voltadas para a invenção das normas que regulam a vida, para os processos
de criação que constituem o mais específico do homem em relação aos
demais seres vivos. Políticas porque é na pólis, na relação entre os homens
que as relações sociais e de poder se operam, que o mundo se faz. (BRASIL.
PNH, 2003,´p.8. Grifos meus).
Ainda pensando no caráter da atitude humanizadora, como construção das
competências para a construção da política, destaca-se:
Construir tal política impõe, mais do que nunca, que o SUS seja tomado em
sua perspectiva de rede. Como tal, o SUS deve ser contagiado por esta
atitude humanizadora, e, para isso, todas as demais políticas deverão se
articular por meio desse eixo. Trata-se, sobretudo, de destacar os aspectos
subjetivos e sociais presentes em qualquer prática de saúde. (BRASIL. PNH,
2003, p.8. Grifos meus.)
Quanto aos princípios norteadores da Política de Humanização (2003), destacam-se:
(a) valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão,
fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/
76
responsabilização; (b) estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a
produção de sujeitos; (c) fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando
a transdisciplinaridade e a grupalidade; (d) atuação em rede com alta conectividade, de modo
cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS; (e) utilização da
informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção
de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.
A política estabeleceu diretrizes específicas por nível de atenção. Tratando-se da
Atenção Hospitalar, a política propõe dois níveis crescentes (B e A) de padrões para adesão à
PNH, através dos seguintes parâmetros:
Parâmetro para o nível B: (a) Existência de Grupos de Trabalho de Humanização
(GTH) com plano de trabalho definido; (b) Garantia de visita aberta por meio da presença do
acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as
peculiaridades das necessidades do acompanhante; (c) Mecanismos de recepção com
acolhimento aos usuários; (d) Mecanismos de escuta para a população e os trabalhadores; (e)
Equipe multiprofissional (minimamente com médico e enfermeiro) de atenção à saúde para
seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para atendimento à família e/ou
à sua rede social; (f) Existência de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas às
práticas hospitalares, como as de cuidados domiciliares; (g) Garantia de continuidade de
assistência com sistema de referência e contrarreferência.
Parâmetro para o nível A: (a) Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com plano
de trabalho implantado; (b) Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante e
de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das
necessidades do acompanhante; (c) Ouvidoria em funcionamento; (d) Equipe
multiprofissional (minimamente com médico e enfermeiro) de atenção à saúde para
seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para atendimento à família e/ou
à sua rede social; (f) Existência de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas às
práticas hospitalares, como as de cuidados domiciliares; (g) Garantia de continuidade de
assistência com sistema de referência e contrarreferência; (h) Conselho gestor local com
funcionamento adequado; (i) Existência de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de
acesso (pronto-atendimento, pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e
terapia); (h) Plano de educação permanente para trabalhadores com temas de humanização em
implementação.
77
Quanto à gestão da Política de Humanização, uma das ações, se constitui no
mapeamento de programas, projetos e iniciativas de humanização já existentes, de modo
articulado, transversal, a partir também do seu modo de operar, quando propõe:
Mapear programas, projetos e iniciativas de humanização já existentes,
articulá-los e, a partir daí, propor diretrizes, traçar objetivos e definir
estratégias de ação na composição da PNH, num constante diálogo com as
especificidades das áreas da saúde, são tarefas das quais não podemos abrir
mão se, de fato, queremos operar transversalmente. (BRASIL. PNH, 2003,
p.16).
Ideologicamente, a Política da Humanização da Saúde é uma política transversal, que,
de maneira geral, tem como premissa levar em conta as necessidades, garantindo os direitos e
os interesses dos diferentes atores envolvidos no campo da saúde. Dessa forma, a
Humanização se constitui como um conjunto de estratégias para alcançar a qualidade da
atenção e da gestão em saúde do SUS.
3.4 A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E DO BRINCAR NO
CONTEXTO HOSPITALAR
A contação de histórias possui, portanto, seu lugar no processo de humanização de
saúde, pois contar histórias é uma arte milenar, de caráter acolhedor e integrador.
Segundo Coelho (2002), como toda a arte, possui segredos e técnicas e sendo uma arte
que lida com matéria-prima especialíssima, a palavra, prerrogativa das criaturas humanas,
depende, naturalmente, de certa tendência inata, mas pode ser desenvolvida, cultivada, desde
que se goste de crianças e se reconheça a importância das histórias para elas.
Ainda para Coelho (2002), a história aquieta, serena, prende a atenção, informa,
socializa, educa e, quanto menor a preocupação em alcançar tais objetivos explicitamente,
maior será a influência do contador de histórias.
A proposta explicitada no trabalho da Associação Viva e Deixe Viver é a de contar
histórias para promoção da leitura e do brincar, não se estendendo a objetivos de cunho
formal (educação formal) ou de cunho terapêutico, mas, como assinala Coelho (2002), as
histórias possuem caráter socializador, presente portanto na proposta de humanização nos
hospitais.
78
Segundo Giordano (2004, p.279), ao ser narrada, “a história permite que o ouvinte
conte a si mesmo sua própria história, e, ao recontá-la, em um processo criador, concebe a si
mesmo, possibilitando a aventura humana de dar forma ao desconhecido. Assim, a arte/contos
é uma linguagem individual, o que significa dizer que os significados são individuais”.
Para essa autora, ouvir uma narrativa, portanto, desperta/facilita a imaginação, e a
imaginação oferece a investigação do que pode ser e não do que deve ser. Esse oferecimento
está presente em qualquer obra de arte, mas, em especial, privilegiadamente no contar
histórias, onde mora a possibilidade da meditação sobre o seu mundo, sobre você para com
você mesmo.
Segundo Estés (1994, p.34), há muitos modos de abordar as histórias. “O estudioso
profissional do folclore, o analista freudiano, jungiano ou de outra corrente, o etnólogo, o
antropólogo, o teólogo, o arqueólogo, cada um tem um método diferente, tanto na compilação
das histórias quanto na aplicação a elas atribuída”. Irei me deter apenas no caráter
humanizador das histórias.
Bachelard (1978 apud GIORDANO, 2004, p.282) comenta a fenomenologia das
ressonâncias e da repercussão que uma obra de arte poética tem sobre o homem:
As ressonâncias se dispersam nos diferentes planos da nossa vida no mundo,
a repercussão nos chama a um aprofundamento da nossa própria existência.
Na ressonância, ouvimos o poema, na repercussão nós o falamos, pois é
nosso. A repercussão opera uma revirada do ser [...] Parece que por sua
exuberância o poema desperta profundezas em nós. Para nos darmos conta
da ação psicológica de um poema teremos pois de seguir duas linhas de
analise fenomenológica: uma que vai a exuberância do espírito, outra que vai
às profundezas da alma [...] Assim, a imagem que a leitura do poema nos
oferece faz-se verdadeiramente nossa. Enraíza em nós mesmos. Recebêmo-
la, mas nascemos para a impressão de que poderíamos criá-la, de que
devemos criá-la. A imagem se transforma num ser novo de nossa linguagem,
exprime-nos fazendo-nos o que ela exprime, ou seja, ela é ao mesmo tempo
um devir de expressão e um devir de nosso ser.
É da luta contra e dentro do tempo físico que, segundo Guttmann (2004, p.255), “a
arte entra como necessidade, solução e transformação”. A arte, pois, transcende o tempo,
devolvendo ao ser humano sua natureza atemporal e ilimitada, sendo uma das máximas
expressões do homem sobre o tempo, a permissão e a necessidade do ser humano de
transcender os limites físicos da vida, explorando e ampliando o poder de sua capacidade
criativa, transformando e recriando novas realidades.
As histórias contam não apenas episódios de um evento imaginário, mas muita coisa
sobre nós mesmos. Portanto, por meio dos contos, há possibilidade de se aprender mais sobre
79
cada um de si através da revisão da sua própria história. Daí o caráter humanizante das
histórias/contos/poemas.
A atenção à saúde da criança configura-se como um campo interdisciplinar. Entre as
diversas estratégias utilizadas nas ações que envolvem o encontro de diferentes saberes, pode-
se situar o brincar. Ele deve ser visto não apenas na perspectiva de recreação, mas como
recurso terapêutico, que promove, além da continuidade do desenvolvimento infantil, a
possibilidade de elaboração de experiências, funcionando como uma linguagem não verbal de
domínio da criança. (MITRE, 2006).
Segundo a Lei no.
11.104, de 21 de março de 2005, é obrigatório que todo hospital que
possua atendimento pediátrico possua um espaço privilegiado para o brincar e para leituras,
que são as brinquedeotecas, nas suas dependências.
O brincar no hospital deve estar presente tanto na atividade espontânea da criança
quanto nas intervenções dos profissionais. Para os profissionais de diferentes áreas,
envolvidos com a promoção do brincar, ele é efetivamente percebido como algo prazeroso à
criança, que traz a alegria e também resgata a condição de “ser criança” (MITRE; GOMES,
2004, apud MITRE, 2006, p.293).
Segundo Benevides e Passos (2005), a humanização é uma estratégia de intervenção
nas práticas de saúde a partir de um novo posicionamento dos sujeitos envolvidos. Nessa
perspectiva, a contação de histórias e o brincar são percebidos como elementos que
possibilitam à criança transformar a sua participação, mediante um maior protagonismo na
produção de sua saúde.
O lúdico funciona como uma tecnologia de relações, capaz de interrogar sentidos e
significados, possibilitando a busca de novos referenciais para a intervenção clínica (MITRE;
GOMES, 2004, apud MITRE, 2006).
Conferir à contação de histórias e à brincadeira o status de instrumento no processo de
humanização da saúde envolve discussões importantes sobre como se pensa o humanização
do cuidado, porque essas experiências nos espaços hospitalares não respondem
exclusivamente por este processo, nem tampouco por uma Política.
A Política de Humanização – PNH oferta os princípios norteadores para sua
efetivação, mas essas possibilidades de construção só se consolidam através da
transversalidade e de boas práticas coletivas de programas, projetos, gestores, profissionais da
saúde e usuários.
No País, existem exemplos de projetos com foco na humanização hospitalar e relatos
dessas experiências têm sido apresentados em congressos e fóruns nacionais, como nos
80
Congressos Brasileiros de Humanização Hospitalar e Fóruns de Humanização em Saúde,
promovidos pela Associação Viva e Deixe Viver, desde 2001, em várias cidades brasileiras,
para promover a Política Pública de Humanização da Saúde. Em sua sétima edição, em 2011,
o Congresso teve como tema Comunicação e Liderança na Atenção e Gestão da Saúde, tendo
como eixos temáticos: Gestão para a qualidade e humanização, Cuidado ao paciente,
Valorização do trabalho profissional, Humanização no ensino em saúde e Pesquisa em
humanização A Associação Viva e Deixe Viver, que têm a sua formação como objeto de
estudo desta dissertação, será detalhada no próximo capítulo.
81
4 DESCRIÇÃO DO CASO ESTUDADO E MÉTODO
4.1 DESCRIÇÃO DO CASO
4.1.1 Descrição do Caso em Nível Nacional
O objeto deste estudo é o programa de formação nacional para qualificação de
voluntários desenvolvido pela entidade Associação Viva e Deixe Viver, sendo que o foco
deste trabalho será o estudo da formação que é realizada no município de Salvador –Bahia.
A Associação Viva e Deixe Viver, entidade sem fins econômicos, foi criada em agosto
de 1997. Recebeu do Ministério da Justiça, em 2002, a certificação de OSCIP, caracterizando-
se como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Atua em nove Estados no
Brasil.
É formada em sua maioria por voluntários que se dedicam a contar histórias e oferecer
entretenimento, cultura e informação educacional a crianças e adolescentes hospitalizados,
visando tornar mais alegre e agradável o momento da internação ou tratamento hospitalar.
Sua missão é promover entretenimento, cultura e informação educacional através do
estímulo à leitura e do brincar, visando transformar a internação hospitalar de crianças e
adolescentes em um momento mais alegre e agradável, contribuindo positivamente para o
bem-estar de seus familiares e equipe multidisciplinar.
Tem como objetivo contribuir para a humanização dos hospitais e casas de apoio,
fortalecendo valores e princípios essenciais do ser humano – amor, responsabilidade,
organização, transparência, respeito, paz, cooperação e união. Visa, ainda, desenvolver e
capacitar o indivíduo para o cumprimento do trabalho voluntário na área da saúde, através da
arte de contar histórias e do brincar, de maneira consciente, comprometida e constante.
Seu princípio é de atuação ética. Trabalho em equipes integradas e com respeito à
individualidade. Não há discriminação por raça, cor, credo, religião, partidos políticos,
orientação sexual e poder aquisitivo. Não é permitida a utilização institucional político-
partidária da Associação, e se incentiva a capacitação constante de cada indivíduo.
82
A entidade funciona, quase majoritariamente, através do trabalho voluntário dos
contadores e dos fazedores de história, como são denominados os voluntários que atuam nos
hospitais e os que auxiliam nas demais atividades administrativas, respectivamente. Sua
equipe de funcionários remunerados é composta por doze pessoas, que se dividem em quatro
células de trabalho para garantir o funcionamento da organização.
Para o desenvolvimento do seu trabalho, a organização conta com a doação de duas
horas semanais de seus voluntários contadores e fazedores de histórias. Os contadores passam
por um processo de seleção específico, que ocorre anualmente. Nesse processo,
essencialmente são levadas em consideração características para o desempenho da tarefa,
como comprometimento e responsabilidade, dois aspectos fundamentais para o trabalho
exercido junto aos hospitais.
O programa de voluntariado da Associação Viva e Deixe Viver tem três princípios
básicos que norteiam a sua atuação, denominados pela entidade de Três Cs (3 Cs) –
Consciência, Comprometimento e Constância: consciência do seu papel e da importância do
seu trabalho; compromisso com a responsabilidade assumida e constância na disponibilidade
de doar-se. Tais princípios são constantemente avaliados pela coordenação de voluntários, ao
longo do tempo em que eles integram a organização.
A conscientização inicia-se com processo de recrutamento e seleção, em que diversas
ações são realizadas com vistas a despertar nos candidatos o entendimento sobre a
importância, a seriedade e o valor do trabalho que irão desenvolver. Já o comprometimento e
a constância se farão perceber ao longo do próprio processo seletivo e no decorrer do trabalho
junto à entidade.
A duração do processo de seleção de voluntários nessa instituição social dura uma
média de oito meses para ser concluído. Tempo este considerado suficiente para avaliar,
inclusive, o grau de interesse e seriedade que um voluntário tem em fazer parte da entidade. O
processo é iniciado com o preenchimento de um cadastro, respondendo a um primeiro
questionário de levantamento de interesses, em que entidade e solicitante são “apresentados”.
O candidato tem acesso ao histórico da organização, sua missão, visão, valores e
forma de atuação. Por outro lado, a entidade recebe dados iniciais do candidato e também
informações básicas, sendo feito um levantamento inicial que identifica principalmente a
razão da escolha por esse trabalho voluntário. A partir daí, seguem-se entrevistas, palestras,
dinâmicas, cursos e workshops, que compõem o escopo do processo seletivo.
Os temas abordados ao longo do processo são, entre outros, conscientização sobre o
trabalho voluntário e seu papel social, administração do tempo, ambientação hospitalar, a
83
importância do pensamento positivo. Na realidade, trata-se de um período de seleção mútua,
tanto para a entidade quanto para o candidato.
Todo o processo visa levantar um questionamento no próprio candidato, para que ele
possa identificar se tem ou não condições de participar do trabalho de contador de histórias.
Muitos voluntários desistem da formação ao longo do processo ou ao perceber que não
se identificam com o trabalho efetivo de contação de histórias em hospitais. A realidade que
os espera é muitas vezes dura e chocante. Logo, é necessário que eles percebam o desafio que
está à sua espera.
Vale lembrar que cada uma dessas etapas é eliminatória, e a ausência em uma das
atividades propostas caracteriza a desistência do candidato. Isso porque cada atividade é
considerada como um treinamento para o futuro voluntário. A presença do candidato, pois, é
essencial. O processo seletivo também é acompanhado por psicólogas voluntárias da
instituição.
Passados os oito meses de seleção e treinamento, os candidatos que conseguem chegar
até a fase final do processo, confirmando a sua escolha pelo trabalho de contador de histórias,
vão-se preparar para a sua “formatura”. Esse é um momento especial e de grande
representatividade simbólica para a organização e para o voluntário também.
Cada contador recebe um avental da Associação, que o identifica como membro
oficial da entidade, alguém que representará a instituição dentro do hospital. Ele é um símbolo
de sua persistência, do seu compromisso. Chegar até ali significa ter assumido a
responsabilidade e o compromisso em se doar e, mais do que isso, mostrar que foram capazes
de vencer o seu próprio limite. E o avental é, de fato, o reconhecimento dessa vitória.
Além disso, a formatura confere aos envolvidos um forte sentimento de equipe. A
partir desse ponto, eles fazem parte do grupo, estão todos no mesmo time. A instituição
reconhece que essa identidade que se cria é fundamental para a manutenção do trabalho
voluntário.
Inicialmente, esses novos voluntários são acompanhados nos hospitais por veteranos,
sendo monitorados por estes que os recebem, apresentam as atividades e os apoiam nos
primeiros encontros. Os voluntários veteranos, que se tornam responsáveis por acompanhar e
gerenciar o desempenho dos novos contadores, são denominados cabeça de chave.
Ao ingressar no Viva, os voluntários recebem orientações através de um Manual de
Instruções para Contadores de História (2005), no qual encontram informações básicas sobre
a entidade, sobre seus parceiros e sua missão; sobre como proceder no hospital, com a criança
84
e com a entidade; as normas de conduta estabelecidas pelo Viva, além de orientações gerais
sobre a cidadania participativa.
Dentro do trabalho de contação de histórias realizado pelo Viva e Deixe Viver, existe
um papel muito importante exercido pelos chamados cabeças de chave. São eles geralmente
voluntários contadores, normalmente veteranos e mais habituados às atribuições e
necessidades dos contadores de histórias dentro dos hospitais.
O cabeça de chave responde pelo trabalho de contação de histórias desenvolvido
dentro do hospital, onde lhe cabe a responsabilidade de organizar o material usado pelos
contadores, checar e acompanhar a assiduidade dos voluntários – quesito fundamental para a
permanência deles na entidade –, identificar possíveis problemas ou conflitos que estejam
existindo em membros do grupo e buscar solucioná-los dentro de suas possibilidades, além de
acompanhar os novatos em seus primeiros dias de contação.
O cabeça de chave é um aglutinador por excelência, elo de ligação entre o voluntário e
a instituição que atende, e também entre o voluntário e a Associação Viva e Deixe Viver. A
expectativa é de que ele tenha a capacidade de lidar com as necessidades dessas múltiplas
relações.
Mensalmente, os cabeças de chave enviam um relatório de frequência para o
coordenador de voluntários, junto a outras observações que são feitas no decorrer do mês
sobre o que ocorreu no hospital. É praxe, no dia a dia do trabalho nos hospitais, cada contador
deixar registradas as ações que realizou no atendimento às crianças, em uma espécie de
“diário de bordo”. Essa ferramenta permite que se crie um histórico do trabalho voluntário no
hospital, bem como facilita o trabalho do contador seguinte, que assim fica sabendo
previamente o que ocorreu no dia anterior.
Essas informações, que são enviadas mensalmente para a coordenação de
voluntariado, são os principais elementos de que dispõem para criar novas ações, resolver
situações pendentes, modificar metodologias ou aplicar novas ações corretivas.
Além desse fator, os relatórios de frequência permitem à instituição a formação de
indicadores relevantes, como: número de crianças atendidas, número de pais e/ou
acompanhantes e número de profissionais da saúde impactados pelo serviço prestado pela
entidade. Tais dados integram os balanços sociais que a entidade regularmente deve
apresentar aos seus investidores, apoiadores e à sociedade em geral.
O relacionamento dos cabeças de chave com a sede do Viva e Deixe Viver precisa ser
o mais próximo e transparente possível, com vistas a obter um real acompanhamento do
desenvolvimento de todas as atividades que lhes são pertinentes.
85
A escolha do cabeça de chave acontece de forma espontânea. Não existe por parte da
organização nenhum processo de seleção específico para esse “cargo” ou indicadores que
apontem para um perfil desejado.
Uma das condições essenciais para o pleno desempenho da tarefa de contar histórias
em hospitais, estabelecida pela coordenação da entidade, é a frequência dos voluntários nos
hospitais atendidos pelo Viva. Por se tratar de uma iniciativa personalizada, em que cada
criança atendida acaba conhecendo e esperando por seu contador no dia estabelecido, requer
um cuidado todo especial no que tange a acompanhar a constância do voluntário contador.
De acordo com o Manual de Instruções para o Contador de Histórias (2005), as faltas
devem ser previamente avisadas e as não justificadas não podem superar o número de quatro
vezes consecutivas.
A coordenação entende que o controle de presença dos voluntários é um dos
indicadores mais relevantes, vez que é uma das tarefas mais desafiadoras que há na entidade.
Além disso, os indicadores de horas doadas e crianças atendidas compõem relatórios anuais e
balanços que a organização apresenta periodicamente a parceiros e investidores e à
comunidade em geral.
Cada hospital atendido dispõe de um diário onde são registradas a presença do
voluntário e as atividades que ele realizou naquele dia, conforme citado anteriormente. Esta é
uma importante ferramenta de acompanhamento das tarefas para todos os voluntários e
também um registro da história da organização. O diário é também um meio de avaliar o
desempenho das atividades realizadas e propor melhorias necessárias, normalmente
detectadas pelo cabeça de chave e reportadas ao coordenador de voluntários.
Como toda ação voluntária, o grande desafio das instituições é o de manter o
voluntário dentro da entidade por um longo período de tempo. No Viva e Deixe Viver, em
São Paulo, o tempo de “vida útil” de um voluntário é em média de um ano.
A coordenação entende que esse período médio de permanência é bastante satisfatório.
Na verdade, ainda que concluam com êxito os 8 (oito) meses de seleção e treinamento, apenas
com a experiência de contador no hospital é que o voluntário efetivamente decide se abraçará
ou não a causa.
Além das aulas e cursos que o voluntário recebe na fase de recrutamento, são
oferecidas, periodicamente, capacitações gratuitas para contação de histórias, oficinas de
origami, palestras sobre valores humanos, entre outras essenciais ao desenvolvimento do
trabalho de humanização hospitalar.
86
Essas atividades proporcionam ao voluntário um aumento no seu nível de
conhecimento e nas suas habilidades, sendo uma importante ferramenta para a valorização e
manutenção dele na entidade.
Apesar do não envolvimento afetivo que se recomenda para a atuação do contador, de
algum modo acaba sendo criado um relacionamento próximo entre voluntário e paciente.
Além disso, existe a consciência de que estão participando efetivamente para uma
mudança na qualidade de vida de muitas pessoas.
Por sua atuação e iniciativa, o Viva já recebeu diversas premiações, entre elas, Hall da
Fama, concedido pelo Top Of Mind de RH, na categoria Gestão de Voluntários, e o Prêmio
Ser Humano Oswaldo Checcia, da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), na
categoria seleção e treinamento de Voluntários.
4.1.2 Descrição do Caso realizado em Salvador-Bahia
O Viva e Deixe Viver iniciou suas atividades em Salvador, Bahia, no ano de 1999, no
espaço físico da Fundação Cultural do Estado da Bahia, e, em 2006, transfere suas atividades
para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que passa a assumir o gerenciamento das
atividades neste município, através de um termo de parceria formalmente assinado em 29 de
novembro de 2007.
A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, primeira Instituição Filantrópica do Estado da
Bahia e do Brasil, foi fundada por Tomé de Souza em 1549. Nasceu juntamente com a Cidade
do Salvador e, desde então, tem funcionado ininterruptamente.
Sua história começa com o primeiro hospital, denominado Hospital da Cidade ou
Hospital da Caridade. A partir de então, a Santa Casa foi ampliando a aperfeiçoando suas
ações, de modo a atender a seus objetivos de Misericórdia, contextualizando sua missão.
Desse modo, além do atendimento médico hospitalar, a Santa Casa se dedicou também a uma
extensa obra de assistência à infância, de educação e de administração de cemitérios.
A Santa Casa de Misericórdia da Bahia é dirigida pela Irmandade da Misericórdia,
composta por mais de seiscentos Irmãos, que supervisionam, através de seus órgãos gestores,
um conjunto de cerca de 5.000 funcionários das mais diversas áreas, a saber: Hospital,
Cemitério, Museu, Centro de Memória, Escola Técnica de Enfermagem, Cerimonial, Ação
Social.
87
O Hospital da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, denominado Hospital Santa
Izabel, inicialmente chamado de Hospital da Cidade, funcionou por 284 anos na encosta da
Ladeira da Montanha, em uma construção rudimentar, com paredes de taipa e coberta com
folhas de palmeira. Em 1833, passa a ser chamado de Hospital São Cristovão e é instalado na
antiga Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, em Salvador.
Em 30 de julho de 1893, é transferido para o bairro de Nazaré, onde se encontra até
hoje, com o nome de Hospital Santa Izabel. É o maior departamento da Santa Casa, com
3.315 empregados. O Hospital oferece medicina de alta complexidade, tem uma política de
permanente modernização, sendo referência nacional nas áreas de cardiologia e ortopedia.
Oferece programa de residência bastante procurado e é campo de estágio para estudantes das
áreas de saúde e assistência.
É o segundo maior hospital de atendimento do SUS na Bahia. Os atendimentos
ambulatoriais pelo SUS no Hospital Santa Izabel superam o número de 700 pacientes/dia,
enquanto quantidade semelhante é a dos internados para procedimentos cirúrgicos de alta
complexidade/ano.
4.1.2.1 Início das atividades da Associação Viva e Deixe Viver junto à Santa Casa
Inicialmente, foram sensibilizados diversos setores da Santa Casa para que a proposta
da Associação Viva e Deixe Viver tivesse apoio com recursos humanos na área de
palestrantes e psicólogos.
Por se tratar de um projeto com contadores de histórias em hospitais, ficou definido
que esta formação seria gerenciada pelo setor de voluntariado, tendo o hospital Santa Izabel
como instituição promotora do treinamento.
Após a adesão de empregados da Santa Casa, foi definido, pela coordenação de
voluntariado, que era preciso sensibilizar as pessoas que já tinham atividades na Associação
Viva e Deixe Viver, e comunicar a nova gestão do projeto aos hospitais que já recebiam
voluntários contadores de histórias na Cidade do Salvador.
Foi promovida uma reunião com o tema Humanização, Voluntariado e Contadores de
Histórias, que contou com a presença de 36 pessoas voluntárias e não voluntárias, de
instituições diversas da cidade, com o objetivo de revitalizar o projeto, que naquele momento
estava desativado.
88
Em 2007, a Associação Viva e Deixe Viver reiniciou suas atividades de capacitação na
Bahia, através do Hospital Santa Izabel. Nesse período, foi preciso conseguir um grupo de
pessoas que voluntariamente deveriam dedicar-se como palestrantes e psicólogos, para
capacitar pessoas em Salvador.
A Santa Casa dispunha de um corpo de empregados em diferentes áreas de saber, e
isso era importante para o processo de formação: médicos, assistentes sociais, psicólogos.
Foram sensibilizados profissionais palestrantes de diversas áreas, para realizarem o
trabalho de “fazedores” de histórias, termo cunhado pelo Viva, que usa a frase “Quem não
conta, faz a história”, que diz respeito a pessoas que podem ajudar a Associação através de
algum outro tipo de trabalho voluntário, não, necessariamente, a contação de histórias – a
tarefa fim do Viva no hospital.
Por essa época, aderiram à proposta diversas pessoas e instituições para capacitar os
voluntários: (a) uma instituição internacional, denominada Brahma Kumaris, com filial em
Salvador, que trabalha com a cultura de paz, através de oficinas, palestras e vivências sobre
diversos temas como valores na saúde, pensando positivamente e administração do tempo; (b)
um médico; (c) duas assistentes sociais; (d) duas pedagogas; (e) sete psicólogas na área de
recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas e psicologia hospitalar; (f) um
filósofo/administrador.
Posteriormente, incorporou as atividades de educação continuada da Associação, um
projeto de literatura denominado Roda Palavra – Formação de Agentes de Leitura, em
parceria com a Universidade do Estado da Bahia, tendo sido promovidos diversos encontros
para estudo da literatura infantil.
O projeto Roda Palavra é um projeto de extensão, de formação de agentes de leituras e
contadores de histórias. Sua ação consiste na promoção de rodas de leitura para interessados
em literatura, em forma de círculos de leitores, com um facilitador denominado leitor guia,
que tem como papel conduzir o grupo para a leitura e discussão de textos.
A Associação Viva e Deixe Viver, em Salvador, já formou 157 voluntários nos anos
de 2007, 2008 e 2010, conforme tabela abaixo:
89
Tabela 1 – Número de contadores formados em Salvador
ANO Formados
2007 52
2008 58
2009 Não houve formação
2010 47
2011 Não houve formação
Total Formados: 157
Fonte: Relatórios anuais da Associação Viva e Deixe Viver em Salvador nos
anos de 2008, 2009, 2010 e 2011.
Foi realizado um levantamento da atuação dos voluntários da Associação Viva e Deixe
Viver em Salvador, nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. Segue tabela com dados de
presença, frequência acumulada de atendimento às crianças, familiares impactados, equipe
impactada e contadores atuantes.
Tabela 2 – Controle de frequência da atividade voluntária
ANO
Presença/Nº Dias
Frequência acumulada
de atendimento às
crianças*
Familiares
Impactados
Equipe
Impactada
Total de
contadores
atuantes
2008 264 3.887 904 231 32
2009 790 7.274 2.698 1.068 47
2010 768 9.192 4.198 1.160 61
2011** 569 5.833 3.093 682 33
Fonte: Relatórios da Associação Viva e Deixe Viver em Salvador. Anos de 2008, 2009, 2010 e 2011.
* Número de atendimentos x número de crianças que participaram de cada encontro.
** Dados referentes a janeiro a setembro de 2011.
4.1.2.2 Descrição e objetivos do projeto pedagógico avaliado em Salvador
Resumidamente, apresento o Projeto Pedagógico proposto pela Associação Viva e
Deixe Viver e seus objetivos, em que a ação voluntária acontece através de formas diversas:
Contadores de histórias – pessoas de formações diversas, aprovadas no processo de
seleção da entidade, dos quais se espera dedicação de três horas semanais, na promoção de
90
entretenimento, cultura e informação educacional junto a crianças e adolescentes atendidos
nos hospitais parceiros da associação.
Cabeças de Chave - exercem papel muito importante dentro no Viva e Deixe Viver.
São voluntários contadores de histórias ou profissionais da saúde, que se destacam pelo
comprometimento e liderança que desenvolvem dentro do grupo. É dele geralmente o contato
direto com os voluntários no dia-a-dia nos hospitais.
Fazedores de histórias – pessoas com formações profissionais diversas que atuam
doando parte de seu tempo e talento no desenvolvimento das atividades nas células de
trabalho. Ex : músicos, fotógrafos, etc.
Terapeutas – profissionais da área de psicologia que atuam voluntariamente na célula
de desenvolvimento humano, gerenciando o processo de seleção de novos voluntários, as
atividades de capacitação e o atendimento individual a voluntários contadores de histórias.
Os voluntários – contadores e fazedores de histórias da Associação, que assinam um
Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário, afirmando sua participação isenta de remuneração
e vínculo empregatício, de acordo com a Lei do Voluntariado n º 9.608, de 18.02.96.
A Associação Viva e Deixe Viver entende que, para cumprir seus objetivos, necessita
selecionar e treinar voluntários que atuem de forma consciente, comprometida e constante. A
proposta de seleção e treinamento do Viva e Deixe Viver consiste em recrutar pessoas
interessadas para cumprimento do trabalho voluntário e, posteriormente, encaminhá-las para o
Processo de Seleção e Treinamento.
O processo de seleção e treinamento de voluntários busca trabalhar a questão da
responsabilidade e do comprometimento do voluntário por meio de palestras, vivências e
outras atividades.
As palestras e oficinas de capacitação são divididas em módulos, que contemplam os
seguintes conteúdos:
Módulo 1 – O que é a Associação Viva e Deixe Viver e a Santa Casa de Misericórdia
da Bahia. Tem como objetivos: apresentar a missão, visão, causa e princípios da Associação;
apresentar o histórico da Associação; expor as regras e normas; fazer a inscrição dos
interessados no processo de seleção; proporcionar aos candidatos o conhecimento da história,
da filosofia, das regras e das normas da Associação Viva e Deixe Viver.
Módulo 2 – Fundamentos Filosóficos do Voluntariado, com os seguintes objetivos:
levar os candidatos a conhecerem os fundamentos que sustentam o trabalho voluntário, bem
como as causas e condições para um efetivo trabalho solidário, que surge na compaixão, mas
se estrutura e se estabelece com foco em resultados; possibilitar aos cursistas a reflexão sobre
91
o que é ser voluntário, as especificidades do voluntariado que atua no campo da saúde, e o
compromisso moral do voluntário com o seu público atendido; e apresentar direitos e deveres
do voluntário nas organizações.
Módulo 3 – Planejamento Pessoal e Gestão do Tempo, que tem como objetivo levar
os participantes à compreensão da importância do gerenciamento de tempo, propondo
técnicas de planificação das atividades do seu dia a dia, bem como da ação voluntária, em
meio às demais responsabilidades, a fim de obter maior rendimento e satisfação.
Módulo 4 – Vivendo Positivamente, cujos objetivos são: possibilitar a compreensão da
natureza do pensamento; e ensinar a utilizar métodos para o indivíduo ser mais positivo e
construtivo em casa, no trabalho e em seus relacionamentos.
Módulo 5 – Ambientação Hospitalar, tem como objetivo: Instruir os voluntários
(contadores de histórias) a conhecerem o funcionamento, os riscos e os cuidados que,
qualquer indivíduo, deve ter ao trabalhar ou visitar uma instituição hospitalar. O portar-se sem
os devidos cuidados nessas instituições pode provocar problemas ao sujeito e/ou ao paciente.
Levar os sujeitos à tomada de consciência do ambiente hospitalar. Socializar a informação
com o contador de histórias sobre normas, rotinas e os serviços prestados pela instituição
hospitalar. O conteúdo tem a contribuição das áreas de medicina e/ou enfermagem e serviço
social.
Módulo 6: A arte de Contar Histórias. Seu objetivo é instrumentalizar os voluntários
quanto às técnicas e aos segredos da arte de contar histórias.
Módulo 7 – O processo do morrer e da morte, cujo objetivo é abordar o paciente
terminal e sua família, dando-lhe conforto físico, social e espiritual, além do processo de luto.
Módulo 8 – Vivência Terapêutica “Aprendendo a Perder”. Tem como objetivo:
propor a reflexão sobre questões emocionais que surgem durante a atuação junto às crianças e
aos adolescentes nos hospitais.
Módulo 9 – Memória do Brincar – Folclore Infantil, com os seguintes objetivos:
garantir a aquisição de conhecimentos através do acervo da cultura da brincadeira; trabalhar
com valores fundamentais para garantia de nossa humanidade, como solidariedade,
cooperação, respeito e fraternidade; resgatar o apreço das brincadeiras e cantigas populares do
País através da transmissão oral às crianças brasileiras; promover o lazer e a diversão de
forma acessível a todos.
Módulo 10 – Treinamento no hospital. Tem como objetivos conhecer o ambiente
hospitalar, as regras do hospital e iniciar a contação de histórias para as crianças e
adolescentes a partir do monitoramento de um voluntário mais experiente.
92
O Sistema de Avaliação leva em consideração: (a) Frequência nas palestras (100%);
(b) Análise do questionário (perfil do candidato); (c) Avaliação nas dinâmicas de grupo; (d)
Treinamento nos hospitais.
Os objetivos definidos a partir do Projeto Pedagógico são:
(a) Proporcionar aos candidatos o conhecimento da missão, da história, da filosofia e
das regras e normas da Associação Viva e Deixe Viver;
(b) Levar os participantes a conhecer os fundamentos que sustentam o trabalho
voluntário, bem como as causas e condições para um efetivo trabalho solidário, que surge da
compaixão, mas se estrutura e se estabelece com foco em resultados. O voluntário deverá
conhecer seus direitos, deveres e a Lei que rege o Trabalho Voluntário (9.608/98);
(c) Levar os participantes à compreensão da importância do gerenciamento de tempo,
propondo técnicas de planificação das diferentes atividades do seu dia a dia, bem como da
ação voluntária, em meio às demais responsabilidades;
(d) Dar a compreensão da natureza do pensamento, conhecendo métodos para ser mais
positivo e construtivo em casa, no trabalho e em seus relacionamentos;
(e) Instruir os voluntários a conhecer o funcionamento, os riscos e os cuidados que
qualquer indivíduo deve ter ao trabalhar ou visitar uma instituição hospitalar. O portar-se
nessas instituições pode provocar problemas ao sujeito e/ou ao paciente. Levar os sujeitos à
tomada de consciência do ambiente hospitalar e socializar a informação com o contador de
histórias sobre normas, rotinas e os serviços prestados pela instituição hospitalar;
(f) Instrumentalizar os voluntários quanto às técnicas e aos segredos da arte de contar
histórias;
(g) Levar o voluntário a conhecer sobre o paciente terminal e sua família, abordando
aspectos como o conforto físico, social e espiritual, além do processo de luto no hospital;
(h) Propor a reflexão sobre questões emocionais que surgem durante a atuação do
voluntário junto às crianças e aos adolescentes nos hospitais;
(i) Resgatar o apreço das brincadeiras e cantigas populares do País e propor a
transmissão oral às crianças brasileiras;
(j) Levar os participantes a conhecerem o ambiente hospitalar a partir da observação
de quatro hospitais e do monitoramento de um voluntário mais experiente.
93
4.2 A DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA
O problema de pesquisa foi construído a partir da proximidade com o tema, ao
trabalhar capacitando voluntários para atuarem em projetos sociais e a partir da análise de
literatura.
Na literatura brasileira não foram encontrados estudos na área de avaliação de
qualificação de voluntários, sendo realizado um levantamento cuidadoso, embora não
exaustivo, foram detectados estudos na área de: Percepção dos Voluntários ( SELLI;
GARRAFA; JUNGES, 2008), que traz contribuições sobre a percepção dos voluntários
beneficiários do trabalho voluntário no setor de saúde hospitalar, em que constatou-se que
existe entre os voluntários, uma noção de importância social do seu trabalho, faltando uma
articulação maior entre motivações individuais e trabalho voluntário como espaço de
enfrentamento de problemas sociais. Motivação de Voluntários (SOUZA et al, 2003;
CARVALHO;SOUZA, 2007 ); estes estudos possuem em comum o objetivo de identificar a
estrutura motivacional dos voluntários, sendo que no estudo colaborativo de 2003, foram
comparados aspectos motivacionais de voluntários do Brasil e de Portugal que trabalham com
pacientes oncológicos. Já o estudo de 2007 descreve os componentes da motivação no
trabalho voluntário de líderes comunitários. Solidariedade (SELLI; GARRAFA, 2005;
DEMO, 2001), o primeiro estudo discute a solidariedade crítica através da análise das
motivações de hospitalares propondo a ruptura do modelo de voluntariado assistencial
detectado. O segundo estudo discute a solidariedade não só como princípio ético da Política
Social, mas propõe a discussão da solidariedade como efeito de poder. Humanização e
Voluntariado (MARTINS; BERUSA; SIQUEIRA, 2010), analisa o processo de trabalho em
humanização hospitalar, tendo como resultado a necessidade de normatização e valorização
das atividades voluntárias especialmente no cuidado com os pacientes. Voluntariado
Hospitalar (MONIZ; ARAÚJO, 2008; ORTIZ, 2007; ARAÚJO;MAIA; OLIVEIRA, 1997;
SOUZA; ARAÚJO, 1999; OKABAYSASHI;COSTA, 2008), estes trabalhos convergem para
estudos que têm a área da saúde como campo de prática do voluntário. Auto-percepção,
Estresse e Burnout (MONIZ; ARAÚJO, 2006) estudo que avalia o grau de estresse e
burnout em voluntários da saúde; Presença Feminina na Atividade Voluntária (SELLI;
GARRAFA, 2005) trata do significado atribuído à presença feminina majoritária na atividade
voluntária; Trabalho Voluntário na Terceira Idade (SOUZA, 2007; FIGUEIREDO, 2005;
SOUZA; LAUTERT, 2007; SOUZA; LAUTERT; HILLESHEIN, 2010; SANTOS; LIMA;
94
SANTOS, 2009; SILVA, 2003; FRIAS, 1999, LAFIN, 2006) são estudos que possuem em
comum o voluntariado como estratégia de enfrentamento de idosos; Ética e Voluntariado
(FERRARI, 2008; SANTANA, 2007); estes estudos abordam a dimensão ética do trabalho
voluntário. Cultura do Voluntariado (CUNHA, 2005; SILVA et al, 2004, BONFIM, 2010);
em geral foram apresentados por este autores trabalhos relacionados a cultura do voluntariado
no Brasil, contextualizado por determinações econômicas e ideopolíticas de sua época.
Gestão de Pessoas e Voluntariado (LANDIN, 2001; RESENDE, 1999; DOMENEGHETTI,
2001; SANTOS, 2007) aborda em geral a gestão do trabalho voluntário em organizações sem
fins lucrativos; Voluntariado na Empresa (CÓRULLÓN; MEDEIROS, 2002; FISCHER;
FALCONER, 1999), estes trabalhos privilegiam os estudos relacionados ao voluntariado
coorporativo e empresarial, exercidos no interior das empresas . Educação Popular e
Voluntariado (BOSCOLO, 1992), trata de um estudo que teve como objetivo principal
identificar as representações de voluntários internacionais no campo da educação popular no
Brasil ; Redes Sociais e Voluntariado (TABORDA, 2007), estudo de dispositivos que
coletam, registram e cruzam informações no ciberespaço e que possibilitam a fomentação do
voluntariado através de redes digitais ; Voluntariado e Serviços Comunitários (SOUSA;
ARAÚJO, 2007), refere-se ao voluntariado como prestador de serviço comunitário; Valor
Contábil do Voluntariado (FILHO; MARTINS, 2003; ), estudo que trata do valor
econômico do trabalho voluntário, que não é registrado contabilmente por entidades sem fins
lucrativos ; Voluntariado e Doação (LANDIN; SCALON, 2000), é um estudo sobre perfil do
voluntário e do doador financeiro brasileiro. Subjetividade e Voluntariado (CALDANA;
FIGUEREDO, 2008), é um trabalho envolvendo voluntários em empresas com e sem fins
lucrativos, discutindo o exercício destas atividades e de suas lógicas de sustentação.
Voluntariado e Religião (SANTANA, 2007; MARTINS FILHO, 2002), são estudos da ação
religiosa de voluntários; Voluntariado Jovem (SBERGA, 2001) este trabalho refere-se a
modalidade de voluntariado jovem como possibilidade da construção de identidade;
Satisfação no trabalho Voluntário (SILVEIRA, 2002) diz respeito a um trabalho sobre a
satisfação da realização do trabalho voluntário; Voluntariado e Direitos Sociais (ARAÚJO,
2008), têm como objeto de estudo o voluntarismo e o solidarismo da assistência social no
Brasil nos anos de 1940 a 1995.
95
A idéia inicial era pesquisar o impacto da qualificação, mas, a partir dos objetivos
traçados no projeto de pesquisa, chegou-se à conclusão de que o caminho levava à avaliação
de resultados.
Foi observado que os conceitos de qualificação e competências estão intimamente
interligados e que é preciso dialogar com estes conceitos e considerar o cenário em que estão
inseridos.
A delimitação do problema se deu considerando todas as variáveis aqui discutidas, e o
problema foi assim descrito:
Um programa de qualificação para voluntários contarem histórias em hospitais
consegue desenvolver competências requeridas para sua atuação no complexo ambiente
hospitalar?
O trabalho voluntário, também denominado voluntariado, é o exercício de uma
atividade espontânea realizada por uma pessoa para beneficiar pessoas, grupos e
organizações, sem remuneração por tal prestação de serviço.
Há crescente preocupação com a capacitação de voluntários que prestam trabalho sem
remuneração em entidades públicas ou privadas em forma de ajuda humanitária, e a discussão
sobre a qualificação destes sujeitos tem ganhado dimensões novas no Brasil e no mundo.
A profissionalização do trabalho voluntário é tema discutido a partir da década de 90,
e um dos instrumentos em nível mundial desta discussão foi a “Declaração Universal do
Voluntariado”, aprovada pela Association for Volunteer Effort (IAVE), em conferência
realizada na cidade de Paris, em 1990. Nessa declaração, aparecem ferramentas de gestão do
trabalho voluntário, e traz como deveres da entidade que atua com voluntários garantir
treinamento apropriado e fazer avaliação regular dos seus serviços prestados.
Bonfim (2010, p.93) coloca a necessidade de “profissionalizar o voluntariado”, através
de formas de gestão mais modernas, possibilitando assim o máximo do seu aproveitamento
dentro da instituição.
Num estudo sobre “Trabalho voluntário, estresse e burnout”, Moniz e Araújo (2006,
p.242) observam que é crucial acompanhar e avaliar os programas de capacitação e formação
de voluntários no âmbito das associações.
O setor saúde tem como missão cuidar do mais precioso valor humano – a vida.
Segundo Moniz e Araújo (2006, p.242), coloca-se como crucial “pesquisar em maior
profundidade o treinamento oferecido aos voluntários, acompanhando e avaliando os
programas de capacitação e formação proporcionados no âmbito das instituições,
especialmente no que concerne à saúde”.
96
Esses autores ainda apontam uma questão muito importante trazida em pesquisas
sobre voluntariado na saúde que, na sua maioria, os hospitais contam apenas com a própria
disposição e empenho dos indivíduos, que voluntariamente atuam sem preparo ou
acompanhamento. Ao contrário do profissional da saúde, que pode apoiar-se na formação e no
aparato técnico.
O voluntário necessita de qualificação e educação permanente para o seu
aprimoramento, neste caso específico na área hospitalar, que requer, além de conhecimento de
sua atividade, atitude perante as perdas e mortes presentes no hospital.
A pergunta desta pesquisa foi:
– Quais os resultados da qualificação proposta pela Associação Viva e Deixe Viver
para a formação de competências de voluntários contadores de histórias que atuam em
hospitais?
Uma vez definidos o problema e a pergunta da pesquisa, foram estabelecidos o
objetivo geral e os objetivos específicos:
Objetivo geral:
– Avaliar os resultados da qualificação proposta pela Associação Viva e Deixe Viver
para a formação de competências de voluntários contadores de histórias que atuam em
hospitais.
Objetivos específicos:
(a) Definir critérios de avaliação de resultados da qualificação oferecida pelo
programa de seleção e treinamento de voluntários da Associação Viva e Deixe Viver em
Salvador;
(b) Descrever os indicadores de permanência e evasão de voluntários contadores de
histórias da Associação Viva e Deixe Viver;
(c) Avaliar se a qualificação oferecida aos voluntários desenvolve competências –
conhecimentos e atitudes – propostas pelo programa de treinamento da Associação Viva e
Deixe Viver, em Salvador, para o voluntário atuar em hospitais.
4.2.1 Fontes e Dados
Foram assim estabelecidos as fontes e os dados da pesquisa:
(a) Definição dos critérios a partir do conceito de competências, nos níveis
conhecimento e atitudes resultantes do treinamento para formação de contadores de histórias;
97
(b) Análise dos documentos de fluxos e permanência, frequência e evasão dos
voluntários contadores de histórias, obtidos nos relatórios anuais da Associação Viva e Deixe
Viver em Salvador, Bahia;
(c) Análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos no questionário e no grupo
focal com contadores de histórias.
4.2.2 Categorias e Subcategorias
Foram levantadas as seguintes categorias e subcategorias:
(a) Conhecimento e atitude do contador de histórias;
(b) Indicadores de permanência e evasão de voluntários;
(c) Alcance dos objetivos definidos pelo programa quanto à atitude e aos
conhecimentos do contador de histórias.
4.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA
A Associação Viva e Deixe Viver, em Salvador, já formou 157 contadores de histórias
para atuar em hospitais e casas de apoio. O grupo de voluntários formados pela Associação
Viva e Deixe Viver do ano 2008 foi escolhido como amostra, por ser o grupo que teve menor
número de evadidos da Associação.
Para serem atingidos o objetivo geral e os objetivos específicos propostos pela
pesquisa, buscou-se considerar procedimentos diversos e fontes de informações. A pesquisa
dividiu-se em diferentes etapas:
(a) Na primeira etapa, no período de 05 de março a 15 de junho de 2011, foram
analisados relatórios/documentos da Associação Viva e Deixe Viver com o objetivo de
escolha e caracterização da amostra, sendo identificados nos documentos fluxos de
freqüência, permanência e evasão dos voluntários contadores de histórias no ano de 2007,
2008 e 2010;
(b) Na segunda etapa foi aplicado um questionário estruturado com 51 pessoas;
(c) Na terceira etapa foram realizados os grupos focais com 23 pessoas de diferentes
perfis: voluntários atuantes, isto é, que contam histórias atualmente na Associação, os que
atualmente não contam histórias e os que se formaram e nunca contaram histórias;
98
(d) A quarta etapa foi à análise dos dados, que teve como indicador de resultados as
competências relacionadas a conhecimentos e atitudes do contador de histórias.
Segundo Zarifian (2001), o conhecimento ou o “saber” é adquirido por meio da
aprendizagem. É na absorção dos conhecimentos e na relação educativa que as competências
normalmente são formadas e desenvolvidas Já a habilidade ou o “saber fazer” refere-se à
capacidade de o indivíduo utilizar, nas situações de trabalho, os conhecimentos
desenvolvidos.
As atitudes, por sua vez, pressupõem a predisposição da pessoa para atuar (comportar-
se de determinada maneira diante de um objeto). É importante ressaltar que a atitude e o
comportamento, embora relacionados, são conceitos distintos. A atitude é uma predisposição
a reagir a um estímulo e é um determinante importante do comportamento do indivíduo,
influenciando-o a agir de determinada maneira. (MARTIN-BARÓ, 1983, apud BARHY;
TOLFO, 2007).
Nesta pesquisa, não houve possibilidade de avaliar as habilidades técnicas do contador
de histórias, relacionada ao “saber fazer”, pois este atua unicamente com as crianças e seus
familiares em leitos de hospitais, e seu coordenador de voluntários, o cabeça de chave, não
participa presencialmente da sua atividade fim, que é a contação de histórias.
4.3.1 Caracterização e Escopo do Estudo
A pesquisa teve como unidade de investigação a Associação Viva e Deixe Viver. A
escolha do caso foi pela característica da Associação, que, desde a sua fundação, possui um
modelo de qualificação para seus voluntários.
Segundo Laville e Dionne (1999), o estudo de caso é apropriado para o exame
detalhado de uma comunidade, um ambiente, uma situação, um grupo ou mesmo de uma
determinada pessoa.
A Associação Viva e Deixe Viver já formou, em Salvador, em parceria com a Santa
Casa de Misericórdia da Bahia, através do Hospital Santa Izabel, 157 voluntários desde 2007.
Atualmente, conta 33 voluntários atuantes em 9 hospitais/casas de apoio e em um Centro de
Educação Infantil em Salvador. O processo de seleção e treinamento para formar contador de
histórias tem duração de nove meses.
99
Este projeto teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Prof. Dr. Celso
Figuerôa, Hospital Santa Izabel, local de qualificação dos voluntários, através do Parecer
20/2011.CAAE: 0010.0.057.000-11 no dia 15 de agosto de 2011.
O caso teve como objeto de investigação a formação destinada aos seus voluntários
pela Associação Viva e Deixe Viver em Salvador, e na pesquisa foi realizado um recorte da
população pesquisada, que corresponde a cursistas do ano de 2008.
4.3.2 Seleção e Caracterização da Amostra
A amostra foi selecionada tendo como critério o ano de menor índice de evasão de
pessoas no programa, sendo a turma formada em 2008, a escolhida como participante da
pesquisa. Os voluntários foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, assegurados do
sigilo e convidados a assinarem um termo de consentimento livre e esclarecido.
Os indicadores de permanência e evasão do programa de treinamento, nos anos de
2007, 2008 e 2010, demonstram, conforme Tabela 3, que existe um alto número de
voluntários que se evadem do programa. Foi informado que, no ano de 2009, não houve
capacitação.
Tabela 3 – Evasão de voluntários contadores de histórias
FREQUÊNCIA/ EVASÃO
Ano de Formação Número de Formados Atuantes em 25/10/2011 Percentil de Evasão (%)
2007 50 6 88
2008 58 15 74,13
2010 47 12 74,46
TOTAL 155 33
Fonte: Relatórios anuais da Associação Viva e Deixe Viver nos anos de 2007, 2008 e 2010.
Participaram deste estudo 51 voluntários, dos 58 cursistas que fizeram a formação para
contadores de histórias pela Associação Viva e Deixe Viver em Salvador, Bahia, no ano de
2008.
Desta amostra de 51 sujeitos, 15 contam histórias atualmente, 18 já contaram, mas, por
motivos diversos, estão afastados, e 18 pessoas fizeram a formação, mas nunca atuaram.
100
4.3.3 Instrumentos e Medidas
O questionário mencionado anteriormente foi construído a partir da leitura de
materiais de capacitação e dos vídeos de treinamento da Instituição, utilizados pela
Associação Viva e Deixe Viver.
Antes da aplicação do questionário, foi realizado um pré-teste
com 2 contadores de histórias que não fizeram parte da amostra, com o objetivo de avaliar as
questões quanto à escrita e à comunicação do enunciado, e com 13 facilitadores do programa
para que estes pudessem opinar sobre a coerência das perguntas que abordavam os temas
relacionados à capacitação que ministram no programa.
O questionário foi estruturado, portanto, com seis blocos de perguntas. O primeiro e o
segundo bloco tiveram a finalidade de descrever o perfil socioeconômico do voluntário. Esta
seção mapeou características referentes a gênero, faixa etária, estado civil, nível de
escolaridade, área de conhecimento e renda.
Com o terceiro (55 questões) e o quarto (01 pergunta de correspondência) bloco de
questões, buscou-se verificar o nível de conhecimento dos voluntários, acerca dos
conhecimentos adquiridos através dos dez módulos oferecidos no treinamento: “Princípios e
Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver”; “Fundamentos Filosóficos do Voluntariado”;
“Planejamento Pessoal e Gestão do Tempo”; “Vivendo Positivamente”; “Ambientação
Hospitalar”; “A Arte de Contar Histórias”; “Processo de Morrer e Morte”; “Vivência
Terapêutica – aprendendo a lidar com as perdas”; “Memória do Brincar – Folclore Infantil” e
“Treinamento nos Hospitais”.
Ressalta-se que, no terceiro bloco, as perguntas foram formuladas baseadas no modelo
da escala likert de 7 pontos. A Escala Likert é a mais utilizada na construção de instrumentos
de medida. É um método dos pontos somados. Com ela, é possível verificar o nível de
concordância do respondente com afirmações favoráveis e desfavoráveis, relativas a uma
questão enunciada como falsa ou verdadeira. Nesta pesquisa, foi utilizada uma escala de 7
pontos, conforme quadro abaixo:
101
Quadro 4 – Modelo utilizado de Escala de 7 pontos
-3 -2 -1 0 1 2 3
Muitíssimo
falso
Muito
falso
Falso Não sei Verdadeiro Muito
verdadeiro
Muitíssimo
verdadeiro
Fonte: Instrumento de Pesquisa.
Ressalta-se que para analisar mais detalhadamente, optou-se por agrupar as opiniões
dos respondentes em relação a esses quesitos no terceiro bloco. Nesse sentido, a freqüência de
respostas obtidas na escala de 7 pontos, foram agrupados para formar 3 classes de respostas.
Deste modo, os pontos (-3,-2 e -1) e (1,2 e 3) da escala foram classificados como falso ou
verdadeiro a depender da alternativa analisada e considerados certos ou errados, formando
duas classes de respostas, e, a pontuação 0 da escala, tratada como uma terceira classe de
respostas, representando um posicionamento neutro com relação ao assunto tratado da
questão.
O quinto e o sétimo bloco de questões buscaram verificar a atitude do voluntário ante
o ambiente hospitalar, a contação de histórias e a criança hospitalizada.
Foi utilizado o questionário no sexto bloco a partir de questões abertas que buscam
avaliar conhecimentos e atitudes, composto por 19 questões.
Para análise dos blocos, exceto o sexto bloco, os dados foram submetidos ao
Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 17.0 e ao Microsoft Excel 2010.
O grupo focal avaliou os níveis de conhecimentos e atitudes, a partir de um roteiro
preestabelecido, contendo as seguintes categorias de análise:
(a) O que foi mais marcante na formação;
(b) Avaliação dos conhecimentos dos 10 módulos pelo grupo;
(c) Avaliação do encontro.
O nível habilidades, neste caso, não é passível de ser avaliado, pois a atividade
desempenhada pelo contador é restrita ao paciente (criança e adolescente hospitalizados), à
família e, em alguns casos, a equipes de saúde, o que não possibilita a avaliação.
A habilidade, segundo Borges-Andrade (2001, p.37), refere-se à “capacidade de
desempenhar operações de trabalho com facilidade e precisão. Inclui comportamentos
motores ou verbais que favorecem a realização das tarefas inerentes à função”. As
102
especificações das habilidades normalmente implicam um padrão de desempenho requerido
para operações efetivas de um trabalho, o que, neste caso, seria de difícil acesso à atividade
prática de “contar histórias”.
4.4 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Nesta seção, encontram-se os procedimentos operacionais utilizados na pesquisa,
organizados de acordo com o processo da pesquisa: coleta, registro e análise dos dados.
Foram aplicados os instrumentos de avaliação, que constaram de um questionário
estruturado, construído a partir da leitura de materiais de capacitação, e dos vídeos de
treinamento da instituição, utilizados pela Associação Viva e Deixe Viver.
Os voluntários foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, assegurados do
sigilo e convidados a assinarem um termo de consentimento livre e esclarecido.
O grupo focal como técnica de pesquisa, segundo Gatti (2005, p.17), tem sua
constituição e desenvolvimento “em função do problema de pesquisa, e o grupo será
composto de associados à meta da pesquisa”. Recomenda essa autora que o grupo seja
composto por participantes com algumas características homogêneas. (GATTI, 2005, p.17)
A utilização do grupo focal envolveu duas etapas: planejamento e local para a
realização do grupo.
Foram organizados três grupos focais com diferentes perfis: grupo 1 (os que já
contaram, mas por algum motivo estavam afastados); grupo 2 (os que contavam histórias);
grupo 3 (os que nunca contaram histórias, mas fizeram o treinamento).
Houve a preocupação ética no sentido de obter adesão voluntária, preservar as
identidades dos participantes, garantindo-lhes anonimato. Em todas as sessões iniciais do
grupo focal, os assuntos referentes a sigilo foram tratados pelo moderador.
Devido a uma preocupação ética, pois, além de pesquisadora, coordeno as atividades
da Associação Viva e Deixe Viver na Bahia, é que foram escolhidos dois facilitadores
externos à pesquisa para condução dos grupos focais.
Segundo Gatti (2005, p.21), encontra-se na literatura a recomendação para “não se
juntar ao grupo pessoas que conheçam o moderador do grupo, pois o conhecimento mútuo
pode inibir manifestações e coibir a espontaneidade entre os que se conhecem”. Ainda
103
segundo essa autora, os participantes precisam sentir confiança para expressar suas opiniões e
enveredar pelos ângulos que quiserem em uma participação ativa. (GATTI, 2005, p.13).
O local também representou uma preocupação importante e foi conseguida uma
Faculdade que disponibilizou um espaço para a condução do grupo.
4.4.1 Coleta de Dados
O processo de coleta de dados nesta pesquisa teve início em março de 2011 e terminou
em outubro de 2011 com a realização do grupo focal.
Houve dificuldade em realizar o grupo focal 3, visto que se tratava de voluntários que
fizeram a formação, mas nunca atuaram como contadores de histórias, o que resultou num
grupo focal com apenas quatro participantes. Eles trouxeram, entretanto, contribuições
importantes para a pesquisa, permitindo também ampliar o foco de análise e cobrir variadas
condições que são intervenientes e relevantes para a pesquisa.
O grupo focal teve a participação de 23 pessoas, devido à dificuldade de agendamento
com os voluntários nas datas disponíveis para a sua realização.
A pesquisa qualitativa valeu-se de duas técnicas:
(a) Grupo focal com perfil de três grupos de contadores: os que contavam histórias (10
participantes); os que nunca contaram histórias, mas fizeram o treinamento (4 participantes) e
os que já contaram, mas por algum motivo estavam afastados (9 participantes);
(b) 19 Questões abertas do questionário.
Os dados obtidos com a pesquisa qualitativa serviram para complementar a análise dos
dados da avaliação quantitativa e, dessa forma, compor a análise das competências avaliadas
neste estudo: conhecimento e atitude.
Os 51 questionários foram aplicados individualmente em diversos locais, de acordo
com a disponibilidade de cada contador, e o grupo focal ocorreu numa sala de grupos de uma
Faculdade de Psicologia no Município de Salvador, com um total de 23 participantes. Todos
os participantes do grupo focal responderam ao questionário.
Foram aplicados 51 questionários, da amostra selecionada de 58 formados no curso de
2008, número atingido no período de coleta de 9 de setembro a 13 de outubro.
104
4.4.2 Registro
Os dados foram registrados num banco de dados criado para esta pesquisa com suporte
técnico em Microsoft Excel 2010, sendo depois transportados ao Statistical Package for
Social Sciences (SPSS), versão 17.0.
O registro do grupo focal foi realizado com dois gravadores. Os resultados foram
analisados à luz do referencial teórico apresentado, para em seguida traçar considerações em
relação aos resultados encontrados na pesquisa.
Foram transcritas pela pesquisadora 66 páginas das três sessões de grupo focal, que
foram realizadas com tempo médio de 2 horas cada uma.
4.4.3 Análise de Dados
Os dados foram analisados com a finalidade de descrever a realidade estudada, em
dois momentos distintos:
(a) Análise dos dados estatísticos, através da descrição e averiguando relações
existentes entre os dados encontrados;
Segundo Araújo (2005), a pesquisa quantitativa desenvolve-se dentro do que propõe a
avaliação somativa: a partir de resultados, provenientes do produto da ação, visando fornecer
subsídios para controle, retroalimentação e tomada de decisões organizacionais relativas ao
treinamento.
(b) Análise de dados qualitativos: pela análise de conteúdo no grupo focal e nas
questões abertas, buscou-se, através da categorização das respostas, obter dados que
pudessem fornecer uma dimensão mais aprofundada da avaliação.
Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa responde a questões muito
particulares. Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou
seja, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações crenças, valores, atitudes, o
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que
não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis.
No próximo capítulo, serão apresentados os dados da pesquisa quantitativa e
qualitativa em separado e feita uma discussão dos resultados encontrados.
105
5 RESULTADOS
5.1 RESULTADOS PESQUISA QUANTITATIVA
É importante se conhecer, em alguma dimensão, o contexto ampliado de onde
emanaram os resultados. Desse modo, algumas características dos sujeitos da pesquisa são
apresentadas no início para que se tenha esta noção.
5.1.1 Características dos Sujeitos da Pesquisa
No perfil dos 51 sujeitos de pesquisa, foi detectado que o grupo de dividia em: (a)
atuantes, que são os que contam histórias; (b) voluntários que pararam de atuar, de contar
histórias e (c) voluntários que nunca contaram histórias, só fizeram a formação.
Tabela 4 – Perfil de atuação dos voluntários contadores de história
Perfil da Amostra Frequência (%)
Atuantes 15 29,42
Pararam de atuar 18 35,29
Nunca atuou 18 35,29
Total 51 100
Fonte: Dados da pesquisa (2011).
Dos participantes que integram a amostra, 48 são do sexo feminino e 3 do sexo
masculino, ou, seja 94 % dos voluntários são compostos por mulheres e 6% são homens.
A maior concentração de idade é na faixa etária de 40 a 48 anos (N= 14), seguido de
49 a 57 anos (N=11), 58 a 66 anos (N= 11), 67 a 75 anos (N= 7), 22 a 30 (N= 4), 31 a 39 anos
(N=3) e 76 a 84 (N=1). Isto evidencia que a maioria dos voluntários desta amostra ultrapassa
a idade de 40 anos, ou seja, 85% possuem idade entre 40 a 75 anos.
O estado civil predominante dos voluntários foi de divorciados (N= 19), seguido de
casados (N= 16), solteiros (N= 12) e viúvos (N= 4). Ou seja, os divorciados representam 37%
da amostra, seguidos de 31% de casados, 25% de solteiros e 8% de viúvos.
106
Quanto à escolaridade, 23 dos voluntários possuem pós-graduação, 14 graduação, 6
não concluíram a graduação e 7 possuem segundo grau, restando apenas 1 no primeiro grau.
Os voluntários com graduação e pós-graduados representam 73% da amostra, o que pode
indicar que a proposta de voluntariado da Associação Viva e Deixe Viver, por atuar com
contação de histórias/literatura, possui voluntários com perfil de gosto por leitura, expresso
pelo nível de instrução formal mais qualificado.
Quanto à área de conhecimento, os entrevistados, em sua maioria, são da área de
Ciências Humanas (N= 16), seguidos da área de Ciências Sociais Aplicadas (N=14), Ciências
da Saúde (N= 5), Ciências Exatas e da Terra (N=2), Linguística, Letras e Artes (N=2),
havendo alguns (N=12) que não informaram ou não possuíam estudos avançados. A divisão
da variável área de conhecimento foi elaborada segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Ou seja, 58 % da amostra se situa na área de Ciências
Sociais Aplicadas e Humanas, tendo a área de Saúde uma parcela de 10%.
Os voluntários responderam que possuíam renda de 5 a 10 salários mínimos (N=14),
seguidos de 3 a 5 salários mínimos (N= 9), 10 a 20 salários mínimos (N=8), 2 a 3 salários
mínimos (N=6), e renda de 01 salário mínimo (N=2). A divisão por classe da variável renda
foi elaborada segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A
renda dos voluntários acima de 5 salários mínimos corresponde a 43% da amostra, seguidos
de 29% que ganham entre 2 a 5 salários mínimos.
O nível de renda pode-se relacionar com a variável escolaridade. Os voluntários
apresentam ganhos em maior escala de renda de 5 a 10 salários mínimos (28%), seguido de 3
a 5 salários mínimos (18%) e 10 a 20 salários mínimos (16%), dados associados a 73% de
voluntários que possuem o terceiro grau.
No geral, pode-se dizer que as mulheres representam grande parte da amostra dos
voluntários (93%), o que é confirmado na literatura brasileira, segundo Selli e Garrafa (2005),
sobre a participação feminina nas atividades voluntárias. Outra dimensão importante se refere
ao grau de instrução e renda, que juntos demonstram que o grupo pesquisado possui nível de
escolaridade elevado e predominantemente advindo das áreas sociais e humanas, com renda
de 43% que ganham mais de cinco salários mínimos.
Outro ponto a ser destacado é que o grupo, na sua maioria, possui idade superior a 40
anos e é constituído de divorciados, solteiros e viúvos (70%).
O perfil desse grupo é composto, portanto, de mulheres que não possuem cônjuge,
com idade igual ou acima dos 40 anos, nível de escolaridade elevado, advindas, em sua
maioria, da área de Ciências Humanas e Sociais.
107
A próxima seção irá trazer os resultados obtidos no nível de conhecimentos acerca dos
10 módulos, que compreendem o treinamento oferecido aos voluntários.
5.1.2 Nível Conhecimentos
O nível de conhecimento corresponde àquilo que se afirma saber acerca de um
determinado tema. Isso não significa que necessariamente este aprendizado seja colocado em
prática. Corresponde a um conjunto de informações que a pessoa armazena, e quanto maior
for o conhecimento mais a competência permite que a pessoa enfrente com flexibilidade os
diversos desafios de seu cotidiano.
Segundo Zarifian (2001, p.3), “o conhecimento ou o ‘saber’ é adquirido por meio da
aprendizagem. É na absorção dos conhecimentos e na relação educativa que as competências
normalmente são formadas e desenvolvidas”.
A partir desse conjunto de reflexões e das diretrizes do projeto pedagógico do
programa de capacitação de voluntários contadores de histórias da Associação Viva e Deixe
Viver, as questões relacionadas ao conhecimento dos módulos foram elaboradas no âmbito da
pesquisa, trazendo como resultado:
(a) Módulo 1 – Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver
Este módulo tem como objetivo proporcionar que os candidatos conheçam a missão, a
história, a filosofia, as regras e as normas da Associação Viva e Deixe Viver.
As questões trazidas para avaliar este módulo foram:
(2) É muito importante para o contador de histórias saber qual é o diagnóstico da criança. (R-F)
(5) É papel do contador de histórias investigar a veracidade de uma narrativa pessoal eventualmente
contada pela criança hospitalizada. (R-F)
(7) A função terapêutica da contação de histórias está dada, principalmente, em razão da escolha
específica de determinados livros, cujo enredo de superação e personagens heróicos permitem que a
criança se identifique e encontre forças para enfrentar a doença. (R-F)
(8) Tão importante quanto contar uma história é ouvir uma história da criança? (R-V)
(9) Para o Viva e para os hospitais é preferível a desistência do voluntário do que a ausência às
atividades de contação agendadas. (R-V)
(11) Segundo a filosofia de trabalho do Viva, os livros de ficção, contos de fadas e aventura são
preferíveis para o uso do contador voluntário do que aqueles com propostas educativas explicitas sobre
hábitos saudáveis. (R- F)
(22) O contador de histórias não deve, nunca, fazer doações (de alimentos, brinquedos, material escolar)
ou campanhas de arrecadação junto aos seus amigos e familiares para ajudar um paciente do hospital.
108
( R-V)
(29) O Viva é uma instituição que atua na promoção da saúde e da cura através da contação de histórias
a pacientes hospitalizados. (R-F)
As questões 2, 5, 8, 9, 11 e 22, tiveram acertos acima de 51%. Exceto a questão 7 e a
29, que tiveram acertos de 35% e 20%, respectivamente; estas questões atribuem à contação
de histórias a “função terapêutica” e a “promoção da cura”. Muito embora a contação de
histórias, nesse projeto, não tenha a função de trabalhar terapeuticamente com os pacientes,
muitas vezes é possível que a criança elabore conteúdos internos que a auxiliem na superação
de um momento difícil. Contudo, quando isso ocorre, é pela própria natureza psíquica das
histórias, mas, objetivamente, não é trabalhado como instrumento terapêutico na formação do
contador, embora assim a reconheçam com este fim. Neutros correspondem as respostas
atribuídas a “não sei” na escala.
Figura 3 – Módulo Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
(b) Módulo 2 – Fundamentos Filosóficos do Voluntariado
Este módulo tem como objetivo levar os participantes a conhecer os fundamentos que
sustentam o trabalho voluntário, bem como as causas e condições para um efetivo trabalho
solidário, que surge da compaixão, mas se estrutura e se estabelece com foco em resultados. O
voluntário deverá conhecer seus direitos, deveres e a Lei que rege o trabalho Voluntário
(9.608/98). As questões formuladas para avaliar este módulo foram:
109
( 1) A criança é o único beneficiado da contação de história. (R-F)
(23) Voluntário Profissional no Viva é aquela pessoa que faz do voluntariado sua atividade remunerada.
(R-F)
(24) Voluntário Profissional é a pessoa que cumpre com os objetivos propostos com a organização,
dentro das suas limitações. (R-V)
(30) Voluntário é a pessoa que ajuda incondicionalmente, que se sacrifica em prol do outro. (R-F)
(31) Voluntário é uma pessoa que precisa ser reconhecida no hospital porque trabalha de graça (R-F)
(32) Voluntário tem direitos e deveres no hospital. (R-V)
(39) Ser voluntário na saúde implica entrar em contato e ter que lidar com questões emocionais e com a
morte. (R-V)
Todas as questões tiveram respostas com acertos acima de 57%, o que demonstra que
o respondente conhece os fundamentos que regem o trabalho voluntário, os direitos e os
deveres desta atividade na proposta de voluntariado da Associação.
Figura 4 – Fundamentos Filosóficos do Voluntariado.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
(c) Módulo 3 – Planejamento pessoal e gestão do tempo:
Este módulo tem como objetivo levar os participantes à compreensão da importância
do gerenciamento de tempo, propondo técnicas de planificação das diferentes atividades do
seu dia-a-dia, bem como da ação voluntária, em meio às demais responsabilidades. A questão
formulada para avaliar este módulo foi:
(3) O que é mais correto quanto ao meu trabalho de contador de histórias: horários
fixos (pré-determinados), do que eu me disponibilize sem horários determinados. (R-V)
110
Esta questão trouxe a ideia principal que é trabalhada no módulo para o contador de
histórias no que diz respeito à compreensão de gerenciar o tempo nas suas atividades,
incluindo a do voluntariado. Obteve acerto de 86%.
Figura 5 – Planejamento Pessoal e Gestão do Tempo.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
(d) Módulo 4 – Vivendo Positivamente
O módulo tem como objetivo dar a compreensão da natureza do pensamento
positivo.Ensina métodos para ser mais positivo e construtivo em casa, no trabalho e em seus
relacionamentos. As questões formuladas deste módulo foram:
(42) É importante ter uma postura positiva para ser contador de histórias em hospital. (R-V)
(46) Viver Positivamente pode ser considerado um dos valores na saúde. (R-V)
(47) Não existe método para ensinar a pensar positivo. (R-F)
O módulo avaliado tem acertos de duas questões em 98% e de uma questão em 55%,
demonstrando que o contador entende a importância do pensamento positivo para a sua
formação de contador de histórias.
Figura 6 – Vivendo Positivamente.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
111
(e) Módulo 5 – Ambientação Hospitalar
Este módulo tem como objetivo instruir os voluntários a conhecerem o funcionamento,
os riscos e os cuidados que qualquer indivíduo deve ter ao trabalhar ou visitar uma instituição
hospitalar. Tem a função de socializar a informação com o contador de histórias sobre
normas, rotinas e os serviços prestados pelo hospital. As perguntas relacionadas a este módulo
foram:
(10) Um contador de histórias não pode oferecer alimentos aos pacientes, mas pode, tranquilamente
ajudar dando água caso o paciente tenha sede. (R-F)
(12) Os cuidados de segurança do trabalho (Biossegurança) que o contador de histórias tem que manter
são importantes, antes de tudo para poupar as crianças da contaminação. (R-V)
(13) Livros de histórias cujas páginas possuem textura em tecido são bastante recomendados para o uso
do contador, pois ao contato com essas texturas, importantes estímulos sensoriais são proporcionados às
crianças hospitalizadas. (R-F)
(14) Lavar bem as mãos a cada vez que se muda de leito na contação de história é a atitude mais eficaz
para prevenir a transmissão de infecção. (R-V)
(15) Em nome da parceria que se deve estabelecer com a equipe multiprofissional de saúde, é
recomendado que o contador de histórias, eventualmente (e sempre que possível), colabore com a
equipe, por exemplo, trocando uma fralda ou ajudando a dar banho na criança. (R-F)
(16) Um voluntário que nos horários de trabalho é remunerado como enfermeiro, está autorizado a
realizar eventuais intervenções assistenciais de saúde durante sua jornada de contação de histórias no
hospital. (R-F)
(17) Em princípio equipamento individual de proteção, como luvas, por exemplo, não são requeridos
para o trabalho de contador de história em hospitais, porque, comumente, ele não tem contato com
fluidos biológicos do paciente. (R-V)
(18) Se o contador de histórias vai atuar junto a uma criança sob “isolamento de contato”, precisará,
necessariamente, utilizar avental e luvas para adentrar o quarto. (R-V)
(19) O jaleco utilizado pelo voluntário contador de história é simplesmente um sinalizador de atividade
profissional (uniforme), ou seja, ele não tem função de protegê-lo contra contaminação. (R-V)
(20) Normalmente não é necessário lavar separadamente o jaleco do contador de histórias, ou seja, ele
pode ser lavado juntamente com o restante das roupas da casa. (R-V)
(21) Vacinas disponíveis apenas para Profissionais de Saúde, como aquelas da Influenza e Hepatite A,
devem ser buscados pelo Contador em clínicas particulares de imunização. (R-F)
Este módulo contou com 11 questões avaliadoras de conhecimento, sendo que duas
tiveram alto índice de erros: as questões 20 e 21. Elas correspondem aos saberes acerca da
norma de utilização do jaleco (lavagem) e sobre a busca de vacinas disponíveis. Neste ponto,
cabe dizer que a orientação da Associação Viva e Deixe Viver é de que os voluntários não
necessitem lavar seus jalecos separadamente, o que vale ressaltar que é um posicionamento
ainda contraditório entre os próprios facilitadores deste módulo, que ajudaram a validar o
instrumento da pesquisa, pois alguns acreditam ser necessário efetuar a lavagem em separado
e outros não, o que se reflete nos índices de respostas, portanto trazidas na questão.
112
Sobre a questão 21, a Associação não aconselha o contador a buscar as vacinas em
clínicas de imunização. O procedimento de fornecimento de vacinas é para o profissional de
saúde que está no dia a dia do hospital.
Já as questões 10 e 19, que obtiveram acertos de 47% e 49%, dizem respeito a buscar
água para o paciente, caso ele tenha sede, o que é uma atitude considerada inadequada, visto
que não é permitido, ao voluntário, fornecer nenhuma espécie de alimento ou água aos
pacientes. Quanto à questão 19, que se refere ao jaleco como sinalizador, as respostas
demonstram que 49% dos voluntários têm dúvidas quanto à função do jaleco, que é de fato
um sinalizador, já que o papel do contador é restrito à contação de histórias e não envolve
cuidados médicos.
Figura 7 – Ambientação Hospitalar.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
(f) Módulo 6 – A arte de contar histórias
O objetivo deste módulo é instrumentalizar os voluntários quanto às técnicas da arte
de contar histórias. As perguntas que buscavam atender a este item da pesquisa foram:
(33) Para as crianças hospitalizadas o ideal é contar histórias mais curtas. (R-V)
(34) Posso contar histórias improvisadamente, como um ator. (R-F)
(35) Devo dramatizar sempre as histórias para que se tornem mais engraçadas. (R-F)
(36) A criança que pede a história repetidas vezes é porque não entendeu a moral da história.(R-F)
(37) Não devo contar histórias de medo, morte, bruxa, terror para crianças hospitalizadas.(R-F)
(53) As histórias mais indicadas para crianças de 3 a 6 anos são histórias de fábulas, aventuras e lendas.
(R-F)
(54) A estrutura de uma história tem nos seus elementos essenciais: introdução, clímax e desfecho – tudo
isso faz parte do que chamamos enredo. (R-V)
113
Para este módulo, o contador de história obteve baixo percentual de acertos nas
questões 34, 35, 37 e 53. As questões 34 e 35 referem-se à contação de histórias como
linguagem teatral. Segundo os pressupostos de trabalho da Associação Viva e Deixe Viver, a
linguagem da contação de histórias se diferencia daquela do teatro.
A questão 37 refere-se aos conteúdos de histórias infantis. No âmbito da formação
para contadores de histórias, é ofertado o esclarecimento de que as histórias de morte, bruxas,
terror podem ser contadas, sim, pelos voluntários, visto que essas histórias ajudam as crianças
a elaborar conteúdos de medo, morte, doença, não havendo restrições a sua utilização.
A questão 53, respondida com alto percentual de erros, afirma que é indicada a
contação de fábulas, aventuras e lendas para crianças na faixa etária acima de 10 anos. No
entanto, segundo Coelho (2002, p.15), “histórias recomendadas para crianças de 3 a 6 anos,
são aquelas de bichinhos, brinquedos, objetos, seres da natureza, histórias de repetição e
acumulativas”.
Figura 8 – A Arte de Contar Histórias.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
114
(g) Módulo 7 – Processo de morrer e morte
O objetivo deste módulo é levar o voluntário a conhecer aspectos sobre o paciente
terminal e sua família, abordando elementos como o conforto físico, social e espiritual, além
do processo de luto no hospital. As perguntas que buscavam atender a este item da pesquisa
foram:
(38) Quando morre alguma criança que eu conheço no hospital, é meu papel como contador de histórias,
acolher os familiares e oferecer apoio. (R-F)
(41) Não é porque trabalho em hospital, que tenho que lidar com as perdas. (R-F)
(48) A doença da criança causa desorganização familiar. (R-V)
(49) Existem estágios como negação, raiva, barganha, depressão e aceitação no processo de internação
do paciente no hospital. (R-V)
(50) A doença causa na criança repercussões emocionais, físicas, psíquicas, motoras, cognitivas e
sociais. (R-V)
(55) É inevitável que eu me depare com situações de dor, morte e perda no hospital. (R-V)
Este módulo teve acertos acima de 69%, refletindo que as discussões abordadas
trazidas neste módulo foram assimiladas, ao menos do ponto de vista teórico-conceitual, pelo
contador de histórias.
Figura 9 – Processo de Morrer e Morte.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
115
(h) Módulo 8 – Vivência Terapêutica
O objetivo deste módulo é propor a reflexão sobre questões emocionais que surgem
durante a atuação do voluntário junto às crianças e aos adolescentes nos hospitais. As
perguntas relacionadas a este módulo foram:
(04) É importante criar laços estreitos e fortes vínculos afetivos com a criança hospitalizada para ser
um bom contador de histórias. (R-F)
(06) É imprescindível para ser um bom contador de histórias superar limites emocionais, que
constrangem, por exemplo, ao trabalhar com crianças com câncer ou crianças queimadas. (R-V)
(40) Devo me cuidar emocionalmente para ser contador de história em hospitais. (R-V)
As questões relacionadas a este módulo tiveram acertos acima de 84%, representando
conhecimentos adquiridos relacionados à atuação do voluntário junto à criança hospitalizada e
aos limites emocionais decorrentes desta relação no âmbito hospitalar.
Figura 10 – Vivência Terapêutica.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
(i) Módulo 9 – Folclore Infantil
Este módulo tem como objetivo resgatar o apreço das brincadeiras e cantigas
populares do País e propor a transmissão oral às crianças brasileiras. As perguntas
relacionadas a este módulo foram:
(45) É possível resgatar a brincadeira porque ele faz parte da nossa história. (R-V)
(51) Folclore não é criado pelas classes populares. (R-F)
(52) Folclore quer dizer ciência, saber do povo. (R-V)
Neste módulo, o contador demonstra conhecimento acerca do folclore infantil, com
acertos acima de 78%.
116
Figura 11 – Folclore Infantil.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
(j) Módulo 10 – Observação/Treinamento em Hospitais
Este módulo tem como objetivo, através de um trabalho de observação em quatro
hospitais, levar os treinandos a conhecerem, de modo aplicado e mais concreto, o ambiente
hospitalar, as regras do hospital a partir do monitoramento de um voluntário mais experiente.
As questões de pesquisas relacionadas a este módulo foram:
(43) Fazer o treinamento me ajudou a escolher o lugar para contar histórias. (R-V)
(44) Ver outro contador na época do treinamento contando histórias me ajudou a melhorar a minha
performance. (R-V)
Tendo em vista que este módulo não acontece sob a forma de aula expositiva e sim
através de experiências de observação, buscou-se compreender se o contador entendia os
objetivos da realização do módulo. Obteve acertos acima de 84%.
117
Figura 12 – Treinamento em Hospitais.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
5.1.2.1 Resultado geral de cada módulo avaliado
A Figura 13 apresenta as médias por módulo das 55 questões da escala
correspondente. O resultado indica que os 10 módulos tiveram médias de acertos de 77,93%,
sendo que os módulos com maior percentual de erros foram os módulos 1 e 6, que são
referentes, respectivamente, a “Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver”
(37%) e a “A Arte de Contar Histórias” (43%), cujas questões já foram discutidas
anteriormente, na análise de cada módulo em separado.
Relacionado ao tempo de formados (3 anos) dos contadores, pode-se inferir que a
qualificação teve como resultado a aprendizagem significativa dos conteúdos estudados, pois,
como explica Perreneud (1999,p.10), “conhecimentos e competências são estreitamente
complementares, podendo haver entre eles apenas um conflito de prioridade”.
118
Figura 13 – Médias gerais dos módulos avaliados.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
5.1.2.2 Resultado da questão de correspondência
A Figura 14 apresenta o resultado do item de correspondência de uma coluna com a
outra de conhecimentos sobre os módulos acima estudados e numerados, no quarto bloco,
com o título “Nesta parte você vai fazer correspondência de uma coluna com a outra”. Os
resultados indicam que as médias correspondem a 71% de acertos.
Figura 14 – Resultado da questão de correspondência dos módulos avaliados.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
119
5.1.3 Nível Atitude
O conceito de atitude na literatura especializada pressupõe a predisposição da pessoa
para atuar (se comportar) de determinada maneira diante de um objeto. O fato de a atitude
apresentar uma intenção de comportamento por parte do indivíduo não significa,
necessariamente, que essa intenção será consumada. Segundo Bowditch e Buono (apud
BARHY; TOLFO, 2007, p.3), “a consumação depende das circunstâncias, e é por meio da
ação que o comportamento é concretizado”.
Dessa forma, a atitude aqui referida, aquela sobre a qual se diz, é apenas supostamente
desempenhada pelo contador de história no contexto em que atua, mas não verificável (ação
praticada).
O nível atitude foi avaliado a partir dessa perspectiva e valeu-se das três seguintes
questões:
(a) O que deve ser evitado fazer num hospital; (b) Por que não se deve faltar à
contação de histórias no hospital e (c) Quais os motivos que levam uma contação de histórias
não acontecer como o esperado.
A pergunta (a) “O que você recomendaria que o contador evitasse fazer em um
ambiente hospitalar” foi composta de atitudes não recomendáveis, que têm a intenção de
estabelecer segundo a percepção dos voluntários, um ranking de gravidade dessas proibições.
Foram atribuídas 4 respostas de maior relevância que correspondem a 83% das respostas de
evitação:
Questão 8 – Ministrar medicação (33%);
Questão 1 – Usar trajes incompatíveis no ambiente hospitalar (24%);
Questão 9 – Favorecer à criança a retirada do acesso venoso (18%);
Questão 3 – Não demonstrar equilíbrio emocional diante de episódios de estresse e/ou
perdas (8%).
Nessa questão sobre o que deve ser evitado fazer no hospital, as perguntas com maior
frequência de respostas foram: ministrar medicação (33%); a utilização de trajes
incompatíveis (24%); a retirada do acesso venoso (18%); não demonstrar equilíbrio
emocional diante de episódios de estresse e/ou perdas (8%). Isso demonstra que, para o
120
contador de histórias, é também importante “a sua apresentação” num ambiente hospitalar
além das normas e respeito às rotinas hospitalares. Segue percentuais de respostas de cada
pergunta na Figura abaixo:
Questão1; 24%
Questão2; 0%
Questão3; 8%
Questão4; 6%
Questão5; 2%
Questão6; 0%
Questão7; 0%Questão8; 33%
Questão9; 18%
Questão10; 4%
Questão11; 2%
Questão12; 2%
Questão13; 2%
Figura 15 – O que você recomendaria que o contador evitasse fazer no hospital.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
Quadro 5 – Perguntas da questão “O que você recomendaria que o contador evitasse fazer em um
ambiente hospitalar”
Quesito 1 Usar trajes incompatíveis ao ambiente (saias curtas, salto alto, cores berrantes) e
acessórios inadequados (joias, bijuterias em excesso, perfume muito forte).
Quesito 2 Sentar nos leitos.
Quesito 3 Não demonstrar equilíbrio emocional diante de episódios de estresse e/ou perdas.
Quesito 4 Não lavar as mãos segundo o procedimento de controle de infecção hospitalar.
Quesito 5 Fazer lanches na presença da criança.
Quesito 6
Gestos não verbais do contador que demonstrem estranheza ao quadro do paciente,
por exemplo, crianças queimadas, provocando nestas desconforto ou sentimento de
inadequação na presença do contador.
Quesito 7 Ministrar-lhe passes, johrey, massagens.
Quesito 8 Ministrar medicação.
Quesito 9 Favorecer às crianças a retirada do acesso venoso.
Quesito 10 Favorecer aos acompanhantes/pacientes burlar normas estabelecidas (favorecer o
uso de telefone fora do horário, a TV ligada, utilizar brinquedos fora do horário).
Quesito 11 Favorecer o acesso ao prontuário sem o conhecimento da equipe.
Quesito 12 Responder às curiosidades de outras mães acerca do diagnóstico mais delicado.
Quesito 13 Favorecer a saída de paciente das dependências da enfermaria sem autorização.
Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
121
Na Figura 16, a questão “Eu não faltaria à contação de histórias porque...” indica que
76% das pessoas responderam que não faltariam, pois querem evitar sentimentos por parte das
crianças de frustração de esperar alguém, que então não comparecerá.
O voluntário demonstra preocupação junto ao público que ele atende no hospital, ao
responder que não faltaria à contação de histórias, para evitar sentimentos de frustração da
criança em esperá-lo, o que se relaciona diretamente com a filosofia da instituição, que afirma
em seu discurso institucional: “O Viva prefere a desistência do voluntário à sua ausência no
hospital”.
Figura 16 – Eu não faltaria a contação de histórias.
Fonte: Dados da pesquisa (2011).
Quadro 6 – Perguntas da questão: “Eu não faltaria à contação de histórias porque...”
Quesito1 Quero evitar sentimentos por parte das crianças da frustração de esperar alguém, que então não
comparecerá;
Quesito2 Não quero que me julguem como alguém que não atende seus compromissos;
Quesito3 Tenho medo de ir me acostumando e perder a vontade de continuar;
Quesito 4 Receio que a equipe de saúde perca o entrosamento comigo;
Quesito 5 Temo que as crianças me estranhem quando então eu retornar;
Quesito 6 Receio perder o jeito para o trabalho.
Fonte: Dados da pesquisa (2011).
A Figura 17, que corresponde à pergunta: “Quando uma contação de histórias não saiu
como o esperado”, indica que as respostas “a história contada não produzia o ‘efeito’ que eu
esperava na criança” (43%) e “havia a ‘concorrência’ de outros estímulos atraentes que
dispersam a criança como TV e brinquedos” (39%) representaram um percentual de 82% das
respostas.
122
Neste item, o contador atribui as falhas da sua atuação a fatores externos, que afetam o
seu trabalho.
Figura 17 – “Quando uma contação de histórias não saiu como o esperado, isto
Se deu porque...”
Fonte: Dados da pesquisa (2011).
5.2 RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA
A abordagem qualitativa desta pesquisa vincula-se aos objetivos da avaliação de
resultados da qualificação, tendo como indicadores o conhecimento e a atitude referida do
grupo pesquisado.
De acordo com o delineamento da pesquisa de campo, a abordagem qualitativa
pretende aprofundar a avaliação da qualificação a partir das respostas abertas do questionário
e do grupo focal.
Esses dados serão tratados de acordo com a teoria proposta de análise de conteúdo,
que, segundo Bardin (2011, p.15), “é um conjunto de instrumentos metodológicos em
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes)
extremamente diversificados”.
Segundo Bardin (2011, p.15):
123
O fator comum dessas técnicas múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo
de freqüências que fornece dados cifrados, até a extração de estruturas
traduzíveis em modelos – é uma hermenêutica controlada, baseada na
dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise de
conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade
da subjetividade.
5.2.1 Análise das Questões Abertas do Questionário
As perguntas do questionário analisadas foram divididas em dois blocos:
conhecimentos (2, 4, 5, 7, 8,10,19) e atitudes (9 e 14).
As respostas foram divididas em categorias e analisadas uma a uma de acordo com a
frequência encontrada nos questionários. Segundo Bardin (2011,p.147), “a categorização é
uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e,
em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente
definidos”.
As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento
este efetuado em razão das características comuns desses elementos (BARDIN, 2011, p.147).
As perguntas foram analisadas, trazendo a frequência de ocorrência das respostas, de
acordo com o sentido de cada resposta, utilizando como critérios de categorização a semântica
(agrupamento pelos significados das palavras) e o léxico (classificação das palavras segundo
o seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos).
(a) Nível Conhecimento
Pergunta 2. Qual o papel da eleição de prioridade na construção de uma agenda de atividades?
(Módulo Planejamento Pessoal e Gestão do Tempo)
Este item relaciona-se diretamente ao Módulo Planejamento e Gestão Pessoal, que
propõe o melhor uso do tempo (gerenciamento) a fim de obter maior rendimento e satisfação.
As principais categorias de respostas e suas respectivas frequências (colocadas entre
parênteses) são assim agrupadas:
124
Administração do tempo Uso do tempo
Administra melhor o tempo (1) Utiliza melhor o tempo (9)
Organiza melhor o tempo (13) Aproveita melhor o tempo (1)
Otimiza o tempo (4)
Melhor adequação do tempo (1)
Planejamento do tempo Desempenho nas tarefas
Organiza a agenda de atividades (6) Ajuda a atingir metas (1)
Ajuda estabelecer prioridades (11) Melhora o desempenho no dia a dia (1)
Permite Planejar as tarefas (5)
Conforme a categorização, pode-se dizer que as respostas foram divididas em quatro
blocos com respostas em torno da administração do tempo, uso do tempo, planejamento do
tempo e desempenho. A maior frequência das respostas está relacionada ao planejamento do
tempo, um dos requisitos de gerenciamento do tempo, tratado no Módulo Planejamento
Pessoal e Gestão de Tempo.
Na pergunta seguinte, de acordo com o módulo, esperam-se respostas, em torno da
consequência da falta do contador ao hospital, que gera expectativa/frustração nas crianças e
na impossibilidade da coordenação do hospital de encaminhar outro voluntário.
Pergunta (4) – Por que o Viva diz preferir a sua “desistência”, ao invés das suas faltas nos hospitais?
(Módulo Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver
As principais categorias de respostas e suas frequências encontradas são assim
agrupadas:
125
Sentimentos negativos na criança Deveres do voluntário
Frustração pela ausência do contador (7) Compromisso com o voluntariado (5)
Decepção da criança (3) Responsabilidade do contador (5)
Contrariar a criança (1) Voluntariado deve ser programado (1)
Provoca ansiedade na criança (2)
Respeito ao paciente/criança Causa
A criança cria expectativa (11) Abandono a causa (1)
A criança espera pelo contador (13) Dar lugar a outro voluntário (4)
Compromisso com a criança (3) O contador é importante para criança (5)
Desistir para não gerar expectativa (1)
Abandono à criança atendida pelo contador (1)
A falta deve ser aceita
É um acontecimento inerente ao contador (3)
Desistir pode desestimular o contador (1)
Nessas respostas, o que fica evidente é a preocupação do contador com os sentimentos
da criança, quanto às repercussões que a falta do contador ao hospital pode trazer à criança,
discurso presente no módulo, que diz que a Associação Viva e Deixe Viver prefere a
desistência do contador a suas faltas nos hospitais.
Na pergunta seguinte e de acordo com o módulo ministrado, esperam-se as respostas:
Consciência, Compromisso e Constância, valores trazidos pela Associação Viva e Deixe
Viver em seu módulo de capacitação.
Pergunta (5) – O que quer dizer cada um dos três Cs ?
(Módulo Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver)
As principais categorias de respostas e suas frequências encontradas são assim
agrupadas:
Não lembra Consciência, comprometimento e constância
Não lembro (44) Consciência (1)
Compromisso (3)
Constância (0)
Outros
Criança, contador e caridade (1)
Colaboração, competência e comprometimento (1)
Responsabilidades (1)
Humanização, saúde e equilíbrio (1)
126
Nesta questão, os voluntários não se recordam dos valores que são “tratados” nos
módulo da Associação. Isto sugere dizer que isso se dá porque não se introjetam valores num
treinamento, estes são adquiridos ao longo da vida do sujeito. Não se aprendem valores num
módulo de poucas horas, com caráter educativo. Isso é inferido pelo número de pessoas que
não se recordam o que significam os três Cs, bastante difundidos pela Associação, na sua
palestra de treinamento introdutória.
Na pergunta seguinte, esperam-se respostas afirmando que o contador, além de levar
entretenimento e alegria, como em outras atividades, também leva a leitura, literatura e
informação para dentro do hospital.
Pergunta (7) – Em meio a tantas outras atividades humanizadoras no hospital (palhaços, músicas,
professores, artistas plásticos, brinquedeotecas), que diferença faz o contador de história?
Módulo: Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver
As principais categorias de respostas e suas frequências encontradas são assim
agrupadas:
Leva alegria e entretenimento ao hospital Estimula leitura e leva informação
Leva entretenimento para o hospital (6) Estimula a leitura (6)
Leva alegria ao hospital (13) Leva informação (1)
Leva Literatura ao hospital Favorece a fantasia e o mundo mágico
Leva literatura (4) A importância da história/mundo mágico (17)
Favorece a fantasia (3)
Solta a imaginação da criança (4)
Promove a humanização Promove a cultura
Promove a humanização (1) Promove a cultura (2)
Promove momento de aconchego (1)
Essas respostas trazem como categorias mais frequentes as que aludem ao papel do
contador no hospital como promotor de alegria e entretenimento, e ao papel das histórias que
favorecem a imaginação, a fantasia e o universo infantil (mágico), necessários para qualquer
criança.
Segundo Giordano (2004), as diversas histórias contam não apenas episódios de uma
história imaginária, mas muita coisa sobre nós mesmos. É comum que os contos apresentem
um dilema existencial de forma breve e categórica, sendo, portanto, por meio dos contos que
também há uma possibilidade de aprendermos mais sobre nossos problemas interiores. É a
127
possibilidade de revisar a própria história, porém, de outro jeito, só é possível o enfrentamento
de situações com um mínimo de sucesso a partir do que se tem como recurso interno.
Não é propósito neste trabalho discutir as possibilidades terapêuticas das histórias, mas
não se pode deixar de apontar este universo, já que o pensamento humano, através das raízes
do imaginário e da fantasia, busca equilíbrio entre suas emoções.
A especificidade do contador de histórias do Viva é levar literatura ao hospital, e isso
foi respondido por poucas pessoas no grupo. Alegria, humanização, entretenimento e leitura
são trazidos para o contexto hospitalar por palhaços, músicos, professores hospitalares,
terapeutas, mas a literatura é específica do contador de histórias.
As categorias leitura e literatura foram separadas visto que possuem matrizes
conceituais distintas. A literatura é uma criação, recriação, podendo até partir da realidade,
mas existe a preocupação com a estética, com a construção da mensagem, da arte da palavra,
do poético. A literatura perpassa a leitura, mas nem toda a leitura se faz a partir da literatura,
já que se pode ler qualquer texto que não seja necessariamente literário. Se não houvesse a
materialidade da literatura, o suporte por meio do qual ela se manifesta, no entender de
Zilberman, a literatura:
Perder-se-ia no tempo, pois seus outros elementos – as imagens que emanam
da fantasia de um sujeito, as narrações em que se transformam as falas de
pessoas e grupos – mostram-se por demais transitórios e efêmeros.
(ZILBERMAN, 2001, p.113).
Em relação à pergunta 8, espera-se como resposta em torno das seguintes reflexões: ler
e ouvir história auxilia na criação do hábito de leitura; domínio da linguagem; acesso à
linguagem; socialização; permitir a criança sair, nem que seja por alguns momentos, do foco
da doença; elaborar conteúdos mesmo que não seja este o objetivo do contador de histórias;
ajudar na adesão à dieta ou à medicação na hospitalização; estimular a capacidade de
representar fantasias; ajudar a criar novas imagens mentais; auxiliar no processo de
alfabetização e aprendizagem; oferecer recursos lúdicos que ajudem a criança a lidar com o
seu processo do adoecimento e lhe tragam uma melhor qualidade de vida.
Pergunta (8) – Para que serve, especificamente, a leitura ou ouvir uma história em hospital ?
(Módulo Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver e A Arte de Contar Histórias)
128
As principais categorias de respostas e suas frequências encontradas são assim
agrupadas:
Leitura para o hospital Promove a humanização
Gosto pela leitura (2) Ajuda no tratamento (2)
Benefícios da leitura (2) Promove acolhimento/humanização (2)
Mantém criança conectada com ambiente escolar (1) Promove qualidade de vida (1)
Leva alegria ao hospital Ajuda no tratamento
Promove alegria (5) Minimiza a dor (12)
Anima a criança (2) Ajuda a esquecer o sofrimento (13)
Retira o estresse (1)
Altere o estado de doença (1)
Promove a ludicidade Ajuda a criança a sonhar
Acesso ao lúdico (1) Leva a criança a sonhar (4)
As respostas encontradas evidenciam, por parte dos voluntários, o papel da contação
de história como auxiliar no tratamento da criança, minimizando a dor e o momento difícil da
hospitalização. Encontrou-se até uma resposta que se refere à contação de histórias com o
“poder” de “alterar o estado de uma doença”. Neste sentido, o que se pode dizer é que,
embora sem comprovação científica, intervenções como as contações de histórias podem
ajudar pacientes no tratamento, na adesão ao tratamento, pelo seu caráter socializador e
lúdico.
As respostas de maior frequência têm como principais conteúdos a “minimização da
dor” e o “esquecimento do sofrimento”. A dor possui componentes subjetivos, que variam de
pessoas e culturas, o que torna esta resposta de difícil aferição. Quanto ao “esquecimento da
dor”, experiências como estas podem transformar estes momentos da internação menos
difíceis e dolorosos pelo menos por alguns instantes.
A pergunta seguinte, a do módulo vivencial (dinâmica de grupo), propõe ao contador
que este reflita sobre questões emocionais que surgem na atuação dele junto à criança e ao
adolescente hospitalizado. Esperavam-se respostas sobre como saber identificar conteúdos
emocionais que são do contador e os que são do paciente, para que assim diminua a
identificação com a dor do outro.
Pergunta (10) – Qual a importância do contador saber gerenciar as suas emoções e aprender a lidar com
as próprias perdas?
(Módulo Vivência Terapêutica)
129
As principais categorias de respostas e suas frequências encontradas são assim
descritas:
Transmitir tranqüilidade aos pacientes Aprender a lidar com a morte e a dor
Estar equilibrado para lidar com paciente (23) Aprender a lidar com as perdas (13)
Transmitir tranqüilidade para o paciente (2) Encarar a morte (1)
Não transmitir sofrimento/problemas (3) Aprender a lidar com a dor (1)
Proteger-se do sofrimento Ajuda na vivência do hospital
Proteger-se do sofrimento (4) Ajuda na vivência de contador hospitalar (1)
Nas respostas relacionadas a este módulo, aparece com maior frequência a importância
de estar equilibrado para atuar com pacientes hospitalizados, pois nos moldes em que
funciona o hospital, o paciente é uma pessoa que perde sua condição de agente para se tornar
meramente passivo, num processo de total cerceamento de suas aspirações existenciais:
doença, morte, dor, perda de identidade, da alteridade... tudo isso é parte do adoecer no
hospital. Neste sentido, o contador deverá ser capaz de transmitir tranquilidade na relação
com a paciente. Aprender a lidar com as perdas aparece também com frequência nas respostas
encontradas.
A próxima pergunta avalia a percepção da atividade prática de observação do contador
de histórias no último módulo do treinamento:
Pergunta (19) – A minha percepção é de que as visitas a quatro hospitais antes de iniciar a contar
histórias..
(Módulo Treinamento em Hospitais)
As principais categorias de respostas e suas frequências encontradas são as seguintes:
130
Ajuda na formação do contador Aprendi a me comportar num ambiente hospitalar
Ajuda na formação (9) Ensina a se comportar (2)
Ajuda a vivenciar o que aprendi na prática (2)
Ajudou a fazer escolhas Tive certeza que queria ser voluntária
Escolhi o perfil do paciente para contar histórias (2) Tive certeza que queria fazer voluntariado (3)
Ajuda a escolher o hospital que vai atuar (11)
Pode espantar os voluntários Não foi importante
O treinamento pode espantar os voluntários (2) Não considerei importante (2)
Ambientar-se no hospital Ajuda a trabalhar com criança hospitalizada
Ajudou a conhecer o hospital (12) Ajuda a trabalhar com criança hospitalizada (2)
De acordo com as diversas categorias analisadas, pode-se dizer que o voluntário, ao
realizar a vivência deste módulo, ambienta-se com o hospital, escolhe o local que vai atuar
(hospital e causa em que vai atuar) e ajuda na formação que obteve teoricamente durante o
treinamento da Associação Viva e Deixe Viver.
(b) Nível Atitude
Na pergunta 9, como avalia uma atitude referida, as respostas são de caráter pessoal.
Pergunta (9) – Coloque em ordem de prioridade os motivos pelos quais você pode faltar à contação
nos dias agendados para sua participação.
(Atitude)
As principais categorias de respostas e suas frequências encontradas são assim
agrupadas:
Doenças/falecimento Trabalho
Doença de alguém da família (10) Trabalho em geral (15)
Doença do contador (31)
Falecimento ou morte (8)
Estudos Viagem/Férias
Relacionados a estudos (2) Viagem (7)
Férias (3)
Imprevistos Compromissos
Imprevistos (4) Compromissos em geral (6)
Problemas com transporte (4) Questões judiciais (2)
Temporal ou clima (2)
Cansaço (1)
131
Neste item, o contador coloca a doença e o falecimento de pessoas de sua própria
família como principais motivos que justificariam a sua falta ao hospital. Nota-se, também,
que grande importância é atribuída ao fator “compromisso com o seu vínculo de trabalho
remunerado”.
A questão seguinte é uma resposta de caráter pessoal que busca avaliar o que o
contador deve ter como atitude ou habilidade para se qualificar como voluntário hospitalar.
Pergunta (14) – Para se qualificar como contador de histórias é imprescindível...
(Atitude)
As principais categorias de respostas e suas frequências são assim descritas:
Ser solidário/voluntário Compromisso
Consciência do papel do voluntário (4) Ter compromisso e comprometimento (6)
Ser solidário (3)
Querer doar-se (3)
Amor ao próximo e à causa (10)
Disponibilidade de tempo Qualificação/treinamento
Ter disponibilidade e tempo (11) Qualificar-se através dos treinamentos (13)
Vontade Gostar
Vontade e desejo de ser (4) Gostar de crianças ( 5)
Gostar de contar histórias (6)
Conhecer o ambiente hospitalar Respeito pelo outro
Conhecer o hospital (8) Respeito pelo outro (6)
Paciência Ser equilibrado
Paciência (3) Ser equilibrado emocionalmente (5)
Pode-se perceber pelas categorias acima que a maior parte das frequências atribuiu,
como imprescindível para se tornar um contador de histórias antes da qualificação, amor ao
próximo, à causa, à doação, à solidariedade e à consciência do papel de ser voluntário. É
importante ressaltar que a qualificação ocupa a segunda posição, mas que algumas qualidades
foram mencionadas como importantes para uma atuação no contexto hospitalar como
contador de histórias: equilíbrio, paciência e respeito às pessoas. De modo geral, pode-se
afirmar que as respostas indicam que, além de conhecimento adquirido através do
treinamento, o voluntário deverá ter atitudes e habilidades adequadas para atuar neste
contexto tão complexo, que é o hospital.
132
5.2.2 Análise do Grupo Focal
De acordo com o delineamento da pesquisa, o grupo focal pretende aprofundar a
avaliação de resultados do treinamento, tendo como indicadores conhecimentos dos módulos
e atitudes aprendidos na formação do contador de histórias. Quando os participantes avaliam
também o processo de treinamento, pode-se dizer que esta avaliação mesma possui
julgamento participativo.
Segundo Tenório (2010, p.21), “avaliação não é só uma atividade de especialistas, mas
um constructo coletivo a partir da participação de todos os envolvidos no processo”. Neste
sentido, a pesquisa através do grupo focal buscou avaliar, a partir dos próprios indivíduos, o
treinamento.
Nos grupos focais, buscou-se saber: (a) o que foi significativo no treinamento para
contador de histórias; (b) a avaliação de cada módulo realizado e (c) a avaliação do encontro
realizado (grupo focal).
As diferentes respostas foram analisadas separadamente por diferentes grupos: grupo 1
(que já contaram histórias, mas estão afastados); grupo 2 (contam histórias atualmente); grupo
3 (que fizeram a formação, mas não contaram histórias pela Associação Viva e Deixe Viver).
– Quando se pergunta sobre o que foi marcante e chamou a atenção dos participantes
na formação, as categorias de respostas são assim descritas:
Grupo 1: De maneira geral, este grupo destacou a seriedade do trabalho realizado pela
Associação e pelo voluntariado, com maior regularidade de respostas, mas houve respostas
relacionadas a ter aprendido a conviver com perdas e a repensar a relação com a morte, a
aprender a organizar o tempo :
Em especial à questão das perdas, aprendi a conviver com perdas.
Aprendi no treinamento a me disciplinar quanto ao tempo.. aprendi a
organizar o tempo... E levar a sério o trabalho voluntário, ser voluntária
não é de qualquer jeito, o treinamento me fez melhor, mais responsável,
mais organizada. Aprendi a lidar com perdas, a saber o limite do outro, a
saber o meu limite e tirar de mim a criatividade...
A forma como tudo foi colocado, todas as questões foram .... Em cada
reunião, questões que envolvem a criança, família, o paciente. Você como
contador, seu estado emocional, o estado emocional dos outros, o respeito
133
ao profissional.Porque tem gente que assim, ah eu sou voluntária, parece
que está fazendo um favor, o que não é, não é assim.
A voluntária acima traz as questões relacionadas à prática do voluntariado, que não é
atividade que deve ser executada de qualquer jeito, como um favor que se presta para o outro,
mas como atividade séria, pautada no compromisso com a população que se atende.
Outro aspecto importante neste grupo é que a instituição demonstra o
comprometimento com a formação das pessoas para realizar o trabalho voluntário de maneira
séria, o que, para um dos voluntários, se reflete na evasão das pessoas que, ao ouvirem certas
mensagens, desistem do trabalho voluntário:
O comprometimento da instituição de formar tantas pessoas, e a evasão do
treinamento porque começou com 200 e foi diminuindo, observei que as
mensagens foram importantes para fazer pensar o que a pessoa queria como
voluntário.
Ensina a não se envolver com o paciente, a observar os limites de cada um, o respeito
às regras:
Não se envolver intimamente com o paciente, maturidade para conhecer os
seus limites, saber até onde ir, ser voluntário tem que respeitar as regras,
para fazer um trabalho efetivo.
O que é trazido pelo voluntário é também discutido na própria formação do
profissional da saúde, sobre a intensidade e o limite de se envolver com o paciente. Esta
dimensão também é trazida no discurso da humanização, que defende a relação dialógica do
sujeito que trabalha na saúde (profissionais ou voluntários) com o paciente.
Grupo 2: Este grupo traz interações importantes em torno da discussão do módulo da
Vivência Terapêutica e do Processo de Morrer e Morte, sendo eleitos os dois focos principais
de discussão.
Segundo os voluntários, o tempo é pouco para trabalhar com as emoções dos cursistas,
alguns criticam este módulo, outros admitem que foi importante para a sua formação, a
realização deste trabalho:
O encontro das perdas, não gostei da experiência, eu achei que toca em
emoções fortes e remexe e quando eu terminei ali...extremamente
sensibilizada...foi pouco tempo para trabalhar com as emoções, para mim
foi pesado, não foi válido, achei mal estruturado, primeiro não somos
preparados, depois o tempo que é feito, é rápido e depois acaba.
134
A gente vai sem resolver nossas dores, nem as dores dos outros.
Essa foi a mesma que me marcou, é difícil mas muito rico, eu gostei
mesmo.Eu achei que foi o mais válido, mas foi de um jeito.
Lidar com a morte nunca é fácil..a morte pega a gente de surpresa...Porque
quando você faz uma vivência que é bem pesado, tem que dar respaldo,
dentro de..eu não sei se você notou, mas agente tinha o endereço, o telefone
dos psicólogos pra poder ir atrás se precisasse.
Eu não saí pesada, eu não saí pesada nesse dia, nenhum... achei
superválido. O contador chega lá, às vezes sem preparo nenhum e ele
convive com cada criança... e o paciente foi e ele fica...
Eu não saí pesado de lá, teve pessoas até que evoluíram lá, da vez que eu
fui.
Processo seletivo. Não pôde continuar. Conheço uma que não pôde contar
porque ela não estava preparada.
O que mais marcou foi isso, hoje você conta para alguém e amanhã a
pessoa pode morrer.
Pouco tempo com a vivência, deveria ter melhor preparação para a
vivência.
Hoje eu penso que lá pra trás precisava de um suporte maior. Eu...quando
perdi a primeira criança, cogitei parar.Aquela vivência não preparou
ninguém. Na verdade, eu saí...no dia não entendi porque as pessoas
choravam porque perderam um pedaço de papel (dinâmica). Naquele
momento que eu fui entender que aquele processo tinha que ter uma melhor
preparação para o que poderia, para algumas pessoas acontecer.
A maioria deste grupo traz a vivência como algo que marcou muito, e, na visão de
alguns, eles deveriam ter um suporte maior para vivenciar este trabalho, outros percebem esta
vivência também serve como filtro, ou seja, o voluntário a partir deste trabalho tem de
repensar se poderá lidar com essas questões de perdas que são presentes no contexto
hospitalar.
O grupo retoma o assunto da morte em outro módulo e coloca a importância de falar
sobre a morte, saber lidar com ela:
A palestra planejamento teve conteúdo maravilhoso, com relação a morrer e
morte não marcou muito porque sempre tive idéia na minha cabeça.
Do mesmo jeito que a gente veio, a gente vai, né?...e uma frase foi dita lá: a
gente vê o problema do outro, sente, mas não entra.
[...] porque muita gente desistiu depois que ouviu a palestra sobre a morte e
o morrer.
135
Nem todo mundo tem condições de enfrentar a morte, nem a doença grave.
Ver a criança sofrendo, toda a semana ali, dói na gente. Apesar de ter sido
minha vida toda ali no hospital, mas você olhando... e estar lá para levar
alegria e entretenimento...mesmo você se desdobrando não consegue.Você
percebe que a dor é tão grande que nem o seu encantamento consegue
passar.
Esses discursos demonstram o reconhecimento dos sujeitos sobre as suas limitações
neste trabalho, afirmam que nem todo mundo tem condições de enfrentar a perda ou a morte.
Enquanto no papel de “promotor” de alegria, os contadores de histórias reconhecem que, em
alguns momentos, a dor é grande, e isto é inerente neste trabalho. Alguns, com dificuldades
em lidar com essas questões, podem desistir de atuar, outros continuam.
A dificuldade do contador de lidar com a morte é traduzida nas situações do dia a dia,
na prática de voluntariado:
Foi aquele susto, né? A situação de lidar com a dor não é minha praia,
morte, muito pior.Eu não sei lidar com a morte.
Uma certa vez eu fui para uma mãe, ela era uma doçura, era jovem ainda,
sempre com um sorriso. Eu digo: “cadê seu filho”, ela olhou pra mim e
disse: ele morreu...olha o que Deus está me ensinando, me doendo na hora
que ela falou...aí eu tive que segurar assim...e ver o que ela podia me
ensinar...então eu tento aprender alguma coisa, lidar com o inevitável, que é
a única certeza desse mundo, que a gente vai.
A gente tem que lidar com isso..Fui pro Hospital X, área de queimados,
então eu fui fazer aquele trabalho ali. Então a gente...se eu não tivesse
aquele preparo...e se ele tiver necessidade ele vai ter apoio psicológico, que
estava previsto.Se precisasse..mas era pra mexer mesmo.Porque teve
pessoas que não pôde continuar ali.
Este voluntário traz no seu relato que se sente mais preparado por conta do treinamento
e por saber que pode contar com apoio psicológico no projeto.
O módulo do treinamento prático em hospitais é trazido como importante pela
experiência de ver o outro atuando, o que ensina diversas coisas, entre elas, como se
comportar, o que fazer, serve como aprendizagem, além de aprender a se “segurar” para não
passar as emoções, passar coisas positivas.
Gostei mais mesmo foi ver a experiência das outras pessoas, contando como
é que era, o que era preciso, o que era importante, o que era preciso saber,
né ? ... como é lidar com essa superfície, né? como é você segurar e não
passar. Você tá preocupado demais, e tentar passar coisa positiva...puxar
eles pra cima, né? Passar uma mensagem positiva.
136
Achei importante para a pessoa saber como se comportar no hospital, o que
pode e o que não pode fazer, e sobre a morte é importantíssima porque mexe
com o emocional.
Aqui, o módulo do treinamento e conteúdos acerca da morte é trazido como essencial
para a formação do contador e sobre como se comportar a partir da experiência do outro, mas
reflete também o discurso biomédico, de não envolvimento com o paciente.
Grupo 3: Este grupo vai trazer aspectos que envolvem o morrer e a morte, o módulo
Vivendo Positivamente, experiência do contador que atua em escola, é a formação que
trabalha aspectos emocionais do paciente. Este grupo discute, de forma heterogênea, os
módulos do treinamento:
Nenhum módulo poderia ser importante sem a presença do outro, é uma
corrente, um elo...Eu tive até uma situação que foi, eu convoquei uma
observação ou algo parecido, e no final a psicóloga me chamou e disse:
você não está tendo habilidade para ver uma criança morrer; eu digo,
morrer para mim é ganho, porque ela está ali sofrendo (a criança).(Grifo
meu).
O voluntário traz sua experiência com a psicologia hospitalar, mas o grupo não
interage com este assunto e relata, cada um em separado, suas experiências individuais.
O contador afirma que o treinamento trabalha não só conteúdos, mas questões de
ordem psicológica:
E o que acho positivo também, foi a preocupação não só na formação de
contar histórias. Mas foi a formação do nosso psicológico, que
estava...bastante....foi uma coisa paralela, então eu acho importante.
Aprendi a ouvir.
Pode-se inferir, a partir das experiências relatadas, que o conteúdo da proposta desse
treinamento possui uma carga emocional densa, por tratar de temas relacionados a morte,
perda e doença dentro de um contexto desconhecido para alguns e difícil para outros.
Trabalha “atitudes” do voluntário sobre como agir em situações de perda, morte, e a dor da
criança e de seus familiares.
– A avaliação do grupo focal na segunda parte da sessão tem por objetivo, neste
trabalho, avaliar cada módulo separadamente:
137
(a) Módulo – Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver
Grupo 1: Neste grupo, o relato é que este módulo explica o que se espera do candidato,
as normas e regras do projeto, as responsabilidades do voluntário. Não foi um tema muito
discutido pelo grupo.
Grupo 2: De maneira geral, o módulo é avaliado pelo grupo como conteúdo de
esclarecimento sobre o que é a proposta de voluntariado, como uma orientação, traz
conteúdos sobre voluntariado e ambiente hospitalar, sobre as regras do treinamento quanto a
reposição e faltas das aulas, e apresenta a Associação Viva e Deixe Viver e a Santa Casa de
Misericórdia da Bahia, instituição que a representa no Estado da Bahia.
Na fala abaixo, a voluntária afirma que, após conhecer o trabalho da Associação, se
deu conta de que a contação de histórias era só um instrumento para realizar um trabalho
maior: a humanização hospitalar através das histórias.
Essa primeira palestra serviu para me orientar e eu não era ligado à
literatura em primeiro plano, porque eu fui pra lá porque era contação de
história e no final eu fui ver que a contação de história era só um
instrumento, era só um instrumento pra gente fazer um trabalho maior.
Para outra, foi um esclarecimento de que não se tratava de grupo de palhaços:
Eu achei muito interessante esse esclarecimento porque na minha maneira
de visualizar, eu tinha na mente Grupo de palhaços e quando eu cheguei lá
eu vi que não era nada disso e fiquei porque quis e gostei.
Grupo 3: O grupo contribui com a discussão e diz que este módulo traz a realidade do
que é ser voluntário, a tomada de consciência para fazer este trabalho, além da visão do
ambiente hospitalar. Uma das voluntárias ressalta que, no início, achou a proposta rígida:
É assim, se você quiser você fica se não tiver comprometimento, você vai
sair. Você tem que dar atestado. Ela deu todas as respostas. Porque assim,
voluntariado as pessoas não têm comprometimento na verdade. Começa e
não vai. Esta é uma rigidez que eu achava muito forte. No início em
pensava: “eu vou ser voluntária, estou dando meu dia, ainda acha...”. Mas
ai eu percebi que realmente tinha que ser assim. E tanto que eu me
encontrei, fui e fiquei.
(b) Módulo – Fundamentos Filosóficos do Voluntariado
Grupo 1: Este módulo trouxe para este grupo questões ligadas à responsabilidade e ao
compromisso do voluntário, à disciplina ao se assumir um compromisso com o público
138
atendido, e à importância da capacitação para a atividade voluntária, do amor à causa, o que
possibilitou as pessoas definirem se queriam estar envolvidas neste projeto de voluntariado.
Grupo 2: Para este grupo, de maneira geral, o módulo esclarece sobre
responsabilidades, os compromissos assumidos com o voluntariado e com a criança
hospitalizada, sobre a importância da atividade voluntária. E, na fala de dois integrantes do
grupo, este módulo passa até sentido de obrigatoriedade:
Passa esse sentido de responsabilidade com o voluntariado, que para as
pessoas em geral o voluntário sugere uma coisa eventual, você vai quando
quer. E essa palestra da ... focalizou isso, que fica para o curso, pra ser
contador de história não quem vai na hora que dá vontade ou que pode, é
uma questão de responsabilidade, praticamente de obrigatoriedade. Só
quando é indispensável faltar, quando é por motivo maior. Então a gente...
ficou bem esclarecido tudo isso. E essa obrigatoriedade é no curso.
É porque ficou esclarecido o seguinte, que ser voluntário é integrado, tem
que respeitar a organização, os critérios [...] mas é igual a qualquer outro
funcionário, tem que respeitar o horário, a organização.
A fala de dois sujeitos de pesquisa é que a Associação traz sentido de obrigatoriedade
no trabalho voluntário, o que no discurso da instituição não é confirmado quando esta afirma
que prefere a “desistência” do voluntário às suas “faltas”, para não gerar expectativa na
criança hospitalizada.
O voluntário, depois de concluída sua formação, ingressa no hospital e assina um
termo de adesão, contendo direitos e deveres perante a organização, visto que a atividade
voluntária dispõe de legislação própria (Lei 9.608/98).
Para outra voluntária, os fundamentos do voluntário apresentam uma dimensão de
quando se inicia como contador de história cria-se relação com vida, com a morte, com o ser
que está ali doente:
Também são os nossos fundamentos, né?! Quando começam a contar
história, você monta a sua relação com a vida, com a morte, com o ser que
ta ali doente. Você... “eu vou porque também me faz bem”, me faz bem ir ao
hospital contar histórias, mesmo que seja muita tristeza, mas você sai
aliviado até, às vezes. Muitas vezes...
Grupo 3: O módulo, para este grupo, passa a história da instituição, passa
credibilidade, esclarecendo de maneira geral quais são os direitos e deveres do candidato
voluntário. O grupo não contribuiu com discussão sobre este módulo.
139
Um voluntário critica os cabeças de chave, advertindo que coisas que aprendeu na
teoria, na prática não foram executadas:
Os cabeças de chave já existiam lá. Por que já existiam lá? Por que já são
funcionários? Por que têm uma relação maior com a instituição? Mas... é
necessário que haja uma mudança, talvez, no futuro, em relação a esses
cabeças de chave. Porque eles terminam não abrindo muito. Porque você
que tem que me dizer, nós aprendemos na teoria que você não pode sair de
um leito para o outro, de um quarto para o outro, sem passar na pia e lavar
as mãos e fazer toda a higiene para ir pro outro. Mas você tem horas que
não faz essas coisas. Ou você para pra fazer e fica: “eu lavo ou vou atrás
dele? [atrás do cabeça de chave no hospital]. (Grifos meus).
(c) Módulo – Planejamento Pessoal e Gestão do Tempo
Grupo 1: As questões mais discutidas neste grupo é que este módulo trata da
preparação e da disposição necessária para ser voluntário; a importância de ter prioridades,
organizar e disciplinar o tempo; a importância de estar preparado para atuar no ambiente
hospitalar e respeitar o tempo da criança:
Você tem hora para entrar, mesmo sabendo que você tem hora pra
sair...você precisa organizar e respeitar o tempo da criança... E isso a gente
aprende na prática, mas nesse módulo também...
Aqui, o voluntário expressa que a aprendizagem significativa do módulo é aprendida
no contexto, na atuação, reconhece a função educativa do módulo, mas é no contexto que ele
atua, que ele desenvolve a competência do saber agir. Neste caso, pode-se dizer que a atitude
advém do conhecimento.
Grupo 2: Este grupo de maneira geral diz que o módulo contribui para se refletir sobre
o tempo pessoal de cada um, inclusive para ser voluntário; o grupo elogia também o
desempenho do facilitador, e os cursistas colocam a importância de ter participado de uma
dinâmica neste módulo que exercitava as prioridades:
Tudo que ele fala cai como uma luva pra gente. Administrar o tempo, para
uma pessoa como eu, que no momento que fiz aquele curso tinha cinco
trabalhos.
Numa das falas, o voluntário afirma que o módulo, além de ser uma preparação para o
contador, traz a importância de se realizar um trabalho eficiente:
140
Isso aí foi uma preparação para todos nós conseguirmos administrar o
tempo. Porque muitas vezes íamos faltar a contação de história por falta de
administração do tempo. Então ele deu todo um suporte, para que nós
abarcássemos os conhecimentos e começássemos a administrar nosso tempo
para prestarmos um bom serviço e não desserviço.
E o módulo possibilita que o contador reflita sobre sua entrada no projeto e mostra que
voluntariado não é uma fuga:
Várias coisas que ele falou... pra mim... foi o ímpeto da seleção, né?! pelo
qual passamos nesse treinamento. O trabalho do voluntário, principalmente
este de contação, não deveria ser uma fuga para você. Estou com um
determinado problema, eu vou entrar nesse trabalho para me resolver.
Não... Saia. Resolva e volte. Então, acho que é isso...
O voluntariado, no discurso do facilitador trazido pelo voluntário, não deve ser uma
expiação para os problemas pessoais. Segundo Ortiz (2007, p.34), “o voluntário deve buscar
sempre uma solução, que não precisa necessariamente ser grande, mas eficiente”.
O resultado do trabalho não é medido por dimensões sociais, mas por sua eficiência,
não é, também, uma atividade de cunho terapêutico para resolver conflitos e problemas
pessoais dos voluntários, ainda que, de forma indireta, esta atividade possa ajudá-los a
abrirem novos horizontes e possibilidades, como desenvolver potencialidades, criar novos
amigos e sentimento pertença, dentro de uma instituição social.
Grupo 3: Neste grupo, os aspectos relevantes do módulo foram a importância de se ter
uma agenda, planejar e organizar suas atividades pessoais:
Então, era esse planejamento pessoal que você tem que fazer, a sua agenda,
ser organizado, priorizar para poder estar fazendo esse trabalho. Porque
assim, é como fulana falava: “É melhor desistir ou faltar?...está certo isso,
do que não aparecer.
(d) Módulo – Vivendo Positivamente
Grupo 1: De maneira geral, o grupo relata que este módulo trata da importância de se
ter uma atitude positiva para transmitir, às pessoas, equilíbrio emocional, a importância de
conhecer técnicas de relaxamento e meditação, o que se reflete na atuação do voluntário
também no ambiente hospitalar:
141
O que me prendeu muito nessa palestra foi que vivendo positivamente você
muda a sua saúde, suas células, de como você respirar nos ambientes, em
momento de tensão, de tristeza, e tudo que acontece no hospital, muita coisa
triste acontece... E me ajudou muito nesse processo. Você respirar e tem
hora que você é a única pessoa ali que a família tem pra se apoiar. Eu vi
muito isso no hospital, e não tem um enfermeiro, um técnico e a criança
passando mal e a mãe olha assim: “É você e agora”. Aí eu respirava, ia
acolher a mãe e tentar chamar alguém responsável, mas tem muito isso...
Equilíbrio emocional para, diante da dificuldade, você não cair, a criança
não sentir que você está com dor, saber agir com equilíbrio com a criança,
não sentir que você está caindo.
Grupo 2: No grupo, os voluntários citam as dinâmicas de relaxamento que
vivenciaram no módulo, e uma das voluntárias afirma que o módulo a fez refletir sobre a
importância de deixar os problemas em casa para levar alegria às crianças:
Eu achei que foi uma coisa sensitiva. Ela quis demonstrar que antes da
gente ir para o hospital, a gente deixa os problemas em casa, trancadinhos.
E lá só vai a gente com as crianças. Eu achei importante isso... ela falou
relaxar assim... a gente relaxa e vai. É como deixar os problemas da gente.
Pra gente não ir com muitos problemas na cabeça e levar para a criança... a
gente tem que levar alegria para a criança. Você vai contar história com a
fisionomia problemática?
Grupo 3: O grupo também traz a importância do relaxamento, da meditação e da
escuta como aspectos importantes tratados no módulo, e de se “ver” o lado positivo das
coisas. Foram poucas as discussões sobre este módulo no grupo.
De maneira geral, os três grupos trazem a vivência do relaxamento vivida no módulo,
em que alguns voluntários indicam como uma possível ajuda em momentos de tensão no
hospital. O que chama atenção é que este módulo trata de questões ligadas ao equilíbrio
interior, como um módulo de autoajuda, trazendo, por exemplo, a prática da meditação.
(e) Módulo – Ambientação Hospitalar
Grupo 1: De maneira geral, para este grupo, o módulo ensina a se portar num hospital,
ensina medidas de proteção, regras e normas hospitalares, quanto à utilização de roupas e
sapatos fechados, trazidas em algumas falas:
Aprendi como me portar e quando chegasse em casa não abraçasse nossos
filhos, não colocasse o jaleco e os sapatos com outras roupas. Sapato
fechado... Foi muito bem explicado.
142
Foi pra proteger todo mundo, tanto as crianças, quanto proteger a gente e
nossos familiares. Porque imagine que a gente não use esses princípios
básicos e a gente contamina a nossa família em casa, por uma coisa simples,
não é isso? Então, eu achei válido isso, em relação às medidas de
segurança.
Alguns voluntários, porém, reproduzem um discurso equivocado do treinamento, visto
que o Módulo Ambientação Hospitalar trata de alguns cuidados que o contador deve ter no
ambiente hospitalar, através de cuidados essenciais de higiene, especialmente no lavar as
mãos, e a utilização de roupas adequadas.Quanto à higiene das roupas e sapatos, estes poderão
ser higienizados em casa, sem risco de contaminação.
Outro aspecto abordado por um dos componentes do grupo é que o papel de contador
não se deve misturar ao do técnico, mas pode ajudá-lo em algumas circunstâncias trazidas
pelo voluntário, como, por exemplo, ajudando a nutrição, incentivando a criança a comer,
através de uma conversa.
Grupo 2: O módulo para este grupo possui a função de educar o voluntário “leigo” a
estar no hospital. Afirmam que é importante este conhecimento porque existem pessoas com
experiências diferentes, que nunca trabalharam num hospital e não sabem como se comportar
neste ambiente. Uma contadora da área de educação traz este discurso na sua fala:
Então, o detalhe do hospital... eu não sou da área de hospital, eu sou da
área de educação. Saber que você não pode entrar no hospital de sandália.
Eu tô sempre de sandália, ia lá saber que não pode? A questão da mão, de
limpar, a higiene, essa questão toda que a gente sabe. Mas eu achei assim...
interessante porque tem muitos detalhes pra gente... prá uns é café pequeno,
já sabem, mas pra outros não. “2” é enfermeira, sabe da questão do sapato
fechado, ela é enfermeira e eu nunca tinha pensado nisso. Então, é muito
válido uma palestra que fale desses assuntos. Porque é uma questão de
educar o contador de história, chegar e não sentar na cama do paciente, de
entender que aquele jaleco é do hospital, então não pode ficar com o
jaleco... tem que ser higienizado e não pode usar com outras coisas, outros
ambientes... não levar coisas para as crianças.
Já outra voluntária do mesmo grupo afirma que é simples atuar no hospital, que
existem muitas coisas que passam no imaginário das pessoas, diz que o módulo não deu “a
acomodação” que deveria para pessoas que não conhecem o hospital:
Eu acho que você pode visitar pessoas e contar histórias sem esse temor que
se passa na cabeça de muitas pessoas. Não é verdade ? Eu achei válido, mas
não deu a acomodação que deveria para pessoas que não têm a vivência
hospitalar.
143
Grupo 3: Neste encontro, as pessoas relatam que o módulo aborda como proceder e
chegar ao hospital, a utilização de roupas adequadas, noções de higiene, o papel do contador
junto à criança hospitalizada e ao profissional de saúde, e o conhecimento sobre o ambiente
hospitalar. Estes aspectos são trazidos na fala de uma contadora quando diz:
Roupas, as roupas não muito chamativas. Você sempre prestar atenção a
como você está vestido. Higiene, o não se envolver no momento que o
médico precisa dar um remédio, um procedimento. Porque acha que sabe
alguma coisa e quer ajudar. A criança está com soro e não quer mais ou já
acabou? Você não tem que ir lá tirar, quem tem que ir lá é o funcionário, o
profissional que está trabalhando com ele. Você está ali simplesmente com o
papel de contar histórias. Você pode até acionar, se tiver dificuldade da
criança, de chegar e acionar e deixar que... todo o procedimento tem que ser
com o profissional responsável pelo caso. Você não tem que se meter em
nada, mesmo que você seja enfermeira. Você é enfermeira do hospital em
outro horário, naquele horário você não é.
A voluntária traz a preocupação de ir ao hospital depois de ter pegado ônibus:
A questão de você não dar opiniões. E em particular pra mim, eu já entro lá
neurótica (risos), foi, vou dizer por que. Eu pego ônibus, boto minha mão
naquele lugar, aí...
E diz que o módulo mudou os hábitos no ambiente hospitalar:
Até se acostumar a lavar a mão, usar álcool gel... hábitos que eu não tinha.
Mas apresenta traços de uma pessoa preocupada em excesso com contaminação:
Medo de sair contaminando um monte de gente.
A fala acima apresenta uma visão distorcida sobre o ambiente hospitalar, pois é
carregada do “medo da contaminação”, com certa desproporção.
Este módulo de caráter técnico é educativo, principalmente para os voluntários que
não são da área de saúde e se sentem “leigos”, até conhecerem este módulo, considerado
importante pela maioria do grupo.
144
f) Módulo: A arte de contar histórias
Grupo 1: Este módulo foi bastante discutido pelo grupo, que afirma que o módulo
ensina o voluntário a apresentar o livro, oralmente; desperta a vontade de contar histórias;
resgata a criança interior que existe em cada pessoa, ao se deparar com histórias infantis;
informa sobre a importância de o contador se integrar no texto, não trabalhar com improviso,
estudar a história de acordo com a faixa etária.
Mas, no discurso de uma voluntária, esta afirma que não se deve contar histórias
trágicas para as crianças:
O contador precisa antes de contar a história se integrar no texto e não
chegar e dizer: hoje vai ser isso aqui...Tem que ver que história eu posso
levar, deve ver a faixa etária porque isso é importante. O conteúdo, e não
contar histórias trágicas. Eu não tive dificuldade porque sou bibliotecária e
já trabalho com isso, então eu tenho um acervo grande. O que acho
interessante também é a gente não ficar presa ao livro, têm os fantoches,
isso desperta muito as crianças... eu tenho um guarda-chuva, que eu fui
contar história na sexta-feira no Hospital X, fui convidada. E eu tenho um
guarda-chuva, é um guarda-chuva mesmo, preto, grande, onde em cima ele
é todo aplicado e em baixo eu amarrei um boneco. Aí eu levei o guarda-
chuva mágico, porque eu não posso usá-lo na chuva... e você têm várias
maneiras de contar as histórias! Então eu aprendi também que você não
pode contar só de uma maneira. O que a gente puder fazer para movimentar
a nossa contação.
A questão trazida pelo contador trata da evitação de histórias trágicas para crianças
hospitalizadas. Não existe nenhuma contraindicação ao se trabalhar com este tipo de
literatura, mas obviamente histórias de superação são as mais indicadas para crianças
hospitalizadas. As histórias trágicas, ao contrário do que se pensa, têm um importante papel
na elaboração de problemas e conflitos no imaginário infantil.
Outros pontos também foram discutidos pelo grupo, como a importância de o contador
estar preparado para contar histórias variadas, pois há crianças que, em alguns momentos, não
querem ouvir a história que o contador preparou e pedem outra. Outro ponto discutido é a
importância de adaptar a história para diferentes idades, e o respeito ao “não” da criança,
quando esta não quer ouvir histórias ou prefere fazer outra atividade.
Outra voluntária afirma:
A história possui caráter transformador.
145
Segundo Estés (2005, p.30) as histórias possuem caráter transformador, pois podem
curar dano ou resgatar algum impulso psíquico. Nas histórias, afirma a autora, estão
incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida, ou seja,
suscitam interesse, tristeza, perguntas e anseios.(ESTÉS, 2005, p.30)
Não é objeto deste trabalho discutir a natureza psíquica das histórias, mas é importante
notar que, apesar de não ser objetivo do trabalho do voluntário neste projeto, este percebe a
importância das histórias para a estrutura psíquica das crianças por ele atendidas.
Neste grupo, uma contadora expressa a dificuldade de lidar com a frustração de ouvir
o “não” da criança:
Às vezes eu fico triste porque acho que as crianças não querem histórias ou
brincar... uma vez a criança não quis ouvir...fiquei triste porque se ela
soubesse o quanto é legal. Estou aprendendo a como cativar a criança para
ouvir a história, ainda não sei como fazer isso... e que seja um momento
mágico.
Grupo 2: Este grupo afirma ter aprendido técnicas e posturas para contar histórias, o
que para uma contadora é de fundamental importância, já que nem todos possuem “dom” para
contar histórias:
Esse módulo foi importante para mim, porque por mais que eu ouvisse... Eu
tinha uma mãe que contava aquelas histórias, que não tinha em lugar
nenhum e que fica. Que foi o presente que ela me deu. Eu não tenho esse
dom, sabe? De sair falando, eu sou mais quadrada, dura, eu não sou
daqueles sabe? Uhu!!! Sabe?!! [risos].
A percepção da contadora é que, para contar histórias, é preciso possuir “um dom”,
não se sente tão capaz quanto a sua mãe, mas confere importância ao módulo como suporte
para sua atividade. Neste sentido, vale dizer que a contação de histórias é uma atividade que
pode ser aprendida não só por meio de tradição oral, como pelo desenvolvimento de técnicas.
Já outro contador expressa que contar histórias independe da técnica, mas da atitude
segura do contador quando chega ao hospital:
Independente da técnica, de tudo que tem pra ajudar, você não precisa
saber nada disso. Você tem que ser você. Você chega lá com seu livro de
histórias e é o seu livro, lê e, então, isso me deu segurança. Não que eu
chegue lá... com o tempo você vai tendo segurança. Mas eu cheguei lá e
curti. [o grupo dá risada] Eu achei legal porque, por mais que me
ensinassem várias formas eficientes, deixou à vontade pessoas como eu,
sabe? que não tinha a menor ideia de nada e não me sentia muito à vontade
pra chegar: “ ah, já sei, vou chegar lá e rebolar.
146
Grupo 3: Este grupo afirma que o módulo, de maneira geral, ensina a estudar,
classificar e contar histórias, o manuseio do livro, o tom de voz, a postura e a forma de contar,
além da importância de se identificar com a história que se conta, expressa no discurso do
contador:
Ela ainda ensinou contar histórias, ler histórias, representar histórias.
Porque vem a questão de você estar com um livro lendo. Como você estaria
manuseando? De que forma você usaria para estar lendo a história? Tom de
voz, postura... Como se fosse contar história, porque você estaria com o
livro apresentando à criança. Se fosse contar história, você conheceria a
história, você contaria a história.
Já outro contador diz ser importante saber escolher que história contar, e que as
histórias devem ter o compromisso educativo de transmitir boas lições:
Além de ser... como eu já contava muita história. Mas o desejo que você
venha mesmo a viver aquela história. Fazer com que a criança aprenda, e
trazer uma lição para aquela história. Então, a escolha das histórias...
também nesse módulo. Deveria ser aquela que tivesse um final, uma lição
boa ou que não trouxesse... Se você percebesse que aquela criança, que
aquela história que você ia contar, ia despertar nela algum sentimento ruim,
ou triste, ou... você não contaria aquela história.
No discurso trazido pela voluntária, é importante se apontar “a moral” da história para
a criança, como uma forma de lição educativa. Segundo Betty Coelho (2002, p.24), “uma boa
conclusão não aponta a moral da história, nem faz aplicação de lições, as conclusões
pertencem aos ouvintes”. O que permite dizer que as histórias contadas não devem ter caráter
de educação moral, como geralmente ocorre nas fábulas, mas de entretenimento.
A mesma voluntária traz, na sua fala, a importância de respeitar o “não” da criança
que não quer ouvir uma história:
Porque eu acho assim... Porque eu quero, ou não quero. “Não tô afim”, não
vou forçar.
Mas se pode perceber que, apesar de dizer respeitar a vontade da criança, quando
escuta um “não”, diz tentar reverter a situação:
Tem mães... tem mães mais problemáticas do que a própria criança. Porque
quando você chega... é como se ela estivesse achando que você... Ela falou
alguma coisa e você está querendo ali... preencher esse espaço. Essa mãe
mesmo, dessa adolescente, então ela dizia... é uma questão de ciúmes, “ah,
147
ela não gosta de histórias”, “eu vou prestar atenção, a senhora quer tomar
um cafezinho, alguma coisa assim.... Ela não quer ouvir história, então eu
vou conversar um pouquinho com ela e tal”, aí ela: “não, eu não vou sair
não, vou ficar aqui mesmo”. [...] Eu comecei a conversar com ela, como se
fosse já uma parte da história e aí ela, “eu quero ouvir.
Já outra voluntária afirma que o conhecimento se dá contando histórias na prática
porque contar histórias é uma arte:
Conhecimento, se dá em contar histórias. Porque é realmente uma arte,
saber a arte de contar histórias. Pega uns traços de pintura, delinear um
pouco. É uma arte, você tem que participar, conhecer, tem que saber fazer.
Outro ponto trazido por esta voluntária é que o contador deve saber dar “vida” à
história que se conta, e utilizar das suas várias possibilidades:
E no dia a dia você vai estar contando história, você tinha que ter
consciência que não é [...], você sabe ler, então eu pego aqui e leio a
história. Não é essa a questão. Era você trazer vida àquela história que você
está lendo para a criança. Com adolescentes... com adolescente, ela tem que
estar,a arte da história. Tinha um adolescente que queria ler a história. Eu
estaria contando a ela, queria ler a história. “Você leia e depois eu te
conto”. Porque ela estava muito sozinha. “E eu vou te contar a história, ou
você vai me contar?” E aí... existe um momento e você precisa saber das
possibilidades naquele momento. Porque talvez ela gostasse de ouvir a
história, mas a mãe dela dizia que ela não gostava de ouvir história. A mãe
que não queria. Não tinha nada que estar ali. A mãe ali, deitada em uma
cama e ela ali.
Ainda sobre a possibilidade de criação com as histórias, outra voluntária conta a
seguinte experiência da dramatização como recurso importante para contação:
Isso é importante porque... você sabe só contar. Algumas pessoas acham que
é a mesma coisa. Mas é você dramatizar, é você saber a postura do livro, é
você empostar a voz quando dá ênfase.
O conceito empregado da dramatização aqui se refere à forma de contar, com voz
empostada, com postura adequada do livro, o voluntário não se refere à dramatização teatral
em si.
De maneira geral, este grupo interagiu com o tema, e houve diversas discussões sobre
o módulo.
148
(g) Módulo: Processo de Morrer e Morte
Grupo 1: Este grupo discute a morte, não só da perspectiva da morte física, mas da
morte simbólica, atribuindo significado às “perdas” que o paciente enfrenta na sua
hospitalização, como expresso nas falas dos voluntários:
Esta vivência, o que eu lembro é não é só a perda da morte física, mas o
afastamento do lar, a criança que tem toda a vida e fica paralisada, a
alegria na família, a esperança, isso é uma perda muito grande... O
afastamento do brinquedo, do irmão, da comida, é uma perda muito grande!
E é uma morte. Eu lembro da frase que dizia assim: ‘Quando a gente dorme,
a gente morre’. Eu lembro sempre, foi marcante trazida neste módulo.
Outra voluntária afirma que a formação a ajudou a elaborar a experiência da morte:
É chocante de imaginar a perda de entes querido, mas ajudou a elaborar e
pensar que, por mais que seja difícil, tem que pensar o quanto em vida a
pessoa que morre contribuiu.
Outra contadora traz a sua experiência com a morte como voluntária do hospital:
Morreu uma criança, tinha acabado de morrer e a mãe estava pegando as
coisas. Ela, a mãe me convidou para ir no necrotério ver o filho dela, a
gente abraçou ela e... mas não tinha nada a fazer, eu disse: seu filho está no
céu. Era o que podia fazer, não tinha mais nada.
Grupo 2: Este grupo em geral traz a morte na sua discussão como algo natural, como
um processo natural de vida, retratado nas seguintes falas:
A morte é algo natural, que chega e que a gente tem que se preparar para
isso.
É um simples processo.
É um processo que algumas pessoas não conseguem finalizar, elas não
aceitam. Mas, normalmente, quando não é um mal súbito, ela vai se
preparando. Às vezes no meio do processo ela morre, talvez se tivesse mais
tempo ela concluiria. Esse é o processo de morrer e morte.
Nesta fala, o voluntário traz uma representação da morte como processo de “morte
social”, que é não a morte física:
149
O processo de morrer e morte, não é só físico, é social, que é a morte de
perder ‘as coisas’, como viver em situação de miséria, pobreza, de perder
valores.
Grupo 3: Este grupo avaliou, junto com este módulo, o Módulo da Vivência
Terapêutica, que também trata de perdas e mortes. Foi um grupo com posicionamentos
diversificados sobre o tema, alguns o discutiram como conteúdo do módulo, outros trouxeram
experiências pessoais sobre o conceito:
Para a contadora, o processo de morte é uma passagem, o indivíduo é imortal, diz
trazer este ensinamento do espiritismo, encara a morte com naturalidade, refere que os
módulos ensinam que não se deve criar laço “emotivo” com o paciente e que o contador não
deve se envolver com as questões da morte:
Que é importante não criar laço emotivo, e nem se envolver se acontecer do
paciente ir a óbito na hora que se está lá, o contador tem de ficar no papel
de contador.
Aqui, o contador traz não só uma fala sobre o papel do contador, mas uma fala que
sugere que este “não se envolva” com o paciente em momento de dor e morte. Esta é a
reprodução do discurso que formou o profissional da saúde, e vem, através do movimento da
Política da Humanização, sendo repensado. A assistência humanizada apregoa que se tenha
empatia com o outro, não se distancie do paciente em seu momento de dor, mas, apesar de
não poder solucionar o problema do outro, deve acolhê-lo na sua dificuldade.
Outro contador traz a contribuição da formação que o ajudou a elaborar a morte:
O curso ajudou o contador a elaborar os conceitos sobre a morte, passou a
ver a morte como saudade e não como tristeza.
Foi marcante para outra voluntária, que aprendeu que a morte é o processo de vida:
Na verdade pra mim foi assim... marcante. Porque eles sempre estavam
dizendo. Como você é humano, não é máquina. Então, você chega e é aquele
menino mais ativo, foi aquele menino mais ativo, foi aquele que perguntou
mais [...] e aí quando você chega lá na outra semana e... pergunta a
enfermeira, “cadê P?”, “ele veio a óbito”. Você sabe... como se fosse... você
perde até o laço. Mas você aprende que, naquele momento, é o processo da
vida.
150
A fala desta contadora é uma elaboração do processo de morte dentro do hospital,
porque a contadora faz parte do grupo que nunca atuou como contadora em hospital e traz no
discurso o conteúdo de sua aprendizagem no módulo:
O módulo nos mostra e nos traz essa vivência. Porque ... você tem
acumulados em você... já tem esse conhecimento. Mas você tem que alguém,
regue um pouquinho para que venha e mostrar que dessa maneira... não é
tão.. útil você chegar no hospital e uma mãe chegar chorando naquele
momento e se ela vier de encontro com você e te abraçar, é você humano
que vai estar ali. Mas você não tem que estar ali... fazendo... a família...
fazendo naquele momento, às vezes [...]. E ela vai buscar os familiares, os
médicos, as pessoas e você continua... E isso nos foi passado e foi assim que
eu aprendi. E talvez eu não fizesse isso, talvez fosse também ficar ali. Talvez
se eu já entrasse sabendo que não poderia fazer isso, eu ficaria ali chorando
com ela e abraçando, sentindo também. Eu acredito que eu ia fazer isso.
Mas já que o módulo me dava essa direção que você tem que saber lidar
com as perdas.
A contadora diz aprender, através do módulo, a ter respeito pela dor do outro e a lidar
com as perdas do paciente e da família, mas ela mostra que não saberia como fazer isso na
prática (atitude):
É quando a criança está ali, naquele momento e passa mal, começa a
vomitar, e eu não sei se eu saiu, se eu fico, ai quando o pessoal chega, eu,
você tem que sair de lá. Ai naquele momento ali você vai querer saber o que
foi que aconteceu e naquele momento ali que a gente é muito forte. Você
praticamente está vendo uma criança morrer. Você... uma pessoa passa mal
e você tem que sair porque quer dar espaço. Nesse momento você tem que
sair, sem precisar ninguém... você tem que ir embora, saia naquele momento
dali, porque minha presença ali será apenas um incômodo.
A voluntária expressa que, apesar ter aprendido teoricamente no módulo sobre a morte
no hospital, não sabe que atitude tomar em momentos como esse.
Outra voluntária afirma que os módulos a ajudaram a lidar com a morte:
Eu não lembro qual foi desses dois, mas eu me lembro que foi com a morte.
Teve as dinâmicas e tudo, e também foi muito forte. E agora eu digo que me
ajudou muito, participar dessa vivência no momento da morte da minha
mãe. Depois ai minha irmã ficou dizendo que eu era muito fria, muito
calculista e que eu não chorei.
Um aspecto importante trazido é que a contadora elabora a morte, que foi discutida no
módulo, com a morte vivenciada no seu “processo de luto” de um ente querido.
151
(h) Módulo: Vivência Terapêutica
Grupo 1: Este grupo avalia a experiência deste módulo como difícil por lidar com as
perdas, mas que ajudou a realizar o trabalho voluntário e elaborar (em alguns casos) o próprio
luto por que estava passando:
Foi difícil...muito difícil, foi a que mais...eu não tinha muita
vivência..experiência, nesta ocasião eu tinha pouco tempo perdido meus
pais. Foi ótimo para sentir que tudo podia ter sido pior...aquilo me
despertou.
O assunto foi difícil porque cada um tinha que mergulhar em si..pensar nas
perdas ..teve muito choro...as pessoas tinham dificuldade de lidar com as
perdas.
O grupo 2 não discutiu este módulo e o grupo 3 o discutiu junto com o Módulo
Processo de Morrer e Morte.
(i) Módulo: Memória do Brincar
De maneira geral, este módulo foi avaliado pelos três grupos como um módulo
divertido, que proporcionou momentos de descontração e interação entre os participantes,
exceto por um contador. O folclore infantil, a importância do brincar e da cantiga de rodas
não foram mencionadas.
Grupo 1: Este módulo teve uma boa repercussão na avaliação dos contadores, como um
módulo que ajudou no trabalho do contador.
Na fala de um contador, este afirma que o módulo ampliou a sua visão a partir da sua
prática no hospital, quando diz:
O módulo do Folclore amplia a questão do regional, onde eu conto as
crianças são do interior, têm coisas que eles conhecem com outro nome, ai
às vezes você fala uma coisa e eles não conhecem, aí eu mudo e pergunto:
Como a gente fala? Ás vezes eles conhecem as músicas de outra maneira,
né?
A partir dessa fala, o contador afirma que este módulo ajuda a melhorar a
comunicação com a criança, a partir da compreensão e do diálogo com as suas diferenças
(universo regional).
152
Grupo 2: Este grupo traz a experiência como importante para se trabalhar com
músicas, letras, cantigas de roda e teatro.
Grupo 3: Já este grupo avalia o módulo como uma possibilidade de interação no
grupo, como momento de brincar e reencontrar as pessoas da formação, não se refere ao
conteúdo do módulo, mas à experiência de tê-lo feito.
(j) Módulo: Treinamento em Hospitais
Grupo 1: Este módulo traz as experiências dos voluntários, que neste grupo foram
percebidas de diferentes maneiras, mas, em geral, “negativas” na sua primeira experiência
prática de acompanhamento da contação de histórias, e que merecem ser analisadas nas falas
trazidas pelos sujeitos:
O contador relata que se decepcionou com dois hospitais que foi visitar, diz ter
observado que não adianta os hospitais terem brinquedotecas, é fundamental ter calor
humano:
Não tive receptividade das assistentes sociais e das próprias enfermeiras,
pensei: jamais quero vir para aqui..fui para o Hospital A ..e lá nós tivemos
um acolhimento maravilhoso, do porteiro até lá em cima ..têm hospitais que
lhe enche os olhos com a brinquedoteca, que não tem no Hospital A, mas o
calor humano é o Hospital A que tem, isso é muito importante, porque você
chega de coração aberto para fazer um trabalho e não tem
receptividade..nossa, é um balde de água fria.
Este módulo traz a experiência negativa percebida pelo voluntário, que não foi bem
recebido pelo profissional da saúde no hospital, e outra experiência com um hospital que não
tinha infraestrutura, mas tinha “calor humano”. O espaço garantido por lei, que é a
brinquedoteca, só faz sentido na fala do voluntário, se o “capital humano”, ou seja, as pessoas
estiverem comprometidas com o acolhimento e o bem-estar dos pacientes, caso contrário, será
um espaço sem função pedagógica e de ressocialização para a criança.
Outro contador observa as relações de poder existentes no hospital e critica a postura
de uma contadora, que também era profissional de saúde do hospital que ela foi visitar:
Teve um hospital que eu fui e só tinha uma contadora que era servidora
enfermeira (trabalhava no hospital),ela mostrava como era feito...
receptividade... outro lugar, só tinha uma contadora. A forma que ela
contava, brigando com os menininhos, tem hora que você tem que ter pulso
forte, mas parecia que era “aqui eu que mando, isso aqui é meu”. Eu achei
horrível, é complicado! Acho que você tem que ter pulso firme..mas se você
153
está lá para trazer alegria, que elas esqueçam dos problemas, lazer para as
crianças, e coloca a criança para ouvir como se fosse obrigação, realmente
é complicado!
Essa experiência considerada negativa pelo voluntário que foi realizar o treinamento
no hospital, traz uma discussão importante sobre as relações de poder existentes entre o
profissional da saúde e o paciente, vivenciadas no dia a dia dos hospitais, que coloca o
paciente no lugar de “sujeito passivo”, que não respeita a alteridade do paciente, contrário ao
movimento da humanização dos cuidados, que tem como premissa o respeito ao paciente.
Outro voluntário diz perceber que, quando fez a visita ao hospital, o profissional da
saúde não entendia o trabalho do contador e achava que atrapalhava:
Tinha uma barreira muito grande, eles achavam que nós iríamos
atrapalhar, interferir... e estavam recebendo os contadores.. antes eles
achavam que nós íamos interferir...agora, depois de três anos, mudou a
visão. Eles já estão mais qualificados...
Essa experiência relata que, apesar do discurso da humanização, do acolhimento, do
incentivo às boas práticas de inclusão do paciente no universo lúdico e literário nos hospitais,
o “técnico”, ou seja, o “profissional da saúde” não compreende o impacto deste trabalho e não
o valoriza. Segundo o voluntário, a sua percepção é que, neste hospital, hoje, os profissionais
estão mais qualificados, preparados para receber o voluntário.
Outro contador relata sua experiência com o profissional da saúde, o que reforça a
reflexão do parágrafo anterior:
Gostei da casa de apoio A, a menina da casa de apoio A era excelente; eu
não gostei do casa de apoio B, não da contadora, da receptividade... A
sensação que eu sentia era... “isso resolve alguma coisa?” Tive a sensação
que eles não sabiam porque estávamos lá, eles precisam brincar mais,
aprender a viver o lúdico, pois a alegria, o entretenimento, a brincadeira
transforma a criança e melhora a saúde da criança. Interagir com eles, eu
já me peguei falando como criança.
As experiências relatadas pelo Grupo 1, em geral, foram negativas no treinamento. A
maioria foi mal acolhida pelos profissionais da saúde, que não valorizavam ou não
entenderam o trabalho que estava sendo realizado pelos contadores de histórias.
Grupo 2: De maneira geral, este grupo relata a ansiedade de fazer o treinamento em
hospitais, a importância de observar a contação de histórias na prática por um contador mais
experiente e conhecer o ambiente hospitalar.
154
A voluntária relata que, na sua experiência, a habilidade de ver outro contador que
incluiu uma adolescente que não sabia ler na contação de histórias, foi um aprendizado para
sua formação:
Eu fui no estágio com ela. Uma menina de 14 anos, que veio do interior. E
falou com a mãe e a menina que queria contar história. Deu um livrinho pra
menininha e ela superconstrangida disse: “eu não posso contar porque eu
não sei ler” e por sorte foi um livro que não precisava ler (livro de gravura
apenas). Mas a contadora H. sabe disso. Ela disse: ‘não vou oferecer um
livro a uma criança que pode não ler. Tem muita gente do interior que não
sabe ler’. E eu acho que aprendi muito com isso. E acho que foi um ótimo
aprendizado. Eu tenho o livro, e a criança pode contar sem saber ler.
Outros voluntários relatam sua ansiedade no treinamento:
Eu estava ansiosa pra começar. Casa de apoio A só tinha uma criança e ela
foi sufocada pela quantidade de contador, mas ela foi privilegiada porque a
gente jogou, contou histórias para ela. Depois fui na Casa de Apoio B, que
foi comemorado o primeiro ano da biblioteca. Então, teve gente contratada
e a gente participou da festa, mas não contou também. Foi frustrante
[risos]. Depois fui pro Hospital C, eu imaginei que ia contar. Foi
maravilhoso.
Essa ansiedade é constante, não sabia o que ia encontrar, isso é bem
verdade. Principalmente esse curso de pormenores. Aí fui pro Hospital X,
foi bem receptivo, comecei ter contato, vi a pessoa contando. Fui com a H Y,
tentando sugar ali, via a possibilidade. Uma forma de diminuir a ansiedade.
E realmente deu pra começar, deu pra começar... minha experiência foi boa.
No Hospital Z, Casa de Apoio A, então, tive lá também. Cursos diferentes.
Tive no hospital, tive na brinquedoteca.
Outro contador diz aprender a se comportar após este treinamento:
Como a gente tem que se posicionar em diversos locais e diferentes do
hospital. Crianças acamadas, crianças na brinquedoteca, crianças na
enfermaria, crianças que não podiam receber visitas... Então eu achei
importantíssimo. Pra gente saber como se comportar.
Nessa fala, o voluntário diz que o treinamento de observação lhe permite se adaptar a
situações diversas encontradas no hospital.
Já outra voluntária observa que as experiências do estágio, encontradas neste módulo,
são importantes para a prática do contador, e representam uma pequena amostra do que se vai
encontrar na prática:
155
Essas observações, essas experiências no nosso estágio são importantes
para dar uma pequena amostra do que vamos encontrar porque a
diversidade é muito grande. A gente recebe muito “não” e a gente recebe
muito “não” e tem que estar preparado para receber, porque tem. Não
muito forte, você tenta negociar.
A experiência, para outro voluntário, é que o treinamento em hospitais ajuda também
o contador a criar sua técnica, sua metodologia, na capacidade de compreensão do momento
da criança:
É o mínimo para que depois cada um vá criando sua técnica, sua
metodologia. Na abordagem de receber. Não só o “não” como o
“mais um, mais um, mais um...
O voluntário traz uma experiência importante que reflete o papel do voluntário para
ajudar na adesão ao tratamento:
Eu fui um... não que a criança estava no Hospital X, ela tinha que fazer um
procedimento, uma vez que ela teve uma grande parte queimada do corpo. E
os olhos fechados. E para fazer o procedimento ela tinha que estar com os
olhos abertos e ela não abria de jeito nenhum. E, aí, a gente chegou lá com
“O Menino dos Oito Óculos”. Eu sei que... “posso contar?”, “não, não...”.
Eu comecei a contar, a menina começou a ouvir, ouvir. Disse: ‘seria tão
bom se você pudesse ver essas coisas maravilhosas que tem aqui na minha
mão’, aí falei da fada, de coisas assim... Aí quando a gente deu as costas, a
enfermeira veio correndo contar pra gente, dizer que ela abriu os olhos pra
fazer o procedimento, queria ver as coisas. Quer dizer... aí voltei e mostrei
as coisas pra ela.
Já outro contador diz que a primeira coisa que faz ao chegar ao leito é desligar a
televisão e diz fazer com habilidade:
Eu, primeira coisa que chego é desligar a televisão. Quem quer que esteja.
Vou desligar aqui pra ficar só nós três.
Essa atitude aqui trazida pelo contador de história é contrária ao que é instruído no
treinamento, que orienta em um dos módulos (Princípios e Diretrizes da Associação Viva e
Deixe Viver) o voluntário a sempre perguntar primeiro, se a criança quer ouvir história, e
respeitá-la quando ela prefere ouvir a TV à contação de histórias.
Outro contador demonstra que é importante o respeito à vontade da criança ou da
família em assistir à TV:
156
Mas a minha experiência no Hospital A foi num lugar, tinha muitos
pacientes e esse pai estava num lugar mais distante. Ele não tava ouvindo, a
gente estava contado pra outra criança. A contadora pediu, mas ele disse
que o filme estava no final e ele queria ver o final do filme. A gente
respeitou, “não, tudo bem”, aí ele próprio veio pra cá e ficou assim,
ouvindo a história.
E uma história é relatada, a respeito de uma experiência de lidar com a sua frustração,
causada por uma criança que não quer ouvir a história:
Ontem quando eu fui contar história esse menino, ele estava no videogame e
não queria sair de jeito nenhum. Porque muitas vezes a gente consegue “oh,
o videogame vai continuar aí, eu depois vou embora e você pode jogar o
videogame depois”. Muitas vezes a gente consegue. Ele disse: “que já tinha
ouvido todas as histórias”. Me esqueci o nome dele, ele estava no primeiro
quarto, aí ele não quis ouvir.
E o contador mostra que soube lidar com a sua frustração, causada pela negativa de
uma criança em não querer ouvir a história, e contou para mãe que pediu para ouvir a história:
Até a mãe: ‘não deixa elas lerem, eu também quero ouvir’. Até pra
convencer ele, mas eu senti que ele não estava... Resultado: ‘já que você não
quer ouvir, vou contar para sua mãe’. Ai eu contei duas histórias pra ela,
porque eu acho que as pessoas que estão acompanhando também precisam.
Tão lá ás vezes tristes porque o filho está ali, ou cansada, às vezes não tem
nem quem vai substituir, fica ali direto. Eu já vi casos também... Então eu
disse: ‘não, vamos contar pra ela’.
Grupo 3: Este grupo não discutiu em profundidade este tema, um dos voluntários
afirma que o treinamento em hospitais o ajudou a conhecer o ambiente hospitalar, e exprime
descontentamento com a postura do cabeça de chave, que ele considera inadequada:
De acordo com o que você já aprendeu nos módulos e vai vivenciar... Eu
entrei no leito, ‘ah, você lavou a mão? Ah, vai lavar...’. Porque ela não
tinha que fazer isso pra mim, né? Não era ela que tinha que fazer isso,
porque eu estava chegando agora... Aí lavei as mãos. Porque na verdade eu
não vim aqui aprender com ela, eu já vim mostrando o que eu aprendi
(Risos).
Os outros voluntários, de maneira geral, afirmam que o módulo vivencial ensina a se
ambientar no espaço hospitalar, apresenta a estrutura física do hospital, mostra os locais de
atuação do contador, mostra como o contador chegar ao leito para contar uma história, mostra
157
como se comportar e funciona como “educação hospitalar”, na aprendizagem às regras e
normas do ambiente hospitalar.
– Avaliação dos participantes do grupo focal
As avaliações do encontro foram realizadas pelos Grupos 1 e 2:
Grupo 1: De maneira geral, este grupo diz que foi válido relembrar, após três anos,
conteúdos do treinamento. Um voluntário afirma que este trabalho vai enriquecer as
atividades da Associação Viva e Deixe Viver.
Grupo 2: Os voluntários deste grupo afirmam que foi enriquecedor porque aprenderam
muito com os outros nas discussões do grupo, e que as opiniões foram de maneira geral se
agrupando. Foi uma possibilidade de se reencontrar.
5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão discutidos a partir da relação das respostas obtidas no questionário
e no grupo focal, e a teoria estudada, englobando os níveis de conhecimento e atitudes.
(a) Nível Conhecimento:
No nível conhecimento, existem alguns pontos que merecem ser discutidos:
Os voluntários, nas questões relacionadas a conhecimento sobre a “Associação Viva e
Deixe Viver”, atribuem à contação de histórias a função terapêutica e de cura. Isso não reflete
os objetivos do módulo e da Associação, que coloca a função da contação de histórias como
socializadora, através de promoção da alegria e do bem-estar aos pacientes internados, com a
possibilidade de ajuda na adesão ao tratamento.
Nas questões qualitativas deste módulo ainda, o voluntário atribui respostas esperadas
na pergunta que diz respeito ao fato de a Associação preferir a “desistência” do contador às
suas “faltas” na instituição, mas contrariamente, na questão relacionada aos “valores” da
instituição, que diz respeito aos 3Cs, os voluntários não conseguem recordar as respostas. Isto
já foi discutido e demonstra que “valores” não podem ser aprendidos num treinamento
modular, já que são aprendidos no decorrer da vida da pessoa.
158
Outro ponto importante a ser discutido ainda neste módulo sobre os “Princípios da
Associação Viva e Deixe Viver” é que os voluntários atribuem respostas ao papel de contador
de histórias como promotor de alegria e entretenimento. Mas, com baixa frequência de
respostas, mencionam que o contador leva literatura, leitura e informação ao ambiente
hospitalar, ou seja, o voluntário é sujeito, um veículo para conduzir até a criança a história
(mundo mágico). Pode-se inferir, porém, que o contador não associa este trabalho à função de
estimular a leitura.
Quando perguntado para que serve a leitura ou ouvir uma história, ainda neste módulo,
o voluntário atribui a função principal da história “à minimização da dor” e como “ajuda à
criança a esquecer o sofrimento” (função aqui entendida de caráter terapêutico e de cura).
Os módulos sobre Fundamentos Filosóficos do Voluntariado e Planejamento Pessoal e
Gestão do Tempo demonstram que os voluntários compreenderam os fundamentos que regem
o trabalho voluntário e a importância do gerenciamento do tempo, tanto na análise
quantitativa quanto na qualitativa. O Módulo Vivendo Positivamente teve alto índice de
acertos.
O Módulo Ambientação Hospitalar teve questões com alto índice de erros que foram
relacionados a: (a) instrução da lavagem do jaleco: foi visto, no processo de construção das
questões, que existiam posicionamentos diferentes entre os próprios facilitadores quanto a
este assunto. A Associação, em São Paulo, orienta a lavagem do jaleco junto com todas as
roupas de casa nos vídeos de treinamento, mas os facilitadores da Associação, em Salvador,
orientam que seja lavado em separado; (b) a questão das vacinas: perguntado se devem ser
buscadas ou não pelo contador em clínicas de imunização, foi constatada que a Associação
Viva e Deixe Viver em Salvador orienta que o contador não deve buscar as vacinas.
No Módulo Arte de Contar Histórias, pôde-se perceber que, apesar de a Associação
Viva e Deixe Viver, em seu treinamento, diferenciar a linguagem da contação de histórias do
teatro, muitos contadores associam o “fazer” da contação de histórias à dramatização, o que se
reflete nas respostas associadas a esta questão.
Neste módulo, ainda outras questões equivocadas emergem das respostas do contador:
(a) sobre os conteúdos das histórias (bruxas, morte, terror, medo), em que os contadores
recomendam que estas não sejam contadas às crianças, o que contrariamente é proposto pelo
módulo, pois, segundo a Associação, histórias deste gênero ajudam a criança a elaborar seus
conteúdos internos; (b) a questão da indicação de histórias como fábulas, lendas e aventuras
para crianças de 3 a 6 anos, o que no curso é indicado para crianças a partir de 10 anos.
159
Os módulos Processo de Morrer e Morte, Vivência Terapêutica, Memória do Brincar e
Treinamento nos Hospitais tiveram alto índice de respostas acertadas nas questões
quantitativas.
Na pesquisa qualitativa, a questão relacionada à Vivência Terapêutica obteve respostas
esperadas relacionadas à importância de o contador saber gerenciar suas emoções aprendendo
a estar equilibrado para lidar com os pacientes e a lidar com as perdas. Já no Módulo
Treinamento em Hospitais, o voluntário afirma que esta experiência tem a função de ajudá-lo
a conhecer o ambiente hospitalar e definir o hospital em que vai atuar.
(b) Nível Atitude
No nível atitude, referida pelo contador, foi demonstrado ter este a atitude esperada
pela Instituição em obedecer às regras e normas do hospital, em não frustrar as expectativas
da criança, pela espera do contador no hospital. Quando a contação de histórias não acontece
como esperado, o voluntário atribuiu a fatores externos, como: “a história contada que não
produzia os efeitos esperados” ou a “concorrência de outros estímulos atraentes que
dispersam a criança”, como a televisão ou os brinquedos.
Na pesquisa qualitativa, o voluntário, quando é perguntado por que motivo pode faltar
à contação de histórias, afirma que em casos de doença e morte na família do voluntário. Mas
um dado que deve ser levado em consideração, é que este grupo que traz como resposta o
compromisso com a criança, possui alta evasão na atuação nos hospitais, pois, das 51 pessoas
respondentes ao questionário, apenas 15 contam histórias atualmente.
Na questão relacionada à pergunta sobre o que é imprescindível para se qualificar
como contador de histórias, as respostas de maior frequência se relacionaram às qualidades e
aos valores mais próximos do ato de voluntariar, que é o amor ao próximo, a solidariedade, a
doação e a consciência do papel de voluntário.
160
(c) Avaliação dos módulos no grupo focal realizado pelos voluntários
Em geral, o Módulo Ambientação Hospitalar, para o grupo, ensina o voluntário a se
portar num hospital, além de medidas de proteção, regras e normas hospitalares. Mas, na fala
de alguns voluntários, o medo da contaminação no hospital é desproporcional à realidade.
No Módulo Arte de Contar Histórias, os voluntários têm a percepção de que as
histórias trágicas e sem final feliz não devem ser contadas às crianças hospitalizadas, mas, de
maneira geral, este módulo ensina técnicas, posturas e formas de contar histórias.
Na avaliação dos voluntários, o Módulo Vivência Terapêutica, pela densidade do seu
conteúdo, é ministrado em pouco tempo, pois justificam que este trabalha com as emoções
das pessoas. Contudo afirmam que nem todas as pessoas conseguem prosseguir na formação
após este módulo, pois este lida com a questão da perda, dificuldade que, para os voluntários,
nem todas as pessoas estão preparadas para lidar.
Um dos conteúdos que emergiram da pesquisa, diz respeito à importância dos
voluntários em não passarem suas emoções para os pacientes, o que é discutível na proposta
da humanização, visto que este é um paradigma do modelo formativo biomédico, que instrui,
ao profissional de saúde, uma postura rígida de não envolvimento com os pacientes.
Segundo Ayres (2006), quando se pensa na assistência à saúde, associa-se a aplicação
de tecnologias para o bem-estar físico e mental das pessoas. No entanto aspectos importantes
são esquecidos ou negligenciados pelos profissionais da saúde, e que torna-se imprescindível
considerar o modo como se aplica e se constrói tecnologias e conhecimentos científicos.
O profissional da saúde não tem seu papel restrito ao aplicador de conhecimentos , ou
seja, não é um apenas um modo de fazer, mas é também uma decisão sobre quais coisas
podem e devem ser feitas, num processo mediático entre que não se restringe a aplicação de
tecnologias.
A política Nacional de Humanização (2003), alerta que construir “uma política
voltada para a humanização” requer ter atitude humanizadora, ressaltando que os aspectos
subjetivos e sociais estão presentes em qualquer prática de saúde.
Outro aspecto importante é que os conteúdos do Módulo O processo de Morrer e
Morte, que são questões que dizem respeito à morte e ao luto, aparecem na fala de muitos
voluntários: uns colocam este conteúdo com mais naturalidade, outros com dificuldade. Um
grupo trata da “morte simbólica”, que é a perda da identidade ao se estar no hospital,; alguns
voluntários colocam o conceito de “morte social”, que é a perda do sujeito dos seus direitos de
cidadãos, e outro grupo fala da morte como processo natural de vida.
161
Segundo Pina (1993), o elemento mais constante dessa trajetória, que é a passagem do
indivíduo no hospital, é o homem que sofre e morre. Esta “morte simbólica” ou “morte
social” representa o processo de submissão do doente no hospital.
O Módulo Memória do Brincar, de maneira geral, é pouco discutido entre os grupos,
mas, segundo estes, a experiência em geral foi socializadora. Vale ressaltar que os voluntários
avaliam o módulo pela sua forma, como ele acontece e a importância de as pessoas se
encontrarem, e muito menos pelo seu conteúdo.
De maneira geral, o Módulo Fundamentos Filosóficos do Voluntariado traz, no
discurso do contador, a importância do comprometimento nesta proposta de voluntariado em
hospitais e a seriedade da Instituição que gerencia o projeto. Além disso, alguns voluntários
criticam a rigidez do projeto no início da formação.
Segundo Moniz e Araújo (2008 ), as pesquisas sobre voluntariado na saúde apontam
que, estes indivíduos contam apenas com boa vontade e disposição para ação a voluntária, ao
contrário do profissional de saúde que pode se apoiar na formação e no aparato técnico para
atuar no complexo ambiente hospitalar, o que pode expor o voluntário ao estresse.
O Módulo Treinamento em Hospitais é bastante discutido pelo grupo de maneira
geral, pois atribui que este capacita os voluntários a atuarem nos hospitais. Mas alguns
voluntários relatam experiências negativas da sua experiência prática, criticam a postura do
cabeça de chave que os recebe nos hospitais e também alguns hospitais por não entenderem e
acolherem a proposta de voluntariado da Associação.
Os voluntários afirmam, em alguns casos, que o que aprendem, no treinamento, não é
praticado nos hospitais. Apesar que uma parte do grupo pesquisado afirmam que o
treinamento os ajudou, pois teve a função de um estágio para a sua prática de contador de
histórias.
O Módulo Planejamento Pessoal do Tempo é um módulo cujo conteúdo é bem
avaliado pelo grupo, com as questões sobre gerenciamento e planejamento do tempo.
O Módulo Vivendo Positivamente é um módulo que tem um conteúdo que trata da
importância de se ter uma atitude positiva para enfrentamento das questões que aparecem no
ambiente hospitalar. Segundo alguns voluntários, aprender técnicas de relaxamento,
meditação, ajuda a enfrentar momentos de tensão.
No Módulo Princípios e Normas da Associação Viva e Deixe Viver, o voluntário
afirma que tem a função de apresentar as normas e os princípios do projeto e o que é ser
voluntário. Alguns voluntários relatam, no grupo focal, atitudes contrárias ao que foi
aprendido neste módulo, como, por exemplo, chegar ao quarto de um hospital e desligar a
162
televisão. Ademais, neste módulo, uma das discussões importantes é o respeito ao paciente e o
desejo de “ouvir as histórias”.
A atitude, mesmo não colocada como categoria de avaliação no grupo focal, é trazida
no discurso das experiências vividas no hospital pelos voluntários, em vários momentos:
quanto à atitude de respeito ao “não” da criança, a atitude ao se chegar para contar histórias
ou a atitude ao ter de lidar com a morte, em momentos de dor junto à família e à criança.
Com isso, encerram-se a apresentação e a discussão dos resultados da pesquisa. O
próximo capítulo traz as considerações finais sobre o estudo.
163
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa configurou-se como uma oportunidade para avaliar os resultados da
qualificação de voluntários que atuam no campo hospitalar, situado no contexto de uma
organização não governamental.
O problema da pesquisa foi avaliar se um programa de formação para voluntários
contarem histórias consegue desenvolver competências requeridas para sua atuação no
complexo ambiente hospitalar. E a questão da pesquisa foi avaliar os resultados da
qualificação proposta pela Associação Viva e Deixe Viver para a formação de competências
de voluntários contadores de histórias.
O primeiro objetivo da pesquisa foi definir critérios de avaliação de resultados da
qualificação oferecida pelo programa de seleção e treinamento de voluntários da Associação
Viva e Deixe Viver em Salvador. A teoria das competências (conhecimentos, habilidades e
atitudes) e as pesquisas em avaliação de treinamento ajudaram a definir o escopo do estudo,
fazendo um recorte na avaliação de resultados a partir dos conhecimentos adquiridos no
treinamento e das atitudes dos cursistas.
Na pesquisa foi descrito o perfil socioeconômico do voluntário que atua na Associação
Viva e Deixe Viver, e o resultado encontrado confirma a presença feminina na atividade
voluntária, conforme a história do voluntariado no Brasil, marcado pelo trabalho de mulheres
nesta atividade. Mas apresenta um dado importante para a pesquisa, que é o perfil de pessoas
com grau elevado de instrução, o que hipoteticamente está associado à proposta da instituição,
que é trabalhar com o universo literário (livros). Outros dados interessantes e que podem ser
aprofundados em futuras pesquisas, é a faixa etária neste projeto, de mulheres acima de 40
anos, e a pouca participação de jovens no projeto, ressaltando que o universo estudado é de 70
% de pessoas que não estão casadas.
Quanto ao segundo objetivo da pesquisa – descrever os indicadores de permanência e
evasão de voluntários contadores de histórias da Associação Viva e Deixe Viver –, estes
indicadores permitiram relacionar os resultados encontrados na qualificação e aferir que,
apesar de qualificados, os voluntários, não permanecem trabalhando nos hospitais.
A evasão de voluntários no projeto é, em geral, de 78,86%, mas não se verificou
relação de causalidade com o programa de treinamento, podendo ser investigado isso com
maior profundidade em futuras pesquisas.
164
O terceiro objetivo da pesquisa – o de avaliar se a qualificação oferecida aos
voluntários desenvolve competências (conhecimentos e atitudes) propostas pelo programa de
treinamento da Associação Viva e Deixe em Salvador para o voluntário atuar em hospitais –
foi viabilizado, mas com restrições à avaliação de atitudes, pelos motivos mencionados
anteriormente.
Os conhecimentos e atitudes foram avaliados na perspectiva do pesquisador e dos
participantes, o que trouxe elementos importantes para a pesquisa, demonstrando que as
competências foram adquiridas no contexto da atuação. Segundo Roche (2002), valorizar a
sabedoria e o julgamento das pessoas comuns é um elemento crítico de qualquer processo de
avaliação.
Foi observado que o grupo 3, participante do grupo focal, que não conta histórias nos
hospitais, apesar de ter participado do treinamento, não contribuiu de forma efetiva para as
discussões acerca dos conhecimentos adquiridos no treinamento em comparação aos outros
grupos, o que se torna um achado da pesquisa no decorrer da avaliação.
De maneira geral, os voluntários possuem conhecimento acerca dos módulos que
estudaram no ano de 2008, apresentam dificuldades com internalização de valores que são
colocados pela instituição no seu treinamento e têm a percepção da atividade de contação de
histórias como ajuda terapêutica e de cura, o que não é trazido no discurso institucional.
Além disso, alguns voluntários acreditam que a contação de histórias minimiza a dor e
ajuda a diminuir o sofrimento da hospitalização, o que na prática não é possível se verificar,
pela própria subjetividade da atividade, que, apesar de ter como finalidade levar alegria e
entretenimento aos pacientes, na fala dos voluntários extrapola sua função.
As atitudes requeridas pelo programa de treinamento, apesar de não verificáveis na
prática dos voluntários, foram detectadas nos discursos destes, podendo-se dizer que a maioria
conhece e obedece as regras e normas estabelecidas no hospital. Porém existe um
distanciamento entre o que a instituição requer do voluntário e o que se pratica nos hospitais,
como em alguns casos em que o contador se sente frustrado quando a criança não quer ouvir
sua história.
Apesar de os voluntários responderem adequadamente quando perguntados sobre o
que aprenderam nos módulos sobre a importância de gerenciar o tempo, de planejar a
atividade voluntária, de não faltar à contação de histórias, o índice de evasão do programa
reflete o contrário. Do grupo avaliado, apenas 29,42% atuam nos hospitais.
A habilidade, apesar de importante constructo na formação de competências, não foi
proposta na avaliação de resultados, mas foi encontrada nos achados da pesquisa, que
165
apontam que habilidades humanas, como as de relações interpessoais, foram desenvolvidas a
partir do treinamento desenvolvido pela Associação, visto que os resultados da pesquisa
apontam para o fato de que o treinamento desenvolveu a escuta, a capacidade de compreender
a dor do outro, a empatia com o paciente.
As discussões dos grupos focais trouxeram elementos importantes para a construção
dessa avaliação, que trouxe a avaliação participativa do próprio sujeito da pesquisa e
aprofundou outras questões. Nessa condição como afirma Gatti (2005), os grupos focais
possuem análises mais estruturadas, voltadas a situações predeterminadas, tendo em vistas
metas aplicadas. Houve uma organização analítica que permitiu visualizar de modo sintético o
que cada grupo expôs em relação a cada tópico avaliado.
É importante ressaltar que o módulo “treinamento em hospitais”, avaliado por um dos
grupos, traz questões importantes, que dizem respeito ao despreparo da equipe da saúde em
acolher o trabalho desses voluntários no ambiente hospitalar, do cabeça de chave, que
representa a instituição perante o hospital. Na avaliação de alguns voluntários, eles não
seguem as normas do hospital, conforme percebido durante o módulo em questão, como, por
exemplo, a lavagem das mãos. A partir da análise desses dados, pode-se dizer que, apesar do
discurso da humanização hospitalar, advindo da Política da Humanização da Saúde, na
prática, tentativas como essas muitas vezes não são reconhecidas como importantes para o
profissional da saúde.
Apesar de a avaliação neste estudo ter sido centrada na avaliação de competências
advindas do treinamento, pôde-se observar influência do contexto em que se atua para a
promoção de aprendizagem.
Este estudo apresentou algumas limitações, considerando que a escolha da amostra
teve um recorte que é uma parcela de um grupo maior estudado, além disso o estudo não é
passível de generalizações para outros contextos, pois revela aspectos apenas de uma parcela
da realidade estudada.
Dificuldades foram encontradas na realização do grupo focal, que contou com a
participação de 23 pessoas, embora o questionário tenha sido respondido por 51 pessoas. Vale
ressaltar que todos os participantes do grupo focal responderam ao questionário.
A competência relacionada à habilidade técnica ( se o contador conta histórias bem ou
não) não pôde ser avaliada pela dificuldade da inserção no campo (diversos hospitais) para
visualização do trabalho do voluntário.
As contribuições metodológicas referem-se ao processo da pesquisa. A primeira delas
diz respeito à integração das abordagens quantitativas e qualitativas no estudo, o que permitiu
166
contribuir para melhor aprofundamento da pesquisa em avaliação. E a segunda foi de avaliar a
proposta a partir dos sujeitos da pesquisa, o que contribuiu para a discussão da avaliação
participativa, que segundo Tenório (2010), representa a quinta dimensão de avaliação, que
corresponde ao seu caráter social, o compromisso, a partir da ideia de avaliação como
envolvimento, comprometimento com a melhoria do objeto avaliado.
Em decorrência da integração dessas abordagens, é possível citar esta contribuição
como uma triangulação metodológica. A triangulação interdisciplinar mostrou-se também
adequada para o estudo, que incluiu conhecimentos das áreas de educação, psicologia,
administração, saúde e serviço social. Dessa forma, observa-se um trabalho voltado para a
interdisciplinaridade pela sua própria característica, gestada na sua proposta de estudo.
Traz colaborações para a área de educação na medida em que se apropria de conceitos
aplicados na área de Treinamento, Educação e Desenvolvimento. Também contribui para a
área de saúde, já que o campo empírico são os hospitais. Pode-se falar, então, num trabalho na
área de educação e saúde.
Muito embora o fundamento da estratégia avaliativa empregada tenha limitações
oriundas da impossibilidade de deduzir competências e atitudes alcançadas pelos treinandos a
partir de conhecimentos adquiridos no treinamento a que foram submetidos, esta estratégia
avaliativa mostrou-se válida no assinalamento de lacunas no aprendizado de conceitos. Ou
seja, se é impossível afirmar, por um lado, que os voluntários de Salvador que passaram pelo
Programa de formação do Viva e Deixe Viver estão, no que tange a determinadas
competências e atitudes, aptos ao trabalho de contação de histórias em hospitais, por outro,
talvez seja possível (ou menos impossível) afirmar que eles não adquiriram alguns
conhecimentos específicos.
Tais conhecimentos não aprendidos, então, careceriam de ser alvo de investimento
maior nas próximas turmas de formação de voluntários; investimento este que talvez devesse
rever não só a quantidade (o conteúdo) da informação ensinada, mas principalmente o modo
de ensiná-la (a forma).
O presente estudo avaliou um nível do treinamento, que é a avaliação de resultados,
tomando como referência o modelo de Avaliação Integrado e Somativo – MAIS, que refere-
se segundo Borges-Andrade (2002,p.33) ao que foi aprendido pelos treinandos ou por eles
alcançado ao final do treinamento.
Dentro do propósito de contribuir para a melhoria das ações de voluntários, seguem
algumas recomendações:
167
(a) Avaliar os insumos do treinamento, ou seja, os fatores físicos e sociais, anteriores
ao treinamento, que podem ser descritos como conhecimentos e habilidades que o voluntário
traz para o treinamento;
(b) Avaliar o ambiente em que ocorre o treinamento, ou seja, variáveis como: apoio à
atividade de contação de histórias que o contador recebe tanto na instituição como em casa,
pelos seus familiares; resultados a longo prazo, que é o efeito da contação de histórias para a
criança, a família, o profissional da saúde e o contador de histórias.
Além da inclusão dessas avaliações, sugerem-se estudos na área de Avaliação da
Política de Humanização, que se constitui como um avanço para melhorar a relação dos
profissionais da saúde, voluntários e usuários.
Estudos na área de comprometimento também podem ser relevantes para a
compreensão dos fatores que mantêm voluntários ao longo de três anos, na atividade
voluntária, pois, segundo fontes da Associação, o tempo de permanência médio de um
contador de histórias na organização é de um ano, e neste estudo foram encontrados dados
relevantes de voluntários com tempo de permanência superior.
Pesquisas longitudinais na área de formação de competências podem ser estudadas,
mediante estudos que privilegiem a aprendizagem no contexto da ação. Existem estudos na
área, como os de Le Boterf (1994; 2000; 2001), Zarifian (1996; 2001) e Ruas (2005), que se
vinculam à ideia da mobilização da capacidade da pessoa em determinado contexto.
Sugerem-se estudos na área de educação continuada dos voluntários e profissionais da
saúde, pois o estudo indicou que, apesar de o treinamento sobre normas e regras ser
importante para os sujeitos que produzem saúde, muitas vezes tais normas e regras são
negligenciadas no ambiente hospitalar.
168
REFERÊNCIAS
ANTONIAZZI, Maria. O Plano de Qualificação Profissional do Trabalhador: política
pública de emprego?. 2005. Tese (Doutorado Ciências Sociais)-Universidade Federal da
Bahia, Salvador, 2005.
AYRES, J. R. Cuidado e humanização das práticas de saúde. In: DELANDES, Suely Ferreira
(Org.). Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas. Rio de Janeiro:
Editora Fio Cruz, 2006. p.49-80.
ARAÚJO, Jairo Melo. Voluntariado na contramão dos direitos sociais. São Paulo: Cortez,
2008.
ARAÚJO, Marízia. Impacto de treinamento e desenvolvimento: uma análise integrada
quantitativa e qualitativa. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção)-Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
ARAÚJO, Ronaldo. Competência e qualificação: duas noções em confronto, duas
perspectivas de formação dos trabalhadores em jogo. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO-Rio de Janeiro. Trabalho & Critica.
Belo Horizonte, 1999. p.173-186.
ARAÚJO, T.; MAIA, L.; OLIVEIRA, D. Voluntariado em Oncologia: estudo exploratório.
In: ENCONTRO DOS PSICÓLOGOS DA ÁREA HOSPITALAR, 7., 1997. Brasília.
Resumos de Comunicações Científicas... Brasília: Universidade de Brasília, 1997. p.44.
ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER. Contadores de Histórias: Projeto Pedagógico
‘Processo de Seleção e Treinamento de Voluntários’. Salvador, 2011.
ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER. Instruções para o contador de histórias: Manual 2.
São Paulo, 2005.
BAHRY, C.; TOLFO, S. Mobilização de competências nas atividades profissionais dos
egressos de um programa de formação e aperfeiçoamento. Revista de Administração Pública,
Rio de Janeiro, v.41, n.1, p 1-12, jan./fev.2007.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São
Paulo: Edições 70, 2011.
169
BASTOS, A. Trabalho e qualificação: questões conceituais e desafios postos pelo cenário de
reestruturação produtiva. In: BORGES-ANDRADE, Jairo; ABBAD, Gardênia; MOURÃO,
Luciana (Org). Treinamento, desenvolvimento e educação em Organizações e Trabalho:
fundamentos para a Gestão de Pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2006. p.23-39.
BAUER, M.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual
prático. 8 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2010.
BECKER, G.; DUTRA, J.; ROBERTO, R. Configurando a trajetória de desenvolvimento de
competências organizacionais: um estudo de caso em empresa da cadeia automobilística. In:
DUTRA, Joel; FLEURY, Maria ; RUAS, Roberto (Org.). Competências: conceitos, métodos
e experiências. São Paulo: Atlas, 2010. p.51-77.
BENEVIDES, R.; PASSOS, E. Humanização na saúde: um novo modismo? Interface, v.17,
n.9, p.389-406, 2005.
BERNABÉ, José Luis. Neoliberalismo y ONG’s: visión crítica del voluntariado. Nómadas, n.
2, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003.
BOFF, Leonardo. Saber cuidar. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes. 1999.
BONFIM, Paula. A cultura do voluntariado no Brasil: determinações econômicas e
ideopolíticas na atualidade. São Paulo: Cortez, 2010.
BORGES-ANDRADE, J. E. Avaliação Integrada e Somativa em TD&E. In: BORGES-
ANDRADE, Jairo; ABBAD, Gardênia ;MOURÃO, Luciana (Org). Treinamento,
desenvolvimento e educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para Gestão de
Pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 343-357.
BORGES-ANDRADE, J. E. Desenvolvimento de medidas em avaliação de treinamento.
Revista Estudos de Psicologia, n.7 (número especial), p. 31-43, 2002.
BOSCOLO, Gianni. Educação Popular e Voluntariado. 1992. Dissertação (Mestrado em
Educação)- Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1992.
BRASIL. Governo Federal. Lei n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. (Lei do Voluntariado).
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília,
19.2.1998. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9608.htm>. Acesso em:
25 jul. 2006.
170
BRASIL. Governo Federal. Lei n. 11.104, de 11 de março de 2005 ( Lei das Brinquedotecas).
Disponível em: www.planalto.org.br. Acesso em: 14 fev. 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar. Brasília, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de
Humanização. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a Humanização como Eixo
Norteador das Práticas de Atenção e Gestão em todas as Instâncias do SUS. Brasília, 2004.
CALDANA, Adriana; FIGUEREDO, Marco. O voluntariado em questão: a subjetividade
permitida. Psicologia, Ciência e Profissão, v.28, n.3, p.466-479, 2008.
CARBALLAL, Luís. Dossiê: as configurações do trabalho na sociedade capitalista. Revista
Katálysis, Florianópolis, v.12, n.2, jul./dec. 2009.
CARVALHO, Virgínia; SOUZA, Washington. Pobres no ter, ricos no ser: trabalho voluntário
e motivação na Pastoral da Criança. Revista RAC, v.11, n.2, p.113-134, abr./jun. 2007.
COELHO, Betty. Contar histórias: uma arte sem idade. 10. ed. São Paulo: Ática, 2002.
CORRULÓN, M.; MEDEIROS FILHO, B. Voluntariado na empresa: gestão eficiente da
participação cidadã. São Paulo: Ed. Fundação Peirópolis, 2002.
CUNHA, Márcia. Os andaimes do novo voluntariado. 2005. Dissertação (Mestrado em
Sociologia)-Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2005.
DEMO, Pedro. Solidariedade como efeito de poder. São Paulo. Cortez: Instituto Paulo Freire,
2002.
DESLANDES, Suely Ferreira (Org.). Humanização dos cuidados em saúde: conceitos,
dilemas e práticas. Rio de Janeiro: Editora Fio Cruz, 2006.
DIAS, Gisele et al. Revisando a noção de competência na produção científica em
administração: avanços e limites. In: DUTRA, Joel; FLEURY, Maria ; RUAS, Roberto
(Org.). Competências: conceitos, métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2010. p. 9-27.
171
DOMENEGHETTI, Ana Maria. Voluntariado: gestão do trabalho voluntário em organizações
sem fins lucrativos. São Paulo: Esfera, 2001.
DRUCK, Graça. Qualificação, empregabilidade, e competência: mitos versus realidade. In:
GOMES, Álvaro (Org.). O trabalho no século XXI. São Paulo: Anita, 2001. p.81-90.
DUARTE, J.; BARROS, A. (Org.). Métodos e técnicas de Pesquisa em Comunicação. São
Paulo: Atlas, 2005.
ESTÉS, Clarissa. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo da
mulher selvagem. Tradução de Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
FERNANDES, B.; HIPÓLITO, J. Dimensões de avaliação de pessoas e o conceito de
competências. In: DUTRA, Joel; FLEURY, Maria; RUAS, Roberto (Org.). Competências:
conceitos, métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2010. p.151-171.
FERRARI, Rachele. Voluntariado: uma dimensão ética. 2008. Dissertação (Mestrado em
Psicologia Clínica)-Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.
FIGUEIREDO, Nara. Interfaces do trabalho voluntário na aposentadoria. 2005. Dissertação
(Mestrado em Psicologia)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
FISCHER, André et al. Absorção do conceito de competências em gestão de pessoas: a
percepção dos profissionais e as orientações adotadas pelas empresas. In: DUTRA, Joel;
FLEURY, Maria ; RUAS, Roberto (Org.). Competências: conceitos, métodos e experiências.
São Paulo: Atlas, 2010. p.31-50.
FISCHER, R.; FALCONER, A. As estratégias de empresas no Brasil: atuação social e
voluntariado. São Paulo, 1999.
FONSECA, Adelaide; MUNERRATTI, Maria Amália. Gerenciamento de voluntários. São
Paulo, 2000.
FREITAS, I.; BRANDÃO, H. Trilhas de aprendizagem como estratégia de TD&E. In:
BORGES-ANDRADE, Jairo; ABBAD, Gardênia; MOURÃO, Luciana (Org). Treinamento,
desenvolvimento e educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para a gestão de
pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2006. p.97 -135.
FRIAS, S. Aposentadoria, tempo livre, lazer e a descoberta do trabalho voluntário. In:
VERAS, R. (Org.). Terceira idade: alternativas para uma sociedade em transição. Rio de
Janeiro: UNATI. 1999. p.183-189.
172
GATTI, Bernadete (Org.). Grupo Focal na Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas.
Brasília: Liber Livro, 2005.
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999.
GIORDANI, Annecy. Humanização da saúde e do cuidado. São Caetano do Sul, São Paulo:
Difusão, 2008.
GIORDANO, N. Alessandra. Contar histórias como possibilidade de tecer o invisível: as
emoções. In: CIORNAI, Selma (Org.). Percursos em Arteterapia. São Paulo: Summus, 2004.
p.275-291.
GODOI, Adalto. Hotelaria hospitalar e humanização no atendimento em hospitais: pensando
e fazendo. São Paulo: Ícone, 2004.
GOUVEIA, JOÃO. Manual da Formação. Portugal: AEP – Associação Empresarial de
Portugal, jan. 2006. Disponível em: http://crc.aeportugal.pt. Acesso em: 20 out. 2011.
GUTTMANN, Monica. A criação literária na Arteterapia (nas páginas das histórias e da
poesia. In: CIORNAI, Selma (Org.). Percursos em Arteterapia. São Paulo: Summus, 2004. p.
255-273.
HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2009.
LAFIN, S.; SOUZA, S.; BARBOSA, C. Trabalho voluntário. In: FREITAS, E.V.D. et al.
(Org.). Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
p.1.420-1.423.
LANDIN, Leilah. As pessoas, voluntariado, recursos humanos, liderança. In: SEMINÁRIO
FILANTROPÍA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CIUDADANIA. Antígua, Guatemala.
Anais... CEDES. 2001. p.2-10.
LANDIM, Leilah; SCALON, Maria. Doações e trabalho voluntário no Brasil: uma pesquisa.
Rio de Janeiro: Sete Letras, 2000.
LATHAM, G. P. Human resource training and development. Annual Review of Psychology,
v.39, p 545-582. 1988.
173
LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de Metodologia da Pesquisa em
Ciências Humanas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
LE BOTERF, G. De la compétence à la navigation profissionnelle. Paris: Les Editions
D`Organization, 1998.
LE BOTERF, G. De la compétence: essai sur un attracteur étrange. 4 triage. Paris: Les
Editions D`organization, 1995.
LOPES, Uaçai. Educação e sustentabilidade. 2009. Tese (Doutorado em Educação)-
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.
MACHADO, Lucília. Mudanças tecnológicas e a educação da classe trabalhadora. In:
MACHADO, Lucília; NEVES, Magda; FRIGOTTO, Gaudêncio (Org). Trabalho e educação.
Campinas, São Paulo: ed. Papirus. 1992. p.9-24
MAGALHÃES, M.; BORGES-ANDRADE, J. Auto e hetero-avaliação no diagnóstico de
necessidades de treinamento. Revista Estudos de Psicologia, v.6, n.1, p.33-50, 2001.
MANFREDI, Silvia. Trabalho, qualificação e competência profissional: das dimensões
conceituais e políticas. Educ. Soc., Campinas, v.19, n.64, p.13-49, set.1999.
MARTINS FILHO, I. Trabalho voluntário e religioso. São Paulo: LTr, 2002.
MARTINS, M; BERUSA, A.; SIQUEIRA, S. Humanização e voluntariado: estudo qualitativo
em hospitais públicos. Revista Saúde Pública, São Paulo, Instituto de Saúde, Secretaria de
Estado da Saúde, v.44, n.5, p.942-949, 2010.
MARTINS, Maria Cezira. Oficinas de humanização: fundamentação teórica e descrição de
uma experiência com um Grupo de Profissionais da Saúde. In: DESLANDES, Suely (Org.).
Humanização dos cuidados da saúde: conceitos, dilemas e práticas. Rio de Janeiro: Editora
Fio Cruz, 2006. p.141-161.
MEREGE, Luiz Carlos. Terceiro Setor: a arte de administrar sonhos. São Paulo: Plêiade,
2009.
MILANI FILHO, Marco; CORRAR, Luiz; MARTINS, Gilberto. O voluntariado nas
entidades filantrópicas paulistanas: o valor não registrado contabilmente. UNB Contábil,
Brasília, Departamento de Ciências Contábeis e Atuárias, v.6, n.1, p.153-172, 2003.
174
MINAYO, Maria. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 17.ed. Petrópolis, Rio de
Janeiro: Vozes, 1994.
MITRE. R. O brincar no processo de humanização da produção de cuidados pediátricos. In:
DESLANDES, Suely (Org.). Humanização dos cuidados da saúde: conceitos, dilemas e
práticas. Rio de Janeiro: Editora da Fio Cruz, 2006. p.283-300.
MONIZ, André; ARAÚJO, Tereza. Trabalho voluntário em saúde: auto-percepção, estresse e
burnout. Interação em Psicologia, v.10, n.2, p.235-243, 2006.
MONIZ, André; ARAÚJO, Tereza. Voluntariado hospitalar: um estudo sobre a percepção dos
profissionais de saúde. Estudos de Psicologia, v.13, n.2, p.149-156, 2008.
MOTTA, J. I. J.; BUSS, P.; NUNES, T. C. M. Novos desafios educacionais para a formação
de recursos humanos em saúde. Olho Mágico, v. 8, n.3, P. 4-8, 2001.
MOURÃO, Luciana. Avaliação de programas públicos de treinamento: um estudo sobre o
impacto no trabalho e na geração de emprego. 2004. Tese (Doutorado em Psicologia)-
Instituto de Psicologia da UNB, Brasília, 2004.
MOURÃO, L.; PALÁCIOS, P. Formação profissional. In: BORGES-ANDRADE, Jairo;
ABBAD, Gardênia ;MOURÃO, Luciana (Org). Treinamento, desenvolvimento e educação em
Organizações e Trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed,
2006. p. 40-63.
MOUSSALLEM, Márcia. Associação privada sem fins econômicos: da filantropia à
cidadania. São Paulo: Plêiade, 2008.
OKABAYASHI, R.; COSTA, S. O serviço voluntário em hospitais do Terceiro Setor em
Londrina: da sua configuração à construção de novos referenciais de gestão. Rev. Serviço
Social, v.10, n.2, p.14-25, 2008.
ORTIZ, Maria Cristina. Voluntariado em hospitais: uma análise institucional da
subjetividade. 2007. Tese (Doutorado em Psicologia)-Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo, 2007.
OSKAMP, S. Applied social psychology. Washington,D.C.: Prentice Hall, 1981.
175
PANCERI, Reginete. Desenvolvimento de competências: avaliação de um programa
gerencial. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão de Conhecimento)-
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.
PARRY, S. B. The quest for competencies. Training, p.48-54, July 1996.
PERRENEUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas
Sul,1999.
PITTA, A. Hospital: dor e morte como ofício. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 1999.
RESENDE, Graziele. Estratégias de gestão de recursos humanos no Terceiro Setor: o desafio
do trabalho voluntário. In: XII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ESTRATÉGIA
DA SOCIEDADE LATINO-AMERICANA DE ESTRATÉGIA (SLADE). Anais...São Paulo,
maio de 1999.
RIBEIRO, H. O hospital: história e crise. São Paulo: Cortez, 1993.
RIOS, Izabel Cristina. Caminhos da humanização na Saúde. São Paulo: Áurea, 2009.
ROCHE, Chris. Avaliação de impacto dos trabalhos de ONGs: aprendendo a valorizar as
mudanças. Tradução de Tisel Tradução e Interpretação Simultânea Escrita. 2.ed. São Paulo:
Cortez: ABONG; Oxford, Inglaterra: Oxfram, 2002.
SANTANA, Maria. Ética solidária: um estudo da ação religiosa e ética da Liga das Senhoras
Católicas de São Paulo, nos Princípios de Emmanuel Levinas. 2007. Dissertação (Mestrado
em Ciências da Religião)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2007.
SANTOS, Ana; LIMA, Luísa; SANTOS, Paula. Voluntariado e ansiedade perante a morte no
idoso aposentado. Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Porto, Edições
Universidade Fernando Pessoa, p.74-84, 2009.
SANTOS, M. Gestão de voluntariado: um desafio da gestão de pessoas: estudo comparativo
entre os programas de voluntariado da Associação Viva e Deixe Viver e do Projeto Entorno.
Monografia (Curso de Pós-Graduação Lato-sensu em Gestão de Pessoas)-Universidade São
Marcos, São Paulo, 2007.
SARSUR, A.; FISCHER, A.; AMORIM, W. Gestão por competências: a (não)inserção dos
sindicatos em sua implementação nas organizações. In: DUTRA, Joel; FLEURY, Maria;
RUAS, Roberto (Org.). Competências: conceitos, métodos e experiências. São Paulo: Atlas,
2010. p. 253-283.
176
SBERGA, Adair. Voluntariado jovem: construção da identidade e educação sociopolítica. São
Paulo: Salesiana, 2001.
SELLI, Lucilda. Bioética, solidariedade crítica e voluntariado orgânico. Tese (Doutorado em
Ciências da Saúde)-Universidade de Brasília, Brasília, 2001.
SELLI, Lucilda; GARRAFA, Volnei. Presença feminina na atividade voluntária: uma leitura
a partir da Bioética. Revista Brasileira de Bioética, ano 1, v.1, p.80-90, 2005.
SELLI, Lucilda; GARRAFA, Volnei. Solidariedade crítica e voluntariado orgânico: outra
possibilidade de intervenção societária. História. Ciência. Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro,
v.13, n.2, p. 473-478, nov. 2005.
SELLI, L.; GARRAFA, V.; JUNGES, J. Beneficiários do trabalho voluntário: uma leitura a
partir da bioética. Rev. Saúde Pública, v. 42, n.6, p.1.085-1.089, 2008.
SILVA, Habd. O voluntariado entre idosos no município de São Paulo. 20063. Dissertação
(Mestrado em Saúde Pública)-Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
SILVA, Jacqueline et al. Novo voluntariado social: teoria e ação. Porto Alegre: Dacasa, 2004.
SILVEIRA, J. Satisfação no trabalho e a realização de trabalho voluntário: estudo de casos.
2002. Dissertação (Mestrado em Administração)-Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2002.
SOUZA, C.; BACALHAU, M.; MOURA, M.; VOLPI, J.; MARQUES, S.; RODRIGUES, M.
Aspectos da motivação para o trabalho voluntário com doentes oncológicos: um estudo
colaborativo entre Brasil e Portugal. Rev. Psicologia, Saúde & Doenças, v.4, n.2, p.267-276,
2003.
SOUZA, L.; LAUTERT, L.; HILLESHEIN, E. Trabalho voluntário, características
demográficas, socioeconômicas e autopercepção da saúde de idosos de Porto Alegre. Revista
Esc de Enfermagem, São Paulo, USP, v.44, n.3, p.561-569, 2010.
SOUZA, Luccas. Trabalho voluntário, saúde e qualidade de vida em idosos. 2007.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2007.
177
SOUZA, Luccas; LAUTERT, Liana. Trabalho voluntário: uma alternativa para a promoção
da saúde de idosos. Revista Esc. Enfermagem, São Paulo, USP, v. 42, n.2, p.371-376, 2008.
SOUZA, M; ARAÚJO, T. Atuação voluntária em unidades de cuidados a portadores do vírus
HIV/AIDS. In: 5º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 5., 1999, Brasília.
Resumos... Brasília: UnB, 1999..p.451.
SOUSA, Maria; ARAÚJO, Tereza. Voluntariado: uma mudança paradigmática na prestação
de serviços comunitários. In: JORNADA INTERNACIONAL, 5., e CONFERÊNCIA
BRASILEIRA SOBRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, 3., 2007, Brasília. Anais... Brasília,
2007. p.1-10.
TABORDA, Marianna. A projeção de interesses em redes sociais de voluntariado. Revista da
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, p.4-15, 2007.
TENÓRIO, R. Introdução: a avaliação como pesquisa, gestão e ação social. In: TENÓRIO,
Robson; MACHADO, Cristiane; LOPES, Uaçai (Org.). Indicadores da Educação Básica:
avaliação para uma gestão sustentável. Salvador: EDUFBA, 2010. p.15-35.
TENÓRIO, Robson; LOPES, Uaçai. Avaliação: implicações para a gestão escolar. In:
TENÓRIO, Robson; MACHADO, Cristiane; LOPES, Uaçai (Org.). Indicadores da Educação
Básica: avaliação para uma gestão sustentável. Salvador: EDUFBA, 2010. p.65-86.
TENÓRIO, Robson; MACHADO, Cristiane; LOPES, Uaçai (Org.). Indicadores da Educação
Básica: avaliação para uma gestão sustentável. Salvador: EDUFBA, 2010.
UCHIMURA, K.Y.; BOSI, M.L.M. Qualidade e subjetividade na avaliação de programas e
serviços em saúde. Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.18, n.6, p.1.561-1.569,
nov./dez, 2002.
VARGAS, S.; ABADD, G. Bases conceituais em treinamento, desenvolvimento e educação –
TD&E. In: BORGES-ANDRADE, Jairo; ABBAD, Gardênia; MOURÃO, Luciana (Org).
Treinamento, desenvolvimento e educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para
gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2006. p.137-158.
ZARIFIAN, P. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.
178
APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO
Prezado Contador de História,
Este questionário tem como objetivo fazer uma avaliação da Associação Viva e Deixe
Viver, especificamente do seu processo de Qualificação, através da Pesquisa
intitulada: Avaliação da Qualificação de Voluntários no Contexto da Humanização da
Saúde, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia.
I - IDENTIFICAÇÃO GERAL
1. Sexo ( ) masculino ( ) feminino
2. Idade: _______
3. Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado/separado/desquitado ( ) viúvo ( ) outro________________
4.Tem filhos ( ) Sim ( ) Não.Se sim, número de filhos _____________
II - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
5. Nível Escolaridade ( ) 1 grau ( ) 2 grau ( ) 3 grau incompleto ( ) 3 grau completo.
Curso de graduação_______________________________
Pós- graduação_______________( ) lato senso ( )stricto sensu/mestrado/doutorado
5. Está fazendo algum curso atualmente ? ( ) sim ( ) não
Se sim, qual ? ___________
Cite outros cursos que fez nos últimos 5 anos: _____________________________________________________________________
5. Profissão atual __________________
6. Sua Renda pessoal ___________________________
179
III - CONHECIMENTOS SOBRE O VIVA E O CONTADOR DE HISTÓRIAS
Nesta parte você vai ler cada uma das perguntas e responder de acordo com a escala
abaixo relacionando com o grau de intensidade com que concorda ou discorda de
cada questão.
Atribua um valor as suas respostas portanto, conforme o quadro abaixo:
1. ( F ) A criança é o único beneficiado da contação de história?
2. ( F ) É muito importante para o contador de histórias saber qual é o
diagnóstico da criança?
3. ( V ) O que é mais correto quanto ao meu trabalho de contador de
histórias horários fixos (predeterminados) do que eu me disponibilize sem
horários determinados.
4. ( F ) É importante criar laços estreitos e fortes vínculos afetivos com a
criança hospitalizada para ser um bom contador de histórias?
5. ( F ) É papel do contador de histórias, investigar a veracidade de uma
narrativa pessoal eventualmente contada pela criança hospitalizada?
6. ( V ) É imprescindível para ser um bom contador de histórias superar
limites emocionais, que constrangem, por exemplo, ao trabalhar com crianças
com câncer ou crianças queimadas?
7. ( F ) A função terapêutica da contação de histórias está dada,
principalmente, em razão da escolha específica de determinados livros, cujo
enredo de superação e personagens heróicos permitem que a criança se
identifique e encontre forças para enfrentar a doença?
8. ( V ) Tão importante quanto contar uma história é ouvir uma história da
criança?
-3 -2 -1 0 1 2 3
Muitíssimo
falso
Muito
falso
Falso Não sei Verdadeiro Muito
verdadeiro
Muitíssimo
verdadeiro
180
9. ( V ) Para o Viva e para os hospitais é preferível a desistência do
voluntário do que a ausência às atividades de contação agendadas?
10. ( F ) Um contador de histórias não pode oferecer alimentos aos
pacientes, mas pode, tranquilamente ajudar dando água caso o paciente tenha
sede ?
11. ( F ) Segundo a filosofia de trabalho do Viva, os livros de ficção,
contos de fadas e aventura são preferíveis para o uso do contador voluntário
do que aqueles com propostas educativas explicitas sobre hábitos saudáveis?
12. ( V ) Os cuidados de segurança do trabalho (Biossegurança) que o
contador de histórias tem de manter são importantes, antes de tudo para
poupar as crianças da contaminação?
13. ( F ) Livros de histórias cujas páginas possuem textura em tecido são
bastante recomendados para o uso do contador, pois ao contato com essas
texturas, importantes estímulos sensoriais são proporcionados às crianças
hospitalizadas?
14. ( V ) Lavar bem as mãos a cada vez que se muda de leito na contação
de história é a atitude mais eficaz para prevenir a transmissão de infecção?
15. ( F ) Em nome da parceria que se deve estabelecer com a equipe
multiprofissional de saúde, é recomendado que o contador de histórias,
eventualmente (e sempre que possível) colabore com a equipe, por exemplo,
trocando uma fralda ou ajudando a dar banho na criança?
16. ( F ) Um voluntário que nos horários de trabalho é remunerado como
enfermeiro, está autorizado a realizar eventuais intervenções assistenciais de
saúde durante sua jornada de contação de histórias no hospital?
17. ( V ) Em princípio equipamento individual de proteção, como luvas, por
exemplo, não são requeridos para o trabalho de contador de história em
hospitais, porque, comumente, ele não tem contato com fluidos biológicos do
paciente?
18. ( V ) Se o contador de histórias vai atuar junto a uma criança sob
“isolamento de contato”, precisará, necessariamente, utilizar avental e luvas
para adentrar o quarto?
181
19. ( V ) O jaleco utilizado pelo voluntário contador de história é
simplesmente um sinalizador de atividade profissional (uniforme), ou seja, ele
não tem função de protegê-lo contra contaminação?
20. ( V ) Normalmente não é necessário lavar separadamente o jaleco do
contador de histórias, ou seja, ele pode ser lavado juntamente com o restante
das roupas da casa?
21. ( F ) Vacinas disponíveis apenas para Profissionais de Saúde, como
aquelas da Influenza e Hepatite A, devem ser buscados pelo Contador ?
22. ( V ) O contador de histórias não deve, nunca, fazer doações (de
alimentos, brinquedos, material escolar) ou campanhas de arrecadação junto
aos seus amigos e familiares para ajudar um paciente do hospital?
23. ( F ) Voluntário Profissional no Viva é aquela pessoa que faz do
voluntariado sua atividade remunerada.
24. ( V ) Voluntário Profissional é a pessoa que cumpre com os objetivos
propostos com a organização, dentro das suas limitações.
25. ( pessoal ) Recebo apoio da minha família para minha atividade de
contação de histórias.
26. ( pessoal ) Recebo apoio do hospital para minha atividade de contação
de histórias.
27. ( pessoal ) Meu coordenador de voluntários é alguém ausente na minha
atividade de contação de histórias.
28. ( pessoal ) O Viva e Deixe Viver oferece apoio para as minhas
atividades de contação de histórias.
29. ( F ) O Viva é uma instituição que atua na promoção da saúde e da
cura através da contação de histórias à pacientes hospitalizados.
30. ( F ) Voluntário é a pessoa que ajuda incondicionalmente, que se
sacrifica em prol do outro.
31. ( F ) Voluntário é uma pessoa que precisa ser reconhecida no hospital
porque trabalha de graça
182
32. ( V ) Voluntário tem direitos e deveres no hospital
33. ( V ) Para as crianças hospitalizadas o ideal é contar histórias mais
curtas.
34. ( F ) Posso contar histórias improvisadamente, como um ator;
35. ( F ) Devo dramatizar sempre as histórias para que se tornem mais
engraçadas.
36. ( F ) A criança que pede a história repetidas vezes é porque não
entendeu a moral da história.
37. ( F ) Não devo contar histórias de medo, morte, bruxa, terror para
crianças hospitalizadas;
38. ( F ) Quando morre alguma criança que eu conheço no hospital, é
meu papel como contador de histórias, acolher os familiares e oferecer apoio.
39. ( V ) Ser voluntário na saúde, implica entrar em contato e ter de lidar
com questões emocionais e com a morte.
40. ( V ) Devo me cuidar emocionalmente para ser contador de história
em hospitais.
41. ( F ) Não é porque trabalho em hospital, que tenho de lidar com a
perdas.
42. ( V ) É importante ter uma postura positiva para ser contador de
história em hospital.
43. ( V ) Fazer o treinamento me ajudou a escolher o lugar para contar
histórias.
44. ( V ) Ver outro contador na época do treinamento contando histórias
me ajudou a melhorar a minha performance.
45. ( V ) É possível resgatar a brincadeira porque ele faz parte da nossa
história.
46. ( V ) Viver Positivamente pode ser considerado um dos valores na
saúde.
183
47. ( F ) Não existe método para ensinar a pensar positivo.
48. ( V ) A doença da criança causa desorganização familiar.
49. ( V ) Existem estágios como negação, raiva, barganha, depressão e
aceitação no processo de internação do paciente no hospital.
50. ( V ) A doença causa na criança repercussões emocionais, físicas,
psíquicas, motoras, cognitivas e sociais.
51. ( F ) Folclore não é criado pelas classes populares.
52. ( V ) Folclore quer dizer ciência, saber do povo.
53. ( F ) As histórias mais indicadas para crianças de 03 a 06 anos são
histórias de fábulas, aventuras e lendas.
54. ( V ) A estrutura de uma história tem nos seus elementos essenciais:
introdução, clímax e desfecho – tudo isso faz parte do que chamamos enredo.
55. ( V ) É inevitável que eu me depare com situações de dor, morte e
perda no hospital.
184
IV – NESTA PARTE VOCÊ VAI FAZER CORRESPONDÊNCIA DE UMA COLUNA
COM A OUTRA.
1. Na coluna abaixo você verá o nome dos módulos/aulas que foram ministradas
durante o treinamento.Na coluna que segue você associará com conceitos, termos,
expressões, que apareceram no decorrer de cada módulo.
(1)Módulo : “Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver”.
(2)Módulo : “Fundamentos Filosóficos do Voluntariado”.
(3)Módulo : “Planejamento Pessoal e Gestão do Tempo”.
(4)Módulo : “ Vivendo Positivamente”
(5)Módulo : “Ambientação Hospitalar ”.
(6)Módulo : “A arte de Contar Histórias ”.
(7)Módulo : “Processo de Morrer e a Morte”.
(8)Módulo : “Vivência Terapêutica” – Aprendendo a lidar com perdas.
(9)Módulo : “ Memória do Brincar - Folclore Infantil”
(10)Módulo : Treinamento nos Hospitais
( 3 ) Organizar a agenda semanal de tarefas
( 1) Humanizar a Assistência à saúde
( 2 ) Solidariedade com foco em resultados
( 9 ) Transmissão para crianças de cantigas brasileiras
( 4 ) Tornar a vida diária uma experiência construtiva e rica.
( 5 ) Respeito ao silencio dentro da instituição
( 6 ) Formas de apresentar uma história
( 7 ) Cuidados físico, psíquico, social e espiritual do paciente
(8 ) Administrar as emoções pessoais para lidar com equilíbrio emocional diante das
perdas e atuar assertivamente em contexto hospitalar
( 10) Visualizando a contação de histórias a partir da observação.
185
V - QUESTÕES DE ENUMERAR:
Responda a pergunta colocando em ordem de prioridade (de 01 a 08) cada uma das
funções esperadas do voluntário Contador de História no hospital. Se julgar necessário
pode excluir algum item.
1. O voluntário contador de histórias deve levar ao hospital:
( ) ENTRETERIMENTO
( ) LEITURA
( ) CULTURA
( ) CIDADANIA
( ) ALEGRIA
( ) INFORMAÇÃO
( ) LAZER
( ) CUIDADO
Resposta correta está relacionada à missão da instituição que é : Promover
entretenimento, cultura e informação educacional através do estímulo à leitura
e do brincar, visando transformar a internação hospitalar de crianças e
adolescentes em um momento mais alegre e agradável, contribuindo
positivamente para o bem estar de seus familiares e equipe multidisciplinar. Ou
seja, as respostas estarão corretas em torno das respostas: cultura,
informação, leitura, alegria.
2. O que você recomendaria que o contador evitasse fazer em um ambiente
hospitalar? Enumere de 01 a 13 do pior para o menos pior.
( ) Usar trajes incompatíveis ao ambiente (saias curtas, salto alto, cores
berrantes) e acessórios inadequados (jóias, bijuterias em excesso, perfume
muito forte).
( ) Sentar nos leitos.
( ) Não demonstrar equilíbrio emocional diante de episódios de estresse a/ou
perdas.
186
( ) Não lavar as mãos segundo o procedimento de controle de infecção
hospitalar.
( ) Fazer lanches na presença da criança.
( ) Gestos não verbais do contador que demonstrem estranheza ao quadro do
paciente, por exemplo crianças queimadas, provocando nestas desconforto ou
sentimento de inadequação na presença do contador.
( ) Ministrar-lhe passes, jorey, massagens.
( ) Ministrar medicação.
( ) Favorecer às crianças a retirada do acesso venoso.
( ) Favorecer aos acompanhantes/pacientes burlar normas estabelecidas
(favorecer o uso de telefone fora do horário, a TV ligada, utilizar brinquedos
fora do horário).
( ) Favorecer o acesso ao prontuário sem o conhecimento da equipe.
( ) Responder às curiosidades de outras mães acerca do diagnóstico mais
delicado.
( ) Favorecer a saída de paciente das dependências da enfermaria sem
autorização.
Respostas estão todas incorretas, a intenção da pergunta é estabelecer,
segundo a percepção do voluntário, um “ranking” de gravidade dessas
proibições, relacionadas a atitudes que não são recomendáveis no ambiente
hospitalar. .
187
VI - QUESTÕES ABERTAS:
1. Na administração pessoal de seu tempo, uma pessoa deve atentar para uma série
de aspectos que “roubam” horas de seu dia, você seria capaz de se recordar de 2
deles?
Questão pessoal eliminada
e
2. Qual o papel da eleição de prioridade na construção de uma agenda de atividades?
R: Espera-se em geral: Viver bem, ter harmonia interna e externa, cumprir metas,
utilizar bem o tempo.
3. Quais as dificuldades para ordenamento de prioridades no ranking de importância
nas nossas vidas?
Questão pessoal eliminada
4. Por que o Viva diz preferir a sua “desistência”, ao invés das suas faltas nos
hospitais?
Espera-se em geral: As faltas geram expectativas/frustração nas crianças que estão
esperando e impossibilitam a coordenação de encaminhar outro contador.
5. O que quer dizer cada um dos três Cs?
Consciência;
Compromisso;
Constância.
6. O que representa, do ponto de vista da estratégia de treinamento do Viva, a
exigência de freqüência integral às sessões do curso de formação?
Questão eliminada
188
7. Em meio a tantas outras atividades humanizadoras no hospital (palhaços, músicas,
professores, artistas plásticos, brinquedoteca) que diferença faz o Contador de
História?
Esperam-se respostas em torno de: Porque o contador além de levar entretenimento e
alegria, como em outras atividades, também leva a leitura e informação para dentro do
hospital.
8. Para que serve, especificamente, a leitura ou ouvir uma história em hospital?
Respostas esperadas:
Ler e ouvir história auxilia na criação do hábito de leitura. Domínio da linguagem;
acesso à linguagem; socialização; permite a criança a sair nem que seja por alguns
dos momentos sair do foco da doença, elaborar conteúdos mesmo que não seja este o
objetivo do contador de histórias.
Ajuda na adesão à dieta ou à medicação na hospitalização, estimula a capacidade de
representar fantasias, ajuda a criar novas imagens mentais, auxilia no processo de
alfabetização e aprendizagem, oferece recursos lúdicos que ajudem a criança a lidar
com o seu processo do adoecimento e lhe tragam uma melhor qualidade de vida
9. Coloque em ordem de prioridade os motivos pelos quais você pode faltar à
contação nos dias agendados para sua participação.
Resposta Pessoal
10. Qual a importância do contador saber gerenciar as suas emoções e aprender a
lidar com as próprias perdas?
Resposta em torno de:
Saber identificar o que é meu, e o que é do outro, diminuindo assim a identificação com a dor do outro. Se lidarmos melhor com nossas dores, saberemos como lidar com a dor do outro.
11. Eu tinha outras habilidades que me ajudaram a contar histórias, quando iniciei no Viva.
Caso concorde cite:
Questão pessoal eliminada
12. Eu gosto nas horas vagas e de lazer:
Questão pessoal eliminada
189
13. Com a formação do VIVA, eu aprendi uma nova habilidade.
Caso concorde, cite:
Questão pessoal eliminada
14. Para se qualificar como Contador de Histórias hospitalar do VIVA é imprescindível...
Espera-se que ele responda: treinamento, comprometimento, responsabilidade, ter
tempo.
15. Tem módulos do Viva que não considero importante para a formação do contador de história.
Cite caso concorde:
Questão pessoal eliminada
16. O que me motivou a querer ser um contador de histórias quando procurei o Viva ...
Questão pessoal eliminada
17. O que me motiva hoje ser contador de histórias é :
Questão pessoal eliminada
18. A minha percepção é de que o resultado do meu trabalho ao longo deste tempo...
Questão pessoal eliminada
19. A minha percepção é de que as visitas a quatro hospitais antes de iniciar a contar histórias...
Resposta Pessoal
190
VII - QUESTÕES FECHADAS:
Respostas pessoais
1. Nas questões abaixo, marque a alternativa que mais é adequada, MARQUE
APENAS UMA ALTERNATIVA :
A) Eu não faltaria a contação de histórias porque:
a. Quero evitar sentimentos por parte das crianças da frustração de
esperar alguém, que então não comparecerá;
b. Não quero que me julguem como alguém que não atende seus
compromissos;
c. Tenho medo de ir me acostumando e perder a vontade de continuar;
d. Receio que a equipe de saúde perca o entrosamento comigo;
e. Temo que as crianças me estranhem quando então eu retornar;
f. Receio perder o jeito para o trabalho.
B) Quando uma contação de Histórias não é como o esperado, o que
aconteceu foi que:
a. A criança não prestava atenção;
b. Havia barulho demais no ambiente;
c. Havia a “concorrência” de outros estímulos atraentes para a criança;
d. A história contada não produzia o “efeito” que eu esperava na criança;
e. Eu me emocionava com a situação da criança.
191
APÊNDICE B
ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL
QUESTÕES:
(a) O que marcou ou chamou mais sua atenção na formação para contador de histórias?
(b) Sobre os módulos, eu vou falar sobre cada um deles e seus respectivos instrutores e vocês
irão emitir opiniões sobre cada módulo: quanto a sua importância e utilização na prática como
contador, e que os ajudou a contar histórias..
(c) Como vocês avaliam nosso encontro?
192
APÊNDICE C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TÍTULO: Avaliação da Qualificação de Voluntários no Contexto da
Humanização da Saúde: o caso da Associação Viva e Deixe Viver em
Salvador-Bahia
DESCRIÇÃO DO ESTUDO E OBJETIVOS
Você participará de uma atividade de aplicação de questionário e de atividade em grupo
denominada grupo focal e, a partir de seu resultado, se pretende elaborar uma dissertação de
mestrado, cujo conteúdo se refere à avaliação de resultados da qualificação da Associação
Viva e Deixe Viver para formação de Voluntários (as) contadores(as) de Histórias.
AUTORA: Ana Cristina Santana Matos, Psicóloga, Pedagoga, Pesquisadora-mestranda em
educação pela Universidade Federal da Bahia.
PARTICIPAÇÃO: Sua participação nas atividades será fundamental, entretanto,
necessitamos de sua autorização para que as informações prestadas durante a atividade sejam
utilizadas na dissertação de mestrado.
BENEFÍCIOS: Você estará contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre a
qualificação de voluntários no campo da saúde.
DIVULGAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE: As informações prestadas por você serão
submetidas à análise e embasarão a formulação do referida dissertação de mestrado para
publicação. Em qualquer dessas circunstâncias, sua identidade será mantida sob sigilo.
DIREITO DE RECUSAR OU DESISTIR DA PARTICIPAÇÃO: Durante toda a
pesquisa, você terá a liberdade de recusar ou desistir de participar da mesma. Sendo sua
participação voluntária, você tem autonomia para abandonar o posto de sujeito da pesquisa. A
qualquer momento da pesquisa, você poderá interromper a participação sem nenhum dano a
si.
QUESTÕES: Caso alguma dúvida persista, ou haja alguma questão, fique à vontade para
colocá-la, mesmo que o período de pesquisa tenha-se expirado. Para tal, entre em contato com
a investigadora principal, Ana Cristina Santana Matos, pelo número (71) 8800-2787.
Declaro que li e entendi as informações que me foram transmitidas acima e autorizo a
utilização das informações prestadas para elaboração de artigo científico para
publicação.
Salvador, _____________de____________de 2011.
Nome:_____________________________Assinatura:________________________________