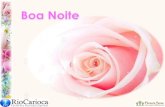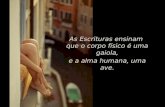UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - ufmt.br · A minha filha que mesmo sem saber, por ser ainda...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - ufmt.br · A minha filha que mesmo sem saber, por ser ainda...
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE LINGUAGENS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM
GRAZIANI FRANÇA C. DE ANICÉZIO
FORMAÇÃO CONTINUADA: UM CAMINHO PARA A
ADEQUAÇÃO ENUNCIATIVA DOS PROFESSORES DE
LÍNGUA ESPANHOLA DE MATO GROSSO
CUIABÁ – MT 2012
GRAZIANI FRANÇA C. DE ANICÉZIO
FORMAÇÃO CONTINUADA: UM CAMINHO PARA A
ADEQUAÇÃO ENUNCIATIVA DOS PROFESSORES DE
LÍNGUA ESPANHOLA DE MATO GROSSO
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Estudos de Linguagem.
Área de Concentração: Paradigmas do Ensino de Línguas
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Flores
CUIABÁ-MT 2012
Anicézio, Graziani França C. de.
Formação continuada: um caminho para a adequação enunciativa dos professores de Língua Espanhola de Mato Grosso / Graziani França C. de Anicézio. - Cuiabá, MT, 2012.
171 f.: il.
Impresso por computador (fotocópia). Área de Concentração: Paradigmas do Ensino de Línguas Orientador: Prof. Dr. Sérgio Flores.
Dissertação (Mestre em Estudos de Linguagem) – Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2012.
1. Formação de professores. 2. Língua Espanhola. 3. Produção
enunciativa. I. Flores, Sérgio. II.Título.
CDU 37.011.31:811.134.2(817.1)
Ao meu esposo que esteve ao meu
lado durante todo este processo
colaborando e acreditando na
realização deste sonho.
A minha filha que mesmo sem saber,
por ser ainda pequena, foi uma das
forças que me motivaram a prosseguir.
AGRADECIMENTOS
A Deus que tem sempre me mostrado como e o que devo fazer e a cada
etapa esteve presente me orientando e confortando na hora da aflição.
Ao Dr. Sérgio Flores, por sempre estar pronto a me atender mesmo a
distância e pelas orientações que foram fundamentais para o desenvolvimento desta
pesquisa.
A banca de qualificação e defesa, Drª. Maria Inês Cox e Drª. Fabíola Sartin,
pelas contribuições que foram essenciais para a finalização desta pesquisa.
Aos meus pais, que sempre me incentivaram a estudar e me mostraram a
importância de trilhar no caminho do conhecimento.
Ao meu sogro e sogra, por acreditarem em mim, renovando minhas forças
para continuação desta jornada.
A minha amiga Jandira, por todo o apoio dado, o que me ajudou muito para
que esse sonho começasse a ser realizado.
A minha amiga Ana Raquel, que foi a ponte Cuiabá-Paraíso do Tocantins me
ajudando com textos, matrículas e tantas outras coisas.
A todos os gestores e colegas de área do IFTO-Campus Paraíso do
Tocantins, pelo apoio incondicional que dispensaram a mim.
Aos gestores do CEFAPRO/Cuiabá pelo incentivo dado no início desta
caminhada.
A todos aqueles que oraram por mim durante este processo.
"Sem a curiosidade que me move, que
me inquieta, que me insere na busca,
não aprendo nem ensino". (Paulo
Freire )
RESUMO
ANICÉZIO, Graziani França C. de. Formação continuada: um caminho para a adequação enunciativa dos professores de Língua Espanhola de Mato Grosso, 2012. 170p. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) - Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2012.
Esta pesquisa buscou responder o seguinte questionamento: Por que os professores
de Língua Espanhola, em sua maioria, sentem dificuldades na produção enunciativa
oral? Para essa resposta, foi realizada a aplicação de um questionário com cinco
professores da rede estadual de ensino que confirmaram essa dificuldade. Também
foi realizada uma análise dos currículos da UFMT do curso de Letras – habilitação
em Língua Espanhola – a fim de detectar as possíveis falhas na formação que
acabam por gerar essas deficiências na produção enunciativa oral. A análise
curricular mostrou que a universidade tem se centrado mais no ensino da escrita e
gramática, que já não atendem as expectativas da sociedade, que no trabalho com a
produção enunciativa. Essa pesquisa tem como inscrição teórica a Análise do
Discurso (AD) que concebe a linguagem como configuradora das práticas sociais, o
que justifica a abordagem enunciativo-discursiva como forma de adequação no
trabalho com a oralidade. Além de investigar as dificuldades na produção
enunciativa oral dos professores de Língua Espanhola e de examinar os currículos
do curso de Letras, essa pesquisa objetiva propor a Formação Continuada como um
possível caminho para amenizar as dificuldades apresentadas nesses estudos.
Palavras-chave: Formação de professores.Língua Espanhola. Produção
enunciativa.
ABSTRACT
ANICÉZIO, Graziani França C. de. Continuing Education: a path to the adequacy enunciative of Spanish-speaking teachers of Mato Grosso. 2012. 170p. Thesis (MA in Language Studies) - Postgraduate Programme in Language Arts, Federal University of Mato Grosso, Cuiabá, 2012.
This research aimed to investigate the following question: why do teachers of the
Spanish language, on its majority, have difficulties on oral enunciative production?
Searching for the answer a questionnaire was applied to 5 teachers from high
schools of Mato Grosso state which was noticed this difficulty. In addition, a
curriculum analyses from the Letters course of UFMT (Mato Grosso Federal
University) was done --- applied to the Spanish language, in order to confirm the
possible weakness on this program which ends up causing deficiencies on oral
enunciative production. These analyses revealed that the university has focused
more on the writing and grammar aspects than on oral performance which does not
satisfy the society expectation .This research has the discourse analyze as the
theoretical basis which comprehends language like the representative of social
practice, which explains the enunciative-discourse approaches as an adjustment way
for working with orality. Moreover, it investigates foreign language teachers’
difficulties on oral enunciative production and it exams the teaching graduation
curriculum to suggest teaching training program as a path to reduce difficulties that
were presented on this study.
Keywords: teachers training, Spanish Language, enunciative production.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AD Análise do Discurso
AIE Aparelhos Ideológicos de Estado
Cefapro Centro de Formação e Atualização dos Professores da Educação Básica
E/LE Espanhol /Língua Estrangeira
FC Formação Continuada
FD Formação Discursiva
FI Formação Inicial
IFTO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tocantins
LD Livro Didático
LE Língua Estrangeira
LM Língua Materna
LNM Língua Não Materna
OCEM-MT Orientações Curriculares para a Educação Básica do Estado de Mato
Grosso
PCN Parâmetros Curriculares Nacionais
UFMT Universidade Federal de Mato Grosso
LISTA DE ILUSTRAÇÓES
Gráfico 1 _ Pergunta 1: Você pode considerar que a sua graduação em
Língua Espanhola foi satisfatória? Por quê................................... 68
Gráfico 2 _ Pergunta 2: Você se sente inseguro em algum aspecto de seu
trabalho? A que você atribui a causa?.......................................... 70
Gráfico 3 _ Pergunta 3: Você tem algumas sugestões de alteração para o
programa de graduação a fim de eliminar as dificuldades
constatadas no seu desempenho profissional?
Quais?............................................................................................ 71
Gráfico 4 _ Pergunta 4: Se você pudesse alterar o currículo, em que
disciplinas você daria mais ênfase e em quais você reduziria a
carga horária?................................................................................ 74
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12
CAPÍTULO 1 – CONCEITOS – CHAVE .................................................................. 19
1.1 Conceitos da AD que norteiam a pesquisa.......................................................19
1.1.1 Abordagem enunciativo-discursiva .......................................................... 23
1.1.2Formação Discursiva, Ideologia e Formação Ideológica .......................... 25
1.1.3Sujeito, Assujeitamento e os Aparelhos Ideológicos do Estado................ 30
CAPÍTULO 2 – SUBSÍDIOS DA PESQUISA ............................................................ 35
2.1 O curso de Letras no Brasil: conhecer a história para entender a atualidade .. 35
2.2 Um breve panorama histórico da Língua Espanhola em Mato Grosso ............ 41
2.3 Currículo: concepções e objetivos ................................................................... 44
2.4 Formação Inicial e Continuada: a realidade do ensino de Língua Estrangeira 50
CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS DADOS ................................................................... 58
3.1 O curso de Letras habilitação Língua Portuguesa e Espanhola na UFMT:
currículo e produção enunciativa oral .................................................................... 58
3.1.1 A análise curricular .................................................................................... 60
3.2 Apresentação e comentários sobre a análise dos questionários: em busca da
comprovação da dificuldade da produção enunciativa oral ................................ 67
3.3 Formação Continuada: uma proposta para amenizar as dificuldades de
produção enunciativa oral dos professores de Língua Espanhola ....................... 77
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 84
REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 87
APÊNDICE ................................................................................................................ 94
ANEXOS ................................................................................................................... 96
12
INTRODUÇÃO
Quando falamos em professores de Língua Estrangeira (LE),
entendemos que estes profissionais cursaram a faculdade de Letras por no
mínimo três ou quatro anos, e que, ao concluírem o curso, estão
completamente aptos a ensinar a língua a qual foram formados sabendo usá-la
em todos os seus aspectos e, claro, principalmente na oralidade, já que é
através dela que devem ser ministradas as aulas de formação de seus alunos.
Apesar de os professores terem passado por uma graduação e saírem
com o título de habilitados em LE, as dificuldades na expressão oral na língua
em questão são imensas. Este fato ocorre com professores de todas as línguas
estrangeiras, mas aqui meu foco será a Língua Espanhola (E/LE), devido ao
meu contato com esta língua desde 2001.
Minhas inquietações começaram quando fazia o terceiro ano do curso
de Letras. Naquele momento nós, os alunos do terceiro e quarto ano, éramos
convidados a ministrar aulas no curso de extensão da UFMT (Universidade
Federal de Mato Grosso), universidade em que cursávamos Letras, e a
primeira pergunta dos colegas era: tem que ministrar aulas falando em
espanhol? E a resposta da coordenação era positiva, pois entende-se que as
aulas de LE devem ser ministradas em LE e não em Língua Materna. A
maioria não aceitava o convite, pois alegava não ter capacidade de falar
espanhol para ministrar as aulas, e isso me intrigava muito, pois estávamos
prestes a concluir a faculdade com um título que só teria validade no papel.
Desde então, comecei a me indagar onde estaria o problema. Convites
de trabalho como professora vieram depois da faculdade e em muitos
momentos convidei alguns ex-colegas de turma para também ministrar aulas,
porém o problema era o mesmo, a dificuldade e insegurança que sentiam no
uso da língua de forma oral. Cada vez mais ficava tentando entender o que
acontecia, e me questionava sobre o tipo de formação que recebemos, e sobre
a realização de cursos paralelos como uma possível solução.
Questionava-me, ao mesmo tempo, sobre o papel da universidade que
deveria realmente formar profissionais aptos a exercerem sua profissão com
segurança sem que estes, obrigatoriamente, tivessem que buscar outros
centros de ensino. Percebi que fazer um curso de idiomas, no caso dos
13
estudantes de Letras, era uma necessidade óbvia, pois aqueles que aprendiam
somente na universidade deixavam claro que não sabiam usar a língua
estrangeira com segurança.
As inquietações só aumentaram quando comecei a ter mais contato com
professores de Língua Espanhola (E/LE) através do meu trabalho como
formadora do Cefapro (Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da
Educação Básica) em 2009. Meu trabalho era o de ministrar cursos de
Formação Continuada (FC) para os profissionais de E/LE e, a cada encontro,
eu via e escutava os mesmos problemas quanto à dificuldade em falar a língua
que ensinam, e eles confessavam ministrar aula em português o tempo todo,
pois não se sentiam seguros no uso da LE.
A preocupação com o nível de proficiência destes professores se torna
ainda maior quando se trata da obrigatoriedade da oferta de língua espanhola
nas escolas de nível médio a partir de 2010, através da lei 11.161/2005, pois a
quantidade de profissionais que Mato Grosso precisa para completar o quadro
é grande.
Diante desta situação, comecei a atribuir essas dificuldades à forma de
ingresso do estudante no curso de Letras e ao currículo.
Ao ingresso pelo fato de não existir pré-requisito do conhecimento da LE
para entrar no curso de Letras. O pressuposto é que a LE seja ensinada pela
universidade desde o conhecimento básico até um nível de uso da mesma
compatível com o domínio que um professor deve ter, mas o curso tem
demonstrado um compromisso com essa sua responsabilidade aquém das
expectativas que cria, já que o currículo não demonstra contemplá-las.
Ao currículo pela necessidade que esse tem de apresentar
conhecimentos de LE que se adequem com a contemporaneidade. Ao que se
tem observado, isso não tem acontecido em sua totalidade.
Esta adequação torna-se necessária para que o ensino de LE tenha
razão de existir para os fins dos dias atuais em que condições de diversas
ordens o atravessam. Essas condições justificam o ensino de LE hoje, são
elas:
a) condições sociais: maior possibilidade de contato com as Línguas
Estrangeiras e incentivo à sua aprendizagem;
14
b) condições econômicas: que facilitam as possibilidades de
deslocamento;
c) condições políticas: das quais decorre o aumento exponencial das
trocas integracionistas entre países e
d) condições tecnoculturais pela via das redes sociais: a sua
massificação de uso e a internet como um todo, possibilitando a interação entre
pessoas de nacionalidades e línguas diferentes.
Assim, com um currículo atrelado a essas condições, professores se
formarão aptos a ensinar a LE dentro da realidade atual buscando
contextualizar o ensino.
Quanto aos aspectos contextuais aos quais tenho referido, a Análise do
Discurso (AD), escola teóricaem que este trabalho está inscrito e que no
capítulo seguinte será explicitada, atribui grande importância à consideração
deles, pois são eles que propiciam comportamentos, principalmente através da
linguagem verbal. Trata-se das condições de produção que emolduram a
prática social, as relações entre os membros de um grupo social, os moradores
de uma localidade ou os habitantes de um país em função de suas
necessidades. A necessidade aqui focada é o conhecimento adequado de uma
Língua Estrangeira.
De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Básica do
Estado de Mato Grosso - OCEM-MT (MATO GROSSO, 2009), mudanças vêm
acontecendo na abordagem de ensino que, em consequência da cultura de
ensinar da escola, antes se limitava a decorar e reproduzir palavras e frases
através da escrita. Agora, procura-se desenvolver principalmente a expressão
oral, dado que o ensino de toda língua natural se dá em função da interação
social, além de cuidar da remissão constante a vivências do quotidiano ligando
a teoria à prática como estratégia didática. Segundo as OCEM-MT (MATO
GROSSO, 2009, p. 51) “[...] ensinar é um exercício teórico-prático que, na
contemporaneidade, perde a legitimidade se não for ligado à realidade”.
E será que o currículo do curso de Letras está pronto e adaptado a
essas mudanças? Se o currículo do curso de Letras não estiver focado na
abordagem enunciativo-discursiva, que considera o discurso uma prática social
e uma forma de interação na qual a relação interpessoal, o contexto de
produção dos textos, as diferentes situações de interação verbal, os gêneros, a
15
interpretação e a produção de efeitos de sentido no interlocutor são
indissociáveis, resultará em uma formação deficiente que se reflete na prática
destes professores que reproduzem nos alunos as mesmas dificuldades. E se
o currículo não se fundamentar na abordagem enunciativo-discursiva, estarão,
então, desconsiderando as OCEM-MT (MATO GROSSO, 2009), que
sustentam a necessidade do ensino dentro desta abordagem. A abordagem
enunciativo-discursiva será tratada em seus pormenores na explicitação das
ferramentas teóricas com que serão operadas nesta pesquisa.
Flores (2010, p. 5), ao falar desta abordagem no ensino de E/LE no
estado de Mato Grosso, afirma que um dos objetivos deve ser:
Ensinar a língua em função do seu uso prático na oralidade e na escrita em busca de um nível de proficiência que torne possível a interação com indivíduos que têm essa língua como materna, o que envolve um certo e extenso espaço de tempo. (FLORES, 2010, p. 5)
Assim também, Flores (2009, p. 218) afirma que a escola tem a escrita
por vocação e as Línguas Estrangeiras eram ensinadas em função da
compreensão da escrita. A prática da oralidade vem sendo esquecida nas
escolas, pois as poucas aulas, o pouco tempo de cada aula e o número grande
de alunos em sala dificultam essa prática nas escolas.
Ainda que esses problemas se resolvessem com uma nova organização
do currículo escolar, ainda permaneceria o maior deles, a baixa proficiência de
produção enunciativa dos professores. Trata-se, como observamos, da
prevalência de professores mal preparados e, consequentemente, de alunos
com baixo rendimento como explica Almeida Filho (1992), estudioso da
Linguística Aplicada:
O ciclo vicioso que se auto abastece na formação insuficiente do professor na universidade, que engrossa a debilidade escolar do alunado e que por fim volta a alimentar a universidade precisa ser substituído por um ciclo virtuoso novo. (ALMEIDA FILHO, 1992, p. 78).
Cursar o Mestrado em Linguagem foi o caminho encontrado para que
essas inquietações pudessem ser amenizadas ou sanadas, através de estudos
e pesquisas que me trouxessem subsídios para entender melhor, e até mesmo
16
sugerir propostas para o problema posto. As disciplinas que cursei contribuíram
bastante para o estudo e elaboração desta dissertação, pois trouxeram o
arcabouço teórico e reflexões que antes eram desconhecidas por mim, e pude
entrar em contato, entender e aprofundar os conhecimentos de Análise do
Discurso (doravante AD). As disciplinas que influenciaram diretamente nesta
pesquisa foram a de Formação de Professores de Língua estrangeira,
Linguística Aplicada e Análise do Discurso.
Todos esses estudos proporcionados pelo Mestrado em Linguagem
ajudarão na confirmação, ou não, da hipótese que será apresentada, bem
como no desenvolvimento dos objetivos desta pesquisa.
HIPÓTESE
Aventuro-me aqui a esboçar uma hipótese a partir de explicações que
tenho tecido para as situações que venho referindo: diversos fatores dentro da
Formação Inicial1 contribuem para a baixa proficiência oral destes profissionais,
a começar pela quantidade de aulas semanais na LE, passando pelo foco do
ensino que se aplica mais diretamente à gramática e pouco na prática oral, a
oralidade adequada à abordagem enunciativo-discursiva, a carga horária
aplicada em outras disciplinas menos relevantes e em alguns casos o baixo
nível de produção discursiva dos próprios professores.
PERGUNTAS DE PESQUISA E OBJETIVOS
Ao me indagar sobre o nível de proficiência enunciativo-discursiva oral
dos professores de E/LE, como me referi anteriormente, dúvidas e
questionamentos surgiam e a partir deles foram organizadas as perguntas de
pesquisa que apresento a seguir:
a) o que leva os professores de E/LE a apresentarem insuficiências na
sua produção enunciativa, principalmente oral?
b) de que forma o currículo do curso de Letras tem se organizado para
atender as necessidades contemporâneas?
c) dada a impossibilidade de intervir na concepção e organização do
currículo do curso de Letras, o que pode ser feito para tentar reverter o que se
1Termo usado como graduação.
17
revela como insuficiências nas capacidades dos professores recém-formados
provindos desse curso e os já atuantes?
Estas perguntas serão respondidas através do desenvolvimento dos
seguintes objetivos:
a) investigar as dificuldades de produção enunciativo-discursiva oral
que apresenta alto número de professores de Língua Espanhola;
b) examinar o currículo do curso de Letras da UFMT visando detectar
os possíveis problemas, em sua organização e concepção, que levam a
formação de professores com baixo nível de proficiência oral;
c) apresentar propostas, a fim de contribuir para a reflexão e prática dos
professores de E/LE, organizando um curso de Formação Continuada com
ênfase na produção enunciativo-discursiva oral em Língua Espanhola.
METODOLOGIA DE PESQUISA
Para que os objetivos sejam alcançados se faz necessária uma
metodologia.
Mas antes, uma explicação sobre a escolha da universidade, a UFMT. A
escolha por esta universidade se deu pelo fato de ser nela que cursei minha
graduação, especialização e curso de extensão; que ministrei aulas no curso
de extensão, graduação e faço o Mestrado em Linguagem, o que me traz mais
certeza e segurança no desenvolvimento desta pesquisa.
A pesquisa é de cunho qualitativo, pois tem como característicaso
contato direto do pesquisador com seu objeto de estudo e a busca da
compreensão de fenômenos a partir da interpretação do pesquisador sobre os
fenômenos estudados (NEVES, 1996) e abordados enquanto processo.
Por ser o discurso uma construção social, não individual, e que só pode
ser analisado considerando seu contexto histórico-social, realizarei a pesquisa
observando as condições de produção do currículo e dos discursos dos
professores entrevistados, além de considerar as ideologias presentes no
currículo analisado com base em Althusser (1973).
A pesquisa está organizada em três capítulos. No Capítulo I, tratarei do
arcabouço teórico em que me inscrevo através das ferramentas que serão
postas para operar no processo de pesquisa e problematizações da linguagem,
do ensino de LE e de E/LE.
18
Sendo a AD a fonte teórica da abordagem enunciativo-discursiva,
autores como Pêcheux (1997), Althusser (1973), Authier-Revuz (1998),
Orlandi(1987, 1996, 2005, 2006), Serrani-Infante (1997), Coracini (2005),
Bolognini (2001), Grigoleto (2007) e Flores (2006, 2009, 2010, 2011), dentre
outros, se constituirão como referência teórica principal dessa abordagem.
Porém, autores não inscritos na AD, como alguns pertencentes à teoria crítica
do currículo, ou abordagens críticas da linguagem, participarão também da
base referencial deste trabalho.
No Capítulo II, será tratado de forma sucinta, como se deu e como se
dão os cursos de Letras no Brasil. Em seguida, será realizado um breve
panorama sobre a Língua Espanhola no estado de Mato Grosso, focando seu
início, sua implantação, suas dificuldades e a situação atual. Estudos sobre
currículo estarão presentes neste capítulo, a fim de trazer a discussão sua
organização e de como afeta diretamente o ensino/aprendizagem. Por fim,
tratarei da Formação Inicial e Continuada, a primeira será discutida juntamente
com a organização do currículo, e a segunda como um dos caminhos para a
adequação da produção enunciativa oral dos professores de E/LE.
O Capítulo III apresenta a análise dos dados. Primeiramente, sobre o
curso de Letras com formação em E/LE na UFMT, em seguida a análise
curricular, apresentando o perfil do currículo analisado da UFMT, os resultados
obtidos e comentários dos questionários que serão aplicados a cinco
professores de E/LE de Mato Grosso, finalizando com uma proposta de
Formação Continuada através da organização de um curso.
A aplicação de mudanças na Formação Continuada de professores
parece ser a forma mais coerente para tentar amenizar as deficiências trazidas
pela Formação Inicial. Sabemos que o ideal seriam alterações no currículo da
graduação, porém dada a impossibilidade de realizarmos tais mudanças, essa
questão ficará apenas para reflexão no momento.
19
CAPÍTULO 1
Conceitos chave
1.1 Conceitos da AD que norteiam esta pesquisa
[...] a importância, para a AD, de não fazer uma análise textual do texto, e sim uma análise discursiva, o que, entre outras coisas, exige esta especificação sobre o tempo histórico de cada uma das ocorrências de cada enunciado ou grupos de enunciados. (POSSENTI, 2006, p. 98).
Possenti (2006) em sua colocação acima, já nos dá pistas do que será
exposto neste capítulo. Ele se remete a alguns conceitos como os de análise
discursiva, enunciado e historicidade. Antes, será abordada a AD e suas
preocupações de análise para, então, as contribuições desta inscrição teórica
para esta pesquisa.
A AD é um campo da linguística focado na análise dos mecanismos
ideológicos em funcionamento num texto, e tem como objeto de pesquisa a
relação dialética entre produção linguística e ideologia que, juntamente com
outros aspectos, constituem o que esta disciplina considera discurso.
O surgimento da AD se deu em 1969 com Michel Pêcheux que se
preocupou com a questão da prática elitizada e isolada das ciências humanas
da época. Suas reflexões versam sobre a história das ciências humanas, o
papel da Linguística, suas crises, conquistas e contribuições que a ciência da
linguagem traz ao campo da Análise do Discurso. Fundamenta toda sua obra
no que chama de “a tripla entente” --Saussure- Marx- Freud-- Linguística-
materialismo histórico e psicanálise. (GUERRA, 2003).
Segundo Brandão (2004), Pêcheux, um dos estudiosos mais profícuos
da AD, recorre a Althusser para compreender a ideologia e a Foucault para
compreender o discurso.
O discurso resulta das relações entre os sujeitos na vida em sociedade.
Estas acontecem em consequência da busca de melhores condições materiais
de existência dentro de um contexto histórico determinado, assim temos uma
abordagem explicativa do funcionamento da linguagem embasada pelo
materialismo histórico de Marx (1848 apud MARTINS, 2008, p.25) e definindo a
20
linguagem a partir do conceito de prática social. Pêcheux (1997) concebe o
discurso na sua relação constitutiva com a história e a prática social,
considerando a ideologia em relação dialética com essa prática como geradora
e resultante.
Para Maingueneau (2007), o discurso na AD é “[...] uma dispersão de
textos cujo modo da inscrição histórica permite definir como um espaço de
regularidades enunciativas”. Orlandi (2005, p.15-16) define o discurso como
“[...] palavra em movimento, prática de linguagem (...) um objeto sócio histórico
em que o linguístico intervém como pressuposto”. O discurso, segundo Orlandi
(1987), é efeito de sentidos entre locutores, enquanto parte do funcionamento
social geral.
Assim, a prática discursiva precisa de contextualização histórica para
ganhar a inteligibilidade que possibilita que o processo interpretativo aconteça.
Discurso não é texto. Essas palavras-conceito não se relacionam por
equivalência, são conceitos distintos: texto é conceito apenas metodológico e
discurso é conceito teórico e metodológico. (ORLANDI, 1987).
O que é mais enfatizado quando os estudiosos citados acima explicam o
discurso é a sua constituição histórica. Isto resulta da consideração das
vivências do sujeito e dos discursos que o constituem como sujeito da
linguagem. O discurso, segundo Orlandi (1987), é o lugar onde se encontram a
história e a ideologia.
Orlandi (1987) também define interdiscurso como os diversos discursos
que constituem e atravessam as possibilidades enunciativas - não se constrói
de maneira regulada, mas decorre da prática social. Ele é processual e nunca
fechado, dado que resulta da dinâmica da sociedade que é constituída de
múltiplos entrecruzamentos. Assim, a trama interdiscursiva remete a discursos,
referências e explicações do comportamento.
É nesse ponto que se torna possível observar que os discursos
presentes nos currículos dos cursos de Letras são produtos de vários outros
discursos que os perpassam. Discursos de documentos como os PCN
(Parâmetros Curriculares Nacionais), as OCEM (Orientações Curriculares para
o Ensino Médio) e outros que circulam nas escolas. Além disso, os currículos
não são constituídos em si mesmos, são provenientes de outros que servem
como norteadores.
21
É necessário salientar que um dos elementos básicos do discurso e,
consequentemente, da AD, são as condições de produção, elas o caracterizam
e o constituem. As condições de produção determinam o caráter do discurso,
pois ele é produzido em um tempo histórico e em um espaço social que
determinam como, para quem e/ou para que ele foi produzido.
O contexto atual das assunções do ensino de LE e de como o ensino
vem sendo construído historicamente nas universidades,o que chamamos na
ADde condições de produção, determinam o caráter dos discursos presentes
tanto nos currículos como nos sujeitos que estão ligados a ele.
A organização dos currículos nos cursos de Letras não vem atendendo
ao ensino de LE naquilo que as demandas atuais exigem, talvez por serem os
currículos constituídos de discursos que os diminuem diante das necessidades
contemporâneas. Afinal, é na escola que vemos o reflexo deste caráter
reducionista impingido às LE nas instituições de ensino. De acordo com Flores
(2009),
Quando os objetivos se obscurecem ou se nublam sendo confundidos com os meios, a ponto de não serem mencionados como tais, emerge a origem das incongruências, cujos efeitos visíveis são o divórcio entre as necessidades sociais e o trabalho da escola materializado no estudante. (FLORES, 2009, p. 217).
Flores (2009) afirma ainda que a forma como o ensino vem sendo
organizado através dos currículostem produzido um efeito inusitado: o currículo
tem se sobreposto aos objetivos, referência sinequa non da educação, a tal
ponto que a sua relevância tem se diluído a até desaparecer das pautas de
análises propositivas da educação.
Podemos afirmar que o discurso se materializa no enunciado e o
enunciado não pode e não deve ser analisado como uma frase. Ele é diferente
em sua forma. Foucault (2008) diferencia frase e enunciado exemplificando
com as formas verbais. No contexto brasileiro, se apresentadas em uma
gramática de língua portuguesa, por exemplo, em forma de uma lista dispostas
em coluna as palavras –amo, amas, ama-, não as classificaríamos como uma
frase, porém podemos dizer que há um enunciado de diferentes flexões
pessoais do indicativo do presente do verbo amar. O enunciado tem sempre
que apresentar um nexo. O enunciado é
22
[...] uma função que cruza um domínio de estrutura e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço. (FOUCAULT, 2008, p. 98).
Para considerarmos uma frase correta, interpretável ou aceitável, é
necessária a existência do enunciado. O enunciado, diferente da frase, estará
sempre supondo outros, não há um que não tenha um campo de coexistências,
efeitos, sucessões em torno de si.
A partir da compreensão do enunciado, passamos a uma instância
maior, a enunciação. Ela pode ter diferentes interpretações em diferentes
autores. Segundo Deusdará (2006), é preciso observar que a enunciação varia
de uma concepção linguística a outra discursiva. Do ponto de vista linguístico é
“[...] conjunto de atos que o sujeito falante efetua para construir no enunciado,
um conjunto de representações comunicáveis.” (CHARAUDEAU;
MAINGUENEAU, 2005, p.194 apud DEUSDARÁ, 2006).
E ainda, segundo Mussalim (2003), a enunciação pode ser concebida
como dêixis linguísticaque tem a função de pôr em funcionamento o enunciado
às circunstâncias e aos interlocutores. Sendo assim, o tempo é visto como
cronológico e o lugar em que fala o locutor é o lugar físico.
Na dêixis discursiva, o tempo e o espaço são ideológicos. Os locutores e
interlocutores são analisados em posições de formações discursivas, o tempo é
definido a partir de uma “concepção” ideológica e o lugar é definido
discursivamente (MUSSALIM, 2003, p. 375).
No arcabouço discursivo, a enunciação é compreendida como
acontecimento que articula intrinsicamente práticas de linguagem e produção
do social ancorada num dado contexto. Segundo Guimarães (1989, p.78), a
enunciação é compreendida como acontecimento sócio-histórico de produção
do enunciado. Por outro lado, Pêcheux (1997) afirma que a enunciação refere-
se às condições de produção do discurso, incluindo o sujeito e a ideologia.
Como o discurso se dá em um tempo determinado pela história, a
análise enunciativa não poderia ser outra coisa que uma análise histórica que
se preocupa em saber de que modo existem as coisas ditas. A análise
enunciativa só se refere às coisas ditas, às frases que foram pronunciadas ou
escritas e a elementos significantes que foram traçados ou articulados.
23
O dito na enunciação é trabalhado a partir da ilusão de que estamos no
controle total do que dizemos. Sãoos esquecimentos 1 e 2 de que tratam
Pêcheux e Fuchs (1997) e serão abordados mais adiantee que, por isso,
podemos selecionar e excluir conscientemente o nosso discurso. Na realidade
é esse o esforço que se faz, mas o inconsciente interfere sempre que há
trabalho com a linguagem.
Desta forma, observaremos a causa de os discursos presentes nos
currículos não atenderem ao que elesse propõem que é a formação de
professores com produção enunciativa adequada.
1.1.1 Abordagem enunciativo-discursiva
Os termos “enunciativo-discursivo” e “produção enunciativa oral”
permearão toda essa pesquisa, tornando assim, necessária uma explicação
sobre o que significam e como estarão sendo aplicados.
A “produção enunciativa oral” é uma das materializaçõesda “abordagem
enunciativo-discursiva”. A produção enunciativa, dado que se trata de um modo
de trabalho com a linguagem, também se dá no campo na escrita. O foco
dessa pesquisa é a oralidade que consiste na textualização do dizer, o que
envolve os interlocutores, o objeto do discurso e o contexto mediato e imediato
para significar, no qual formações imaginárias de Pêcheux e Fuchs (1997)
tornam-se perceptíveis.
As formações imaginárias se manifestam, no processo discursivo, através da antecipação, das relações de força e de sentido. Na antecipação, o emissor projeta uma representação imaginária do receptor e, a partir dela, estabelece suas estratégias discursivas. (FERREIRA, 2001).
A produção enunciativo-discursiva oral extrapola o ato de oralizar por
oralizar apenas como treino behaviorista ou como prática dentro da abordagem
comunicativa. Ela se insere nos conceitos de enunciação, de discurso.
Saussure (2006) explica que a língua é um sistema de signos
linguísticos, na qual o indivíduo não interfere, somente reproduz e que a fala é
a utilização da língua de forma individualizada. Para o autor, uma complementa
a outra, língua e fala, porém não podem se reunir sob o mesmo ponto de vista,
pois são interdependentes (BARBISAN; FLORES, 2008).
24
A partir dos estudos estruturalistas de Saussure, Benveniste parte do
princípio estrutural da língua, mas avança quando valoriza nela não só forma,
mas sentido. Segundo Barbisan (2006),
[...] forma e sentido não se excluem, embora sejam duas linguísticas distintas, em que uma se ocupa dos signos formais, estudados por meio de uma metodologia rigorosa, e a outra se interessa pela utilização da língua em seu uso. (BARBISAN, 2006, p. 4)
A enunciação ganha espaço e é a língua o instrumento que o locutor
utiliza para enunciar, para produzir frases que afetadas pela semântica
produzem discurso. É através do processo de produção de enunciados que a
língua se converte em discurso. Discurso é a manifestação da língua em uso.
(BARBISAN, 2006).
Ainda Benveniste (1974), afirma que o locutor se apropria do aparelho
formal da língua e se enuncia. Nesse ato ele implanta o outro, o alocutário2
diante de si. A língua passa a ter a interação entre sujeitos, começa-se a
pensar na língua dialógica que Bakthin reformula.
Para Bakhtin (apud SOUZA, 2011), o sujeito se constitui ouvindo e
assimilando as palavras e os discursos do outro, ele está imbricado em seu
meio social. Todo discurso se constitui de uma fronteira do que é seu e daquilo
que é do outro. Esse princípio é denominado dialogismo.
A abordagem enunciativo-discursiva fundamenta-se, como já referido,
na enunciação, no discurso e no caráter dialógico da língua. O termo escolhido,
enunciativo-discursiva, deve-se ao fato de que é pela enunciação que o locutor
produz discurso. Se há produção de discurso, há sujeitos e há dialogismo. É
nesse ponto, a do sujeito dialógico, que se firma a “produção enunciativa oral”
proposta como referência teórica que parte a abordagem que as OCEM-MT
(MATO GROSSO, 2009) propõem.
A produção enunciativa oral tem como ponto de partida uma concepção
de linguagem decorrente da prática social, na qual, o sujeito se expressa
tentando controlar o seu processo discursivo mediante a antecipação de
possíveis interpretações, nem sempre de modo bem sucedido, através do pré-
construído (Henry, 1975), das formações imaginárias (PÊCHEUX; FUCHS, 2Designa a pessoa a quem o locutor d ir ige um ato de fa la numa situação de
comunicação ora l.
25
1997), do interdiscurso que remete ao espaço discursivo o qual lhe é familiar
porque todos falamos a partir de um lugar enunciativo. Esse processo se dá
sempre na ilusão a qual a teoria dos esquecimentos (PÊCHEUX; FUCHS,
1997) já referida explica.
O nome dado a esta abordagem decorre de que o ensino público não se
filia às teorias da AD. As referências menos formalistas que os professores
possuem se remetem ao sócio-interacionismo, aos gêneros discursivos e à
produção textual via teoria bakhtiniana, o que evita resistências porque já
existe certa familiarização com esse fazer que através da abordagem proposta
não instaura novas ferramentas e conceitos.
Já desde as Orientações Curriculares para o Ensino Médio -OCEM
(BRASIL, 2006), vem sendo promovida a necessidade deste enfoque, não pelo
nome, mas pelo que torna possível: uma postura crítica no uso da linguagem
verbal.
1.1.2 Formação Discursiva, Ideologia e Formação Ideológica
No discurso, há a ilusão de o sujeito ser fonte de sentido, mas ela se
desfaz se atentarmos ao fato de que, para ter sentido, qualquer sequência
deve pertencer a uma Formação Discursiva (FD) que, por sua vez, faz parte de
uma Formação Ideológica determinada.
Formações discursivas são conjuntos de produções verbais que estão
ligados no nível dos enunciados e não no nível das frases (FOUCAULT, 2008).
As FDs existem a partir de enunciados que se equivalem, e buscam dar o
mesmo sentido a eles. Uma mesma palavra pode ter dois ou mais
significadosdiferentes quando analisados sob o aspecto de FDs. Partilhamos
desta concepção,e de outra muito próxima a ela, de autores como Serrani-
Infante (1997, p.3) que concebe as FDs como: “[...] condensações de
regularidades enunciativas no processo - constitutivamente heterogêneo e
contraditório - da produção de sentidos no e pelo discurso, em diferentes
domínios do saber [...]”,e Orlandi (1987) que afirma que o fato de pertencer a
outra FD muda o sentido de uma palavra. A autora completa exemplificando o
caso da palavra “necessidade” que no discurso do patrão e do empregado, por
exemplo, podem ter sentidos diferentesvisto que patrão e empregado
26
pertencem a FDs distintas. O sentido que uma mesma palavra passa a adquirir
depende das FDs em que os sujeitos estão inscritos (ORLANDI, 1987).
Este exemplo na organização educacional, no que se refere ao ensino
de LE, seria como dizer que o discurso que traz os documentos oficiais é bem
diferente do discurso apresentado na prática dos profissionais que se utilizam
destes documentos. O que está posto como teoria, na maioria das vezes, não é
possível se tornar prática, pois além das FDs distintas existem as Formações
Ideológicas.
A FD está diretamente ligada à historicidade do sujeito e às condições
de produção que são determinantes para dar os sentidos aos enunciados. O
conceito de Formação Discursiva é utilizado pela AD para designar o lugar
onde se articulam discurso e ideologia.
Foucault (2008) e Pechêux (1997) apresentam o termo Formação
Discursiva como discursos em formação, sempre em movimento, sem um início
definido nem um fim possível. Porém, para Pechêux (1969 apud ZANDWAIS,
2009, p. 29), as FDs existem historicamente no interior das classes sociais e
para Foucault (2008) as FDs são relacionadas com as formações sociais, sem
considerar a divisão de classes (CORACINI, 2005). Uma FD “[...] pode fornecer
elementos que se integram em novas FDs que se constituem no interior de
relações ideológicas (exterioridade constitutiva), que, por sua vez, põem em
jogo novas formações ideológicas”. (PECHÊUX, 1975, apud CORACINI, 2005,
p.36).
Foucault (1987 apud ZANDWAIS, 2009, p.3) acrescenta que a FD é
constituída por saberes dispersos em diferentes épocas e a investigação
acontece na emergência dos acontecimentos. Pêcheux (1997) afirma que essa
investigação é históricae que a FD está articulada a um determinado tipo de
subjetividade tomada da/na história além de estar articulada à Formação
Ideológica e às condições de produção. Para Pêcheux (1997), toda Formação
Discursiva depende das condições de produção.
O lugar que ocupa o sujeito é que determina o que ele pode e deve dizer
ou não dizer. Lugar aqui não no sentido de lugar físico, mas de lugar
ideológico, como já referido no início do capítulo. As condições de produção do
discurso também estão interligadas às relações de poder e de lugar ocupado
27
pelo sujeito do discurso e pelos interlocutores, o que leva a crença de que o
discurso remete à posição social do enunciador.
Nos documentos oficiais abordados por essa pesquisa será possível
observar a posição dos sujeitos em relação à inscrição dos discursos presentes
nos documentos oficiais. Isso será decisivo para compreendermos os efeitos
causados por eles na prática e no que pensam os professores de Língua
Espanhola. Portanto, é importante ressaltar que os enunciados mudam de
sentido segundo o lugar ideológico e as posições defendidas por quem os
empregam.
Maingueneau (1998, p. 68-9, apud LARA, 2008, p.113) postula que as
FDs são “[...] um sistema de regras que funda a unidade de um conjunto de
enunciados sócio historicamente circunscrito [...]”, e ele estuda as diferentes
Formações Discursivas que atravessam o discurso apreendendo-as na
interação, ou seja, através do ‘espaço discursivo’ em que elas seconstituem. É
na interação com o outro que a identidade discursiva é construída, a FD não é
um bloco compacto e fechado, mas se define a partir de uma incessante
relação entre si.
O funcionamento discursivo, explicado por Orlandi (1987), mostra as
marcas da ideologia presentes nas FD. Ela define o funcionamento discursivo
como uma atividade estruturante de um discurso determinado, por um falante e
para um interlocutor também determinados, com finalidades específicas
(ORLANDI, 1987, p.125). Quando acontece este funcionamento discursivo, na
relação entre os interlocutores estão em funcionamento aspectos da formação
ideológica em que estão inscritos.
A ideologia se materializa no discurso se tornando uma prática, um
mecanismo em funcionamento e não somente conteúdo. Isto porque, como
Pêcheux e Fuchs (1997) afirmam os processos discursivos não se originam no
sujeito, mas nele se realizam. Não há sujeito sem ideologia (ORLANDI, 2006).
Para tratarmos do conceito de ideologia, serão aqui apresentadas
algumas definições que contribuirão para esclarecer a concepção adotada
nesta pesquisa.
Althusser (1973) define ideologia como “[...] um sistema (que possui sua
lógica e rigor próprios) de representações (imagens, mitos, ideias ou conceitos)
dotado de uma existência e de um papel histórico em uma sociedade dada”.
28
Ele postula que as ideologias têm uma existência material, ou seja, devem ser
estudadas não como ideias, mas como um conjunto de práticas materiais que
reproduzem as relações de produção (MUSSALIM, 2003). Entende-se que na
constituição da ideologia são necessárias as condições de produção que
dependem das condições sócio-históricas. Condições de produção criam
condições para inscrever a história na ordem do discurso e o discurso no
campo da práxis de modo concreto (ZANDWAIS, 2009).
Sendo assim, é na observação da prática dos professores de LE que
aspectos ideológicos justificam esse seu fazer pedagógico inscrevendo-os em
espaços interpretativos sobre a linguagem, a LE que ensinam e sobre a sua
concepção de ensino. Dado o modo de funcionamento - oculto - da ideologia e
a sua função constitutiva do discurso, no fazer e dizer dos professores, a
ideologia que se manifesta é a que guiará para a explicação do estado dos
cursos de formação de professorese do desempenho desses profissionais
possibilitando a sugestão de propostas.
Pêcheux (1967 apud ZANDWAIS, 2009, p. 21) afirma que as ideologias
são produto da prática técnica, empírica, o “cimento” da sociedade, atuando
como condições indispensáveis à prática política. Ao introduzir o conceito de
Formação Discursiva, Pêcheux (1967 apud ZANDWAIS, 2009) confere à
ideologia não somente materialidades inscritas nas formações ideológicas, mas
também materialidades discursivastomadas na base linguística. Ele visualiza a
complementaridade da base linguística no processo discursivo porque vê o
discurso como espaço de materialização da ideologia.
Baseando-se nos estudos de Althusser (1973) sobre ideologia, Pêcheux
(1997) trata da formação ideológica como aquela que, no seio das formações
sociais, desempenha papéis desiguais que tanto podem pender para a
reprodução como para a transformação. Essa reprodução ou transformação
podem ser observadas no papel social do sujeito que será representado nos
Aparelhos Ideológicos de Estado, os quais serão tratados adiante.
Eagleton (1997) contraria o que afirma Pêcheux (1997) quanto à visão
“sociológica” de que a ideologia provê o “cimento” de uma formação social.
Segundo Pêcheux (1997), essa visão é muitas vezes despolitizadora e acaba
esvaziando o conceito de ideologia.
29
Quanto às formações ideológicas, recorremos ao que diz Pêcheux
(1997) para explicar sua constituição. Segundo ele, a formação ideológica se
dá pelo embate de forças em confronto na conjuntura característica de uma
dada formação social. É interessante ressaltar que as FIs comportam uma ou
várias formações discursivas que são mutáveis e instáveis.
Pêcheux (1997) estabelece alguns conceitos relevantes como os de
língua e discurso. Ele mostra que as materialidades destes conceitos são
distintas e, ao mesmo tempo, intercomplementares. A materialidade necessária
se dá na base linguística para a realização da ideologia, e os processos
discursivos se remeteriam aos lugares nos quais as ideologias funcionam a
partir das condições de produção produzindo efeitos de sentido.
No tocante à relação linguagem e ideologia, Orlandi (2006) explica que
[...] é necessário pensar a ideologia através da linguagem já que a materialidade da ideologia é o discurso e a materialidade do discurso é a língua [...] Não atravesso a linguagem para encontrar a ideologia, na linguagem a ideologia é. (ORLANDI, 2006, p. 3).
O discurso transpassa uma exterioridade da linguagem e abarca
elementos ideológicos e sociais. Compreendemos, portanto, que o discurso é a
materialização da linguagem e carrega consigo as manifestações ideológicas
de ordem sócio-histórica enunciadas pelos sujeitos do discurso, por isso
mesmo a AD se situa em três regiões do saber cientifico: a Linguística para
explicar os processos de enunciação; o Materialismo Histórico para explicar os
fenômenos sociais e o assujeitamento do sujeito pela ideologia e a Psicanálise
que explica a subjetividade e a relação do sujeito com o simbólico
(GUIMARÃES, 2003).
A linguagem é uma interposição necessária entre o homem e o seu
contexto mediato e imediato. Esta interposição é feita através do discurso, isto
é, pelas práticas discursivas nas quais o sujeito se insere, sendo capaz de
construir explicações do mundo, de transformar e de transformar-se.
Orlandi (2006) concebe ideologia não como “conteúdo”, mas como
prática do funcionamento discursivo e pensada através da linguagem. Também
como afirma Eagleton (1997), a ideologia não pode se esvaziar sendo
analisada somente no seu aspecto sociológico ou somente como ideia, mas
30
como um conjunto de práticas materiais que reproduzem as relações de
produção, assim como também afirma Althusser (1973).
Segundo Althusser (1973) essa reprodução das relações de produção
ocorrem dentro dos AIE (Aparelhos Ideológicos de Estado), ao qual está
inserido o sujeito que, por sua vez, é assujeitado, como explica a seguir.
1.1.3 Sujeito, assujeitamento e os Aparelhos Ideológicos de Estado
Os homens (no plural) concretos são necessariamente sujeitos (plural) na história, pois atuam na história enquanto sujeitos (no plural). Mas não há Sujeito (no singular) da história. Iria até mais longe: “os homens” não são sujeitos da história. (ALTHUSSER, 1973, p.67).
A citação de Althusser (1973) chama a atenção para dois pontos
fundamentais. O primeiro deles é quanto ao uso de “na” e “da” história.
Percebe-se que ele reforça desta forma que podemos atuar “na” história como
personagens ressaltando, portanto, a questão de pendermos para a
reprodução. O segundo ponto é o uso dos parênteses realçando “plural” e
“singular”. O autor diferencia desta forma os sujeitos do sujeito, sendo que este
último não poderá sozinho realizar transformação.
O sujeito é constituído a partir da história. Segundo Guimarães (1995), o
sujeito é que coloca a língua em movimento. A linguagem se realiza no sujeito
e ao passar de um sujeito a outro, de uma geração a outra, ela adquire caráter
histórico e constitui outros sujeitos a partir desta história. Sobre a constituição
do sujeito, Bolognini (2001, p. 99) afirma que “[...] o sujeito é constituído como
tal pela linguagem, pela linguagem de sua sociedade, de sua cultura, de sua
história, determinadas ideologicamente”.
De acordo com Orlandi (1996), o sujeito assume uma posição ideológica
no momento em que enuncia. Sua posição discursiva reflete, como já
dissemos, a Formação Discursiva em que está inscrito.
Para a AD, o sujeito é assujeitado à máquina discursiva, ou seja, às
condições de produção. A AD considera que os sujeitos só dizem aquilo que a
ideologia determina em conjunturas sócio-históricas. Portanto, o termo
assujeitado é usado pela AD para mostrar que o sujeito tem o seu inconsciente,
referido como “consciência”, “impregnado de signos ideológicos” (PÊCHEUX,
31
1986, p. 35, apud ZANDWAIS, 2009, p. 29) que adquirem forma e existência
nas relações sociais. O sujeito tem suas determinações culturais e históricas, é
constituído por discursos e possui um inconsciente que, segundo Grigoletto
(2007, p. 25), “[...] faz com que desconheça a si mesmo, como revelou Freud”.
O sujeito é uma representação, uma auto-representação a partir de
como ele percebe que é visto pelo Outro. Trata-se, por isso, de um efeito do
Outro. O sujeito “assujeitado” tem sua identidade construída através do
discurso do Outro. É isso que faz com que seja pesquisado, pois passaremos a
observar como foram e como são “formados” os professores que já atuam e
aqueles que se formarão; pesquisaremos como se configura o discurso deles
próprios e, em especial, o discurso dos currículos.
De antemão, já é sabido que entre pessoas vinculadas à formação de
professores e ao ensino de Língua Estrangeira está instaurado um discurso
que sustenta que a LE tem um espaço muito pequeno dentro da escola e que
por isso a formação em LE pode ser feita com menos intensidade e menos
ênfase na oralidade, pois o tempo em sala é curto e dificilmente os alunos
aprenderão a falar. Esse discurso imobilista, que desconsidera as demandas
sociais da atualidade, argumenta também que esse professor não precisa ter
uma produção enunciativa altamente proficiente.
Discursos como esses que afirmam que não se aprende LE na escola,
que o professor não precisa utilizar a oralidade em LE com os alunos e de que
ele nem precisa ser proficiente, nos mostram que seu discurso é carregado de
outros confirmando que ele não o produziu sozinho. Quando quem diz “eu falo”,
não é ele e sim uma instituição, uma teoria, uma ideologia, ele não é fonte do
seu próprio discurso.
Segundo Eagleton (1997, p. 194) “[...] esses sujeitos são sempre
constituídos conflitiva e precariamente, e, embora a ideologia seja “[...]
centrada no sujeito”, não é redutível à questão da subjetividade”.
A explicação de Althusser (1973) contribui para sustentar como é que o
ideológico, que está no patamar do imaginário, configura o dizer. Althusser
(1973) afirma que a ideologia é um sistema de representações que, na maior
parte do tempo, não tem a ver com a “consciência”, mas são imagens e
conceitos que se impõem como estruturas à maioria dos homens sem que se
passe por suas consciências.
32
Assim, quando se trata da autoria dos discursos, sobre de quem é a fala,
no primeiro momento temos a concepção de que ela pertence ao sujeito, de
que é opinião do próprio autor, porém não é essa a concepção da AD.
Observa-se que os discursos que giram em torno da LE proferidos pelos
professoressão discursos que começaram a produzir efeitos carregados pelos
sujeitos enquanto alunos de escola básica que mais tarde seriam alunos de
graduação e, por fim, profissionais, confirmando que o processo da construção
do discurso é também histórica.
Os “esquecimentos” dos quais Pêcheux e Fuchs (1997) tratam nos
auxiliam a compreender as ilusões que perpassam o sujeito. Nas palavras de
Mussalim (2003),
O sujeito se ilude duplamente: a) por “esquecer-se” de que ele mesmo é assujeitado pela formação discursiva em que está inserido ao enunciar (esquecimento n. 1); b) por crer que tem plena consciência do que diz e que por isso pode controlar os sentidos de seu discurso (esquecimento n. 2). (MUSSALIN, 2003, p.135).
O sujeito tem a impressão que é senhor da sua própria vontade, porém
esses esquecimentos mostram o assujeitamento ideológico que o leva a
ocupar seu lugar dentro de um grupo ou classe de uma determinada formação
social. Ele não é livre para dizer o que quer, mas ele enuncia somente aquilo
que se pode dizer dentro do determinado lugar ocupado socialmente por ele, o
lugar onde é impossível que a ideologia esteja ausente.
[...] o sujeito do discurso não poderia ser considerado como aquele que decide sobre os sentidos e as possibilidades enunciativas do próprio discurso, mas como aquele que ocupa um lugar social e a partir dele enuncia, sempre inserido no processo histórico que lhe permite determinadas inserções e não outras. (MUSALIM, 2003, p.111)
Vemos que nos documentos oficiais, como os Currículos, PCN, OCEM-
MT, OCEM e outros, os discursos são claramente colocados de acordo com o
lugar social a que eles pertencem. Tais documentos vêm de uma posição
social “acima” da posição dos professores, ainda que, antes que esses
documentos sejam legitimados, passem pela avaliação dos docentes. Essa
avaliação tem sua contribuição, mas não tem o poder de alterar questões que
estão no cerne da organização imposta pelo Estado através da sua
33
aparelhagem (ALTHUSSER, 1973). É importante, por isso, tratarmos das
posições que ocupam os sujeitos no discurso, pois isso nos ajuda a entender
como esses discursos se estabelecem e se fortalecem.
Os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), termo criado como
ferramenta de análise por Althusser (1973), estão diretamente ligados ao
contexto relacionado acima. Os AIE são configurados por Pêcheux (1967 apud
ZANDWAIS, 2009, p. 32) como “palcos” tanto para a perpetuação das relações
de produção, como para as relações de transformação das formações
ideológicas e das formações discursivas (ZANDWAIS, 2009).
O Estado para Althusser (1973), é como um aparelho de repressão que
age pela “violência” e cuja ação é complementada pelos AIEs que agem pela
ideologia (MUSSALIM, 2003).
[...] Althusser afirma que, para manter sua dominação, a classe dominante gera mecanismo de perpetuação ou de reprodução das condições materiais, ideológicas e políticas de exploração. É ai então que entra o papel do Estado que, através de seus Aparelhos Repressores – ARE – (compreendendo o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões et.) e Aparelhos Ideológicos – AIE – (compreendendo instituições tais como: a religião, a escola, a família, o direito, a política, o sindicato, a cultura, a informação), intervém ou pela repressão ou pela ideologia, tentando forçar a classe dominada a submeter-se às relações e condições de exploração. (BRANDÃO, 2004, p. 23).
Os AIE são concebidos e agem através da sua manifestação prática,
incluindo as práticas discursivas. E é nas práticas discursivas que a ideologia
se materializa. Dentre os AIE, interessa-nos a escola, entendida aqui como
universidade, o “palco” das representações ideológicas provenientes dos
documentos oficiais que regem a educação. Veremos nesse “palco” como são
concebidos os currículos, a afinação do discurso nele apresentado com o
discurso do Estado, e qual o resultado disso na prática, além de vermos como
está aliada à realidade e às exigências atuais neste documento e se ele
consegue atender a realidade atual tanto de professores, como de conteúdos,
métodos e organização escolar.
As condições institucionais são as que determinarão o que deve ou não
ser ensinado aos professores, o que deve ou não ser enfatizado, e muitas
34
vezes se dá pouca atenção ao que seria natural e prioritário no uso da
linguagem: a produção enunciativa oral dos futuros profissionais.
Na busca de uma proposta de Formação Continuada, a fim de reduzir as
dificuldades enunciativo-discursivas oral dos professores de LE, as ferramentas
da AD que foram aqui tratadasservirão como norteadoras para esse fim.
Porém, algumas serão mais enfatizadas devido a sua aplicabilidade direta nas
análises: Formações Discursivas, condições de produção e ideologia.
35
CAPÍTULO 2
Subsídios da pesquisa
2.1 O curso de Letras no Brasil: conhecer a história para entender a
atualidade.
Toda educação atuante e racionalmente exercida mantém com a sociedade a que serve uma relação dialética de concordância e assimilação, de crítica e de superação. Assim, a educação pode atuar também como motor do processo social, e o projeto educativo deve ser concebido em vista da realização de uma sociedade mais conforme às exigências de atualização da pessoa humana. (BOSI, 1992, p. 318).
É fundamental conhecermos mais o percurso histórico dos cursos de
Letras brasileiros para entendermos a estrutura atual dos currículos e, assim,
prosseguirmos com as análises.
É importante saber em quais condições de produçãoo processo
histórico, em todo seu percurso, se insere. Em relação ao curso de Letras no
Brasil, não é diferente. O período em que começaram as implantações dos
cursos foi o de 1934, momento em que o Brasil aprovou a nova constituição.
Ela previa transformações no campo trabalhista, econômico, político, da saúde
e educacional. Segundo Sousa (2009)
No campo educacional, o governo incentivou o desenvolvimento do ensino superior e médio. O maior objetivo era formar futuras gerações preparadas para assumir postos de trabalhos gerados com os avanços pretendidos no setor econômico. (SOUSA, 2009, p. 2)
Segundo Romanelli (2005), o Decreto de nº 19.851 de 11 de abril de
1931, que instituiu o regime universitário no Brasil estipulava a obrigatoriedade
de pelo menos três dos seguintes cursos para a constituição de uma
universidade: Direito, Medicina, Engenharia e Educação, Ciências e Letras.
Naquele momento,essas eram as carreiras consideradas de prestígio. No caso
de Letras, aquele que tinha o conhecimento das culturas e línguas,
principalmente do latim e do grego, assumia um status superior dentro da
sociedade.
36
A Universidade de São Paulo (USP) foi a primeira a passar de faculdade
para universidade, criando em 1934, a Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, pelo Decreto Estadual 6.283 de 25 de janeiro de 1934. Até então
existiam apenas os colégios dos padres jesuítas e os estudos menores das
Letras Humanas (gramática, retórica, poesia), Latim, Grego e Hebraico, com
predominância do Latim como língua da cultura intelectual, estudos que podiam
ser continuados na Universidade de Coimbra. O primeiro Bacharelado em
Letras no país foi criado em 1837, no Colégio Pedro II. (FIALHO; FIDELES,
2008).
No início dos cursos de Letras nas universidades, eram realizados três
anos de Bacharelado e um ano suplementar de “Didática” para a Licenciatura.
Entendemos que a preocupação maior neste momento do curso não era formar
professores realmente preparados para lecionar, mas fazer com que os
graduados tivessem conhecimento sobre a língua e a literatura conquistando
um lugar de prestígio na sociedade.
Os cursos de Letras tinham o papel de preparar intelectuais para o
exercício das altas atividades culturais, de preparar candidatos ao magistério
do ensino secundário, normal e superior além de realizar pesquisa nos vários
domínios da língua-cultura.
A cultura quando se fala da universidade é a definida por Bosi (1992).
Se pelo termo cultura entendemos uma herança de valores e objetos compartilhada por um grupo humano relativamente coeso, poderíamos falar em uma cultura erudita brasileira, centralizada no sistema educacional (e principalmente nas universidades), e uma cultura popular, basicamente iletrada, que corresponde aos mores materiais e simbólicos do homem rústico, sertanejo ou interiorano, e do homem pobre suburbano ainda não de todo assimilado pelas estruturas simbólicas da cidade moderna”. (BOSI, 1992, p. 309).
É essa cultura, a erudita, que era a de prestígio, portanto, o curso de
Letras se inseria nela, pois o letrado era o que tinha o conhecimento de línguas
consideradas de prestígio na cultura erudita, conhecimento que poucos da
época tinham. Por isso o status do curso representava, além de conhecimento
superior, também poder.
Voltando à história e à organização do curso de Letras, existiam três
modalidades das quais provinham os professores de línguas, que eram: Letras
37
Clássicas, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas – incluindo-se na
primeira o Português como objeto de habilitação específica. Os currículos
passaram a ser os mesmos em todo o país, a fim de seguir o modelo da
Faculdade Nacional.
Em 1962, a Universidade de Brasília (UNB) também ofertou Letras. Para
a realização do curso na USP e na UNB, foram convidados especialistas do
exterior para dar início ao ensino superior.
Segundo Paiva (2005), a primeira proposta de currículo mínimo para os
cursos de Letras foi aprovada em 19 de outubro de 1962. Ela abrangia
conjuntos de Línguas Neolatinas e incluía a aprendizagem de cinco línguas e
suas respectivas literaturas. Eram currículos densos e que deixavam dúvidas
sobre os seus resultados.
Hoje a formação pode ser dupla, no caso, a língua materna e uma língua
estrangeira e suas respectivas literaturas. Essa formação busca atender o novo
perfil do graduado em Letras que já não é mais aquele que conhece línguas e
culturas estrangeiras com o objetivo de obter status. O que se busca agora é
um licenciado, um professor que atenderá basicamente o ensino fundamental e
médio. Por isso, propõe-se apenas o ensino de uma LE, a fim de afunilar mais
o currículo.
Nas práticas e discursos de professores que obtiveram a formação
dupla, são observados resultados ineficientes, pois a carga horária para o
atendimento de toda a formação em língua e literatura é pequena além de
deixar lacunas quanto à prática de ensino e o estudo dos documentos oficiais
que vigoram nas escolas em que estes futuros profissionais irão atuar.
Essas lacunas evidenciam a defasagem entre as necessidades sociais e
o que trazem os cursos de Letras, pois o que se vê como necessidade na
escola não condiz com o que foi ensinado na universidade, gerando um grande
desconforto e insegurança ao novo professor e fazendo com que, em alguns
casos, esse profissional não permaneça na profissão.
Paiva (2005) afirma que a parte pedagógica é um vazio em muitos
destes currículos. Eles privilegiam o ensino das literaturas, gramáticas e
conteúdos teóricos que não têm ligação com a prática e acabam não
atendendo as necessidades da sociedade.
38
Apesar da resolução de 1969 que prescrevia a obrigatoriedade para a
“[...] prática de ensino das matérias sob a forma de estágio supervisionado [...]”,
poucas instituições se preocupavam com a formação profissional. Em algumas
universidades, os professores responsáveis pela prática de ensino priorizavam
um professor voltado somente para o ensino da leitura (PAIVA, 2005).
É bom lembrarmos que neste momento e até a década de 90, a leitura
era muito priorizada por ser compreendida como a forma de inserção do aluno
na língua e cultura tanto nacional como a estrangeira. Os meios de informação
giravam em torno das obras literárias, das revistas e jornais, o que reafirmava a
postura de formar prioritariamente leitores assimiladores de uma pretensa
literalidade dos textos, de sentido já dado que não deve ser “deturpado” por
“interpretações subjetivas”.
A LE teve seu ensino massificado a partir do crescimento da burguesia e
da classe média. Como necessidade de expansão dessas classes sociais,as
línguas mais estudadas eram o francês, o alemão e o inglês. Até o início do
século XX prevaleceu esta situação (FLORES, 2006a).
Nessa conjuntura, o tratamento das línguas modernas era semelhante
aos das línguas mortas em que a leitura e a escrita eram privilegiadas em
detrimento de uma oralidadesem referências formais para reproduzir, sendo
que essas línguas sobreviveram através de textos escritos.
Depois da década de 90, começa a mudar o foco em consequência das
mudanças que as tecnologias impuseram ao fazer letrado: o trabalho com
maquinário informatizado e eletronicamente mais sofisticado.
Com o avanço da tecnologia, a informática e a eletrônica,os meios de
comunicação se diversificaram muito e o acesso a eles foi se tornando mais
fácil e também mediado por letramento alto como requisito. Lidar com essa
tecnologia exige interpretação e raciocínio menos básicos. Assim sendo, a
responsabilidade pela construção e exercitação de novas capacidades é da
responsabilidade da escola.
Dada à reconfiguração das práticas sociais na contemporaneidade e em
função das novas necessidades que elas geram, cada vez mais é internalizado
pelos agentes educacionais e a sociedade como uma necessidade de repensar
o que ensinar e a qualidade da formação dos graduados universitários. O
currículo, por isso, deve ser pensado visando atender as novas demandas e
39
não ser formulado e aplicado atribuindo a ele uma finalidade imanente que
tenta desprovê-lo da sua única função natural: a de instrumento para a
consecução de objetivos.
O dinamismo da sociedade atual exige da universidade que priorize as
necessidades que as práticas sociais sinalizam, o que dará relevância aos
conteúdos, os quais, espera-se que sejam adequados para preparar os futuros
profissionais. Se a sociedade não se refletir nas instituições universitárias,
estas correrão o risco de oferecer a ela aquilo que não lhe é mais interessante
e importante.
Como as mudanças e adequações são sempre necessárias, houve um
decréscimo rápido e talvez irreversível dos estudos humanísticos tradicionais
(Grego, Latim, Filologia, Francês), o que hoje pode ser encontrados em um ou
outro currículo de Letras, como na Unicamp e na UFMT que mantêm, no curso
de Letras, o Latim como disciplina obrigatória, além da USP que oferece
Grego, Latim e Francês como habilitações de graduação.
A relação íntima entre cultura clássica e status social desapareceu na sociedade contemporânea. E a Universidade, coerentemente, foi abandonando o ensino daquelas disciplinas. (BOSI, 1992, p. 310)
Essas mudanças confirmam a ideia de que a universidade, como a
instituição escolar em geral, não funciona em sincronia simultânea com a
dinâmica das mudanças da sociedade. As instituições escolares se pautam
pelas necessidades que, explicitamente, a sociedade lhes transmite e pela
percepção das necessidades que a sociedade sinaliza via configuração do
mercado de trabalho.
As mudanças referidas acima refletem essa dinâmica de funcionamento.
A necessidade de sincronia existe, porém ela somente será alcançada quando
a Universidade oferecer, por exemplo, momentos de estudos e reflexões
acerca das propostas dos documentos oficiais que circulam nas escolas. Hoje
os cursos de Letras não se ajustam cem por cento ao que documentos oficiais
propõem, o que dificulta a prática do futuro professor.
Quanto ao alinhamento da teoria com a prática, a CNE (Conselho
Nacional de Educação) já trazia em seu texto:
40
– Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão. (CNE/CES/ BRASIL, Parecer 67/2003)
Em 03 de abril de 2001, foi aprovada a criação das Diretrizes
Curriculares para o curso de Letras que afirma que os profissionais de Letras
devem “[...] ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objetos de
seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações
culturais [...]”. (DIRETRIZES CURRICULARES PARA O CURSO DE LETRAS,
BRASIL. 2001, p.02).
Observando os dois textos, o do Conselho Nacional de Educação e o
das Diretrizes Curriculares para o curso de Letras, infere-se que o papel
essencial da universidade é formar profissionais que tenham o conhecimento
da língua que vão ensinar e que não só tenham o domínio explicativo do seu
funcionamento, mas que também saibam usá-la e aplicá-la em seu ambiente
de trabalho, a sala de aula.
Além disso, as Diretrizes Curriculares para o curso de Letras levam em
consideração as transformações ocorridas na sociedade contemporânea e
ressaltam que à universidade não cabe apenas refletir sobre a realidade, mas
constituir espaço de cultura e criatividade capazes de intervir na sociedade.
Tratamos destes aspectos sobre como se constituíam e se constituem
os cursos de Letras e qual o verdadeiro papel do curso para entendermos
como seu funcionamento não tem atingido as verdadeiras metas que deveria
alcançar. Entre estas metas está a de ensinar e articular as exigências da
atualidade ao uso natural das línguas, em especial o uso da Língua Espanhola
que é o objetivo nesse trabalho.
Feito o primeiro panorama, o de como se organizam os cursos de Letras
no Brasil, trata-se agora de fazermos um breve panorama da Língua Espanhola
em Mato Grosso, passando da compreensão macro (Brasil) para a micro (Mato
Grosso).
41
2.2 Um breve panorama histórico da Língua Espanhola em Mato Grosso
O ensino de E/LE em Mato Grosso vem se ampliando
consideravelmente nos últimos anos. A necessidade de integração com os
países falantes da língua espanhola tem-se intensificado desde o acordo
firmado em 1994, o Mercosul, que fortalece as relações políticas e comerciais e
as relações humanas entre vários países sul-americanos.
Dos cinco países que integram o acordo, apenas o Brasil não é falante
da língua espanhola. Além disso, a proximidade dos países e o contato com as
diferenças que a relação português-espanhol propicia contribuem para reforçar
a necessidade da inclusão da língua espanhola nos currículos escolares no
Brasil. Neste contexto, Mato Grosso é um dos estados brasileiros que fazem
fronteira com países falantes da língua espanhola. A linha divisória
internacional, apenas neste estado, estende-se por 16 mil quilômetros.
Em 2005, foi sancionada a lei 11.161 que torna obrigatória a oferta do
ensino de E/LE nas Escolas de Ensino Médio de todo o país dando o prazo aos
estados de até cinco anos para a implantação da língua nos currículos
escolares.
Todas as escolas públicas e privadas a partir de 2010 devem oferecer
no mínimo, duas línguas estrangeiras modernas, uma de matrícula obrigatória
e outra de matrícula optativa para os alunos, sendo que uma das Línguas
Estrangeiras teria que ser a Língua Espanhola. Cabe ressaltar que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) já dispunha em
seu art. 36, inciso III, sobre a oferta de uma segunda Língua Estrangeira
Moderna no Currículo do Ensino Médio. A saber:
Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes: I [...]; II [...]; III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. (LDB, 1996, art.36, inciso III)
Devido ànecessidade da implantação, o Programa Nacional de
Formação de Professores (PROESPANHOL/MEC) procurou, dentro dos cinco
42
anos estabelecidos pela lei, criar parcerias com os estados buscando as
condições necessárias para possibilitar a formação inicial e continuada de
professores, além da aquisição de materiais didáticos.
Mato Grosso foi um dos primeiros a atingir a meta de cumprir a lei
federal citada, pois a implantação já vinha acontecendo antes mesmo da
obrigatoriedade. Diante do esforço para cumprir a lei 11. 161, o estado
deparou-se com a escassez de professores. As Orientações Curriculares para
a Educação Básica do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2009)
atribuem essa escassez às características geográficas (longas distâncias entre
cidades) e demográficas (pouca população, mas dispersa pelo imenso
território).
A implantação da língua a curto prazodesencadeou uma série de ações,
medidas e iniciativas das autoridades educacionais. Dentre essas ações
destacamos a realização do concurso específico para a contratação de
professores de E/LE.
Dado que a Espanha é um país importante nas relações econômicas
com o Brasil, o governo do estado tem procurado ampliar, intensificar e
fortalecer o intercâmbio com o governo espanhol, com ênfase na educação e
no conhecimento técnico científico. Em 2004, o estado firmou convênio com a
Embaixada Espanhola para a qualificação continuada de professores.
O convênio acima referido implicou na assinatura de um termo de
cooperação que favorece os professores da rede pública. Assim, Mato Grosso
está a caminho de se tornar um polo de referência do ensino de espanhol na
região Centro – Oeste.
Em outubro de 2006, foi instalado o CRDE (Centro de Recursos
Didáticos de Espanhol), responsável por atender uma parcela significativa da
demanda de referências didáticas e de atualização bibliográfica do estado e da
região. Trata-se do quarto CRDE implantado no país. Esse centro oferece
recursos como microcomputadores, biblioteca, videoteca e outros materiais que
estão disponíveis ao uso de professores e alunos de língua espanhola. São
ofertados também cursos de capacitação aos professores de E/LE.
O convênio com a embaixada da Espanha tem possibilitado que os
professores do estado possam receber bolsas de estudo através da
Universidade de Granada na Espanha. As bolsas são ofertadas a custo zero
43
pela Universidade de Granada e fornece um curso de atualização de Língua e
Cultura Espanhola, alimentação, alojamento, além de uma quantia em dinheiro
para que o professor bolsista possa participar das programações culturais. As
passagens têm sido ofertadas pelo governo do estado.
Para a FC de professores que atuam no ensino de E/LE na rede pública
estadual, o estado realizou exames seletivos para a contratação de formadores
que atuam nos Cefapros (Centro de Formação e Atualização dos Profissionais
da Educação). Os Cefapros têm a função de subsidiar os profissionais no que
diz respeito à prática educativa através de cursos que respaldem suas ações a
partir dos pressupostos teóricos que abordam as questões educacionais, com
vistas ao cumprimento de suas atribuições e à melhoria da qualidade do ensino
público.
Tais ações trazem propostas específicas para os professores de cada
disciplina escolar, e no caso da Língua Espanhola, elas se referem ao
melhoramento do domínio da língua em questão, ao aprofundamento das
metodologias e didáticas e à produção e preparação de materiais didáticos.
Ainda nas ações voltadas a FC, acontece desde 2002, anualmente o
Encontro de Professores de Língua Espanhola para professores de todo o
estado. O curso conta com palestras, oficinas e minicursos ministrados por
professores conceituados do estado e professores da Embaixada da Espanha.
Em 2009, iniciou-se um curso de apostilamento com conteúdo preparado
pela UFMT para professores que fizeram curso de Letras, em outra habilitação
que não a espanhola. O objetivo do curso é aumentar a oferta de profissionais
habilitados na rede Estadual para atender o Ensino Médio em conformidade
com a lei 11.161/2005. Concluído o curso, os professores estarão aptos a
ministrarem aulas de E/LE.
Além de todas estas ações, foram publicadas as OCEM-MT (MATO
GROSSO, 2009) em parceria com a UFMT que fortalece também a língua
espanhola, pois apresenta um capítulo destinado a ela levando em
consideração o contexto estadual, fornecendo orientações que buscam
colaborar com o professor na sua prática.
As OCEM-MT (MATO GROSSSO, 2009) orientam os professores
quanto à importância e necessidade da implantação da Língua Espanhola, aos
44
aspectos da língua a serem abordados, à organização do currículo para o
ensino da língua e aos objetivos a serem alcançados.
Contudo é relevante observarmos que, ainda com todas estas ações,
muito precisa ser feito, especialmente na FI. Como alerta Nogueira (2007), que
afirma ser necessário:
[...] capacitar os professores para que possam assumir essa importante tarefa, o que não será fácil, se levarmos em conta a já conhecida formação precária a que se sujeitam nossos professores, que, na maioria das vezes, chegam ao curso de Letras com pouca ou nenhuma competência linguística na língua em que pretendem se graduar. Nesse aspecto, o país correria o risco de ver instalada em suas escolas públicas a oficialização de uma interlíngua que pode acudir às primeiras necessidades básicas do cotidiano, mas que dificilmente será aceita em contextos que exijam uma postura mais formal do falante. (NOGUEIRA, 2007, p. 2).
Assim sendo, no cuidado com a formação de professores de E/LE com
um bom nível de proficiência oral, faz-se necessário o estudo sobre currículo,
pois sua formação se sustenta a partir de sua organização e concepções que
opera em função da consecução do cumprimento de objetivos previamente
estabelecidos.
2.3 Currículo: concepções e objetivos
É evidente a diversidade de critérios que pautam as discussões sobre
currículo, porém as discussões utilizam-se das concepções e objetivos já
existentes que passam pelas teorias tradicionais de Bobbitt (1918) e Dewey
(1916), críticas de Althusser (1973), Bourdieu e Passeron (1976), Henry Giroux
(1983), Young (1989), Sacristán (2000) e Saviani (2005) e pós-críticas de Silva
(2003), Moreira e Pacheco (2002).
Serão abordadas brevemente, as concepções e objetivos existentes;
lembrando que será tomado como principal referência nas discussões sobre
currículo o pesquisador e autor de diversas obras sobre o assunto Silva (2003).
Este pesquisador já escreveu muitas obras, capítulos e artigos sobre o tema.
Além de ser uma referência sobre o assunto no Brasil, também realiza
pesquisas na linha de Estudos Culturais nos quais se aproxima da AD ao tratar
da identidade, pois ambas enfocam o sujeito da perspectiva da sua existência e
45
como efeito da prática social: disperso, fragmentado, múltiplo (HALL, 2001, p.
34-38, apud BARACUNHY, 2008).
O currículo como objeto de estudo começou a aparecer no ano de 1920
com mais intensidade nos Estados Unidose tinha ligação com a massificação
da escolarização graças à intensa industrialização. Naquele momento, o
currículo visava à busca de “eficiência” concebida dentro do contexto fabril,
dado que o momento histórico era de ostensivo crescimento industrial.
Organizava-se o ensino espelhando a organização de uma indústria.
Privilegiava-se a concepção precisa de objetivos, procedimentos e métodos em
busca de resultados quantificáveis.
No ensino de LE, eminentemente formalista, as teorizações sobre o
currículo e as perguntas que moviam a sua organização pressupunham
respostas ancoradas na concepção de linguagem prevalecente à época: a
organização linear de palavras cujo domínio garantia o bom uso. Assim, o
cumprimento de objetivos pautados numa visão de eficiência quantitativamente
concebida que tinha como referência única a indústria supria qualitativamente
as necessidades da época através do principal instrumento para isso: o
currículo.
Concordamos com Flores (2010) que afirma ser impossível pensar um
currículo que não seja precedido por objetivos, pois não se saberia para onde
ir, já que são os objetivos que determinam a existência de todo currículo.
A teoria tradicional do currículo, filiada à modernidade, acreditava na
possibilidade de ser neutra, o que foi contestado pelas teorias que se seguiram,
pois se tratava de formar o trabalhador especializado ou proporcionar uma
“educação genérica”. O seu principal representante foi Bobbit (1918) que se
baseou na teoria de administração econômica de Taylor. A base era o
pensamento mecanicista que abordava o currículo como uma questão de
organização de forma mecânica e burocrática, o que se tornou insustentável na
atualidade, pois dado o contexto econômico e social atual, o que asociedade
passou a exigir do ensino não se pauta pela reprodução mecânica excludente
da reflexão.
Podemos dizer que a questão principal da teoria tradicional se resume à
memorização de conteúdos, tudo em função de uma eficiência nos resultados
sem mediação alguma de criticidade.Mas, na segunda metade da década de
46
1960 (maio de 1968), produziram-se mudanças no sistema social na Europa
Ocidental, como efeito da situação econômica que implicava outras cobranças
da sociedade. Na educação, emergiram questionamentos que se traduziram
em críticas às concepções tradicionais sobre o currículo que vinham
funcionando sem conflito aparente.
Surge, então, a chamada teoria crítica do currículo que questiona
neutralidade desse. Um dos responsáveis pela mudança de enfoque foi
Althusser (1973), que inovou introduzindo um referente teórico, os Aparelhos
Ideológicos de Estado, que mudou o modo de problematizar a instituição
escolar. Atenta-se, então, às ideologias que fundamentam os currículos, o que
leva à análise das escolhas dos conteúdos, partindo-se do pressuposto de que
é a ideologia que os justifica.
A teoria crítica baseia-se no pensamento marxista e preocupa-se em
compreender o que o currículo faz. Parte-se da concepção de Althusser (1973)
de que primeiramente a educação está ligada à ideologia e que a escola é uma
forma utilizada pelo capitalismo para naturalizar o seu funcionamento.
Bourdieu e Passeron (1976) afirmam que o currículo está baseado na
cultura, nas práticas e referências das formações discursivas sociais
predominantes, o que faz com que as crianças de classes menos favorecidas
não dominem os códigos exigidos pela escola. Para Bourdieu (2002, p.14),
“[...]o sistema de ensino é um dos mecanismos pelos quais as estruturas
sociais são perpetuadas[...]”.
Nos dias atuais, referindo-se a objetivos paralelos da implementação
curricular, Silva (2003, p. 78) qualifica-os como “currículo oculto”, dizendo que
“[...] constitui-se daqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte
do currículo oficial explícito, contribui de forma implícita para aprendizagens
sociais relevantes”.
As ações que caracterizam o currículo oculto podem ser consideradas
positivas ou negativas. Para as teorias críticas estas ações são negativas, pois
ensinam o conformismo, a obediência e o individualismo, ou seja,
comportamentos que contribuem para a conservação sem questionamentos da
ideologia dominante. Essa postura envolve uma limitação dos teóricos inscritos
no criticismo: o funcionamento da teoria no contexto do capitalismo.
47
A teoria pós-crítica surge como ampliação do pensamento curricular
crítico. Se, na teoria crítica, a ênfase era dada à abordagem do currículo como
transmissão de ideologia, na teoria pós-crítica, a ênfase se encontra nas
discussões de identidade, alteridade, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e
multiculturalismo. Isso ocorre devido àatenção dada à diversidade em função
da virada inclusiva da dinâmica do sistema capitalista como mecanismo de
autopreservação. O multiculturalismo, por isso, relativiza a ponto de excluir, na
relação entre culturas, a atribuição de superioridade.
Segundo Silva (2003),
O multiculturalismo mostra que o gradiente da desigualdade em matéria de educação e currículo é função de outras dinâmicas, como as de gênero, raça e sexualidade, por exemplo, que não podem ser reduzidas às dinâmicas de classe. (SILVA, 2003, p. 90).
A teoria pós-crítica contraria os valores propostos pelo currículo oficial
cujos pressupostos envolviam a separação entre sujeitos, a consolidação da
dominação sobre as pessoas e o exercício do controle dessas através do
individualismo e da competição. Como afirma Cerezer (2006, p.4), “[...]para
obter a igualdade, é necessária uma modificação substancial do currículo
existente [...]”. As questões do multiculturalismo fazem parte do novo repertório
educacional e estão sendo problematizadas recentemente nos currículos.
Segundo Silva (2003, p.101), “[...] é através do vínculo entre
conhecimento, identidade e poder que os temas de raça e de etnia, ganham
seu lugar no território curricular [...]”. A escuta dessa tendência, a Secretaria de
Educação de Mato Grosso iniciou um processo de Formação Continuada
através do Cefapro, com formadores que atuam na educação indígena,
quilombola e de diversidade de gênero. Tais ações visam inserir essas
discussões nos currículos das escolas do estado, sobretudo, os professores
atuantes nas formações específicas.
Silva (2003) faz uma comparação entre as teorias críticas e pós-críticas
do currículo:
[...] as teorias pós-críticas podem nos ter ensinado que o poder está em toda parte e que é multiforme. As teorias críticas não nos deixam esquecer, entretanto, que algumas formas de poder são visivelmente mais perigosas e ameaçadoras do que outras. (SILVA, 2003, p.147).
48
O que ocorre é que, com as teorias críticas e pós-críticas do currículo,
não podemos mais conceber o currículo como algo inocente e desinteressado
(Cerezer, idem). É muito pertinente a afirmação de Sacristán (2000 apud
SABAINI, 2007, p.7) sobre as teorias do currículo:
O estudo das teorias do currículo não é garantia de se encontrar as respostas a todos os nossos questionamentos, é uma forma de recuperarmos as discussões curriculares no ambiente escolar e conhecer os diferentes discursos pedagógicos que orientam as decisões em torno dos conteúdos até a “racionalização dos meios para obter e
comprovar o seu sucesso”. (SACRISTÁN, 2000 apud SABAINI, 2007, p.7)
Precisamos nos questionar sobre o que realmente é interessante estar
no currículo. Para isso, é preciso estabelecer antes os objetivos que
pretendemos. Os interesses e objetivos da sociedade e da escola
mudaramporque o contexto social mudou devido à intensificação das relações
econômicas, à interação social cada vez mais intensificada, à facilidade das
informações e do deslocamento e a outras mudanças que exigem
prioritariamente interação do indivíduo.
Por um longo período da história, os interesses se voltavam ao uso da
linguagem escrita, pautado na Língua Materna (LM), que a escola ainda utiliza
desconsiderando, no caso das Línguas Estrangeiras, que essa disciplina se
pauta por uma dinâmica diferente das de LM. Praticava-se o ensino para
decodificação de textos ereprodução, com momentos raros de discussões
como afirma Flores (2010) e as OCEM-MT (MATO GROSSO, 2009). A LM
servia principalmente de instrumento para o ensino de LE que reproduzia ideias
e interesses das elites letradas no comando da sociedade (OCEM-MT/ MATO
GROSSO, 2009), confirmando o que, segundo Althusser (1973), é o papel da
escola:reproduzir os interesses da minoria elitizada e do Estado.
A formalização da escrita é assumida como natural na escola (FLORES,
2010), o que não é extensivo ao processo natural de aprendizado de uma LE, a
produção oral. O ensino tradicional de instrumentalização da língua, a sua
gramaticalização não se adequam à atualidade. É necessário segundo Flores
(2010)
49
[...]ensinar o estudante a lidar com situações da linguagem verbal em uso com resultados satisfatórios e próximos do modo como naturalmente a toda hora ele faz com a sua LM em casa, na rua, na escola, na internet, no telefone. (FLORES, 2010, p.190).
Sobre essa forma atual de ensinar LE, as OCEM-MT (MATO GROSSO,
2009) afirmam:
Uma das maiores críticas às abordagens anteriores das línguas da pós-modernidade consiste na gramaticalização das mesmas, na sua formalização e ajuste à lógica de línguas mortas: o latim e o grego antigo. Mas nem por isso é preciso banir as explicações formais porque elas são necessárias e oportunas também dentro de um enfoque em que a oralidade deve privilegiar-se. O nível de ensino que nos ocupa é palco ideal para o recurso didático à gramática em função da concepção contemporânea de produção linguística, mas sem esquecer que o objetivo final que propomos é uma razoável proficiência oral e escrita na língua estrangeira de tal maneira que satisfaça as múltiplas possíveis necessidades que os nossos alunos terão dela. (OCEM-MT, 2009, p.67)
Flores (2010) também afirma que é necessária a restauração dos
objetivos básicos no ensino de LE na contemporaneidade e, segundo o autor,
tais objetivos são:
1. Ensinar a língua em função do seu uso prático na oralidade e na escrita em busca de um nível de proficiência que torne possível a interação com indivíduos que têm essa língua como materna [...]; 2. Propiciar o acesso dos estudantes à produção oral e/ou escrita; 3 [...]; 4. Instaurar uma postura relativizadora do que naturalmente se considera único e por isso inquestionável: a língua, a cultura, os valores, os comportamentos próprios, propiciando assim a construção de uma postura crítica; 5. Repensar e reforçar os conhecimentos próprios da LM. (FLORES, 2010, p. 5)
Para que os objetivos sejam atingidos no ensino de LE no estado,
algumas mudanças são necessárias e elas, segundo as OCEM-MT (MATO
GROSSO, 2009), vão desde aelaboração de material didático que responda à
nova concepção de linguagem e às condições particulares do estado,
passando pelo aumento da carga horária semanal para quatro horas e pela
50
reorganização das turmas em função da aula de LE, até a disponibilização de
tempo para que o professor possa se atualizar e frequentar cursos de
Formação Continuada. Da Formação Continuada trataremos adiante.
O currículo não é um conjunto de conteúdos surgidos do nada e
organizados em um sumário, ele demanda conhecimento das teorias que
permeiam a educação escolar para justificar os objetivos que pretendemos
atingir; demanda a compreensão de que ele resulta de referências ideológicas
dos diferentes grupos de educadores que o elaboram e que é necessário o
conhecimento do processo de escolha de certo conteúdo em detrimento de
outro. (LOPES, 2006 apud SABAINI, 2007, p. 2).
Na história das ideias pedagógicas, nunca houve divórcio entre o
currículo e as necessidades da prática social. O currículo ressurge na
atualidade como foco de discussões e explicações em função do período de
transição que estamos vivenciando, conhecido como pós-modernidade, o qual
ressalta as novas necessidades e pressiona a instituição escolar a supri-las.
No aspecto que justifica esta pesquisa, a formação de professores, a
remissão constante às diversas situações de uso da língua e às práticas
escolares é prioritária dentro do processo de construção de profissionais do
ensino de línguas estrangeiras em geral.
E é a formação de professores o tema abordado a seguir.
2.4 Formação Inicial e Continuada: a realidade do ensino de língua
estrangeira.
Em se tratando de formação de professores, a referência são três eixos:
a formação inicial, que é oferecida pela universidade (FI); a especializada, que
são os cursos lato sensu e strictosensu e a continuada (FC), que se estende
durante toda a carreira profissional, a ser oferecida por meio de cursos ou
realizada juntamente com a prática.
A lei 11.161/2005 trouxe mais evidências às discussões que já existiam
sobre o tipo de formação que tem recebido os professores de LE. A formação
do profissional da docência, como defende Nóvoa (1992, p.15) é “[...]mais do
que um lugar de aquisição de técnicas e de conhecimentos, a formação de
51
professores é o momento chave da socialização e da configuração
profissional”.
Disto decorre a necessidade de uma formação remissiva à prática
vivencial dos formandos com a língua, tanto do uso quotidiano da mesma em
situações preferencialmente extraescolares, quanto ao conhecimento
metalinguístico e didático.
A FI, porém, demonstra não funcionar como deveria, como um lugar de
pesquisa, questionamento, produção de conhecimento e principalmente de
reflexão sobre a profissão docente. A atitude do estudante universitário reflete
os efeitos do trabalho com aquilo que Orlandi (1996, p.15) descreveu como
‘memória metálica3’ em que, infelizmente, os ensinos fundamental e médio
continuam se apoiando para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes e a FI
tem acompanhado da mesma maneira.
Essa ‘memória metálica’ é a que dá
[...] ênfase na reprodução mecanicista que estabelece poucas conexões com causas fincadas na história, enquanto condições de produção, e por isso desconsidera a interpretação cuja pertinência é dada pelo contingencial. (FLORES, 2006b, p. 52)
Quando o ensino trilha por estes caminhos é porque o currículo que o
rege é o tradicional, no qual a reprodução é valorizada e não a reflexão e
compreensão.
Como consequência da relação do ensino universitário e necessidades
da prática social, no sentido de se remeterem dialeticamente entre si, ainda na
atualidade, a articulação entre teoria e prática espelha na tradição elitista e é,
por isso, excludente.
No caso da formação de professores de LE, essa característica, que
tanto custa a desaparecer, mostra efeitos negativos bastante aparentes, dado
que se trata de um fazer profissional que seconcretiza diretamente na
constante adequação às expectativas da vida prática. Isso envolve um nível de
qualidade na formação dos profissionais.
3A pesquisadora qual i f ica ass im o saber que não se produz pela h istor ic idade
em que a ênfase está na reprodução mecanic is ta que estabelece poucas conexões com causas ancoradas na h istór ia, enquanto condições de produção, e por isso descons idera a in terpretação.
52
Na FI, em especial a de professores de E/LE, as dificuldades
enfrentadas são muitas, e entre elas temos uma grande parcela de alunos que
ingressam no curso de Letras com desconhecimento total da língua que
pretendem lecionar ao fim do curso, o que gera algumas frustações. Esses
alunos chegam à universidade em busca de iniciar um curso básico de Língua
Espanhola e se aprofundarem nela ao longo do curso, porém isso nem sempre
ocorre, pois a universidade não concebe no currículo tempo hábil para isso.
Para que se alcance esta expectativa, a carga horária deveria ser maior
e o currículo deveria enfatizar a abordagem enunciativo-discursiva e não
privilegiar a formalização do gramaticalismo.
Trata-se de uma formação teórica e prática mais atenta ao mundo fora
das instituições universitárias. Isto porque o sujeito-professor que vem sendo
formadonos curso de Letrasnão corresponde ao sujeito-professor esperado
pela sociedade, aquele que tem proficiência enunciativa suficiente para
compreender e ser compreendido em LE. González (2004, p.1), por isso,
expressa que a forma como está organizado o ensino no nosso país faz com
que aconteça “[...] un verdadeiro milagro para formar (en la mejor de las
hipótesis) en cuatro años un hablante, investigador y profesor de lenguas”.
Outro problema relacionado à FI do curso de Letras tem sido a maneira
como é assumida a gramática ainda à moda do método direto: um conjunto de
regras que facilita a manipulação das palavras para construir frases,
dispensando toda preocupação com os sentidos do texto. A gramática deve
estar relacionada à preparação para a produção e interpretação de textos para
que o aluno encontre sentido nela.
Se o professor aprende na universidade esta gramática
descontextualizada, provavelmente é assim que ele vai ensinar em sua sala de
aula. É preciso que a universidade opere com a linguagem afinada às
necessidades sociais.
Havendo, portanto,definido com qual conceito de linguagem a
universidade e consequentemente o seu currículo devem operar, fica mais
claro entendermos que a questão do ensino da gramática como ainda acontece
hoje, apesar da produção textual ter ganhado um pouco mais de espaço, é
proveniente da concepção anterior da linguagem que não era vista como
significação e sim como código.
53
Na LM, a escrita tem papel fundamental, visto que a oralidade é
requisito preexistente no aluno, mas com a ressalva de que se trata da
oralidade não escolarizada. Isto nos encaminharia a outra problematização que
nos desviaria do foco desta pesquisa. Assim, a LE tem seguido esse molde de
ensino, pautado na escrita, sem que se observe suas particularidades e sua
forma natural que se concretiza na oralidade.
Dada à organização curricular, os conteúdos principais do curso são na
LM e em função dela, o que faz o estudante buscar subsídios da sua formação
na LM para compreender e explicar os conteúdos da habilitação em LE. Porém,
Flores (2010) alerta sobre os objetivos de ensino da LE dentro da
contemporaneidade e das exigências que a linguagem estabelece:
Assim, os objetivos que se impõem contemporaneamente ao ensino de língua estrangeira são diferentes dos tradicionais da área no contexto brasileiro. Isto, porque a dinâmica social agora é outra e as possibilidades e necessidades de interação direta ou mediada através de novas tecnologias --a informática e a telefonia móvel -- são exponencialmente maiores. (FLORES, 2010, p. 4).
Essa referência pode favorecer o entendimento de que o ensino de E/LE
deve-se fazer com o foco na produção enunciativa oral. Um professor na FI
precisa ser preparado nestes moldes para que consiga com um nível adequado
de proficiência, trabalhar nesta perspectiva posteriormente em sua sala de
aula. Para isso, o currículo precisa estar em consonância com esse fim.
Por outro lado, é sabido que, para que se trabalhe nesta nova
perspectiva de ensino na escola, é necessário haver alteração em alguns
pontos organizacionais para garantir que o trabalho seja realizado com maior
precisão. As OCEM-MT (2009) citam algumas alterações que fariam grande
diferença na forma de se ensinar a LE na escola:
Em razão dos novos objetivos da disciplina Língua Estrangeira, que também pressupõem outro enfoque da mesma, para sedimentar a produção linguística inaugural e intermediária, é preciso obedecer aos pressupostos didáticos com que conta a nossa prática de ensino. Torna-se necessário, por isso, reconsiderar o número de alunos nas aulas de língua estrangeira, bem como a sua carga horária para que os objetivos do ensino de língua estrangeira possam de fato ser concretizados. É preciso reorganizar as turmas dividindo-as por duas e dobrar a carga horária de uma vez por semana para
54
duas vezes por semana com duração de duas horas para cada uma. Os efeitos das necessidades expostas acima no aumento e/ou redistribuição do número de professores, de espaço físico e de recursos didáticos não são poucos, mas sim da maior urgência. (OCEM-MT/ MATO GROSSO, 2009, p.59)
Quanto à formação docente, também são necessárias, além da
adequação dos currículos e da adequação linguísticas destes profissionais na
FI, ações na FC. As políticas de Formação Continuada também devem estar
em consonância com os documentos oficiais garantindo assim uma preparação
adequada para que se possa explicar o que e como se deve ensinar a LE.
Mas o que é necessário para um professor de LE ter uma boa
formação?
A começar pelo multiletramento necessário à preparação de um
professor. O multiletramento consiste no letramento digital, da LM, numérico e
outros. Há também a necessidade do domínio dos três polos de formação
sugeridos por Ponte (1998). O primeiro deles é a formação científico-cultural,
por meio do qual o professor, além de ter conhecimentos específicos de sua
área, faz a integração destes com a sociedade contemporânea. Para isso, ele
precisa ter um horizonte cultural alargado e relacionar o ensino de E/LE com
outras áreas do conhecimento e com as novas tecnologias.
O conhecimento cultural é de grande importância para o professor de
E/LE, pois a língua não se constitui apenas de vocabulário e gramática, mas de
pessoas falantes do idioma que trazem toda uma cultura que justifica os usos
da língua. Por isso Flores (2006b) afirma que “[...]quanto às LNM, não há
separação possível entre língua e cultura quando se faz uma abordagem
relacional da perspectiva discursiva”. Em concordância com Bolognini (1998,
p.10 apud FLORES, 2006b) “[...] não há cultura sem linguagem e não há
linguagem sem cultura”.
O segundo polo é o conhecimento profissional que, segundo Ponte
(1998), apoia-se na própria experiência acumulada da profissão, com suas
tradições, normas e mitos, bem como o saber que vai se elaborando na
interação com outros profissionais.
O terceiro e último polo é o da identidade profissional que tem como
aspectos contribuintes de sua construção a forma como se entra na profissão e
55
a cultura profissional que é a forma como ele encara o seu cotidiano
profissional.
A FC existe em função da satisfação das necessidades contemporâneas
de readequação da escola. Nessa pesquisa, sustentamos que a FI está
divorciada das necessidades fundamentais da prática social em razão da falta
de atualização curricular devido à indefinição de novos objetivos na formação
de professores.
Segundo Nóvoa (1992),
A formação continuada deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de auto formação participada. (NÓVOA, 1992, p. 25).
Estar em formação implica um investimento pessoal, um processo de
busca de uma identidade profissional e de segurança no que se propõe
ensinar. A Formação Continuada se constrói a partir da experimentação, da
inovação e pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. Ela é
baseada na articulação entre a prática e a reflexão sobre a prática
(PERRENOUD, 1991 apud NÓVOA, 1992, p. 28) e na investigação que leva à
produção dos saberes.
A FC para professores de E/LE deve estar aliada às novas mudanças no
ensino desta língua, buscar se centrar na oralidade (na perspectiva que vem
sendo referida), na prática desta com seus pares, quando em curso de
formação, como na sala de aula. Não é incomum encontrarmos professores
que não falam a Língua Espanhola em sala, e a FC deve trabalhar formas para
que isso comece a deixar de acontecer, fazendo com que este profissional use
a LE com maior proficiência.
Foi abordada a formação através de cursos, porém é importante
ressaltar que ela não se constrói por acumulação de cursos ou de técnicas, ela
se constrói através da reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção
permanente de uma identidade pessoal como explica Nóvoa (1992): pensando
principalmente no aprimoramento didático.
A FC processa-se também através da troca de informações e
experiências. No caso das LE, no que tange às dificuldades que temos em
foco, a FC deve contemplar principalmente o trabalho de construção de
56
capacidades enunciativas que não foram consideradas ou foram cerceadas no
processo de FI por causa de outras prioridades concebidas no currículo.
Para que o professor se mobilize para a Formação Continuada, é
necessário que ele compreenda, de fato, seu papel na sociedade e se
desprenda de alguns pensamentos dos quais tratam Morin (2000). O primeiro
deles consiste em que o professor julga ter sido ‘formado’ e, por isso, já sabe o
suficiente. Há os que acreditam que basta conhecer sua disciplina, o que
valoriza o saber fragmentado, e há ainda os avessos às mudanças. Esses se
esquecem de que o conhecimento é construído na interação com o outro e que
não está guardado e pronto em algum lugar.
Quanto à deficiência linguística que apresentam os professores de E/LE,
Papa (2009) afirma que existem vários fatores que vão desde o desinteresse
governamental, considerado como elemento externo, à precária formação e à
capacidade de utilização da língua-alvo pelo próprio professor na sala de aula,
o que ela chama de elementos internos. Estes dois elementos, externos e
internos, são cruciais em uma formação docente, pois o professor não pode
sozinho se ‘autoformar’, ele precisa do incentivo externo que seria da parte do
governo quanto do interno que depende da interação com outros professores,
assim como de cursos e materiais que lhe tragam suporte para uma eficiente
formação.
Sabemos que não basta tentar ‘mudar’ o profissionalsem transformar os
contextos em que ele se insere. É seguindo este pensamento que se faz
necessário o estudo e as pesquisas sobre os currículos. Essas abordagens
questionadoras devem estar diretamente ligadas a possíveis mudanças no
contexto trazendo, assim, transformações e melhoras no preparo e nas práticas
dos professores.
Há urgência de transformações no currículo do curso de Letras em
consequência das quais serão impressas mudanças na Formação Continuada
de professores. Sustentamos que elas devem começar a ser aplicadas devido
aos avanços tecnológicos e à rapidez com que eles acontecem. A
necessidade de acompanhar estes avanços exige dos profissionais cada vez
mais uma formação atualizada.
O formador, o professor atuante nesse novo modelo de educação que se
defende e começa a mostrar resultados atualmente, deixa de ser o transmissor
57
do saber para ser tutor pedagógico do formando, com o papel de mediador e
orientador.
Consideramos a FC uma solução paliativa para tentarmos adequar o
ensino de E/LE às necessidades e exigências da contemporaneidade, um
ensino que se paute na interação e, consequentemente, na produção
enunciativa.
A adaptação do epílogo de um trabalho de Mary-Louise e Caven
McLoughlin (1989 apud NÓVOA, 1992, p. 31) ilustra a situação atual de Mato
Grosso quanto à formação continuada.
Já começámos, mas ainda estamos longe do fim. Começámos por organizar acções pontuais de formação continua, mas evoluímos no sentido de as enquadrar num contexto mais vasto de desenvolvimento profissional e organizacional. Começámos por encarar os professores isolados e a título individual, mas evoluímos no sentido de considerar integrados em redes de cooperação e de colaboração profissional. Passámos de uma formação por catálogos para uma reflexão na prática e sobre a prática. Modificámos a nossa perspectiva de um único modelo de formação de professores para programas diversificados e alternativos de formação contínua. Mudámos as nossas práticas de investigação sobre os professores para uma investigação com os professores e até para uma investigação pelos professores. Estamos a evoluir no sentido de uma profissão que desenvolve os seus próprios sistemas e saberes, através de percursos de renovação permanente que definem como uma profissão reflexiva e científica. (MARY-LOUISE; CAVEN McLOUGHLIN, 1989 apud NÓVOA, 1992, p.31)
Encerramos o capítulo afirmando que estas mudanças são de suma
importância, no entanto, cabe acrescentar que essas melhorias sanarão
apenas fragmentos das necessidades educacionais atuais. É preciso tempo
para que as experiências se consolidem e avaliar de forma equilibrada os
aspectos positivos e negativos
58
CAPÍTULO 3
Análise de dados
3.1 O curso de Letras - habilitação em Língua Portuguesa e Espanhola -
na UFMT: currículo e produção enunciativa oral.
“A organização de currículos não deve causar uma relação de estranheza entre os alunos e o mundo exterior à escola”. (OCEM-MT/ MATO GROSSO, 2009, p. 5)
A UFMT foi fundada em 10 de dezembro de 1970 através da Lei nº
5.647. O curso de Letras já existia antes da fundação da UFMT pelo antigo
Instituto de Ciências e Letras e funcionava no Colégio Liceu Cuiabano.
O curso de Letras ofertava no início as habilitações Português/Inglês e
Português/Francês. O curso passou por várias reestruturações, alterando a
grade curricular, visando melhor desempenho e melhor adaptação às
exigências do momento. Uma dessas reestruturações aconteceu em 1987 que
criou a habilitação em Português/Literatura e alterou a carga horária das
línguas estrangeiras passando de 60h semestrais para 90h. Em 1990, o curso
de Letras passou a ser ofertado também no período noturno. E em 2007, face
às novas Diretrizes Nacionais, novas alterações na grade aconteceram.
Essas reestruturações se dão pelas condições de produção que
apresenta cada momento. Tais condições determinam o fazer e o dizer num
tempo histórico e num espaço social.
A implantação da habilitação Português/Espanhol aconteceu através da
Resolução CONSEPE nº 48 de 01 de setembro de 1997, com início de
funcionamento em 1998. Entre os objetivos da criação do curso, estão o de
atender as necessidades relacionais com os países vizinhos em virtude do
tratado Mercosul.
Foi analisado, como composição do currículo, o Projeto de
Reconhecimento do Curso de Habilitação em Língua Espanhola e Literatura
Hispano-Americana (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 1997)
(ANEXO II), o Projeto pedagógico de 2000 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MATO GROSSO, 2000) (ANEXO III), e o Projeto pedagógico de 2010
59
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 2010) (ANEXO IV),
enfatizando as ementas, programas4 e as grades curriculares presentes nestes
documentos. Seria interessante a análise dos planos de ensino, porém eles
são elaborados por cada docente que ministrará a disciplina e não foram
anexados aos projetos pedagógicos tornando difícil o acesso a eles.
Será realizado um estudo de como vem sendo organizado o curso de
Letras, em especial o de Língua Espanhola, a partir destes documentos.
Procuraremos saber se a forma de organização curricular, tanto a anterior
(2000) como a atual (2010), procura atender as necessidades atuais,
principalmente no trabalho com a oralidade. Várias interrogações serviram de
referência na busca de respostas esclarecedoras:
1. Será que a universidade proporciona de modo suficiente trabalho
com a produção enunciativa oral?
2. Se sim, como esse trabalho está organizado atualmente?
3. Consegue-se realmente formar um professor com domínio suficiente
da língua para as necessidades atuais?
Assim, a partir dos resultados que julgamos pouco alentadores dos
cursos, dada a qualidade do desempenho dos professores atuantes no ensino
fundamental público, tentaremos mostrar os possíveis motivos de
encontrarmos, em grande parte dos professores formados, dificuldade quanto à
produção enunciativa oral.
Neste trabalho, não tratamos de apresentar uma proposta curricular para
cursos de Letras, mas pretendemos, de fora da universidade, via Formação
Continuada, contribuir para compensar, no ambiente escolar público de ensino
básico, o que consideramos como desacertos daqueles cursos, a partir dos
efeitos dos diversos currículos que já foram implementados ou que estão em
funcionamento.
O currículo analisado foi o de Letras - habilitação Português/Espanhol -
da UFMT. A escolha se deveu ao fato de se tratar de uma universidade
pública, já que esta pesquisa abrange exatamente o ensino público no âmbito
4No Projeto Pedagógico de 2000 os programas não são const i tu ídos de todos
os i tens necessár ios : ident i f icação, ementa, objet ivos geral e específ icos, conteúdos (desmembramento da ementa), procedimentos, recursos d idát ic os, at iv idades d iscentes, aval iação e referênc ias (CEVIDANES, 2004) .
60
estadual. Deveu-se também ao fato de ser a universidade em que cursamos a
graduação (2001 – 2005), uma pós-graduação lato sensu (2007 – 2008) e
agora o Mestrado em Estudos de Linguagem (2010 – 2011/12), além de termos
ministrado aulas nos cursos de extensão de espanhol e aulas na graduação de
Letras, entre 2003 e 2008. Esse período de envolvimento com a UFMT soma
dez anos, o que favorece a pesquisa não só com um olhar externo, mas
também interno, recheado de vivências, convivências e experiências.
3.1.1 A análise curricular
O curso de Letras-habilitação em Português/Espanhol tem duração
mínima de 4 anos e máxima de 7 anos. A carga horária em 2000 era de 2.520h
anuais e agora com o novo Projeto Pedagógico (2010) é de 3.196h.
A princípio, vamos ao currículo do ano de 2000 por se tratar do currículo
vigente à época que nos formamos, bem como vários colegas de trabalho e
professores que hoje atuam na rede estadual e que conhecemos através dos
cursos de Formação Continuada.
O curso oferecia 420h de Língua Espanhola distribuídas da seguinte
forma:
a) Língua Espanhola I – 120h
b) Língua Espanhola II – 120h
c) Língua Espanhola III – 120h
d) Língua Espanhola IV – 60h
Dadas às dificuldades que enfrenta o graduado ao ingressar no mercado
de trabalho, consideramos essa carga horária pequena diante da quantidade
de conteúdos necessários para suprir as expectativas da escola e da
sociedade. As aulas aconteciam duas vezes por semana e cada aula era de
1h40min minutos, totalizando duzentos minutos por semana.
As ementas traziam como necessidade o desenvolvimento da
competência comunicativa oral e escrita e também aspectos gramaticais a
serem estudados. O desenvolvimento da competência comunicativa oral se
dava nos ‘programas’ (apresentado uma lista de conteúdos) através do estudo
de fonética e fonologia em Língua Espanhola I, atividades orais que tratam dos
61
problemas ao aprender uma segunda língua em Língua Espanhola IV, e nas
Línguas Espanhola II e III, nenhum tipo de trabalho com a oralidade são
apresentados (Anexo III).
Na maioria dos casos, a gramática acabava sendo a prioridade dos
professores, ainda que na ementa e programa (nos casos de Língua Espanhola
I e IV) estivesse declarado o desenvolvimento da oralidade, em poucos
momentos era oportunizado ao estudante. Além disso, o Instituto de
Linguagens oferece um laboratório de línguas com vários recursos para o
desenvolvimento de produção oral e auditiva, mas poucos professores o
utilizam.
Caberia ao docente responsável em ministrar as aulas de Língua
Espanhola dosar, articular e privilegiar momentos de produção enunciativa oral,
pois se o docente ficasse condicionado somente ao que apresenta a ementa e
o programa, a gramática seria o meio mais trabalhado. Na maioria das vezes,
pouco se produzia, e muito se reproduzia. Os conteúdos formais normalmente
escritos funcionavam como ‘receitas’ prontas sem remissão a contextos reais
do estudante.
Observa-se, então, que o que se apresenta como produção oral, na
verdade são apenas práticas isoladas de oralidade. No primeiro momento, é
ensinada a fonética e a fonologia, que são muito importantes para o
conhecimento de como se articulam os sons da língua, mas o trabalho com a
oralidade, no primeiro ano, acaba por aqui, retornando com mais algumas
práticas somente no quarto ano.
As práticas, como apresentadas nas ementas e programas do projeto de
2000 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 2000), não são
atividades de produção, pois o estudante não precisa construir sua fala a partir
de suas ideias, opiniões e pensamentos, ele precisa somente reproduzir.
Alguns dos objetivos do Projeto Pedagógico (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MATO GROSSO, 2000) são:
Desenvolvimento progressivo da competência comunicativa oral e escrita;
Ênfase em fonologia, ortografia e fixação das estruturas linguísticas básicas;
Produção, leitura e análise de textos;
Prática de leitura e produção de textos;
62
Ênfase em aspectos contrastivos entre estruturas do português e do espanhol;
Relacionamento do estudo das distintas escolas gramaticais: tradicional, estrutural, gerativo-transformacional e pragmática, com a língua espanhola como língua estrangeira;
Consolidação dos estudos das estruturas linguísticas em nível avançado, considerando as variantes geográficas, sociais e profissionais; Prática oral e escrita. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2000, p. 217)
Isso, além de outros aspectos relacionados à cultura dos países
hispanofalantes e história da Língua Espanhola.
Observa-se que o ensino da escrita padrão calcado na gramática ainda
é muito valorizado, mas, mesmo assim, pouco eficiente visto que se centra na
forma e não no uso dessa modalidade de linguagem. Flores (2010) confirma,
Por razões decorrentes de uma cultura universal de ensinar que institucionalmente está adequada às condições históricas e sociais do contexto brasileiro, os objetivos das disciplinas têm seguido uma lógica e uma estratégia organizacional que são assumidas como naturais da escola. Esta trabalha a partir da formalização e com ela, mais precisamente com a formalização através da palavra escrita. (FLORES, 2010, p. 4).
No Projeto de Reconhecimento do curso de Letras - habilitação em
Língua Espanhola, é possível observar que nas ementas das Línguas
Espanhola I, II, III e IV, existe a preocupação com a oralidade. As ementas
usam os termos práticas orais, aprimoramento da expressão oral e
conversação. Porém, no programa dessas disciplinas essa modalidade de
ensino não aparece em todos os anos de estudo. Ela está novamente na
Língua Espanhola I e IV, desaparecendo no segundo e no terceiro ano. (Anexo
II).
Mais uma vez a oralidade é trabalhada com apresentação dos fonemas,
e práticas orais, mas diferencia um pouco por trabalhar entonação. Todas
essas maneiras de trabalho com a oralidade são válidas, mas elas não podem
encerrar sem que haja produção do conhecimento da LE.
No perfil do profissional que a universidade busca formar, segundo o
Projeto de 2000 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 2000),
observa-se:
63
a) Domínio teórico e descritivo dos componentes fonológico, morfossintático, léxico e semântico-pragmático da língua portuguesa, línguas inglesa, francesa e espanhola. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 2000, p. 229)
Não se prioriza a produção oral. Há o trabalho com os componentes
fonológicos, porém não está explicitado como trabalho de produção o que
sinaliza as tendências que prevaleciam na formação dos professores
formadores da época.
Em pesquisa realizada com cinco professores de Língua Espanhola que
atuam em Mato Grosso, constatamos através das respostas, que a maior
dificuldade enfrentada por eles hoje é a produção oral, como podemos
observar na resposta do professor B:
Acredito que a minha insegurança se dá no campo da oralidade. Certamente, isso se dê pela má estruturação das disciplinas do currículo, bem como de bom senso e boa vontade de alguns professores efetivos da academia. (Professor B)(ANEXO I-A).
Há de se observar que o sucesso da formação acadêmica não depende
exclusivamente do currículo, como afirma o professor B da pesquisa, mas
também de quem o implementa: o docente. Quando este tem a visão de que o
ensino universitário deve ser pautado nas necessidades da prática social e de
que ele, como docente, contribui diretamente na formação de um professor que
deverá possuir proficiência na língua que ensinará, o alvo do ensino
universitário, que é um professor bem formado e pronto para os desafios que
encontrará na escola, será atingido com muito mais precisão.
Quando isso não acontece, corremos o risco de gerar a sequência na
qual o professor que ensinou na FI apegado à tradição gramaticista, leva o
aluno/professor a reproduzir como natural esse enfoque no ensino básico.
No ensino da Língua Espanhola na Formação Inicial, é muito importante
que haja momentos de discussão e reflexão sobre a organização desse ensino
nas escolas, quais as particularidades que ele enfrenta, que vão desde o tempo
e quantidade de aulas, normalmente uma por semana, à própria concepção
que alunos e escola têm quanto ao que é aprender/ensinar LE na escola, o que
normalmente gira em torno de um discurso recorrente: “não se aprende LE na
64
escola”. Além disso, no ensino de E/LE há outro discurso que muitas vezes
dificulta o ensino: “aprender espanhol é fácil, é quase igual português”.
Essas discussões precisam ser tomadas na universidade para que o
futuro professor saiba como lidar com as particularidades e com esses
discursos, a fim de melhorar sua prática de ensino. Porém, pouco se discute e
o professor toma conhecimento dessas realidades já no contato direto com a
escola. Essa discussão poderá ser retomada em futuros trabalhos, pois não é o
intuito desta pesquisa que nos aprofundemos neste assunto.
A última alteração na grade, o Projeto pedagógico de 2010
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 2010)(ANEXO IV), trouxe
mudanças para o ensino de E/LE, que começaram a ser aplicadas em 2011.
Estas têm sido mais atentas à formação com ênfase na oralidade, com
aproximação da proposta enunciativo-discursiva na ânsia de atender as
expectativas da sociedade.
Nesse sentido, destacamos um dos objetivos:
Proporcionar ao aluno sólida fundamentação teórica e competente instrumentação didático-pedagógica e linguística para que o licenciado, por meio de formação geral e específica, possa exercer a profissão com competência e contribuir com uma resposta adequada às demandas da sociedade. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 2010)(ANEXO IV).
As capacidades a serem desenvolvidas que o documento apresenta
priorizam, em alguns momentos, a produção oral:
a) Compreender, avaliar e produzir textos de tipos variados em sua estrutura, organização e significado, em língua materna e em língua estrangeira; b) Produzir e ler competentemente enunciados, em diferentes linguagens e traduzir umas em outras; [...] g) Interpretar adequadamente textos de diferentes gêneros e registros linguísticos e explicitar os processos ou argumentos utilizados para justificar sua interpretação; [...] i) Articular o conhecimento teórico-conceitual em língua materna, língua estrangeira e respectivas literaturas à sua prática em sala de aula, colocando em ação os instrumentos didático-pedagógicos e lingüísticos adequados à sua realidade educacional. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 2010)(ANEXO IV).
65
É importante ressaltar que o currículo do projeto de 2010 não utiliza o
termo ‘prática’ como no anterior, mas utiliza o termo ‘produção’, demonstrando
preocupação em produzir e não em reproduzir. Também aparece nas ementas
e objetivos dos programas o termo ‘produção enunciativa’, diferente dos
currículos anteriores.
A inserção desses termos não confirma que a prática atual condiz
realmente com o que se propõe na abordagem enunciativa-discursiva. Ao
menos sinaliza para a adequação nessa abordagem a partir da análise
curricular realizada. A confirmação dessa prática só seria possível se fossem
observadas as aulas ministradas a partir desse novo currículo e a partir do
resultado que será gerado ao término dos primeiros quatro anos de seu
funcionamento. Cabe a essa pesquisa, a análise da proposta desse novo
currículo, sem a possibilidade de confirmação prática, diferenciando da análise
do currículo de 2000, no qual além das propostas foi possível observar as
práticas e os resultados delas.
Duas alterações no novo projeto são relevantes: a inserção das
disciplinas “Subsídios fonéticos e fonológicos para a produção oral em Língua
Espanhola” e “Subsídios morfossintáticos para a produção enunciativa em
Língua Espanhola”.
A primeira, com oferta no primeiro ano, tem o objetivo de trabalhar
aspectos fonológicos que geralmente dificultam a produção enunciativa oral.
Propõe-se mostrar ao formando que a proximidade da Língua Portuguesa com
Língua Espanhola pode leva-los a vários equívocos.
A segunda, com oferta no segundo ano, propõe o trabalho com os
aspectos morfossintáticos que dificultam a produção enunciativa através de
estudos contrastivos. Enfatiza a pronominalização, as vozes passivas e
analíticas e outros aspectos.
As ementas das Línguas Espanhola I, II, III e IV também sofreram
algumas alterações. O desenvolvimento da competência oral é contemplado
em todos os anos do curso, o que é possível observar tanto nas ementas como
nos objetivos específicos dos programas: “Produzir e interpretar discursos orais
e escritos em língua espanhola, na perspectiva discursivo-dialógica”.
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO, 2010)(ANEXO IV).
66
A metodologia também é baseada no enfoque discursivo valorizando as
práticas sociais, a interação.
Além das alterações referidas, o novo currículo apresenta uma carga
horária maior para o ensino de E/LE, passando de 420h para 576h assim
distribuídas:
a) Língua Espanhola I – 144h
b) Língua Espanhola II – 144h
c) Língua Espanhola III – 144h
d) Língua Espanhola IV – 144h
Ainda com todas essas mudanças o currículo continua apresentando,
em sua maior composição, aspectos gramaticais descontextualizados. Porém,
em alguns momentos, observa-se que os discursos apresentados buscam
atender as expectativas da escola e da sociedade. É possível a visualização
deles quanto à preocupação em formar profissionais que consigam produzir e
interpretar apresentando bom nível de proficiência em E/LE, como consta nos
objetivos dos programas.
Sendo os currículos analisados sob o aspecto da AD, observamos que
as Formações Discursivas, que são diretamente ligadas à historicidade e às
condições de produção são construídas pela própria história do ensino nos
cursos de Letras que tem bases gramaticalistas e traz a escrita como vocação.
As bases históricas do curso se constituem pelas condições de produção, que
no caso, privilegiavam a escrita. O Projeto de 2000 é pautado nessa FD.
Porém, as mudanças sociais e pedagógicas alteraram as necessidades.
As condições de produção atuais demandam que o ensino se centre na
produção enunciativa oral, por isso, o Projeto de 2010 é alterado em alguns
aspectos, mas não rompe por completo com o tradicional (ensino calcado na
gramática) devido a sua história e ideologias que estão impregnadas nele. A
FD presente no discurso do currículo atual é diferente da FD do anterior, pois
segundo Maingueneau (2007), a FD não é um bloco compacto e fechado, mas
se define a partir de uma incessante relação entre si.
À luz das ideias que aqui são defendidas, essas alterações podem ser
consideradas relevantes, mas a confirmação dessa opinião acontecerá apenas
67
daqui a quatro anos quando os primeiros alunos que passaram por este novo
currículo se tornarem profissionais. A nossa expectativa é que certas
dificuldades na produção enunciativa oral, tão evidentes nos professores de
hoje, sejam diminuídas e que o início do fim do ciclo de dificuldades nessa
modalidade tenha começado.
3.2 Apresentação e comentários sobre a análise dos questionários: em
busca da comprovação da dificuldade da produção enunciativa oral.
Temos comentado até as aqui dificuldades que apresentam os
professores de língua espanhola na enunciação oral. Tratamos das possíveis
causas e como elas vêm se apresentando dentro dos currículos. Torna-se
necessário, por isso, garantir nosso raciocínio com as vozes de professores
que atuam no estado de Mato Grosso.
Aplicamos um questionário (APÊNDICE I) a cinco professores que
atuam na rede estadual de ensino. O questionário consta de quatro perguntas
abertas e busca saber sobre a própria habilitação em Língua Espanhola. As
perguntas procuram saber: o que eles sugeririam ao programa de graduação
para aprimorar essa formação a partir do que eles constataram no seu
desempenho nas escolas; se eles se sentem inseguros em alguns aspectos do
trabalho com a Língua Espanhola e a que atribuem a insegurança; em que
dariam mais ênfase no currículo da habilitação e em que disciplina ou
disciplinas reduziriam a carga horária.
Dos cinco professores, três deles fizeram a graduação em Língua
Espanhola pela UFMT (entre 1996 e 2008) denominados de professor A, B e C,
um na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) em 2001, o professor D
e um na UNIVAG (Centro Universitário de Várzea Grande) em 2005, o
professor E.
Essa distribuição se tornou interessante, porque apesar serem
professores formados em universidades diferentes, nota-se que as formações
passaram praticamente pelos mesmos problemas.
Quanto aos respaldos vivencial e referencial que validam o
posicionamento dos cinco professores não revelaram contradições marcantes,
68
o que os insere na mesma formação discursiva ou em formações com
referenciais comuns.
As condições de produção dos processos de formação profissional dos
professores avalizam o que vem sendo sustentado neste trabalho. Apesar de
eles terem se graduado em três universidades diferentes e em momentos
históricos diversos. Apenas dois sujeitos da pesquisa se formaram no mesmo
período e na mesma universidade. Ainda assim os discursos se fundem na
formulação e na argumentação que indicam o funcionamento de uma
concepção comum do que é ensinar Língua Espanhola.
Vamos às apresentações das quatro perguntas e dos comentários.
a) Pergunta 1
Você pode considerar que a sua graduação em Língua Espanhola foi
satisfatória? Por quê?
60%20%
20%
Sim
Não
Em partes
Gráfico 1: Pergunta 1: Você pode considerar que a sua graduação em Língua Espanhola foi satisfatória? Por quê? Fonte: Dados coletados na pesquisa.
Diante das respostas observa-se que a maioria respondeu que a
graduação foi satisfatória. Quando explicaram o porquê, os que disseram sim
explicaram que tiveram bons professores - sem explicitar o que vem a ser um
“bom professor” - e alguns deles nativos - aparentemente considerando essa
característica determinante para ser bom profissional - o que segundo eles
exigia maior concentração e esforço para aprender, sem explicar este último
argumento.
69
O professor que considera a graduação satisfatória em partes, explicou
que aprendeu a Língua Espanhola, mas não como pretendia aprender no início
do curso – sem descrever como imaginava que seria. Ele considerou que sua
formação não pode ser considerada totalmente satisfatória por terminar com
deficiências na oralidade – o que permite inferir que nos outros aspectos foi
satisfatória.
O professor que respondeu “não” atribuiu a sua insatisfação ao fato de
não ter estudado fonética e sintaxe em Língua Espanhola e complementou
dizendo que não foi formado em Literatura Espanhola, pois as aulas, segundo
ele, quase não aconteciam.
Podemos observar, portanto, que na pergunta 1, o trabalho deficiente
com produção oral é apresentado como uma das insatisfações. Além de
perceberem a insuficiência de certas capacidades necessárias para dominar
uma LE, dadas as necessidades contemporâneas, estes professores, na
análise de aspectos que contribuiriam para o seu aprimoramento profissional,
sentiram a falta da fonética em E/LE.
Os currículos anteriores apresentavam o estudo da fonética como mais
um aspecto, sem muita relevância, junto aos outros conteúdos da disciplina de
E/LE. O novo currículo, de 2010, abre um espaço maior para esse trabalho
dispondo de 72h desse estudo. Estudar a fonética é relevante para a
aprendizagem de uma LE, pois é o momento de conhecer e contrastar os sons,
aos quais articulará na LE.
Os professores colocam que a formação em Letras não tem atendido as
exigências atuais necessárias para o conhecimento de uma LE, e que o aluno
entra no curso com a expectativa de realmente conseguir ser fluente em
espanhol. Como isso não acontece, as frustrações começam a marcar a sua
autopercepção como profissionais.
b) Pergunta 2
Você se sente inseguro em algum aspecto de seu trabalho? A que você
atribui a causa?
70
60%
0%
40%Sim
Não
Em partes
Gráfico 2: Pergunta 2: Você se sente inseguro em algum aspecto de seu trabalho? A que você atribui a causa? Fonte: Dados coletados na pesquisa.
Os professores atribuíram a insegurança a dois motivos. Um deles é a
falta de materiais didáticos como livros adequados aos diferentes públicos que
a escola pública atende, além de outros recursos didáticos. O outro motivo se
dá no campo da oralidade.
Ao serem perguntados sobre as causas de suas inseguranças,
responderam apenas sobre o segundo aspecto, atribuindo o problema à má
estruturação curricular e ao desempenho de alguns professores que, segundo
eles, deixou a desejar.
Há, portanto, a confirmação da dificuldade na enunciação oral.
Aodeclararem suas inseguranças, citam a de “falar em espanhol”. Segundo os
professores C e B,
Professor C - “Sinto-me insegura na hora de “hablar” espanhol”. Professor B - “Acredito que a minha insegurança se dê no campo da oralidade. Certamente, isso se dê pela má estruturação das disciplinas do currículo, bem como de bom senso e boa vontade de alguns professores efetivos da academia”. ”. (ANEXO I-B e ANEXO I-A).
A resposta do professor B confirma a análise curricular realizada quanto
à dificuldade de produção oral, que pode se dar pela má estruturação do
currículo.
Quando os professores respondem que sentem dificuldade em “falar em
espanhol”, infere-se que a dificuldade existe na produção de enunciados nessa
71
língua. Produzir enunciados é diferente de simplesmente falar. O ‘falar’ pode
ser pautado na reprodução de uma frase ou texto, enquanto produção de
enunciados é a elaboração do que se quer dizer e como se quer dizer
considerando o outro, pois ela se dá a partir da interação social.
Para enunciar e produzir discursos, não bastam apenas os
conhecimentos de aspectos formais da língua como morfologia e sintaxe, ou os
fonéticos e fonológicos, é preciso que considere os conhecimentos linguísticos,
“[...] mas também, a complexidade do sujeito e de sua identidade, bem como
suas representações de língua (seja a sua, seja a do outro), de nação (de
maneira análoga, a sua e a da LE)”. (DEL GREGO, 2009, p. 586).
Como nos explica Revuz (1998 apud DELGREGO, 2009, p. 586)
[...] a língua é o material fundador de nosso psiquismo e de nossa vida relacional e, por tal razão, toda e qualquer tentativa de aprender uma língua estrangeira vem modificar o que já nos está inscrito com as palavras da nossa primeira língua.
(REVUZ, 1998 apud DEL GREGO, 2009, p. 586).
c) Pergunta 3
Você tem algumas sugestões de alteração para o programa de
graduação a fim de eliminar as dificuldades constatadas no seu desempenho
profissional? Quais?
80%
20%
Sim
Não
Gráfico 3: Pergunta 3: Você tem algumas sugestões de alteração para o programa de graduação a fim de eliminar as dificuldades constatadas no seu desempenho profissional? Quais? Fonte: Dados coletados na pesquisa.
72
As sugestões apresentadas foram: que haja diminuição do acúmulo de
disciplinas para a habilitação dupla otimizando o tempo; que os professores de
didática trabalhem juntamente com o professor de E/LE aspectos relevantes
para o ensino desta língua estrangeira; que se tenha o estudo da fonética da
Língua Espanhola, da sintaxe e aulas de campo.
Na pergunta 3 os professores poderiam sugerir alterações no currículo.
Aqui foi possível observar que a maior parte dos professores concordam que a
produção oral deveria ser uma constante do início ao fim do curso e que a
fonética é essencial para o aprendizado de uma LE. Sendo assim, reafirma o
que temos dito sobre a distância entre o currículo e as necessidades atuais.
Professor D – “Penso que a Fonética da Língua Espanhola deveria ser uma constante em todos os semestres de duração do curso”. (ANEXO I-C).
Quando o professor D responde que é necessário o estudo da fonética
em todos os semestres, infere-se que a necessidade da produção oral se dá
em todos os semestres, e talvez ele tenha usado fonética como sinônimo de
produção oral.
As aulas de campo, como um dos professores colocou, deveriam
merecer maior relevância no currículo. O professor B que faz essa sugestão,
não explica de quais aulas de campo ele se refere. Portanto, é possível prever
dois tipos de aulas de campo: o contato direto com as escolas de ensino básico
e momentos de intercâmbios em países hispanofalantes.
O primeiro tipo se materializaria em um contato direto com a realidade
da escola, que seria interessante que acontecesse desde o primeiro ano do
curso, através da observação de como acontece o cotidiano escolar e como o
E/LE está inserido nesse contexto.
O estudo de uma LE, num patamar de profissionalização, precisa do
contato com falantes nativos em situações do quotidiano e isto envolve pelo
menos um período de imersão em países de Língua Espanhola. Esses
períodos poderiam ser previstos no currículo, não como mais uma disciplina,
mas como oportunidade para aqueles que quiserem e puderem participar
desse momento de imersão. No contexto mato-grossense as distâncias dos
países hispanofalantes são relativamente curtas e os custos razoáveis para o
73
público com que os cursos trabalham, tornando possível que todos ou, pelo
menos, a maioria dos estudantes participem destes períodos.
O contato direto com nativos contribuirá para a compreensão deste
outro, o qual tem estudado sobre sua língua e cultura. Não serão somente os
aspectos linguísticos que serão importantes neste contato, mas também a
compreensão da formação cultural e histórica desse sujeito.
Em relação à pergunta 3, um dos professores colocou como sugestão de
alteração do programa:
Professor A – “Os professores de didática poderiam abordar em suas aulas, juntamente com o professor de estágio de língua estrangeira em estudo, aspectos relevantes para o ensino da LE”. (ANEXO I).
Esta sugestão representa como muito tardiamente o profissional em
exercício percebe aspectos determinantes que não foram contemplados no
programa de sua habilitação.
A disciplina Didática está no currículo, porém refere-se a fundamentos
gerais da prática docente em função da língua portuguesa, o que naturalmente
não se coaduna com as necessidades do ensino de línguas estrangeiras. Isto
envolve consequências não pouco importantes no modo como o professor em
formação trata de compatibilizar dois desempenhos e duas estratégias de
ensino diferentes.
Os professores de LE nas universidades, oriundos de cursos com
características semelhantes, demonstram não contar com subsídios didáticos
necessários para suprir necessidades práticas do exercício profissional.
d) Pergunta 4
Se você pudesse alterar o currículo, em que disciplinas você daria mais
ênfase e em quais você reduziria a carga horária?
74
40%
60%
Reduziria a CH
Não reduziria a CH
Gráfico 4: Pergunta 4: Se você pudesse alterar o currículo, em que disciplinas você daria mais ênfase e em quais você reduziria a carga horária? Fonte: Dados coletados na pesquisa.
Os professores que não reduziriam a carga horária acreditam que este
não seria o caminho para a adequação do curso ao atendimento das
necessidades apresentadas.
Quando perguntados sobre em quais disciplinas dariam mais ênfase, a
maioria das respostas (80%) considerando os dois grupos, responderam que
seria na Língua Espanhola e alguns ressaltaram que seria na fonética desta
língua. Também responderam que dariam ênfase nas práticas curriculares
visando à futura aplicabilidade destas, aliando teoria à prática.
Aqueles que responderam que reduziriam a carga horária, disseram que
o fariam nas disciplinas de literaturas por julgarem de menos importância na
preparação para o ensino de LE.
Quatro dos cinco professores concordam que deveria ser dada mais
ênfase ao ensino do E/LE. As respostas dadas a essa última pergunta,
enfatizaram a necessidade da produção oral no programa.
Professor E – “Daria más énfasis en la lengua española”. Professor D – “Se isso fosse possível, proporia que todas as disciplinas do curso fossem ministradas em Língua Espanhola, não diminuiria a carga horária de nenhuma e se pudesse até aumentava a de todas mesmo aquelas referentes a Língua Portuguesa e daria mais ênfase nos aspectos fonéticos”. (ANEXO I-D e ANEXO I-C).
Percebe-se que os professores se mostram preocupados com a
produção oral, por isso o desejo de que outras disciplinas do curso fossem
75
também ministradas em espanhol, pois assim teriam maior contato com a
língua. Os aspectos fonéticos que tanto eles dão relevância estão diretamente
ligados à importância que dão a produção oral, porém utilizam o termo fonética
generalizando todo o trabalho com a oralidade.
Alguns dos professores colocaram que existem disciplinas no programa
que poderiam sofrer redução de carga horária, enquanto que a de Língua
Espanhola deveria ganhar mais espaço.
A redução da carga horária da disciplina de Literatura foi comentada por
um dos entrevistados, ao ressaltar que se pudesse diminuir o número de horas
de algumas disciplinas, o faria com as literaturas. Consideramos que a
literatura em língua estrangeira, quando em função da formação eficaz do
profissional dessas línguas, é relevante na transmissão e justificação de
referências que configuram as nacionalidades e justificam comportamentos que
se materializam contemporaneamente, inserindo-os na história. Essas
literaturas são importantes como registros da língua em usos que se afastam
do quotidiano.
Ideologicamente a Literatura é considerada essencial para o graduado
em Letras, isso porque ainda é vista com o papel de preparar intelectuais para
o exercício das altas atividades culturais, quando, na verdade, ela é
complementar para a formação.
O acesso a este tipo de referências da língua, do comportamento e da
história é necessário no processo de formação profissional, mas o seu espaço
curricular não deve afetar o foco do objetivo prático da habilitação: produção de
capacidades voltadas para a prática do ensino da Língua Espanhola. A opinião
do professor abaixo, construída a partir do senso comum, endossa o que vimos
sustentando:
Professor C – “Daria mais ênfase em Língua Espanhola e reduziria a carga horária das Literaturas. Não é por não achar importante as Literaturas, mas a realidade é que você como professor não é cobrado nessa parte, os alunos lhe cobram gramática e oralidade (pronúncia)”. (ANEXO I-B)
O espaço que a Literatura ocupa no ensino de LE nos programas dos
cursos de Letras é mais por questões tradicionais que práticas. A inserção dela
76
se dá pelo argumento de que ela é necessária para o ensino das culturas.
Segundo Valdes (1986, p.137 apud FLORES, 2006, p.3),
A afirmação de que a literatura pode ser usada para ensinar cultura é provavelmente aceita com tanta amplidão que se transformou em clichê. (...) Simplesmente é tido como dado que a literatura é componente viável nos programas de segunda língua num nível apropriado e que uma das principais funções da literatura é servir de veículo para transmitir a cultura do povo que fala a língua em que ela está escrita. (VALDES, 1986, p.137 apud FLORES, 2006b, p.3)
De acordo com Flores (2006b, p. 4) “[...] o recurso à literatura tem sido
mais para reforçar a atividade de leitura do que como meio para acessar a
aspectos da cultura-alvo”. Entende-se ao longo dos tempos que a Literatura no
ensino de LE precisa acontecer, porém ela não tem sido utilizada como objeto
principal, mas sim como pretexto para se trabalhar gramática, tradução, leitura.
Nesse sentido, endossamos as palavras de Flores (2003, p. 74-75 apud
OLIVEIRA, 2008, p. 76) quanto ao tratamento atual do literário:
a- inexiste uma concepção de literatura em função do ensino de LNM5; b- as escolhas do literário por professores, autores e coordenadores parecem obedecer a decisões voluntaristas; c- o foco dos exercícios propostos em LD6 visa mais ao lexical e à sintaxe verbal do que à produção discursiva; d- a textualidade própria do recorte e as condições de produção que o remetem à obra são desconsideradas e e- apesar de se tratar de uma produção discursiva em LNM, o relacional não é levado em conta. (FLORES, 2003, p. 74-75
apud OLIVEIRA, 2008, p.76).
O foco desta pesquisa não é mudar o currículo do curso de Letras, pois
isso foge da nossa alçada. O que vem funcionando em todo este trabalho é um
processo de problematizações que resultem em sugestões de forma a
aproximar mais o currículo da sua função: instrumento para a consecução de
objetivos em função das necessidades que a sociedade cobra da escola num
momento histórico dado.
Sendo assim, faremos aqui uma proposta de Formação Continuada (FC)
a fim de tentar compensar algumas das deficiências deixadas pela FI, mesmo
5 Verificar na lista de abreviações. 6 Verificar na lista de abreviações.
77
sabendo que esta não é a função principal da FC, mas é uma solução paliativa
diante do quadro que se mostra de dificuldades apresentadas pelos
professores de E/LE. O foco desta proposta de FC será na produção
enunciativa oral por ser um dos aspectos de atenção necessária em função do
atendimento às expectativas da escola e sociedade. Procuramos com essa
proposta minimizar as deficiências na produção enunciativa oral que foram
demonstradas aqui.
3.3 Formação Continuada: uma proposta para amenizar as dificuldades de
produção enunciativa oral dos professores de Língua Espanhola.
“[...] aprender uma língua estrangeira é afrontar um espaço silencioso no qual é preciso se inventar para dizer eu”. (REVUZ, 1998, p. 228).
Como temos argumentado, as dificuldades de produção enunciativa oral
são definidoras da qualidade do desenvolvimento de capacidades na formação
de profissionais das Línguas Estrangeiras. Grande parte dos professores
formados na habilitação de Língua Espanhola sente dificuldade em utilizar em
sala de aula. Assim, os professores evitam o recurso a ela no seu desempenho
didático e acabam dando as aulas em português.
Essa afirmação se respalda pelo contato direto com vários professores
que atuam na rede pública estadual de ensino através dos cursos que
ministramos no Cefapro além do contato com colegas de trabalho e
colegas/professores que se formaram junto conosco e agora através da
pesquisa com os professores/sujeitos do nosso trabalho.
Dada a impossibilidade de interferência no currículo da universidade,
buscando adequação às necessidades sociais atuais, a Formação Continuada
vem como meio de aprimoramento da produção enunciativa oral dos
professores de Língua Espanhola.
A FC existe em função da satisfação das necessidades contemporâneas
de readequação da escola às mudanças de condições da sociedade. As
relações diretas entre pessoas de línguas diversas facilitadas pelas recentes
tecnologias, a circulação da informação sobre o cotidiano, a política, a
78
tecnologia e os processos produtivos, tudo com uma vigência de validade que
é posta em xeque pela própria dinâmica dessa circulação exigem outro
patamar de conhecimento da Língua Estrangeira.
Pesquisadores da Linguística Aplicada coincidem na postura que se
defende neste trabalho quanto à relação entre a teoria e a prática. Leffa (2001,
p. 334), por exemplo, afirma que:
[...] a sala de aula não é redoma de vidro, isolada do mundo, e o que acontece dentro dela está condicionado pelo que acontece lá fora. Os fatores que determinam perfil do profissional de línguas dependem das ações, menos ou mais explícitas, conduzidas fora do ambiente estritamente acadêmico e que afetam o trabalho do professor. (LEFFA, 2001, p. 334)
A coincidência entre posturas se dá porque tanto a Linguística aplicada
como a AD concebem a linguagem em função social, a linguagem em uso.
A Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT)
compreende que a FC, não é um momento único e passageiro, mas um longo
processo de desenvolvimento profissional. É necessário que o professor esteja
sempre em busca de respostas para os próprios questionamentos sobre suas
disciplinas, suas referências e atitudes, dado que assume uma postura crítica,
o que envolve a possibilidade efetiva de realizar mudanças.
Como defende Freire (1996, p. 43-44),“[...] é pensando criticamente a
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.
É preciso lembrar que a adequação da produção enunciativa dos
professores de E/LE é importante não somente para eles próprios como
sujeitos, mas também para seus alunos porque oportuniza a eles uma
aprendizagem qualitativamente superior em sintonia com as exigências atuais.
Um de nossos princípios iniciais é que o aluno deve aprender a usar o idioma
em diferentes situações e que ele vai atribuir relevância ao seu aprendizado na
medida em que o mesmo supre suas necessidades de uso da língua.
Consegue-se criar condições para um processo de atribuição de
relevância aos conteúdos a partir do aluno, e não unilateralmente do professor,
mediante a aplicação de um trabalho didático preferencial de remissão das
atividades ao universo vivencial do estudante atendendo às suas necessidades
enunciativas.
79
Antes da elaboração da proposta, foi preciso ouvir e conhecer de que
modo estavam postos os discursos produzidos pelos professores. Percebemos
então que ferramentas da AD como a história, a ideologia e as condições de
produção nos ajudaram para a elaboração efetiva da nossa proposta.
A iniciativa que segue deve atender aos professores da rede pública de
ensino através de um curso. A forma ideal para tal seria via Cefapro, por ser
este um órgão da SEDUC/MT, que atua na FC do público referido. Assim, este
projeto foi pensado a partir da premissa de que o professor deve estar de
posse das capacidades básicas e se sentir seguro no uso da Língua Espanhola
para, em seguida, desempenhar seu trabalho didático com os alunos.
Porém, esta proposta poderá também ser executada em outros órgãos
que trabalham com Formação Continuada. É o caso do Instituto Federal de
Tocantins (IFTO), instituição onde trabalho atualmente como professora de
E/LE. O IFTO – campus Paraíso do Tocantins também promove a FC para
professores da própria instituição, como também, para professores da rede
pública estadual, sendo assim, um local onde poderá ser aplicada a proposta.
Ainda que as discussões tenham sido pensadas e pautadas na realidade
mato-grossense, nada impede que as ações sejam aplicadas a outras
realidades, pois a dificuldade na produção enunciativa oral dos professores de
E/LE infelizmente não se restringe ao contexto de Mato Grosso, mas está
presente em todo o território nacional.
Existe também a expectativa quanto à produtividade com o número de
cursistas proposto que é de vinte (20). Acreditamos ser um bom número para
desenvolvermos o trabalho com a produção enunciativa oral, pois mais
professores/cursistas poderiam prejudicar o resultado esperado.
A proposta tem a seguinte organização:
Curso: Professores de Língua Espanhola: em busca da adequação da
produção enunciativa oral.
Duração: 40h – com encontros de uma vez por semana totalizando 12
encontros de 3 horas e 1 de 4 horas (aproximadamente 3 meses) e mais 20h
de atendimento pessoal (considerando uma hora para cada cursista).
Público: Professores de Língua Espanhola que atuam na rede pública de
ensino.
80
Local: a ser organizado por polos para facilitar o acesso do professor/cursista.
Vagas: 20
Modo do curso: Presencial
Observação: antes do início do curso é importante fazer uma sondagem sobre
os melhores horários para a aplicação do mesmo.
Plano de curso
Ementa
Desenvolvimento da produção enunciativa oral em Língua Espanhola através
de atividades que envolvam situações do cotidiano.
Objetivo geral
Aprimorar a produção enunciativa oral dos professores de E/LE.
Objetivos específicos
- Propiciar momentos de reflexão sobre o uso da Língua Estrangeira, bem
como da produção enunciativa oral;
- Relevar as diferenças entre a Língua Portuguesa e a Espanhola;
- Aproximar os professores de aspectos fonéticos e fonológicos da Língua
Espanhola.
Metodologia
No primeiro momento, traremos a discussão sobre a importância de se
trabalhar um curso de produção enunciativa oral. Nessa discussão,
pretendemos ouvir os professores/cursistas sobre seus anseios e expectativas,
as dificuldades que sentem na sua prática quanto a produção oral, além de
explicitarmos os objetivos e metodologia do curso.
A metodologia consiste no desenvolvimento da produção enunciativa
oral que se baseia na detecção, na descrição e na produção. Esta sequência
busca a não reprodução imitativa, mas a produção enunciativa de
necessidades discursivas.
Para desenvolver a oralidade é preciso que o aluno não tenha medo de
falar errado, por isso, é importante que ele tome conhecimento que para a
produção de um texto oral é preciso três fundamentos: os conhecimentos
81
sistêmicos que englobam os estudos fonéticos e fonológicos; o conhecimento
de mundo que são as situações do cotidiano; e o conhecimento da organização
da estrutura de um texto, se dissertativo, narrativo. (LIMA; SCHIER, 2010)
Serão trabalhados os aspectos fonéticos e fonológicos, a fim de ressaltar
as peculiaridades da LE. Nesse momento o professor deve estar atento às
relações que os cursistas farão naturalmente quanto à relação entre as línguas
espanhola e portuguesa. O trabalho não deve ser o de imitação dos nativos,
mas de conhecimento dos aspectos fonéticos e fonológicos da Língua
Espanhola. Se o ensino for centrado na forma (na pronúncia correta), pode ser
um obstáculo para que o aprendiz se enuncie na LE.
O reconhecimento da relação português-espanhol determina o modo
como acontece a aprendizagem de E/LE. Segundo Flores (2006),
A LM está na base de todo esforço de naturalização/adequação para que o recorte discursivo em LNM possa existir enquanto acontecimento significante. Isto, quer seja privilegiando o aspecto perceptivo do uso linguístico -- a interpretação (leitura, compreensão auditiva) --, quer seja focalizando o seu lado produtivo: a produção oral e escrita. (FLORES, 2006b, p. 2).
O aprendiz de uma LE encontra na LM um instrumento para sua
aprendizagem devido ao longo percurso de sua história com sua língua.
Certamente essa história justificará dificuldades decorrentes do seu percurso
de aprendizagem e das inevitáveis marcas identitárias, que em qualquer sujeito
enunciador, vêm sempre à tona.
Não se trata aqui de um estudo aprofundado em fonética e fonologia,
mas de fazermos uma breve retomada deste assunto a fim de diminuir marcas
evitáveis do português no espanhol atenuando também as dificuldades de
interação discursiva e de compreensão. O estudo da fonética, segundo Flores
(2010) é
Una herramienta de mucha utilidad para aclarar detalles de la pronunciación en una lengua extranjera y estabilizarla para que el hablante en formación tenga referencias adecuadas (…). La misma consiste, como su nombre lo indica, en codificar los sonidos aislados, dentro de una palabra o en una cadena sonora más amplia que corresponde a grupos acentuales y fónico a partir de uno de los alfabetos fonéticos (el de la Revista de Filología Española –RFE—o el Alfabeto Fonético Internacional –AFI). (FLORES, 2010, p. 25).
82
Para muitos, o aprendizado de uma LE é algo difícil, produzir enunciados
é vista como uma tarefa árdua, pois
[...] a não inscrição do sujeito no discurso da língua estranha levaria à necessidade de criar novos enunciados nessa língua, uma vez que, nela, o sujeito não disporia de já-ditos, como na língua materna. (ROSA, 2006. p. 2).
As dificuldades na aprendizagem de LE segundo Revuz (1998, p. 216)
ocorrem porque o “Objeto de conhecimento intelectual, a língua é também
objeto de uma prática. Essa prática é ela própria, complexa”. A prática a que
ela se refere é a de troca discursiva, a de relacionar-se com os outros, na qual
põe todo o aparelho fonador em jogo.
Torna-se difícil se expressar em uma LE porque é necessário trabalhar o
corpo, os ritmos, a entonação e a memorização das estruturas linguísticas. De
acordo com Revuz (1998, p. 217) uma das hipóteses para os insucessos deve-
se a “[...] uma incapacidade de ligar estas três dimensões: afirmação do eu,
trabalho do corpo, dimensão cognitiva”.
Após um breve trabalho com fonética e fonologia, será trabalhada a
produção enunciativa a partir de recortes de uso em situações reais (notícias,
filmes, canções, entrevistas).
Nessa etapa serão introduzidos assuntos que propiciem uma interação
entre os cursistas. A interação será buscada através de propostas de debates,
posicionamentos diante de uma notícia, ou entrevista, a interpretação de
músicas e compreensão de filmes, além de assuntos pensados sob os
aspectos específicos do trabalho do professor, relacionados à escola onde
atua, aos seus alunos e às inquietações e situações que o cursista queira
abordar sobre o quotidiano. Para isso, o professor/cursista precisará se
enunciar na Língua Espanhola.
Para essas produções orais, será observada a questão da entonação,
que, sem o recurso da explicitação das palavras, externa o lado afetivo da
enunciação.
Durante o curso, está contemplado o atendimento personalizado com
agendamento de uma hora para cada cursista considerando as necessidades
detectadas por eles e/ou o professor. Dado que as dificuldades são na
produção oral, mas que cada um as apresentam em aspectos diferentes,
83
caberá ao professor colaborar diretamente na diminuição dessas dificuldades,
apontando meios em que eles possam buscar melhor desempenho.
Conteúdo programático
a) Produção enunciativa oral através de temas que propiciem a
construção da argumentação, posicionamentos e interpretações;
b) Fonética e fonologia da Língua Espanhola;
c) Entonação.
Recursos materiais
a) Computador e datashow;
b) Caixa de som;
c) Dvds, Cds;
d) Internet;
e) Cópias de textos e atividades para os cursistas;
f) Pincel, quadro branco.
Avaliação
A avaliação será contínua e se dará em vários momentos ao longo do curso.
Será através das produções orais e propiciadas pelas atividades.
84
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A finalização desta pesquisa me mostrou que o trabalho está apenas
começando e deixa um desejo ainda maior em investigar os currículos e a
formação de professores. Muitos aspectos que estão em torno dessas
questões, não puderam ser tratados nessa pesquisa para que o objetivo não
fosse desviado ficando, portanto, para outro momento.
A formação de professores é um assunto que sempre me atraiu, pois ela
é responsável pela qualidade dos profissionais em atuação nas escolas.
Existem muitas discussões em torno da formação, porém poucas ações para a
melhoria dela.
O surgimento da pesquisa se deu exatamente por esta preocupação: a
da qualidade dos profissionais que atuam e que irão atuar nas escolas. Desde
o princípio a ideia era a de investigar os motivos das dificuldades apresentadas
pelos professores de E/LE, porém não parar o trabalho na investigação, mas
propor sugestões para minimizar o problema. O trabalho não só mostra onde
se instaura o problema, mas aponta caminhos que possam amenizá-lo.
A Análise do Discurso e suas ferramentas serviram como pedras
fundamentais para esse trabalho. A compreensão de quem é o sujeito, a forma
com se dá seu assujeitamento, as ideologias que o marcam, as condições de
produção - que se dão em um dado momento histórico - capazes de inseri-lo
em uma Formação Discursiva fizeram-me entender e situar o “eu” e o “outro”
dentro do discurso.
Além disso, a compreensão de enunciado e discurso, foi essencial para
entender e justificar a necessidade da abordagem enunciativa oral.
Temos afirmado que para termos um ensino mais centrado na produção
enunciativa, o ideal seria a mudança na concepção do currículo de forma que
ele estivesse atrelado às condições da atualidade. Observa-se também que a
forma como a ‘prática oral’ tem acontecido, centrada na pronúncia imitativa do
nativo, torna-se, muitas vezes, um obstáculo para que se desenvolva a
produção enunciativa oral. As marcas da Língua Materna são inevitáveis ao se
pronunciar em LE, porém os currículos deveriam ser mais tolerantes a isso,
mostrando que se deve evitar a interlíngua e que a pronúncia como o nativo
não é a única correta e aceitável. O mais importante é que ele consiga se
85
enunciar de forma que se faça compreendido, colocando suas ideias, seus
posicionamentos sem muitas dificuldades. Dessa forma, o aprendiz se sentirá
mais encorajado a falar.
Na FI o foco no ensino tradicional ainda permanece, porém com a nova
estrutura curricular, abriu-se mais espaço para a produção enunciativa, o que
possivelmente concretizará numa formação mais próxima a atender as
expectativas da sociedade.
Na FC de professores em Língua Espanhola, algumas ações vêm
ocorrendo, mas o que percebi é que muitas continuam centradas no
tradicionalismo, privilegiando a escrita. Por isso, a preocupação dessa
pesquisa é em não só ofertar mais uma proposta de curso, mas ofertar uma
proposta de curso diferenciada que busca atender realmente as necessidades
tanto do profissional quanto da sociedade.
Durante os estudos para essa pesquisa, observei que a oralidade pode
ser trabalhada em dois principais eixos: o da reprodução e o da produção.
Observei também que muitos professores reclamam a falta do trabalho com
oralidade na FI e que essa falta reclamada, na maioria das vezes, é
relacionada a produção enunciativa. De acordo com os professores a FI oferta
alguns momentos de reprodução oral e pouco, ou não, oferece atividades de
produção, o que os faz ter dificuldades em se expressar de forma livre e segura
em E/LE.
Observei que as condições sócio-históricas é um fator determinante para
a adequação do currículo. Quando tratamos dos primeiros cursos de Letras no
Brasil e de como eles se estruturavam, percebi que foram pensados em
atender as necessidades daquele momento, no caso, se voltavam aos estudos
das línguas clássicas, o que se dava prestígio. Como as necessidades vão
mudando ao longo da história, o currículo precisa estar atento a elas e buscar
se adequar. Desde a criação dos primeiros currículos até agora, mudanças
ocorreram, porém em alguns momentos tem-se perdido o objetivo, ou o
objetivo não é o de adequação às necessidades contemporâneas.
Suponho que este trabalho tenha contribuído para os estudos
relacionados à formação de professores de E/LE e ao currículo. A experiência
vivida como professora de Língua Espanhola e formadora no Cefapro foi
enriquecedora para a realização desta pesquisa.
86
Assim, termino não com a sensação de trabalho cumprido, mas com
duas certezas: a de que há muito que fazer na área de formação de
professores e a de que este é meu começo como pesquisadora desse assunto.
87
REFERÊNCIAS
ALMEIDA FILHO, J. C. P. O professor de língua estrangeira sabe a língua que ensina? A questão da instrumentalização linguística. Revista Contexturas, São Paulo: APLIESP, v.1, n.1, p.77-85, 1992. ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos do estado. Lisboa: Editorial Presença, 1973a. BARACUHY, R. A produção discursiva da identidade nordestina no gênero propaganda turística. Revista Linguasagem, São Carlos: UFSCAR, n. 3, 2008. Disponível em: <http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao03/artigos_baracuhy.php>. Acesso em: 8 ago. 2011. BARBISAN, L. B. O conceito de enunciação em Benveniste e em Ducrot. Revista Letras, Santa Maria, RS: Programa de Pós Graduação em Letras - PPGL/UFSM, n. 33, jul./dez., p. 23-35, 2006. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/revistaletras/artigos_r33/revista33_3.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2012. __________. ; FLORES, V. N. Sobre Saussure, Benveniste e outras histórias da linguística. In. NORMAND, Claudine (Org.). Convite à linguística, Paris, 2008. p. 23-35. Disponível em: <http://www.editoracontexto.com.br/produtos/pdf/convite%20A%20linguistica_apresentacao.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2012. BENVENISTE, E. Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard, 1974. BOBBITT, F. The curriculum: a summary of the development concerning the theory of the curriculum. Boston: HoughtonMifflin, 1918. BOLOGNINI, C. Z. História e gestos de interpretação. Cadernos de tradução, Santa Maria, v. 2, n. 8, p. 97-106, 2001. Disponível em: <http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/5887>. Acesso em: 27 abr. 2011. BOSI, A. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. BOURDIEU, P. Pierre Bourdieu entrevistado por Maria Andréa Loyola. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002. 98p. __________; PASSERON, J. C. La Reproducción. México: Editorial Siglo XXI, 1976. BRANDÃO, H. H. N. Introdução à análise do discurso. 2. ed. Campinas: Unicamp, 2004.
88
BRASIL. Ministério da educação. Conselho Nacional de Educação. Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de Graduação. PARECER N.º: CNE/CES 67/2003. 2003. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0067.pdf>. Acesso em: 14 maio 2012. ________. Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de filosofia, história, geografia, serviço social, comunicação social, ciências sociais, letras, biblioteconomia, arquivologia e museologia. CNE/CES 492/2001. 2001. Disponível em: <http:// portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf>. Acesso em: 14 maio 2012. ________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 1996. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf> .Acesso em: 14 maio 2012. ________. Lei 11.161 de 5 de agosto de 2005. Dispõe sobre o ensino de língua espanhola. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm>. Acesso em: 14 maio 2012. ________. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares para o ensino médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2006. v.1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf>. Acesso em: 14 maio 2012. CEREZER, O. M. Documentos de identidade. Revista Aulas, n. 3, dez./mar. 2007. CEVIDANES, M. E. F. Conceitos básicos para o planejamento do trabalho docente. 2004. Disponível em: <http://www.prograd.ufes.br/.../planejamento_trabalho_docente.doc. Acesso em: 14 maio 2012. CORACINI, M. J. Ler Pêcheux hoje: no limiar das dúvidas e (in) certezas. Estudos da Lingua(gem), Vitória da Conquista, n.1, p.31-40, jun. 2005. DEL GREGO, I. I. D. Embates no processo de re-significação identitária via língua estrangeira. Revista Eutomia, ano 2, n.1, p. 583-602, 2009. Disponível em: <http://www.revistaeutomia.com.br/volumes/Ano2-Volume1/linguistica-artigos/Embates-no-processo-de-re-significacao-identitaria-via-lingua-estrangeira_Isis-Del-Grego.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2012. DEUSDARÁ, B. Esboço para uma teoria enunciativa em Focault. Revista Philologus, ano 14, n. 40, 2006. Disponível em: <http://www.filologia.org.br/revista/40/esbo%c3%87O%20para%20uma%20teoria.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2011
89
DEWEY, J. Psychology and social practice. 3. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1916. EAGLETON, T. Ideologia: uma introdução. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997. FERREIRA, M. C. L. (Org.). Glossário de termos do discurso. Porto Alegre, UFRGS, 2001. Disponível em: <http://www.discurso.ufrgs.br/glossario.html>. Acesso em: 11 abr. 2012 FIALHO, D. da S.; FIDELES, L. L. As primeiras faculdades de letras no Brasil. Revista Helb, ano 2, n. 2, jan./jun. 2008. Disponível em: <http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=106:as-primeiras-faculdades-de-letras-no-brasil&catid=1080:ano-2-no-02-12008&Itemid=11>. Aceso em: 5 out. 2011. FLORES, S. Tradução e ensino de línguas não maternas. Letras & Letras, Uberlândia, v. 22, p. 51-72, jan./jun. 2006a. _________. Ensino de línguas estrangeiras na rede pública do estado de Mato Grosso: a realidade dos objetivos através do currículo. Polifonia, Cuiabá, n. 17, p. 215-223, 2009. Disponível em: <http://www.letras.ufscar.br/linguasagem>. Acesso em: 5 mai. 2011. __________. A realidade do currículo no ensino fundamental: as línguas estrangeiras. In: PAPA, S. M. B. I. Formação crítica de professores de línguas: desejos e possibilidades. São Carlos: Pedro & João Editores; Cuiabá: EdUFMT, 2010. ___________. A literatura e o ensino de línguas não-maternas: um conflito assumido como harmonia. DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, São Paulo,v. 22, n.1, 2006b. FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 15. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. GIROUX, H. Theory & resistance in education: a pedagogy for the opposition. Londres: Heinemann, 1983. GONZÁLES, N. M. Lugares de reflexión em la formación del profesor de E/LE (La particular situación de Brasil). RedELE- Revista eletrónica de didáctica/ Españollenguaextranjera, n.0, mar., 2004. GRIGOLETTO, M. (Org.). Revista Dialogia, v. 6, p.21-29, 2007. GUERRA, V. M. L. Reflexão sobre alguns conceitos da análise do Discurso de linha francesa. Ensaios e Ciência, Campo Grande, v.7, n.1, p. 217-232, 2003.
90
GUIMARÃES, E. Enunciação e História. In: Histórica e Sentido na Linguagem. Campinas, SP. Pontes, 1989. __________. Os limites do sentido: um estudo histórico e enunciativo da linguagem. Campinas: Pontes, 1995. __________. Análise de texto: um estudo enunciativo. São Paulo: Unicamp, 2003. Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/livro/60ra/textos/CO-EduardoGuimaraes.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2011. HENRY, P. Constructions relatives et articulations discursives. Langages, p. 81-98 1975. LARA, G. M. P. Aplicando alguns conceitos de “Gênese dos discursos”. In: POSSENTI, S.; BARONAS, R. L. Contribuições de Dominique Maigueneau para a análise do discurso do Brasil. São Carlos, SP: Pedro e João Editores, 2008. LEFFA, V. J. Aspectos políticos da formação do professor de línguas estrangeiras. In: _______. (Org.). O professor de línguas estrangeiras; construindo a profissão. Pelotas: Educat, v. 1, p. 333-355, 2001. LIMA, S. S. Q.; SCHIER, S. A. B. O ensino de expressão oral e escrita em língua espanhola. Caderno de Conteúdos do 6º período do curso de Letras. Fundação Universidade do Tocantins; EADCON. Curitiba: EADCON, 2010. MAINGUENEAU, D. Gênese dos discursos. Tradução de Sírio Possent. Curitiba, PR: Criar Edições, 2007. MARTINS, M. F. Marx, Gramsci e o conhecimento: ruptura ou continuidade? Campinas, SP: Autores Associados, 2008. MOREIRA, A. F.; PACHECO, J. A. (Org.). Globalização e educação: desafios para políticas e práticas. Porto: Porto, 2002. MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Orientações Curriculares para Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Cuiabá: SEDUC/MT, 2009. MUSSALIM, F. Análise do discurso. In: ________.; BENTES, A. C. (Org.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2003. Cap. 1, p. 13-52. NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de pesquisas em administração, São Paulo, v. 1, n.3, jul./dez. 1996.
91
NOGUEIRA, A. Implantação do espanhol na grade curricular das escolas públicas brasileiras: um desafio com prazo. Revista Helb, ano 1, n.1, jan./jun. 2007. Disponível em: <http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=97:a-implanta-do-espanhol-na-grade-curricular-das-escolas-pcas-brasileiras-um-desafio-com-prazo&catid=1022:ano-1-no-01-12007&Itemid=12>. Acesso em: 5 out. 2011. NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Org.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p.15-33. OLIVEIRA, C. E. Concepções de leitura nos livros didáticos de língua espanhola: uma reflexão discursiva sobre a leitura em língua estrangeira. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguagem) - Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2008. ORLANDI, E. P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 1987. ___________. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis: Vozes, 1996. ___________. Michel Pechêux e a análise do discurso. Estudos da linguagem, Vitória da Conquista, n.1, p.9-13, jun. 2005. ___________. Análise de discurso: conversa com Eni Orlandi. Revista Teias, Rio de Janeiro, ano 7, n. 13-14, jan./dez. 2006. PAIVA, V. L. M. O. O novo perfil dos cursos de licenciatura em letras. In: TOMICH, E. T. (Org.). A interculturalidade no ensino de inglês. Florianópolis: UFSC, 2005. p. 345-363. PAPA, S. B. I. O uso da língua materna (LM) e da língua estrangeira (LE) na sala de aula, 2001. Disponível em: <www.ufmt.br/revista/arquivo/rev10/o_uso_da_lingua_materna.html>. Acesso em: 25 jul. 2009. PÊCHEUX, M. Análise automática do discurso. Tradução de Eni Pulcinelli Orlandi. In: GADET, F.; HAK, T. (Org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. 3. ed. Campinas: UNICAMP,1997. ___________;FUCHS, C. A propósito da análise automática do discurso: atualização e perspectivas. In. GADET, F.; HAK, T. (Org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas: Unicamp, 1997. PONTE, J. P. Da formação ao desenvolvimento profissional. In. Actas do Prof Mat98. Lisboa: APM, 1998. p. 27-44.
92
POSSENTI, S. Análise do discurso e acontecimento: breve análise de um caso. In: NAVARRO, P. (Org.). Estudos do texto e do discurso: mapeando conceitos e métodos. São Carlos: Claraluz, 2006. REVUZ, C. A língua estrangeira entre o desejo de um outro lugar e o risco do exílio. In: SIGNORINI, Inês. (Org.). Língua(gem) e Identidade. Campinas, Mercado de Letras, 1998. p. 213-230. ROMANELLI, O. História da educação no Brasil. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. ROSA, M. T. Sujeito e língua: um conflitante encontro. I Colóquio Internacional de Análise do Discurso. São Carlos, 2006. Disponível em: <http://www.ufsm.br/corpus/txtsciadpdf/marluza_da_rosa.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2012. SABAINI, S. M. G. Porque estudar currículo e teorias de currículo: proposta de estudo para reunião pedagógica, 2007. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/261-2.pdf>. Acesso em: 10 ago.2011. SACRISTÁN, J. O currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise prática? Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Armed, 2000. SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. 27 ed. São Paulo: Cultrix, 2006. SAVIANI, D. Pedagogia históricocrítica: primeiras aproximações. 9. ed., Campinas: Autores Associados, 2005. SERRANI-INFANTE, S. M. Formações discursivas e processos identificatórios na aquisição de línguas. DELTA, v.13, n.1, p. 63-81, fev. 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44501997000100004>. Acesso em: 14 maio 2011. SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. SOUSA, R. G. Constituição de 1934. 2009.Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiab/constituicao-1934.htm>. Acesso em: 25 ago. 2011. SOUZA, F. T. A linguagem e suas diferentes visões. 2011. Disponível em: <http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/l00002.htm> Acesso em: 10 abr. 2012. UNIVERSIDADE FEDEDRAL DE MATO GROSSO. Instituto de Linguagens/Departamento de Letras/ Coordenação de graduação. Projeto de Reconhecimento do curso de habilitação em Língua Espanhola e Literatura Hispano-americana. Resolução CONSEPE nº48 de setembro de 1997. Cuiabá, MT: UFMT, 1997.
93
____________. Projeto Pedagógico. Cuiabá, MT: UFMT, 2000. ____________. Projeto Pedagógico. Cuiabá, MT: UFMT, 2010. YOUNG, M. Currículo e democracia: lições de uma crítica à "nova sociologia da educação". Educação & Realidade, v.14, n.1, p. 29, 1989. ZANDWAIS, A. Perspectivas da análise do discurso fundada por Michel Pêcheux na França: uma retomada de percurso. Santa Maria: UFSM, Programa de Pós-Graduação em Letras, 2009.
95
APENDICE I: Questionário de pesquisa
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Linguagem
Mestrado em estudos de Linguagem
Este questionário faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Formação
continuada: um caminho para a adequação da produção enunciativa dos
professores de língua espanhola do estado de Mato Grosso”. Nele você
responderá perguntas que endossará nossos estudos sobre o currículo da
universidade.
1 – Você pode considerar que a sua graduação em Língua Espanhola foi
satisfatória? Por quê?
2 – Você se sente inseguro em algum aspecto de seu trabalho? A que você
atribui a causa?
3 – Você tem algumas sugestões de alteração para o programa de graduação
a fim de aprimorar as dificuldades constatadas no seu desempenho
profissional? Quais?
4 – Se você pudesse alterar o currículo, em que disciplinas você daria mais
ênfase e em quais você reduziria a carga horária?
Muito obrigada pela sua colaboração.
97
ANEXO I: Questionário respondido pelo professor A
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Linguagem
Mestrado em estudos de Linguagem
Este questionário faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Formação
continuada: um caminho para a adequação da produção enunciativa dos
professores de língua espanhola do estado de Mato Grosso”. Nele você
responderá perguntas que endossará nossos estudos sobre o currículo da
universidade.
1 – Você pode considerar que a sua graduação em Língua Espanhola foi
satisfatória? Por quê?
Em partes sim, não posso desvalorizar tudo que aprendi no curso, aprendi muita coisa
de verdade e o curso me foi bem proveitoso e satisfatório (pelo menos na Língua
Espanhola). Mas é bem verdade que imaginava sair da graduação bem mais
“preparada”, principalmente na parte da oralidade.
2 – Você se sente inseguro em algum aspecto de seu trabalho? A que
você atribui a causa?
Sinto-me insegura na hora de “hablar” espanhol, acredito que isso se deva ao fato de
nunca ter me esforçado muito em falar em espanhol, por vergonha ou preguiça. O
curso também deixa a desejar nessa parte, em alguns momentos.
3 – Você tem algumas sugestões de alteração para o programa de
graduação a fim de aprimorar as dificuldades constatadas no seu
desempenho profissional? Quais?
Acredito que o estudante precisa ter mais “contato” com a língua desde o início, por
exemplo, quando era caloura, meus colegas e eu praticamente corríamos atrás de um
nativo para ouvi-lo falar, por ter interesse mesmo nesse contato. Mas, ao mesmo
tempo em que corríamos atrás de um nativo, fugíamos dos professores que insistiam
para nos ouvir falar em espanhol.
Outra coisa que senti falta no curso foi um aprofundamento maior na gramática
espanhola, por exemplo, não vimos analise sintática na língua.
4 – Se você pudesse alterar o currículo, em que disciplinas você daria
mais ênfase e em quais você reduziria a carga horária?
Daria mais ênfase em Língua Espanhola e reduziria a carga horária das Literaturas.
Não é por não achar importante as Literaturas, mas a realidade é que você como
professor não é cobrado nessa parte, os alunos lhe cobram gramática e oralidade
(pronúncia).
Muito obrigada pela sua colaboração.
98
ANEXO I-A: Questionário respondido pelo professor B
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Linguagem
Mestrado em estudos de Linguagem
Este questionário faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Formação
continuada: um caminho para a adequação da produção enunciativa dos
professores de língua espanhola do estado de Mato Grosso”. Nele você
responderá perguntas que endossará nossos estudos sobre o currículo da
universidade.
1 – Você pode considerar que a sua graduação em Língua Espanhola foi
satisfatória? Por quê?
Não foi satisfatória. A minha a habilitação em Língua Espanhola foi ruim, tendo em
vista que disciplinas que julgo serem fundamentais para se compreender,
estruturalmente, qualquer Língua não foram contempladas, notadamente
Fonética,Sintaxe. Outro ponto que acredito ser relevante dizer é referente a Literatura
Espanhola: NÃO FUI FORMADA EM LITERATURA ESPANHOLA. AS AULAS QUASE
NÃO ACONTECIAM, NÃO HAVIA PROFESSOR. No entanto, devo dizer que a
disciplina de Literatura Latino-americano foi ótima.
2 – Você se sente inseguro em algum aspecto de seu trabalho? A que
você atribui a causa?
Acredito que a minha insegurança se dá no campo da oralidade. Certamente, isso se
dê pela má estruturação das disciplinas do currículo, bem como de bom senso e boa
vontade de alguns professores efetivos da academia.
3 – Você tem algumas sugestões de alteração para o programa de
graduação a fim de aprimorar as dificuldades constatadas no seu
desempenho profissional? Quais?
Aulas de campo, de Sintaxe, de Fonética, laboratório de Línguas,
4 – Se você pudesse alterar o currículo, em que disciplinas você daria
mais ênfase e em quais você reduziria a carga horária?
Bom, se pensarmos que as disciplinas que tive foram: Língua Espanhola I, II,III,IV,
Literatura Espanhola e Latino –americana, Prática de ensino de L. Espanhola, não
acredito que o caminho seja pela redução de carga horária. Talvez uma organização
que perceba as dificuldades do aluno. As mudanças devem ser feitas a partir das
necessidades reais dos alunos.
Muito obrigada pela sua colaboração.
99
ANEXO I-B: Questionário respondido pelo professor C
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Linguagem
Mestrado em estudos de Linguagem
Este questionário faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Formação
continuada: um caminho para a adequação da produção enunciativa dos
professores de língua espanhola do estado de Mato Grosso”. Nele você
responderá perguntas que endossará nossos estudos sobre o currículo da
universidade.
1 – Você pode considerar que a sua graduação em Língua Espanhola foi
satisfatória? Por quê?
Sim. Apesar de ter sido realizada em caráter de habilitação especial, ou seja,
em apenas 24 meses, como tínhamos apenas disciplinas relacionadas à língua
espanhola e às literaturas espanhola e hispano-americana, o que se configurou em
uma carga horária maior e a possibilidade de ter aulas com um corpo docente falante
nativo, e quase em sua totalidade, não falantes de português, exigiu uma
concentração e um esforço maior para aprender.
2 – Você se sente inseguro em algum aspecto de seu trabalho? A que
você atribui a causa?
Não sei se chamaria de insegurança, penso que o mais me incomoda ao
ministrar minhas aulas é a falta de recursos tecnológicos da instituição, pois na maioria
das vezes, tenho de utilizar não apenas meus próprios livros, como também meu
próprio computador, datashow, som, ou seja, carregar o aparato que deveria estar à
minha disposição nas próprias costas.
3 – Você tem algumas sugestões de alteração para o programa de
graduação a fim de aprimorar as dificuldades constatadas no seu
desempenho profissional? Quais?
Ao observar as matrizes das licenciaturas em Letras é inevitável perceber o acúmulo de disciplinas, uma vez que o aluno se habilita duplamente na língua materna e na língua estrangeira, sem esquecer as respectivas literaturas, penso que a otimização do tempo seria de grande, assim proponho:
As disciplinas de Textos Fundamentais deveriam introduzir em suas referencias os textos clássicos ou basilares da literatura de língua estrangeira em estudo, mesmo que traduzidos;
O mesmo com as teorias literárias: da narrativa e da poética, oferecer textos da literatura de língua estrangeira em estudo;
100
Os professores de didática poderiam abordar em suas aulas, juntamente com o professor de estágio de língua estrangeira em estudo, aspectos relevantes para o ensino da LE;
Nas disciplinas de lingüística dispensar atenção especial ao alfabeto fonético, com isso os alunos avançariam na produção oral.
4 – Se você pudesse alterar o currículo, em que disciplinas você daria
mais ênfase e em quais você reduziria a carga horária?
Para ser coerente com minha resposta anterior, não acredito que reduzir carga horária seja viável, pois pouco mais de 3.800 horas para uma formação dupla como a de Letras não é grande coisa.
Quanto à ênfase, esta se daria não necessariamente nas disciplinas, mas nas práticas curriculares, com proposição de atividades coerentes com o nível de conhecimento dos alunos e com a futura aplicabilidade destas, ou seja, o eterno dilema de aliar teoria à prática.
Muito obrigada pela sua colaboração.
101
ANEXO I-C: Questionário respondido pelo professor D
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Linguagem Mestrado em estudos de Linguagem
Este questionário faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Formação
continuada: um caminho para a adequação da produção enunciativa dos
professores de língua espanhola do estado de Mato Grosso”. Nele você
responderá perguntas que endossará nossos estudos sobre o currículo da
universidade.
1 – Você pode considerar que a sua graduação em Língua Espanhola foi
satisfatória? Por quê?
Sim. Fiz Graduação na Universidade Federal de Santa Catarina de 1997 a 2001.
Considero minha graduação ótima. Meus professores são ótimos também: Alai Garcia
Dinis; Luizete Guimarães Barros; Philipe Humblé; Rafael Carmorlinga; Valter Carlos
Costa; Odilia Carreirão Ortiga; Mauri Furlan; Sergio Lopes e outros que nos mostraram
e ensinaram bem muito bem não só a Língua Espanhola, mas todas as disciplinas do
curso.
2 – Você se sente inseguro em algum aspecto de seu trabalho? A que
você atribui a causa?
Se a pergunta se refere a minha atuação como professora de Língua Espanhola,
poucas foram as vezes que me senti insegura. E as vezes que isso aconteceu foram
aspectos mais da Língua Portuguesa que da Espanhola. Mas penso também que se
paramos de praticar o idioma começamos a esquecer alguns aspectos importantes,
principalmente aqueles mais específicos.
3 – Você tem algumas sugestões de alteração para o programa de
graduação a fim de aprimorar as dificuldades constatadas no seu
desempenho profissional? Quais?
Penso que a Fonética da Língua Espanhola deveria ser uma constante em todos os
semestres de duração do curso. No meu ponto de vista, a fonética é a parte mais
importante para a aprendizagem de uma Língua Estrangeira.
4 – Se você pudesse alterar o currículo, em que disciplinas você daria
mais ênfase e em quais você reduziria a carga horária?
Se isso fosse possível, proporia que todos as disciplinas do curso fossem ministradas
em Língua Espanhola, não diminuiria a carga horária de nenhuma e se pudesse até
aumentava a de todas mesmo aquelas referentes a Língua Portuguesa e daria mais
ênfase nos aspectos fonéticos.
Muito obrigada pela sua colaboração.
102
ANEXO I-D: Questionário respondido pelo professor E
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Linguagem
Mestrado em estudos de Linguagem
Este questionário faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Formação
continuada: um caminho para a adequação da produção enunciativa dos
professores de língua espanhola do estado de Mato Grosso”. Nele você
responderá perguntas que endossará nossos estudos sobre o currículo da
universidade.
1 – Você pode considerar que a sua graduação em Língua Espanhola foi
satisfatória? Por quê?
_Si, porque allá de conocimiento lingüístico, He aprendido sobre la historia de la
lengua y la cultura hispánica. Mi trayectoria fue muy buena, pues tuve buenos
profesores, Buenos compañeros de clase, incluso en mi grupo tenia un boliviano que
me ayudaba con el español mientras yo le ayudaba con el portugués, creo que por eso
siempre saque buenas notas.
2 – Você se sente inseguro em algum aspecto de seu trabalho? A que
você atribui a causa?
_Si, atribuyo a falta de materiales didácticos, pues trabajo con educación de jóvenes y
adulto (EJA) y no hay materiales específicos para esa clientela, tengo que quedar
adaptando materiales para trabajar.
3 – Você tem algumas sugestões de alteração para o programa de
graduação a fim de aprimorar as dificuldades constatadas no seu
desempenho profissional? Quais?
No, pues como he dicho, mi dificultad es falta de materiales especifico para trabajar
con mis alumnos.
4 – Se você pudesse alterar o currículo, em que disciplinas você daria
mais ênfase e em quais você reduziria a carga horária?
Daria más énfasis en la lengua española, en la lengua portuguesa y en la didáctica,
son las que más el profesor de educación básica necesita para desarrollar un buen
trabajo. Creo que las otras no tienen tantas relevancias para la enseñanza.
Muito obrigada pela sua colaboração.
146
PROJETO PEDAGOGICO
I- DADOS INSTITUCIONAIS
II -PERFIL DO CURSO DE LETRAS
O Curso de Licenciatura em Letras e suas respectivas habilitações: Português
Literatura, Português Inglês, Português Francês, Português Espanhol e suas Literaturas
tem como objetivo promover a formação científico-emancipatória do profissional que
habilita. Para tanto, busca articular ensino, pesquisa e extensão em nível de graduação e
pós-graduação.
Tem como objetivo principal, em nível de graduação, formar professores de
Língua Portuguesa e suas Literaturas, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa e
Literaturas, Língua Francesa e Literatura para o ensino fundamental e médio.
Os objetivos fundamentais destas licenciaturas são :
● Integrar as funções da Universidade que pressupõem o envolvimento do professor
(ensino, pesquisa e extensão) com a produção do conhecimento, cujo objetivo maior é
propiciar melhores condições de vida à comunidade;
● Centralizar a formação do professor na realidade sócio-econômica e cultural do país,
de modo que o processo acadêmico a ser desenvolvido venha contribuir para que o
docente atenda às necessidades requeridas pelo contexto educacional no qual se insere;
● Proporcionar ao aluno sólida fundamentação teórica e competente instrumentação
didático-pedagógica e lingüística para que o licenciado, por meio de formação geral e
específica, possa exercer a profissão com competência e contribuir com uma resposta
adequada às demandas da sociedade;
● Formar professores capazes de adequar o universo das línguas materna e estrangeira e
de suas respectivas literaturas ao ensino;
● Desenvolver uma prática educacional que leve em conta as línguas materna e
estrangeira em suas diversas variedades, sem perder de vista a padrão, sua correção e
adequação para cada língua em questão;
● Capacitar o futuro docente para a interação da teoria à prática do ensino da língua
portuguesa e das línguas estrangeiras.
III - FORMA DE ACESSO AO CURSO
O Curso de Letras oferece vagas de acordo com as normas em vigência na
UFMT, na sua RESOLUÇÃO CONSEPE nº 14 de 01/02/1999, Art. 1º. As vagas
regulares são oferecidas, via Vestibular classificatório para os concluintes do ciclo
médio, com entrada uma vez por ano para as quatro habilitações que funcionam nos
períodos matutino e noturno, alternando-se as habilitações oferecidas em um e outro
período, de um ano para outro. Para possíveis Projetos de Curso visando à
interiorização ou o atendimento a grupos específicos está prevista a realização de
Vestibular Especial, quando a ocasião surgir.
Outras formas de acesso são possíveis: a transferência compulsória; a
transferência requerida, após submetida à análise do Colegiado de Curso e em caso de
haver vaga; convênio ou acordo cultural com outro países com previsão de intercâmbio
ou vinda de estudantes; a matricula de portadores de curso superior, conforme normas
pré-estabelecidas para vagas remanescentes do curso.
147
Com o objetivo de melhor atender às necessidades da clientela estudantil, desde
a sua criação até então, o curso de Letras passou por várias reestruturações, alterando a
grade curricular, visando melhor desempenho e melhor adaptação às exigências do
momento.
Em 1984 começaram os primeiros debates com a participação de professores e
alunos na tentativa de modificar o currículo de duas habilitações do Curso de Letras,
Português/Francês e Português/Inglês e criar uma terceira habilitação,
Português/Literaturas, uma solicitação dos alunos que não tinham interesse pela
aprendizagem das línguas estrangeiras.
Dois anos se passaram em discussões, só vindo acontecer a referida
reestruturação no primeiro semestre de 1987, quando a carga horária das línguas
estrangeiras passou de 60 horas semestrais para 90 horas, sendo incluídas também no
currículo outras disciplinas como Cultura Francesa I e Literatura Francesa IV. Foram
modificadas também as ementas dos conteúdos programáticos, tanto nas línguas como
nas literaturas. As duas habilitações passaram então a funcionar com uma carga horária
de 3.600 horas. Somente no segundo semestre daquele ano, foi implantada a habilitação
Português/Literaturas, com uma carga horária de 2.920 horas. Esta estrutura curricular
permaneceu até o segundo semestre de 1990, quando, também, por decisão de
professores e alunos, houve um enxugamento do Curso, cujo objetivo era o de oferecer
as aulas em um só período do dia, para possibilitar aos alunos a concentração das
atividades acadêmicas, permitindo-lhes trabalhar e estudar.
Esta reestruturação ainda não foi adequada para atender às necessidades da
clientela, visto que muitos alunos trabalham no período diurno. Uma vez que a
Universidade não pode perder de vista a sua função social, o Departamento de Letras
implantou então o curso noturno, a partir do primeiro semestre de 1993. Assim, o Curso
de Letras passou a funcionar em turnos alternados nos períodos matutino e noturno.
O Curso de Letras, atualmente, tem duração mínima de 4 (quatro) anos e
máxima de 7 (sete) anos e funciona com 4 (quatro) habilitações no regime seriado,
implantado em 1998.
Em 2007, face às novas Diretrizes Nacionais, o Departamento de Letras, depois de
várias discussões, reformulou o sua estrutura curricular.
IV - Competências e Habilidades:
As habilidades a serem adquiridas no Curso de Graduação em Letras da UFMT
devem preparar o futuro professor para:
a) Compreender, avaliar e produzir textos de tipos variados em sua estrutura,
organização e significado, em língua materna e em língua estrangeira;
b) Produzir e ler competentemente enunciados, em diferentes linguagens e
traduzir umas em outras;
c) Descrever e justificar as peculiaridades fonológicas, morfológicas, lexicais,
sintáticas e semânticas do português brasileira, com especial destaque para
as variações regionais e sociodialetais e para as especificidades da norma
padrão;
d) Analisar criticamente as obras literárias em língua portuguesa e em língua
estrangeira, não somente através de uma interpretação derivada do contato
148
direto com elas, mas também através da mediação de obras da crítica e da
teoria literárias;
e) Estabelecer e discutir as relações dos textos literários com outros tipos de
discurso e com os contextos em que se inserem;
f) Relacionar o texto literário com os problemas e concepções dominantes da
cultura do período em que foi escrito e com os problemas e concepções do
presente;
g) Interpretar adequadamente textos de diferentes gêneros e registros
lingüísticos e explicitar os processos ou argumentos utilizados para justificar
sua interpretação;
h) Pesquisar e articular informações lingüísticas, literárias e culturais em língua
materna e em língua estrangeira;
i) Articular o conhecimento teórico-conceitual em língua materna, língua
estrangeira e respectivas literaturas à sua prática em sala de aula, colocando
em ação os instrumentos didático-pedagógicos e lingüísticos adequados à
sua realidade educacional.
149
V - COMPARAÇÃO ENTRE AS ESTRUTURAS ANTERIOR E A PROPOSTA
ATUAL.
HABILITAÇÃO: Língua Portuguesa/Línguas Estrangeiras
1° ANO ATUAL 1º ANO FUTURO
2° ANO ATUAL 2° ANO FUTURO
LIBR
AS
144
CÓDIGO DISCIPLINAS CR CH
102-2542-0 Língua Portuguesa I 08 120
102-2546-3 Lingüística I 08 120
102-2550-1 Língua Latina 04 60
102-2551-0 Teoria da Literatura 12 180
Línguas
Estrangeiras I
08 120
501-2112-0 Educação Física 02 60
CÓDIGO DISCIPLINAS CR CH
Prática de
Leitura e
Produção de
Textos (coesão
e coerência)
08 144
Fonética e
Fonologia
08 144
Fonética e
Fonologia de
Língua
Estrangeira
04
72
Teoria da
Literatura
08
144
Línguas
Estrangeiras I
12
216
501-
2112-0
Educação
Física
60
60
Total Carga
Horária
780
CÓDIGO DISCIPLINAS CR CH
Morfologia
08 144
Lingüística I – Estudos
Pré-
sausureanos/Saussure
04
72
Línguas Estrangeiras II
08 144
Literatura Brasileira I
120 144
Literatura Portuguesa I
120 144
Psicologia da Educação 04 72
Total de carga Horária 720
CÓDIGO DISCIPLINAS CR CH
102-2543-9 Língua Portuguesa
II
08 120
102-2547-1 Lingüística II 04 60
Línguas
Estrangeiras II
08 120
102-2553-6 Literatura
Portuguesa I
08 120
102-2553-2 Literatura Brasileira
I
08 120
105-2567 Psicologia da
Educação
04 60
150
3° ANO ATUAL 3º ANO FUTURO
4° ANO ATUAL 4° ANO FUTURO
Carga horária total 3 068
HABILITAÇÃO: Língua Portuguesa/Línguas Estrangeiras ( aqui as “grades” estão separadas, pois
cada habilitação tem uma especificidade)
CÓDIGO DISCIPLINAS CR CH
102-2544-7 Língua Portuguesa
III
08 120
Línguas
Estrangeiras III
08 120
102-2556-0 Literatura Brasileira
II
08 120
Literaturas
Estrangeiras I
08 120
Optativa 04 60
106-2568-2 Didática 04 60
CÓD. DISCIPLINAS CR CH
Sintaxe 08 144
Literatura Brasileira II 08 144
Literaturas
Estrangeiras I
08 144
Línguas Estrangeiras
III
08 144
Didática 04 72
Optativa 04 72
Estágio Supervisionado
I em L.Espanhol e
L.Inglesa
08 100
Total da carga Horária 820
CÓDIGO DISCIPLINAS CR CH
102-2545-5 Língua Portuguesa
IV
04 60
102-2549-8 Lingüística IV 08 120
102-2557-9 Literatura Brasileira
III
04 60
102-2566-8 Crit. Literária e
Prod. Monográfica
08 120
106-1669-1 Estr. Func. do Ens.
De 1° e 2° Graus
04 60
102-2593-5 Prat. de Ens. de L.
Portuguesa
06 180
CÓD. DISCIPLINAS CR CH
Leituras de Bakhtin 04 72
Semântica na Construção
Verbal
08 144
Literatura Brasileira III 08 144
Crítica Literária 04 72
ORG. e Fundamentos da
Educação Básica (antiga
Estrutura)
60
72
Estágio Supervisionado II em
Língua Portuguesa
10 200
Total Carga Horária 704
151
HABILITAÇÃO: Língua Portuguesa/Língua Estrangeira
4° ANO ATUAL /ESPANHOL 4° ANO FUTURO/ESPANHOL
CÓDIGO DISCIPLINAS CR CH
102-2545-5 Língua Portuguesa
IV
04 60
102-2584-4 Língua Espanhola
IV
04 60
102-2587-0 Literatura Espanhola
II
04 60
102-2588-9 Literatura Norte –
Americana
08 120
106-1669-1 Estr. Func. do Ens.
De 1° e 2° Graus
04 60
102-2593-5 Prat. de Ens. de L.
Portuguesa
05 150
102-2564-1 Prat. De Língua
Espanhola
05 150
CÓD. DISCIPLINAS CH CH
Leituras de Bakhtin 60 72
Língua Espanhola IV 60 72
Literatura Espanhola II 60 72
Literatura Norte –Americana 120 144
ORG. e Fundamentos da
Educação Básica
60 72
Estágio Supervisionado II
em Língua Portuguesa
200
Estágio Supervisionado II
em Língua Espanhola
100
Total da Carga Horária
152
EMENTAS E PROGRAMAS
EMENTAS HABILITAÇÃO: LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA ESPANHOLA
ANTERITOR NOVO
LINGUA PORTUGUESA I (120 horas)
EMENTA
Reflexão sobre linguagem, língua,
heterogeneidade dialetal. Leitura e prática de
produção de textos acadêmicos. Caracterização e
organização do texto dissertativo-argumentativo.
Estudo de tópicos da gramática da norma culta.
Trabalho com as normas da ABNT.
Prática de Leitura e Produção de Textos (144H –
08 CRÉDITOS)
EMENTA:
Prática de leitura e produção de textos de diferentes
esferas da comunicação humana: literária,
jornalística, científica, publicitária, burocrática,
entre outras. Estudo aprofundado de textos da
ordem do argumentar, privilegiando-se a produção
de pequenos ensaios e artigos acadêmicos. Revisão
das normas gramaticais e normas da ABNT a partir
da produção textual dos alunos.
LÍNGUA PORTUGUESA II (120 horas)
EMENTA
Estudo da funcionalidade das palavras do
português numa perspectiva sintático-semântíco-
discursiva. Exame sistemático dos processos de
formação e flexão das palavras do português.
Revisão da claásificação de palavras proposta pela,
a gramática tradicional. Proposição de
classifícaçõès alternativas a partir de postulados
das várias teorias lingüísticas.
MORFOLOGIA (144H)
EMENTA
Estudo da funcionalidade das palavras do português
numa perspectiva sintático-semântico-discursiva.
Exame sistemático dos processos de formação e
flexão das palavras do português. Revisão da
classificação de palavras proposta pela gramática
tradicional. Proposição de classificações
alternativas a partir de postulados das várias teorias
lingüísticas.
153
LÍNGUA PORTUGUESA III (120 horas)
EMENTA
Objeto da Sintaxe. Sintaxe do período simples.
Sintaxe do período composto. Revisão crítica da
sintaxe das relações proposta pela gramática
normativa do português.
SINTAXE (144h)
EMENTA
Objeto da Sintaxe. Sintaxe do Período Simples.
Sintaxe do período composto. Revisão crítica da
sintaxe das relações propostas pela gramática
normativa do português. Da gramática da frase para
a gramática do texto.
LÍNGUA PORTUGUESA IV (60 horas)
EMENTA
Textualidade. "Teorias Textuais: percurso e
momentos. Coesão. Coerência. Os fatores de
textualidade externas ao texto. O estudo da
textualida.de e o ensino de Língua Portuguesa.
LEITURAS DE BAKHTIN (144h)
EMENTA
As concepções de linguagem. A concepção
interacionista de linguagem. A análise Dialógica do
Discurso. A Análise do Discurso de Linha
Francesa. A Análise Crítica do Discurso.
LINGÜÍSTICA I (120 horas)
EMENTA
Estudos lingüísticos da antigüidade clássica à
época contemporânea: as posições filosóficas,
normativas, historicistas e descritívas acerca da
linguagem. Conceitos teórico-metodológicos da
lingüística saussurearia. Foriologia: ciência piloto
da lingüística do século XX. Cisão entre a fonética
e a fonologia. Foriologia: objetos, princípios
metopológícos, conceitos e interface com outras
ciências.
FONÉTICA E FONOLOGIA
EMENTA: Fonologia: ciência piloto da lingüística
do século XX. Cisão entre a fonética e a fonologia.
Fonologia: objetos, princípios metodológicos,
conceitos e interface com outras ciências. Aspectos
fonológicos do falar cuiabano.
LINGÜISTICA II (60 horas)
EMENTA
A concepção de sintaxe no escopo de diversas
correntes gramaticais: a sintaxe na gramática
clássica greco-romana, na gramática geral, na
gramática tradicional, na gramática estruturalista e
na gramática gerativo - transformacional. Exame
de dados da sintaxe do português.
LINGÜÍSTICA I – ESTUDOS PRÉ-
SAUSSUREANOS E SAUSSUREANOS (72 H)
EMENTA: A lingüística como ciência: conceitos e
delimitações da área. A gramática comparada e sua
evolução. Os neogramáticos. A lingüística
saussureana: conceitos teórico-metodológicos. A
influência da teoria saussureana nos estudos
lingüísticos posteriores.
LÍNGUA LATINA (60 horas)
LÍNGUA LATINA (72 horas)
154
EMENTA
Morfossintaxe nominal e verbal. Leitura de
pequenos textos latinos.
EMENTA
Morfossintaxe nominal e verbal. Leitura de
pequenos textos latinos.
TEORIA DA LITERATURA (180 horas)
EMENTA
Gênerõs literários: o poético. O poema, a poética e
as espécies líricas mais comuns. A linguagem
poética. Os elementos do poema: verso, ritmo,
metro, estrofe e som; imagens, temas e motivos.
Estrutura e significação. Método, e técnicas de
análise e interpretação do poema. O gênero
narrativo. Narrativa de ficção. O problema, da
verossimilhança. Espécies de ficção. Teoria do
conto e do romance. Discurso narrativo.
Elementos da narrativa: assunto, enredo, fábula e
motivo; personagens e caracterização; tempo e
espaço; modos de narração e foco narrativo.
Narrativa e sociedade.
TEORIA DA LITERATURA (144 horas)
EMENTA
Gênerõs literários: o poético. O poema, a poética e
as espécies líricas mais comuns. A linguagem
poética. Os elementos do poema: verso, ritmo,
metro, estrofe e som; imagens, temas e motivos.
Estrutura e significação. Método, e técnicas de
análise e interpretação do poema. O gênero
narrativo. Narrativa de ficção. O problema, da
verossimilhança. Espécies de ficção. Teoria do
conto e do romance. Discurso narrativo. Elementos
da narrativa: assunto, enredo, fábula e motivo;
personagens e caracterização; tempo e espaço;
modos de narração e foco narrativo. Narrativa e
sociedade.
LITERATURA PORTUGUESA I (120 horas)
EMENTA
Periodização da Literatura Portuguesa. O
trovadorismo - tipos de cantigas e os Cancioneiros.
O Humanismo - a crônica histórica de Fqmão
Lopes, o teatro de Gil Vicente. Classicísmo -
Camões, épico e lírico. O Barroco - poesia e
teatro. Arcadismo - Bocage. Romantismo -
Almeida Garret, Alexandre Herculano, Camilo
Castelo Branco.
LITERATURA BRASILEIRA I (144 horas)
EMENTA
Das origens ao Romantismo. O período colonial: os
textos literários elou informativos. Barroco: ecos na
produção literária brasileira. Ideologia e estética no
Arcadismo. Da Ilustração ao Pré-Romantismo. As
gerações da poesia romântica: nacionalista; egótica;
condoreira. Manifestaoes da prosa romântica.
LITERATURA BRASILEIRA I (120 horas)
EMENTA
Das origens ao Romantismo. O período colonial:
os textos literários elou informativos. Barroco:
ecos na produção literária brasileira. Ideologia e
estética no Arcadismo. Da Ilustração ao Pré-
Romantismo. As gerações da poesia romântica:
nacionalista; egótica; condoreira. Manifestaoes da
prosa romântica.
LITERATURA PORTUGUESA I (144 horas)
EMENTA
Periodização da Literatura Portuguesa. O
trovadorismo - tipos de cantigas e os Cancioneiros.
O Humanismo - a crônica histórica de Fqmão
Lopes, o teatro de Gil Vicente. Classicísmo -
Camões, épico e lírico. O Barroco - poesia e teatro.
Arcadismo - Bocage. Romantismo - Almeida
Garret, Alexandre Herculano, Camilo Castelo
Branco.
LITERATURA BRASILEIRA II (120
horas)
EMENTA
LITERATURA BRASILEIRA II (144
horas)
EMENTA
155
Período realista no Brasil: o Realismo; o
Naturalismo; O Pamasianismo. Manifestações do
Simbolismo na Literatura Brasileira. O Pré-
Modemismo. Correntes da Vanguarda Européia -
influências no Brasil. Modernismo: a Semana de
22 e seus prolongamentos. A Geração de 30.
Período realista no Brasil: o Realismo; o
Naturalismo; O Pamasianismo. Manifestações do
Simbolismo na Literatura Brasileira. O Pré-
Modemismo. Correntes da Vanguarda Européia -
influências no Brasil. Modernismo: a Semana de 22
e seus prolongamentos. A Geração de 30.
PRÁTICA DE ENSINO DE LINGUA
PORTUGUESA
(Língua Portuguesa/Línguas Estrangeiras - 150
horas)
(Língua Portuguesa/Literatura - 180 horas)
EMENTA
A atividade de leitura na escola: o trabalho com o
texto - escolha, compreensão, vocabulário e
interpretação. A atividade de produção de texto na
escola: a finalidade, a proposta, a correção. A
atividade de análise lingüística: a epilingüistica e a
metalingüística. O estágio supervisionado.
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO
ENSINO DE 1º e 2º GRAUS (60 horas)
EMENTA
Sociedade, cultura e educação: interdependêncía.
Análise da educação brasileira no contexto sócio-
político-económico no periodb de 1930 aos dias
úteis. O Ensino Básico na Lei 9.394 de 20/12/96.
Perspectivas atuais do Ensino Básico: objetivos do
Ensino Básico em seus significados sócio-políticos
e educacionais; aspectos currículares básicos no
ensino de 1° e 2° Graus resultantes das influências
sócio-político-econômicas; aspectos legais do
ensino de 1º Grau e sua relação com outros níveis
de énsintrna realidade de Mato Grosso. A Unidade
Escolar: estrutura e funcionamento. A Formação
do Professor das Séries Iniciais do 1º Grau criação
e desenvolvimento dos Cursos de Magistério; a
Formação do Professor nas LDBs; o Estatuto do
Magistério em Mato Grosso.
ORG. e Fundamentos da Educação
Básica(antiga Estrutura)
EMENTA
Sociedade, cultura e educação: interdependêncía.
Análise da educação brasileira no contexto sócio-
político-económico no periodb de 1930 aos dias
úteis. O Ensino Básico na Lei 9.394 de 20/12/96.
Perspectivas atuais do Ensino Básico: objetivos do
Ensino Básico em seus significados sócio-políticos
e educacionais; aspectos currículares básicos no
ensino de 1° e 2° Graus resultantes das influências
sócio-político-econômicas; aspectos legais do
ensino de 1º Grau e sua relação com outros níveis
de énsintrna realidade de Mato Grosso. A Unidade
Escolar: estrutura e funcionamento. A Formação do
Professor das Séries Iniciais do 1º Grau criação e
desenvolvimento dos Cursos de Magistério; a
Formação do Professor nas LDBs; o Estatuto do
Magistério em Mato Grosso.
LÍNGUA ESPANHOLA I (120 horas)
E M E NTA
Desenvolvimento progressivo da competência
comunicativa oral e escrita. Enfase em fonologia,
ortografia e fixação das estruturas lingüísticas
LÍNGUA ESPANHOLA I (144 horas)
Ementa:
- Desenvolvimento progressivo de competência
enunciativa oral e escrita;
- Ênfase em fonologia, ortografia e fixação das estruturas
lingüísticas básicas;
- Leitura e produção de textos;
156
básicas. Produção, leitura e análise de textos.
Noções sobre os valores culturais dos povos de
fala hispánica.
- Noções sobre os valores culturais dos povos de fala
hispânica.
LÍNGUA ESPANHOLA II (120 horas)
EMENTA
Aprofundamento dos conhecimentos da estrutura
lingüística em nível intermediário. Estudos da
história da língua espanhola, sua variedade e
unidade na atualidade e dialetos peninsulares.
Prática de leitura e produção de textos.
LÍNGUA ESPANHOLA II (144 horas)
Ementa:
- Aprofundamento dos conhecimentos da estrutura
lingüística em nível intermediário.
- Estudo da história da língua espanhola, sua variedade e
unidade na atualidade e dialetos peninsulares;
- Leitura, análise e produção de textos.
LINGUA ESPANHOLA III (120 horas)
EMENTA
Consolidação das diversas estruturas lingüísticas
em nível intermediário e pós-intermediário. Ênfase
em aspectos contrastivos, entre estruturas do
português e o espanhol. Relacionamento do estudo
das distintas escolas gramáticais: tradicional,
estrutural, gerativotransformacional e pragmática,
com a língua espanhola como língua estangeira-
leitura e produção de textos.
LINGÜÍSTICA II (72h)
EMENTA
A gramática tradicional, a gramática formal e a
gramática funcionalista. A Sintaxe na Teoria
Gerativo-Transformacional. Principais pressupostos
teóricos da gramática gerativo-transformacional. A
virada paradigmática na Lingüística: os estudos
voltados para a “parole” ou “uso lingüístico”. A
enunciação e o enunciado para Benveniste. As
categorias de pessoa, tempo e espaço. As correntes
da pragmática: o pragmatismo americano, a teoria
dos atos de fala e os estudos da comunicação.
LÍNGUA ESPANHOLA IV (60 horas)
EMENTA
Consolidação dos estudos das estruturas
lingüísticas em nível avanzado, considerando as
variantes geográficas, sociais e profissionais.
Prática oral e escrita. Estudo de elementos
inetodológicos do ensino da língua espanhola.
Análise e produção de textos.
LÍNGUA ESPANHOLA IV (144 horas)
Ementa:
- Desenvolvimento da competência enunciativa oral e
escrita;
- Leitura, análise e produção de textos;
- Relação entre os tempos e modos verbais.
LITERATURA ESPANHOLA I (120 horas)
EMENTA
A língua e a cultura na Espanha Medieval e o
Renascimento até o Século XVIII: "mester de
juglaria e mester de clerecia". A prosa, o teatro e a
lírica tradicional. A renovação formal e temática
da Renascença. O “Século de Oro”. O Barroco e o
pensamento da Ilustração.
LITERATURA ESPANHOLA I (144 horas)
Ementa: a península ibérica: a Espanha medieval. A
época dos Reis católicos. Auge y decadência do império
espanhol. A cultura da “Edad de Oro” O despotismo
ilustrado do século XVIII. A cultura do século XVIII.
LITERATURA ESPANHOLA II (60
horas)
EMENTA
LITERATURA ESPANHOLA II (72 horas)
Ementa: a Espanha moderna: a literatura espanhola
durante os séculos XIX e XX: a filosofia romântica e sua
repercussão nas letras; a renovação literária no século
157
A língua e a cultura espanhola durante os séculos
XIX e XX. A filosofia romántica e seu impacto
nas letras, a renovação literária no século XX. As
vanguardias. As gerações do 98, 27, 50, 80 e 90.
XX: “geração de 98”, grupo poético do 27, narrativa de
após-guerra civil, narrativa dos anos 50, gerações novas:
anos 80 – 90 – 2000.
LITERATURA LATINO-AMERICANA I (120
horas)
EMENTA
A literatura pré-hispánica colonial e da
independencéa até o século XX. A conquista da
América e seu impacto nas culturas clásícas
americanas; os conquistadores como cronistas. Os
defensores dos indios. Renascença e Barroco. O
século XIX. A independencia americana e seu
impacto nas letras. Romantismo, literatura
"gauchesa". Parnasianismo e simbolismo. O
modernismo e as vanguardas poéticas. O real
maravilhoso e a “nova novela”.
LITERATURA LATINOAMERICANA (144 horas)
Ementa: a literatura colonial e da independência até o
século XX: a conquista da América e seu impacto nas
culturas clássicas americanas: os conquistadores como
cronistas e os defensores dos índios; a literatura colonial;
o barroco americano. O período da independência e sua
repercussão nas letras nacionais; poesia e prosa
modernista; Regionalismo. Surgimento de uma nova
literatura americana a partir dos anos 40. Influência do
existencialismo francês e dos romances anglo-saxões. O
boom literário latino-americano; o pós-boom e a
narrativa atual.
CERVANTES E “O QUIXOTE” (60
horas)
EMENTA
Biografia de Cervantes como testemunha de uma
época. Sua obra literaria. Leitura e estudo de “O
QUIXOTE”.
Analise das passagens mais representativas.
Importancia de "O QUIXOTE" no
desenvolvimento do romance moderno.
CERVANTES E “O QUIXOTE” (72
horas)
EMENTA
Biografia de Cervantes como testemunha de uma
época. Sua obra literaria. Leitura e estudo de “O
QUIXOTE”.
Analise das passagens mais representativas.
Importancia de "O QUIXOTE" no desenvolvimento
do romance moderno.
ESPANHOL PARA FINS ESPECÍFICOS
(60 horas)
EMENTA
Estudo de aspectos relativos ao ensino da língua
espanhola, priorizando uma ou mais habilidades
lingüísticas ou uma área específica.
ESPANHOL PARA FINS ESPECÍFICOS
(72 horas)
EMENTA
Estudo de aspectos relativos ao ensino da língua
espanhola, priorizando uma ou mais habilidades
lingüísticas ou uma área específica.
PRÁTICA DO ENSINO DA LÍNGUA
ESPANHOLA (150 horas)
EMENTA
Análise dos métodos de ensino da língua
espanhola e sua aplicação em sala de aula; análise
de livros didáticos e pesquisas recentes sobre o
processo de adquisíção da língua espanhola em
falantes de língua portuguesa. Reflexão sobre o
ensino de Lingua Espanhola nas escolas de 1° e 2°
grau a partir de pesquisa e levantamento dp
situação. Vivencia de atividades docentes.
FILOLOGIA ROMÂNICA (60 horas)
FILOLOGIA ROMÂNICA (72 horas)
158
EMENTA
Esclarecimentos de fatos e fenômenos lingüísticos
pelo histórico comparativo.
EMENTA
Esclarecimentos de fatos e fenômenos lingüísticos
pelo histórico comparativo.
SEMIÓTICA (60 horas)
EMENTA
O estudo da significação e interpretação dos
processos simbólicos. Os sistemas semióticos e
sua sistematização. Semiótica da Cultura. As
estratégias semio-lingüísticas da interpretação.
SEMIÓTICA (72 horas)
EMENTA
O estudo da significação e interpretação dos
processos simbólicos. Os sistemas semióticos e sua
sistematização. Semiótica da Cultura. As estratégias
semio-lingüísticas da interpretação.
PSICOLINGÜÍSTICA (60 horas)
EMENTA
Definida dentro de um modelo comunicacíonal: a
função semiótica da linguagem e o processo da
informação. Implicações na aquisição do código
escrito e oral. Aplicações no ensino de línguas.
PSICOLINGÜÍSTICA (72 horas)
EMENTA
Definida dentro de um modelo comunicacíonal: a
função semiótica da linguagem e o processo da
informação. Implicações na aquisição do código
escrito e oral. Aplicações no ensino de línguas.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (60
horas)
EMENTA
Domínio dos modelos alternativos de
homem/mundo e as implicações de ordem
pedagógica frente às escolas: com portamentalista,
cognitivista e humanista, compreensão e gênese de
cada escola psicológica sem perder de vista que
uma complementa a outra, fornecendo subsídios
para a fundamentação didática.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (72
horas)
EMENTA
Domínio dos modelos alternativos de
homem/mundo e as implicações de ordem
pedagógica frente às escolas: com portamentalista,
cognitivista e humanista, compreensão e gênese de
cada escola psicológica sem perder de vista que
uma complementa a outra, fornecendo subsídios
para a fundamentação didática.
DIDÁTICA (60 horas)
EMENTA
Reflexões teórico-práticas sobre os fundamentos
do processo de ensino/aprendizagem subjacentes
às Tendências Pedagógicas da Educação
Brasileira; o Planejamento de Ensino e suas
principais perspectivas, as implicações deste na
organização e implementação do trabalho
pedagógico na escola e na sala de aula; a
compreensão da avaliação escolar como elemento
de democratização do ensino.
DIDÁTICA (72 horas)
EMENTA
Reflexões teórico-práticas sobre os fundamentos do
processo de ensino/aprendizagem subjacentes às
Tendências Pedagógicas da Educação Brasileira; o
Planejamento de Ensino e suas principais
perspectivas, as implicações deste na organização e
implementação do trabalho pedagógico na escola e
na sala de aula; a compreensão da avaliação escolar
como elemento de democratização do ensino.
159
INTRODUÇÁO A FILOSOFIA (60 horas)
EMENTA
Com base nas pesquisas genealógicas
desenvolvidas por Michel Foucault estudar o
modo como os seres humanos são individualizados
e se transformam em sujeitos na modernidade.
Caracterizar essa individualidade em sua
constituição como objeto do saber e resultado das
relações de poder, e como sujeito de uma
identidade que assume como própria.
INTRODUÇÁO A FILOSOFIA (72 horas)
EMENTA
Com base nas pesquisas genealógicas
desenvolvidas por Michel Foucault estudar o modo
como os seres humanos são individualizados e se
transformam em sujeitos na modernidade.
Caracterizar essa individualidade em sua
constituição como objeto do saber e resultado das
relações de poder, e como sujeito de uma identidade
que assume como própria.
PCC LÍNGUA ESPANHOLA (50 HORAS)
LÍNGUA PORTUGUESA (LP) / LÍNGUA
ESPANHOLA (LE)
1°
ano LP 50h - Fonética e Fonologia
LE 50h -
2°
ano LP 50h - Morfologia , ou
Fundamentos da Comunicação
Humana
LE 50h -
3°
ano LP 50h - Sintaxe
LE 50h -
4°
ano LP 50h - Leituras de Bakhtin, ou
Semântica na Construção Verbal
LE 50h -
Estágio Supervisionado I em LP
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA
ESPANHOLA (400 horas)
Ementa: Análise dos métodos de ensino da língua
espanhola e sua aplicação em sala de aula; análise de
livros didáticos e pesquisas recentes sobre o processo de
aprendizagem da língua espanhola em falantes de língua
portuguesa.
Reflexão sobre o ensino de Língua Espanhola nas escolas
de Ensino Fundamental e Ensino Médio a partir de
pesquisas e levantamento da situação. Vivência de
atividades docentes.
160
COORDENAÇÃO DE ESPANHOL CURRÍCULO DA LICENCIATURA
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITOS ANO
Língua espanhola I 144 8 1º
Subsídios fonéticos e fonológicos para a
Produção oral em Língua espanhola 72 4 1º
Língua espanhola II 144 8 2º
Subsídios morfossintáticos para a produção
Enunciativa em língua espanhola 72 4 2º
Língua espanhola III 144 8 3º
Literatura espanhola I 144 8 3º
Língua espanhola IV 144 8 4º
Literatura espanhola II 72 4 4º
Estágio supervisionado 400 8 4º
Prática como componente curricular 400 1º, 2º, 3º e
4º
Atividades complementares 200 1º, 2º, 3º e
4º
161
LÍNGUA ESPANHOLA I (144 horas)
Ementa:
- Desenvolvimento progressivo de competência enunciativa oral e escrita;
- Ênfase em fonologia, ortografia e fixação das estruturas lingüísticas básicas;
- Leitura e produção de textos;
- Noções sobre os valores culturais dos povos de fala hispânica.
Objetivos:
Geral
- Promover um ambiente favorável ao aprendizado e desenvolvimento das habilidades de
produção e interpretação nas/das modalidades oral e escrita.
Específicos
- Adquirir noções da cultura dos povos de língua espanhola;
- Conhecer teoria referente à fonologia, ortografia e estruturas lingüísticas básicas da língua
espanhola básica;
- Relacionar os conhecimentos adquiridos com a futura prática em sala de aula;
- Produzir e interpretar discursos orais e escritos em língua espanhola, na perspectiva
discursivo-dialógica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Crenças/discursos sobre aprendizagem de Língua Estrangeira;
- Noções iniciais da língua espanhola: importância do espanhol no cenário internacional;
países em que é língua oficial; variedade lingüística; semelhança com a língua portuguesa;
- Ortografia (alfabeto) e Prosódia (entonação);
- Noções de Fonética;
- Regras de acentuação;
- O nome e seus modificadores e complementos: substantivos, artigos, adjetivos,
demonstrativos;
- O verbo e seus modificadores e complementos: verbos, advérbios e pronomes;
- Conjugação verbal: formas regulares e irregulares nos tempos do Modo Indicativo;
- Verbos pronominais;
- Preposição e regência;
- Perífrases (casos mais recorrentes);
- Gerúndio;
- Marcadores temporais;
- Conectores frasais e discursivos;
- Formas de comparação e intensificação;
- Pronominalização (Objeto direto, Objeto indireto)
- Funções comunicativas;
- Vocabulário por campo semântico de interesse dos alunos;
- Gêneros textuais: resenha.
PROCEDIMENTO DE ENSINO
Metodologia baseada nos enfoques nocional-funcional, comunicativo e discursivo: leitura e
compreensão de textos; aulas expositivas e dialogadas; atividades individuais e em grupo.
RECURSOS
162
Aparelhos: televisão, Data-show, DVD, vídeo-cassete, som;
Laboratório de línguas;
Laboratório de Informática;
Bibliotecas: Setorial, Central e Hemeroteca;
07) BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARIAS, Sandra Di Lullo (2000): Espanhol Urgente para brasileiros. 6. ed., Rio de Janeiro:
Campus.
ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas.
Campinas SP: Pontes, 1993.
_____. O professor de Língua Estrangeira em Formação, Campinas, SP, Pontes, 1999.
ALVAR EZGUERA, M. (director). Diccionario Manual VOX ilustrado de la lengua
española. Barcelona , 1996.
AMORIM, Vanesa. Cem aulas sem tédio: sugestões práticas dinâmicas e divertidas para o
professor de língua estrangeira. Santa Cruz: Padre Réus, 1998.
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Crenças sobre aprendizagem de línguas,
Lingüística Aplicada e ensino de línguas. In: Linguagem & Ensino, v.7,
nº1, 20004. p.123-156.
BELLO, P. et all. Didáctica de las segundas lenguas. Estratégias y recursos básicos.
Madrid: Santillana, 1990.
BRIONES, Ana Isabel, FLAVIAN, Eugenia e FERNÁNDEZ, Gretel Eres.
Español Ahora . v.1,2,3. SP: Moderna, 2003.
BRUNO, Fátima Cabral e MENDOZA, Maria Angélica. Hacia el Español. Curso de
Lengua y Cultura Hispánica. (Níveis: Básico, Intermedio, Avanzado). 5.ed, SP: Editora
Saraiva, 2001.
FANJUL, Adrian Pablo. Gramática Passo a Passo. São Paulo: Moderna, 2006.
GELABERT, Mari José; MARTINELL, Emma; HERRERA, Manuel; MARTINELL,
Francisco. Repertorio de funciones comunicativas del español. Niveles Umbral, Intermédio
y Avanzado. Madrid: SGEL, 1996.
HERMOSO, A. González. Gramática de español lengua extranjera. España: Edelsa, 2003.
_____. Conjugar es fácil en español de España y de América . Madrid:
Edelsa, 1997.
MAINARDI, Beatriz Novick e GASPARINI, Pablo Fernando. Puentes:
catorce puntos claves para que los brasileños optimicen s u español . São
Paulo: SBS Editora. 2000.
MATTE BON, F. (1992): Gramática comunicativa del español (I). De la lengua a la idea.
España: Edelsa.
MILLANI, Esther Maria et al. Listo: español a través de textos. São Paulo:
Santillana/Moderna, 2005.
NIKOLIC, Vesna e CABAJ, Hanna. Estou ensinando bem? Estratégias de auto-avaliação
para professores. (trad.) Milton Camargo Mota. SP: Loyola, 2001.
SECO, Manuel. Gramática esencial del español. España, 1996.
SEDYCIAS, João (org.) O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São
Paulo: Parábola, 2005. [Série Estratégias de Ensino]
VÁZQUEZ CUESTA, Pilar. Gramática Portuguesa. Madrid: Grados, 1981.
Universidad de Alcala de Henares. Dicionario Señas Espanhol. SP: Martins Fontes Editora.
2000.
Universidad de Salamanca. Dicionário Salamanca de la lengua española.
163
08) AVALIAÇÃO
- Bimestrais, em forma de avaliações escrita e oral:
- Atividades gramaticais e de análise gramatical, individuais e/ou em grupo;
- Verificação de leitura de livro e contos.
- Apresentações orais.
LÍNGUA ESPANHOLA II (144 horas)
Ementa:
- Aprofundamento dos conhecimentos da estrutura lingüística em nível intermediário.
- Estudo da história da língua espanhola, sua variedade e unidade na atualidade e dialetos
peninsulares;
- Leitura, análise e produção de textos.
03) OBJETIVOS
Geral
- Desenvolver em igual medida a capacidade de compreensão e expressão escrita bem como
de compreensão e expressão oral.
Específicos
- Ampliar o vocabulário e o domínio das estruturas lingüísticas, em especial os modos
Subjuntivo e Imperativo e demais composições verbais;
- Refletir sobre os conteúdos estudados com vistas ao ensino.
- Estabelecer uma relação entre os tempos verbais, de acordo com o avanço dos modos
estudados.
- Conhecer o processo de evolução da língua espanhola, bem como suas variantes
peninsulares e americanas, a fim de obter uma maior possibilidade de compreensão dos
textos literários que serão estudados nas disciplinas subseqüentes do curso de Letras /
Língua Espanhola.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Modos e tempos verbais;
- Modo Subjuntivo
- Modo Imperativo;
- Usos dos pronomes complementos (pronominalização dupla, pronominalização afetiva)
- Correspondências entre os tempos e modos verbais;
- Estilo direto e indireto;
- Perífrases;
- Elementos históricos sobre a origem do espanhol: línguas romances;
- Dialetos peninsulares na atualidade e variantes lingüísticas da América Latina;
- Yeísmo, Seseo, Leísmo, Voseo, Gauchesco, Lunfardo, situações de bilingüismo;
- Funções comunicativas;
- Vocabulário por campo semântico de interesse dos alunos.
- Produção de texto.
PROCEDIMENTO DE ENSINO
164
Metodologia baseada nos enfoques nocional-funcional, comunicativo e discursivo: leitura e
compreensão de textos; aulas expositivas e dialogadas; atividades individuais e em grupo,
debates sobre temas relevantes.
RECURSOS
Aparelhos: televisão, Data-show, DVD, vídeo-cassete, som;
Laboratório de línguas;
Laboratório de Informática;
Bibliotecas: Setorial, Central e Hemeroteca.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Adda-Nari e MELLO, Angélica. Mucho. v.único. 1.ed., SP: Editora Moderna,
2000. (Ensino Médio)
ARIAS, Sandra Di Lullo (2000): Espanhol Urgente para brasileiros. 6. ed., Rio de Janeiro:
Campus.
ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas.
Campinas SP: Pontes, 1993.
_____. O professor de Língua Estrangeira em Formação, Campinas, SP, Pontes, 1999.
ALVAR EZGUERA, M. (director). Diccionario Manual VOX ilustrado de la lengua
española. Barcelona , 1996.
AMORIM, Vanesa. Cem aulas sem tédio: sugestões práticas dinâmicas e divertidas para o
professor de língua estrangeira. Santa Cruz: Padre Réus, 1998.
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Crenças sobre aprendizagem de línguas,
Lingüística Aplicada e ensino de línguas. In: Linguagem & Ensino, v.7,
nº1, 20004. p.123-156.
BELLO, P. et all. Didáctica de las segundas lenguas. Estratégias y recursos básicos.
Madrid: Santillana, 1990.
BRIONES, Ana Isabel, FLAVIAN, Eugenia e FERNÁNDEZ, Gretel Eres.
Español Ahora . v.1,2,3. SP: Moderna, 2003.
BRUNO, Fátima Cabral e MENDOZA, Maria Angélica. Hacia el Español. Curso de
Lengua y Cultura Hispánica. (Níveis: Básico, Intermedio, Avanzado). 5.ed, SP: Editora
Saraiva, 2001.
FANJUL, Adrian Pablo. Gramática Passo a Passo. São Paulo: Moderna, 2006.
GELABERT, Mari José; MARTINELL, Emma; HERRERA, Manuel; MARTINELL,
Francisco. Repertorio de funciones comunicativas del español. Niveles Umbral, Intermédio
y Avanzado. Madrid: SGEL, 1996.
HERMOSO, A. González. Gramática de español lengua extranjera. España: Edelsa, 2003.
_____. Conjugar es fácil en español de España y de América. Madrid: Edelsa, 1997.
MAINARDI, Beatriz Novick e GASPARINI, Pablo Fernando. Puentes:
catorce puntos claves para que los brasileños optimicen su español . São
Paulo: SBS Editora. 2000.
MATTE BON, F. (1992): Gramática comunicativa del español (I). De la lengua a la idea.
España: Edelsa.
MILLANI, Esther Maria et al. Listo: español a través de textos. São Paulo:
Santillana/Moderna, 2005.
NIKOLIC, Vesna e CABAJ, Hanna. Estou ensinando bem? Estratégias de auto-avaliação
para professores. (trad.) Milton Camargo Mota. SP: Loyola, 2001.
ROMANOS, Enrique e CARVALHO, Jacira Paes de. Expansión. Español en Brasil. Ensino
Médio. v.único. SP: Editora FTD, 2002.
165
SECO, Manuel. Gramática esencial del español. España, 1996.
SEDYCIAS, João (org.) O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São
Paulo: Parábola, 2005. [Série Estratégias de Ensino]
VÁZQUEZ CUESTA, Pilar. Gramática Portuguesa. Madrid: Grados, 1981.
Universidad de Alcala de Henares. Diccionario Señas Espanhol. SP: Martins Fontes
Editora. 2000.
Universidad de Salamanca. Diccionario Salamanca de la lengua española.
Sites para busca em espanhol: Terra e Yahoo.
08) AVALIAÇÃO
- Bimestrais, em forma de avaliações escrita e oral:
- Atividades gramaticais e de análise gramatical, individuais e/ou em grupo;
- Verificação de leitura de livro e contos.
- Apresentações orais;
- Seminário sobre as variantes lingüísticas da Língua Espanhola.
LÍNGUA ESPANHOLA III (144 horas)
Ementa:
- Desenvolvimento da competência enunciativa oral e escrita;
- Leitura, análise e produção de textos;
- Relação entre os tempos e modos verbais.
OBJETIVOS
Geral
- Capacitar o aluno, futuro professor, ao uso e análise de estruturas em nível pós-
intermediário.
Específicos
- Revisar os conteúdos gramaticais, associando-os à futura prática em sala de aula.
- Produzir e interpretar discursos orais e escritos em língua espanhola, na perspectiva
discursivo-dialógica;
- Enfatizar aspectos das gramáticas da língua portuguesa que têm influência na língua
espanhola;
- Desenvolver a análise de estruturas lingüísticas e valores enunciativos de nativos, a partir
de material autêntico, escrito e oral.
04) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Revisão: Modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo; colocação pronominal; Discurso
indireto;
- Verbos de cambio;
- Usos de frases adverbiais;
- Elementos de textualidade: coesão e coerência;
- Voz passiva;
- Orações de relativo;
- Orações coordenadas e subordinadas.
- Análise contrastiva, lexical, morfossintática e semântica entre português e espanhol;
- Produção de texto por meio de gêneros.
166
06) RECURSOS
Aparelhos: televisão, Data-show, DVD, vídeo-cassete, som;
Laboratório de línguas;
Laboratório de Informática;
Bibliotecas: Setorial, Central e Hemeroteca;
07) BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas SP: Pontes, 1993.
_____. O professor de Língua Estrangeira em Formação, Campinas, SP, Pontes, 1999.
ALVAR EZGUERA, M. (director). Diccionario Manual VOX ilustrado de la lengua
española. Barcelona , 1996.
BELLO, P. et al. Didáctica de las segundas lenguas. Estratégias y recursos básicos.
Madrid: Santillana, 1990.
GELABERT, Mari José; MARTINELL, Emma; HERRERA, Manuel; MARTINELL,
Francisco. Repertorio de funciones comunicativas del español.Niveles Umbral, Intermédio y
Avanzado. Madrid: SGEL, 1996.
GONZÁLEZ ARAÑA, Corina; HERRERO AÍSA, Carmen. Manual de gramática española.
Gramática de la palabra, de la oración y del texto. Madrid: Ed. Castalia, 1997.
HERMOSO, A. González. Gramática de español lengua extranjera. España: Edelsa, 2003.
HERNÁNDEZ, Guillermo. Análisis gramatical. Teoria y práctica. Madrid: SGEL, 1990.
_____. Conjugar es fácil en español de España y de América . Madrid:
Edelsa, 1997.
MAINARDI, Beatriz Novick e GASPARINI, Pablo Fernando. Puentes:
catorce puntos claves para que los brasileños optimicen su español. São
Paulo: SBS Editora. 2000.
MATTE BON, F. (1992): Gramática comunicativa del español (I). De la lengua a la idea.
España: Edelsa.
MILLANI, Esther Maria et al. Listo: español a través de textos. São Paulo:
Santillana/Moderna, 2005.
MORENO GARCÍA, Concha. Curso Superior de Español. MADRID: SGEL;1999.
SECO, Manuel. Gramática esencial del español. España, 1996.
SEDYCIAS, João (org.) O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São
Paulo: Parábola, 2005. [Série Estratégias de Ensino]
VÁZQUEZ CUESTA, Pilar. Gramática Portuguesa. Madrid: Grados, 1981.
Universidad de Alcala de Henares. Dicionario Señas Espanhol. SP: Martins Fontes Editora.
2000.
Universidad de Salamanca. Dicionário Salamanca de la lengua española.
Sites para busca em espanhol: Terra e Yahoo.
08) AVALIAÇÃO
- Bimestrais, em forma de avaliações escrita e oral:
- Atividades gramaticais e de análise gramatical, individuais e/ou em grupo;
- Verificação de leitura de livro, contos e/ou textos autênticos.
- Apresentações orais.
167
LÍNGUA ESPANHOLA IV (144 horas)
Ementa:
- Desenvolvimento da competência enunciativa oral e escrita;
- Leitura, análise e produção de textos;
- Relação entre os tempos e modos verbais.
OBJETIVOS
Geral
- Reforçar o recurso a ferramentas metalingüásticas e meta-enunciativas favorecendo a
construção de uma explicação didática dos processos formulativos e argumentativos na
língua estrangeira em função do seu início de desempenho profissional.
Específicos
- Revisar os conteúdos gramaticais, associando-os à futura prática em sala de aula.
- Produzir e interpretar discursos orais e escritos em língua espanhola, na perspectiva
discursivo-dialógica;
- Enfatizar aspectos das gramáticas da língua portuguesa que têm influência na língua
espanhola;
- Desenvolver a análise de estruturas lingüísticas e valores enunciativos de nativos, a partir
de material autêntico, escrito e oral.
- Reconhecer a legitimidade do recurso à língua materna.
- Aperfeiçoar a produção de textos em língua espanhola.
04) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Revisão: Modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo; colocação pronominal; Discurso
indireto;
- Verbos de cambio;
- Usos de frases adverbiais;
- Elementos de textualidade: coesão e coerência;
- Voz passiva;
- Orações de relativo;
- Orações coordenadas e subordinadas.
- Análise contrastiva, lexical, morfossintática e semântica entre português e espanhol;
- Produção de texto por meio de gêneros.
- Tradução
06) RECURSOS
Aparelhos: televisão, Data-show, DVD, vídeo-cassete, som;
Laboratório de línguas;
Laboratório de Informática;
Bibliotecas: Setorial, Central e Hemeroteca;
07) BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas.
Campinas SP: Pontes, 1993.
168
_____. O professor de Língua Estrangeira em Formação, Campinas, SP, Pontes, 1999.
ALVAR EZGUERA, M. (director). Diccionario Manual VOX ilustrado de la lengua
española. Barcelona , 1996.
BELLO, P. et al. Didáctica de las segundas lenguas. Estratégias y recursos básicos.
Madrid: Santillana, 1990.
FLORES PEDROSO, Sergio. Tradução e ensino de línguas não-maternas. Letras & Letras.
V.
22. (51-72) ISSN: 0102-3527.
--------- Leitura, literatura e tradução: a necessidade de adequações no ensino de línguas não-
maternas. Revista Brasileira de Lingüística Aplicada. V. 6, nº1. (11-25)
GELABERT, Mari José; MARTINELL, Emma; HERRERA, Manuel; MARTINELL,
Francisco. Repertorio de funciones comunicativas del español.Niveles Umbral, Intermédio y
Avanzado. Madrid: SGEL, 1996.
GONZÁLEZ ARAÑA, Corina; HERRERO AÍSA, Carmen. Manual de gramática española.
Gramática de la palabra, de la oración y del texto. Madrid: Ed. Castalia, 1997.
HERMOSO, A. González. Gramática de español lengua extranjera. España: Edelsa, 2003.
HERNÁNDEZ, Guillermo. Análisis gramatical. Teoria y práctica. Madrid: SGEL, 1990.
_____. Conjugar es fácil en español de España y de América . Madrid:
Edelsa, 1997.
MAINARDI, Beatriz Novick e GASPARINI, Pablo Fernando. Puentes:
catorce puntos claves para que los brasileños optimicen su español. São
Paulo: SBS Editora. 2000.
MATTE BON, F. (1992): Gramática comunicativa del español (I). De la lengua a la idea.
España: Edelsa.
MILLANI, Esther Maria et al. Listo: español a través de textos. São Paulo:
Santillana/Moderna, 2005.
MORENO GARCÍA, Concha. Curso Superior de Español. MADRID: SGEL;1999.
SECO, Manuel. Gramática esencial del español. España, 1996.
SEDYCIAS, João (org.) O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São
Paulo: Parábola, 2005. [Série Estratégias de Ensino]
VÁZQUEZ CUESTA, Pilar. Gramática Portuguesa. Madrid: Grados, 1981.
Universidad de Alcala de Henares. Dicionario Señas Espanhol. SP: Martins Fontes Editora.
2000.
Universidad de Salamanca. Dicionário Salamanca de la lengua española.
Sites para busca em espanhol: Terra e Yahoo.
08) AVALIAÇÃO
- Bimestrais, em forma de avaliações escrita e oral:
- Atividades gramaticais e de análise gramatical, individuais e/ou em grupo;
- Verificação de leitura de livro, contos e/ou textos autênticos.
- Apresentações orais.
SUBSÍDIOS MORFOSSINTÁTICOS PARA A PRODUÇÃO ENUNCIATIVA EM
LÍNGUA ESPANHOLA (72 horas)
EMENTA:
Abordagem descritiva e prática de aspectos morfossintáticos da língua espanhola que
dificultam a produção enunciativa dos falantes de língua portuguesa porque decorrem da
169
extrema proximidade entre ambas as línguas, assim afastando os formandos do nível de
correção enunciativa a que se aspira na formação de professores da língua estrangeira. Os
tópicos serão considerados sobre uma base contrastiva.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
A pronominalização.
Pronominalização do objeto direto.
Pronominalização do objeto indireto
Pronominalização dupla.
Pronominalização afetiva.
Regência em verbos e expressões equivalentes. Ex.: Parecerse a, ser responsable de.
Perífrases verbais.
A voz passiva.
Voz passiva analítica. Ex.: Vários visitantes fueron entrevistados.
Voz passiva pronominalizada. Ex.: Se entrevisto a vários visitantes.
Ativação da voz passiva. Ex.: A vários visitantes los entrevistaron.
A expressão hipotética. Ex.: Si fuera (fuese), llegara (llegase, llegaría)
Alternâncias e equivalências: voy, fuera, fuese, iría.
Equivalências das construções com infinitivo em português.
BIBLIOGRAFIA
Bom, F. M. Gramática comunicativa Del Español. 2 Tomos. Madrid: Edelsa, 1998.
Díaz, R. F. Prácticas de gramática española para hablantes de portugués. Dificultades
generales, Cuadernos de prácticas de Español/LE. Madrid: Arco/Libros, S.L., 1999.
Fanjul, A. Gramática de español paso a paso. São Paulo: Moderna, 2005.
Llorach, E. A Gramática española. Madrid: Espasa Calpe, 1992.
Milani, E. M. Gramática de español para brasileños. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999.
Real Academia Española. Esbozo para una nueva gramática de la çlengua española. Madrid:
Espasa-Calpe, 1982.
Vázquez Cuesta, Pilar. Gramática portuguesa. Madrid: Grados, 1981.
SUBSÍDIOS FONÉTICOS E FONOLÓGICOS PARA A PRODUÇÃO
ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA (72 horas)
EMENTA:
Abordagem descritiva e prática de aspectos fonológicos da língua espanhola que dificultam
a produção enunciativa oral dos falantes de língua portuguesa porque decorrem da extrema
proximidade entre ambas as línguas, assim afastando os formandos do nível de correção
enunciativa a que se aspira na formação de professores da língua estrangeira. Os tópicos
serão considerados sobre uma base contrastiva.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. O timbre das vogais em língua espanhola.
1.1 Vogais orais e nasais.
2. Os encontros vocálicos.
2.1 Ditongos.
2.2 Hiatos.
170
3. Alguns sons com dificuldade recorrente.
3.1. A variação oclusivo-fricativa do B, D e G.
3.2 O som do “S” e a ligação entre palavras.
3.2.1 O “S” aspirado. Outras variantes.
3.3 O “R”.
3.4 O “LL” e o “Y”. Variantes.
3.5 O “X”.
4. Encontros consonânticos: BD, MN, PT, DM, TM (ausência de som parasita).
5. Os grupos acentuais e os grupos fônicos.
6. A curva tonal em orações asseverativas e interrogativas.
7. A aliteração.
BIBLIOGRAFIA
Alarcos Llorach, E. Fonología Española. Madrid: Gredos, 1981.
Callou, Dinah; Leite, Yonne. Iniciação à fonética e à fonologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editores, 1990.
Díaz, R. F. Prácticas de fonética española para hablantes de portugués. Dificultades
generales, Cuadernos de prácticas de Español/LE. Madrid: Arco/Libros, S.L., 1999.
http://www.uiowa.edu/ãcadtech/phonetics/spanish/frameset.htlm
http:www.liceu.uab.es/~joaquim/home.htlm
Masip, Vicente. Fonética do Espanhol para brasileiros. Barcelona: Difusión, 1998.
------------------ Gente pronuncia bien. Curso de pronunciación española para brasileños.
Barcelona: Difusión.
Señas: Diccionario para la enseñanza de lengua española para brasileños. Ed. Martins
Fontes. São Paulo, 2000.
Vázquez Cuesta, Pilar. Gramática portuguesa. Madrid: Grados, 1981.