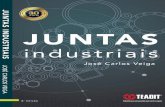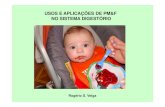UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CURSO DE … · Ao Diretor do Senai Paulista-PE, Sr. Eduardo...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CURSO DE … · Ao Diretor do Senai Paulista-PE, Sr. Eduardo...
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CURSO DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA MECNICA
A IMPLANTAO DAS BOAS PRTICAS DE FABRICAO
EM PANIFICADORAS
DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE
CRISTINA FARAH SERAFINI
Orientador: Prof. Dr. Maurlio Jos dos Santos
Recife, novembro de 2006
S482i Serafini, Cristina Farah
A implantao das boas prticas de fabricao em panificadoras da regio metropolitana do Recife / Cristina Farah Serafini. Recife: O Autor, 2006.
195 f.; il., grfs., tabs. Dissertao (Mestrado) Universidade Federal de
Pernambuco. CTG. Depto. de Engenharia Mecnica, 2006. Inclui referncias bibliogrficas e apndices. 1. Engenharia Mecnica. 2. Boas Prticas de
Fabricao Indstria de Alimentos. 3. Produtividade. 4. Panificao. 5. Resoluo n. 216. I. Ttulo.
621 CDD (22.ed.) UFPE/BCTG/2006-126
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CURSO DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA MECNICA
A IMPLANTAO DAS BOAS PRTICAS DE FABRICAO
EM PANIFICADORAS
DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE
CRISTINA FARAH SERAFINI
Dissertao de Mestrado apresentada ao
Programa de Ps-Graduao em
Engenharia Mecnica da Universidade
Federal de Pernambuco, como requisito
parcial para a obteno do ttulo de Mestre
em Engenharia Mecnica.
Recife 2006
Agradecimentos
Aos meus pais, Marlene e Armando, pelo carinho e confiana que em mim depositam.
Aos meus filhos, Fernanda e Filipe e ao meu marido Ricardo: minha razo de viver, crescer e
amar.
Ao Diretor do Senai Paulista-PE, Sr. Eduardo Veiga, por ter possibilitado a realizao dos
trabalhos de campo pertinentes dissertao.
Ao Coordenador Tcnico do Programa Alimentos Seguros no Estado de Pernambuco,
Sr.Adamastor de Oliveira Junior, pelo apoio, incentivo e ensinamentos da metodologia dos
trabalhos de campo para implantao das BPF nas padarias.
Ao Prof. Dr. Maurlio dos Santos,
meu orientador, por seus ensinamentos, sem os quais no teria alcanado os resultados desta
pesquisa.
Ao Departamento de Ps-graduao em Engenharia Mecnica, que tanto contribui
para o andamento do curso.
Aos examinadores interno e externo, Prof. Dr. Severino Urtiga e ao Prof. Dr.
Cosmo Severiano, que contriburam muito com suas sugestes e crticas ao trabalho.
Ao Professor Ivanilson Bastos de Melo, do curso de ingls, Cultura Inglesa, pela
contribuio na reviso do abstract.
E a todos que de alguma forma contriburam para esta pesquisa.
Resumo
A indstria de Panificao uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelo
Homem e nos primrdios das civilizaes, todo o processo de fabricao era, naturalmente,
artesanal e rudimentar. Com a evoluo e o passar dos sculos, foi se aprimorando
lentamente, at chegar aos dias de hoje em que a atividade de panificao dispe de
equipamentos e tcnicas para seu fabrico, de uma vasta quantidade e crescente variedade de
pes.
Com o crescimento da populao e o aumento na demanda por alimentos prontos
para o consumo - incluindo-se nestes os pes - os governos foram forados a editar leis a fim
de adequar sua fabricao a normas regulamentares, visando assegurar a melhor qualidade do
produto e forar a observncia de requisitos mnimos de higiene e sanitizao.
No Brasil, dentre essas normas, sobressai a Resoluo n. 216 da Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria, de setembro de 2004, com o objetivo de padronizar os trabalhos de
limpeza e higiene de mquinas e equipamentos, higiene pessoal, limpeza de reservatrios e o
controle de pragas urbanas. A este projeto foi dado o nome de Boas Prticas de Fabricao
(BPF). Esta Resoluo padroniza os trabalhos e exige dos estabelecimentos produtores a
elaborao de manuais de produo e os procedimentos operacionais padronizados,
concernentes aos itens acima referidos.
A presente pesquisa tem por objetivo descrever os trabalhos de implantao das
BPFs em 25 panificadoras da regio metropolitana do Recife. No escopo desta dissertao
relaciona-se uma vasta reviso bibliogrfica sobre o assunto e a descrio, pari passu, dos
trabalhos de campo realizados entre os meses de agosto de 2005 e agosto de 2006.
De posse dos dados coletados no trabalho de campo, possvel demonstrar como
a implantao das Boas Prticas de Fabricao e o treinamento dos manipuladores de
alimentos podem auxiliar a obter melhores resultados para os prprios estabelecimentos e a
benefcio da populao. Resultados estes que transcendem o objetivo da qualidade dos
produtos e contribuem para o aumento da produtividade.
Palavras-chave: BPF, qualidade, produtividade, resoluo n.216, panificao.
Abstract
The bread industry is one of the oldest activities developed by mankind and, at the
ancient civilizations, it was done by using rudimentary and artisan processes. Throughout
centuries of evolution, it slowly improved, getting up to the current days in which different
equipments and techniques are available within a vast quantity and growing variety of breads.
Along with the growth of the population and the increase of demand for fast food
(for consumption) including bread the governments have been forced to establish laws in
order to adjust its manufacture to the prescribed norms, aiming at assuring the best quality of
product and at forcing the fulfillment of minimum requirements of hygiene and sanitation.
In Brazil, amongst the norms, the September 2004 ANVISA resolution no 216 is
highlighted, which has the objective to standardize the cleaning procedure, the hygiene of
machines and equipments, personal hygiene, storage cleaning as well as the control of urban
plagues. The resolution, named Good Manufacturing Practices (GMP), standardizes the
procedures and requires from the production establishments, the elaboration of a manual of
production and standard operational procedures, related to this issue.
The present research aims at describing the Good Manufacturing Practices at 25
bakeries in the Metropolitan of Recife. In the scope of this research there is a vast
bibliographical revision on the subject matter and the description of the fieldwork that took
place from August, 2005 to August, 2006.
Considering the collected data from this project, it was possible to show how the
implantation of Good Manufacturing Practices and the training provided to the food
manipulators could enable them to provide the population with the benefit and to get better
financial results for their establishments. Those results went beyond their objective to reach a
better quality of products and contributed to the increase of productivity.
Keywords: GMP, quality, productivity, resolution n.216, bakery industry.
Sumrio Agradecimentos .......................................................................................................................04
Resumo ....................................................................................................................................05
Abstract....................................................................................................................................06
Lista de figuras ........................................................................................................................09
Lista de fotografias ..................................................................................................................09
Lista de grficos ......................................................................................................................09
Lista de siglas ..........................................................................................................................10
1. Consideraes iniciais ao estudo realizado......................................................................12 1.1 Contextualizao do tema e formulao do problema ......................................................12
1.2 Justificativa .......................................................................................................................14
1.3 Objetivos da pesquisa .......................................................................................................17
1.3.1 Objetivo geral ................................................................................................................17
1.3.2 Objetivos especficos .....................................................................................................17
2. Histrico sobre a fabricao dos pes e do surgimento das primeiras padarias ........18
3. Referencial terico ............................................................................................................20
3.1 Descrio bsica dos setores de uma panificadora - caracterizao do estabelecimento .20
3.2 Descrio bsica da fabricao de pes, seguindo o modelo das panificadoras
atendidas .................................................................................................................................23
3.3 Contaminao alimentar ...................................................................................................29
3.3.1 Introduo aos microrganismos .....................................................................................29
3.3.2 As doenas transmitidas por alimentos (DTA) ..............................................................31
3.3.3 A inibio microbiana em produtos de panificao ......................................................32
3.3.4 A relao entre a contaminao e a produo de alimentos seguros .............................32
3.3.5 A relao entre a higiene e as contaminaes na indstria de alimentos ......................39
3.4 A qualidade na indstria da panificao ...........................................................................45
3.4.1 A evoluo da qualidade ...............................................................................................45
3.4.1.1 Taylor .........................................................................................................................46
3.4.1.2 Fayol ...........................................................................................................................47
3.4.1.3 Ford .............................................................................................................................48
3.4.1.4 Deming .......................................................................................................................50
3.4.1.5 Juran ...........................................................................................................................51
3.4.1.6 Qualidade total ............................................................................................................51
3.4.1.7 Toyota .........................................................................................................................52
3.4.1.8 Fim do sculo XX/Atualidade ....................................................................................53
3.5 A ferramenta boas prticas de fabricao propriamente dita ...........................................54
3.6 A relao entre a lista de 14 pontos de Deming e a ferramenta BPF ...............................62
3.7 Outras ferramentas de qualidade utilizadas na indstria de alimentos .............................65
3.8 As ferramentas de qualidade possveis de serem utilizadas nas panificadoras
estudadas .................................................................................................................................81
3.9 A relao entre a administrao e higiene ........................................................................82
3.10 As boas prticas de fabricao e sua relao com a produtividade na indstria de
panificao ..............................................................................................................................83
3.11 O treinamento de manipuladores como aliado na garantia da qualidade .......................88
4. Procedimentos metodolgicos da pesquisa .....................................................................91
4.1 Introduo .........................................................................................................................91
4.2 Estudos de caso .................................................................................................................91
4.3 Estrutura dos estudos de caso ...........................................................................................92
4.3.1 O Programa do Senai modelo utilizado nos trabalhos de campo ................................92
4.3.2 Levantamento de dados .................................................................................................95
4.3.3 Descrio detalhada das visitas ......................................................................................97
5. Apresentao e anlise dos resultados ..........................................................................104
5.1 Introduo .......................................................................................................................104
5.2 Anlise e interpretao dos dados ..................................................................................104
5.3 Resultados e discusses ...................................................................................................153
6. Concluses .......................................................................................................................158
7. Recomendaes para futuros trabalhos .......................................................................159
Referncias bibliogrficas ..................................................................................................161
Apndices..............................................................................................................................167
Lista de figuras
Figura 01 Leiaute bsico de produo de pes ....................................................................22 Figura 02 Adaptao da figura do Senai: Etapas de implementao do programa de BPF .57 Figura 03 Adaptao de figura do Ciclo do PDCA de controle de processos......................80
Lista de fotografias
Fotografia 01 Equipamento balana digital ......................................................................24 Fotografia 02 Equipamento masseira ...............................................................................25 Fotografia 03 Equipamento cilindro .................................................................................25 Fotografia 04 Equipamento divisora ................................................................................26 Fotografia 05 Equipamento modeladora ..........................................................................26 Fotografia 06 Equipamento estufa de fermentao ..........................................................27 Fotografia 07 Equipamento forno ....................................................................................28
Lista de grficos
Grfico 01 Evoluo da Implantao das BPFs no critrio edificaes e instalaes .......151 Grfico 02 Evoluo da Implantao das BPFs no critrio equipamentos, mveis e utenslios................................................................................................................................151 Grfico 03 Evoluo da Implantao das BPFs no critrio colaboradores e hbitos higinicos...............................................................................................................................152 Grfico 04 Evoluo da Implantao das BPFs no critrio fluxo de produo e matria prima......................................................................................................................................152 Grfico 05 Evoluo Geral da implantao das BPFs .......................................................154
Lista de tabelas
Tabela 01 Resultados do levantamento efetuado antes e aps as atividades de campo .....157
Lista de siglas
ABIP Associao Brasileira das Indstrias de Panificao e Confeitaria ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria APPCC/ HACCP Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle / Harzard Analysis and Critical Control Points a.C. Antes de Cristo BPF/GMP Boas Prticas de Fabricao / Good Manufacturing Practices CCQ Crculos de Controle da Qualidade CDC Center for Disease Control and Prevention CEL Centro de Excelncia em Laticnios CEP Controle Estatstico do Processo CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica DTA/ETA - Doena Transmitida por Alimentos / Enfermidade Transmitida por Alimentos FDA Food and Drug Administration FMEA Failure Mode and Effect Analysis ISO International Organization for Standartization JIT Just in Time MBPF Manual de Boas Prticas de Fabricao MS Ministrio da Sade PCC Ponto Crtico de Controle PDCA Ciclo de Deming, Plan, Do, Check e Action POP/SSOP Procedimento Operacional Padronizado/ Sanitation Standard Operation Procedures PROPAN - Programa de apoio panificao ppm partes por milho QFD Quality Function Deployment
SEBRAE Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas SENAC Servio Nacional de Aprendizagem Comercial SENAI Servio Nacional de Aprendizagem Industrial TQC Total Quality control
1. Consideraes iniciais ao estudo realizado 1.1 Contextualizao do tema e formulao do problema
O ramo de panificao um dos setores mais antigos da histria da alimentao e
o po, em si mesmo, segundo Flandrin e Montanari (1998),
o smbolo da civilizao, da distino entre o homem e o animal. (...) o sinal que distingue uma sociedade que no repousa sobre os recursos naturais, mas que capaz de fabricar, ela prpria, seus recursos, de criar - com a agricultura e a criao de animais - suas prprias plantas e seus prprios animais.
Evoluram as civilizaes, aperfeioaram-se os mtodos de produo, alteraram-se
os costumes alimentares, mas o po continua sendo um dos principais alimentos dos povos. E
na atualidade, agregaram-se os recursos tecnolgicos, ensejando a fabricao em massa, de
modo que os mtodos produtivos e de vendas trouxeram para este setor tambm o fenmeno
da concorrncia, mormente nas grandes cidades, num mercado cada vez mais competitivo.
Este fenmeno da concorrncia origina-se da conjugao de diferentes variveis, tais como:
- Aumento das exigncias dos consumidores e mudana de seu perfil, este influenciado pelo
tipo de vida, com mais trabalho e menos tempo;
- Aumento do nmero de estabelecimentos panificadores (dentre estes tambm os
clandestinos);
- Produo e/ou venda de pes em supermercados;
- Diferentes tcnicas de administrao dos estabelecimentos.
A preocupao em produzir alimentos seguros e durveis, utilizar corretamente as
matrias-primas e treinar os funcionrios, dentre outros quesitos, tem sido cada vez mais
evidente, pois os fabricantes vem-se tangidos pelas questes atinentes perda na produo e
reduo de produtividade em sua indstria. E, por via de conseqncia, a preocupao com
a lucratividade (GAVA, 2002).
Na realidade, a qualidade dos produtos alimentcios uma questo crucial e, as
empresas que no querem apenas manter-se estagnadas no mercado - qui com crescimento
meramente vegetativo - mas sim sobressarem s demais, devem adotar as ferramentas da
13
qualidade, como meio seguro para reduzir custos, diminuir perdas de produo e evitar a
rotatividade de funcionrios. Dessa forma, podero conquistar notabilidade e destaque no
mercado.
No contexto antes delineado, entende-se por perdas na produo, segundo
Michael (2001), todo e qualquer produto danificado, que no atende s especificaes, que
no passvel de re-trabalho ou no pode ser vendido como produto de valor comercial.
Perdas, para Shingo (1989), so aquelas atividades que no contribuem, ou no adicionam
valor ao produto ou prpria atividade, como interrupes e esperas, ou acmulos entre
etapas do processo. E isto sem falar no reprocessamento e sua seqela de efeitos negativos. J
quanto produtividade, Davis et al (2001) a define como:
A eficincia a qual as entradas so transformadas em produtos finais.
Em outras palavras, a produtividade da empresa medir-se- pelo quo bem se
converte as entradas em sadas de produtos.
Dentre as diversas perdas possveis em um estabelecimento produtor de alimentos
tem-se, segundo Lara e Lopes (2004; 2006):
1) Possibilidades de provocar surtos, epidemias e at mortes de pessoas que possam
ser intoxicadas com alimentos contaminados;
2) Desperdcios de matrias-primas;
3) Desperdcios de produto acabado;
4) Perdas por retrabalho;
5) Reclamao de clientes, com conseqente perda de clientela;
6) Perda da reputao do estabelecimento comercial;
7) Perda do emprego de funcionrios responsveis pela manipulao dos alimentos,
caso sejam comprovadamente responsabilizados pela contaminao dos mesmos;
8) Havendo fiscalizao por parte da vigilncia sanitria, o estabelecimento poder
sofrer penalizaes, como: pagar tratamento mdico s vitimas da contaminao;
ser duramente multado por negligncia; ou, ainda, ser obrigado a indenizar as
vtimas da contaminao;
9) Interdio do estabelecimento.
14
H diversas ferramentas para obter a qualidade, como a anlise de perigos e
pontos crticos de controle, 5S, controle estatstico do processo, dentre outras, aplicadas
indstria em geral e alimentcia, com o objetivo de reduzir as perdas e, consequentemente,
aumentar a produtividade. Dentre estas, as Boas Prticas de Fabricao (BPFs) constituem
uma das ferramentas mais eficientes e sua aplicao, no Brasil, foi normatizada pela resoluo
da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA), ano 2004, nmero 216, assentada em
trs pilares: elaborao do Manual de Boas Prticas de Fabricao (MBPF) e dos
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) e a aplicao do treinamento dos
manipuladores de alimentos (SENAI, 2001; 2002; SENAC, 2001).
Hoje, indiscutvel a relevncia das BPFs em indstrias alimentcias, pelo fato de
ser considerada a base das ferramentas de qualidade. Ou seja, altamente recomendvel que
sua implantao anteceda a qualquer outra. Assim se afirma porque, ao implant-la e capacitar
os funcionrios, so estabelecidos procedimentos que garantam as adequadas condies
higinico-sanitrias do alimento preparado. Seguem-se, naturalmente, os efeitos benficos da
qualidade e a reduo de perdas.
Deste modo, a razo e o estmulo desta pesquisa demonstrar que as boas prticas
e o treinamento dos manipuladores de alimentos - introduzidos em panificadoras da regio
metropolitana do Recife - auxiliaram a alcanar as conformidades exigidas pela legislao.
Possibilitaram, tambm, realizar comparaes entre as informaes levantadas nos check list
inicial e final. Com isso, ensejaram estabelecer procedimentos de rotina para melhoria
contnua da produtividade e, em particular, responder questo:
Como as boas prticas de fabricao e o treinamento dos manipuladores
podem contribuir para reduzir as perdas na produo na indstria de panificao?
1.2 Justificativa
Nos ltimos anos, a incorporao de tecnologias no ramo de panificao brasileiro
conferiu grande e proveitosa heterogeneidade aos estabelecimentos. Enquanto uns utilizam a
mais moderna tecnologia, outros continuam produzindo de modo artesanal e o que pior -
sem as mnimas condies higinico-sanitrias (BRAMORSKI et al, 2004).
15
A intoxicao alimentar um fenmeno nocivo presente em todos os locais em
que se fabricam alimentos, e quanto maior a quantidade, maior o risco de contaminao. Isto
porque, quanto maior a produo, maior ser o nmero de manipuladores e o tempo de
exposio dos alimentos. Portanto, maiores as chances de haver o desenvolvimento dos
microrganismos.
Quanto a critrios sanitrios, a higiene rigorosa das mos dos manipuladores
vital por ser considerado o principal veculo de transferncia de agentes infecciosos. A
propsito, 71% dos manipuladores de um laticnio, localizado na regio de Londrina,
possuam a bactria Escherichia coli, microrganismo indicador tpico de falta de higiene aps
o uso dos sanitrios, pois, o intestino de animais de sangue quente, dentre eles o homem, seu
habitat (KARAM et al, 1998).
Bramorski et al (2004) relatam que 86% das panificadoras localizadas em
Joinville, Santa Catarina, apresentaram caractersticas insatisfatrias quanto s condies
fsicas e higinico-sanitrias. Ademais, a avaliao do perfil dos funcionrios revelou 77% de
desqualificao para o ramo e 69% dos estabelecimentos apresentaram conceitos
insatisfatrios quanto ao recebimento e armazenamento da matria-prima. Neste contexto, as
condies higinico-sanitrias das confeitarias no so diferentes, apresentando 78,5% de
inadequao.
Oliveira et al (2003) citam o exemplo de uma comemorao, ao dias das crianas,
realizado em Recife, da qual participaram 665 pessoas, sendo que deste total, 202 foram
hospitalizadas em decorrncia de ingesto de alimentos previamente preparados, cujas
anlises microbiolgicas revelaram a presena de bactrias do tipo Staphylococcus aureus, em
80% das amostras, 5% de Clostridium perfringes e 65% para coliformes fecais. De posse das
informaes, a autora afirma que fica evidente que as causas provveis da contaminao
foram: manipulao inadequada, preparo dos alimentos com demasiada antecedncia e
manuteno dos alimentos temperatura ambiente.
Estima-se que, anualmente, ocorra 1,5 bilho de episdios de gastroenterocolite
aguda em todo o mundo, dos quais 70% so causados pela ingesto de alimentos
contaminados. O resultado final trgico, uma vez que a diarria causa de bito de 3
milhes de crianas menores de 5 anos, a cada ano, sendo que estes episdios ocorrem
principalmente em pases subdesenvolvidos - embora a gastroenterocolite aguda no seja
16
exclusiva de pases pobres. Nos Estados Unidos da Amrica, h cerca de 33 milhes de
casos/ano de toxiinfeces alimentares e no Reino Unido, 35.000 internaes/ano para
tratamento desta doena. Pode-se ressaltar que sua incidncia provavelmente subestimada
pelo fato de apenas 10% dos pacientes adultos com diarria procurarem os servios de
atendimento mdico e destes, somente 20% so submetidos a exames comprobatrios da
doena (BALBANI e BUTUGAN, 2006).
O risco de contaminao com os nveis de inadequao acima citados constitui
permanente preocupao, pois pode causar danos importantes aos consumidores, bem como
imagem da empresa fabricante. De acordo com o Centro de Controle e Preveno (CDC),
ocorrem, nos Estados Unidos, 76 milhes de intoxicaes de origem alimentar, 300.000
hospitalizaes e cerca de 5.000 mortes a cada ano (CDC, 2005).
Segundo Lara e Lopes (2006), os dados das pesquisas na rea de alimentos,
principalmente na rea de higiene, evidenciam o desconhecimento ou negligncia dos
responsveis pela adoo de corretas prticas de higiene. Isto refora a importncia de
trabalhos de conscientizao dos proprietrios e funcionrios, a fim de contribuir para a
melhor qualidade do alimento e reduzir os riscos sade dos consumidores. Portanto, a autora
refora que o estabelecimento que adotar as tcnicas, cumprir os cuidados na implantao das
BPFs e treinar seus funcionrios, conseguir oferecer mercadorias de qualidade alimentos
seguros.
Assim, mantendo a linha de raciocnio de Lara e Lopes, para contornar as
estatsticas perversas, necessrio implantar ferramentas de qualidade nas indstrias de
alimentos para evitar tanto as perdas produtivas, como as intoxicaes alimentares, as duas
faces de um mesmo fenmeno, com prejuzo econmico e de sade pblica; pois a nica
maneira segura de prevenir os riscos de contaminao dos alimentos saber identificar suas
origens e conhecer os meios para evit-las. Para tanto, as panificadoras devem, no mnimo,
seguir a Resoluo n 216, de 15/09/2004, que contm subsdios aos estabelecimentos
produtores de alimentos, para que consigam oferecer produtos seguros e de qualidade a seus
clientes. E o caminho para alcanar esse objetivo implantar as boas prticas de fabricao e
capacitar as equipes de produo (CHESWORTH, 1999; LARA e LOPES, 2006).
Segundo Panza et al (2006), quando corretamente aplicadas, as tcnicas de
manipulao dos alimentos e de higiene corporal, ambiental e de alimentos, consegue-se
17
reverter o quadro dramtico das contaminaes alimentares. A autora conclui que, aps a
aplicao de boas prticas de fabricao em um restaurante no centro universitrio de
Maring, foram muitas as mudanas aps o treinamento dos funcionrios, tendo citado dados
como um aumento de conformidades na ordem de:
- 18% em relao a aspectos gerais de higiene pessoal;
- 70% no que diz respeito lavagem de mos;
- 49% em relao ao comportamento dos funcionrios durante a manipulao e
- 37% no item uso e cuidados com os uniformes.
Portanto, com base no que se acaba de expor, esta dissertao teve como objetivo
descrever a contribuio das boas prticas de fabricao e do treinamento dos manipuladores
de alimentos, para reduzir as perdas em panificadoras na regio metropolitana do Recife,
sabendo-se que contribuem, inclusive, para melhorar os resultados dos estabelecimentos. Mas,
principalmente, para reduzir os malefcios das intoxicaes.
1.3 Objetivos da pesquisa 1.3.1 Objetivo geral
Descrever a contribuio das boas prticas de fabricao, aliadas ao treinamento
dos manipuladores de alimentos, no aumento da produtividade e na reduo das perdas em
panificadoras na regio metropolitana do Recife.
1.3.2 Objetivos especficos OE1: Descrever o processo de implantao das boas prticas de fabricao, em 25
panificadoras tendo, cada estabelecimento, recebido no mnimo dez visitas.
OE2: Aplicar o questionrio inicial (conhecer a situao das panificadoras), capacitar os
colaboradores, descrever as dificuldades encontradas na implantao das boas prticas de
fabricao e aplicar o questionrio final (conhecer e descrever a situao das panificadoras
aps a implantao das boas prticas);
18
OE3: Discutir os resultados dessas duas verificaes (questionrios) estabelecendo
comparao entre as duas situaes: antes e o aps o treinamento dos manipuladores, com a
implantao das BPFs;
OE4: Descrever a primeira avaliao, feita de forma subjetiva, no momento do primeiro
encontro na panificadora.
2. Histrico da fabricao de pes e do surgimento das primeiras padarias
Como se sabe, o po um alimento que resulta do cozimento de uma massa feita
com farinha de certos cereais, principalmente trigo, com adio de gua e sal e sua produo
remonta aos mais antigos registros da civilizao do Homem.
Segundo o site da internet Terra-notcias (2006), uma equipe de arquelogos
norte-americanos descobriu restos e vestgios do que deve ter sido a padaria mais antiga do
mundo, usada pelos egpcios para produzir o po do sol. A equipe encontrou armrios onde
se armazenaram gros, bandejas e ferramentas usadas para fermentar a massa. Especialistas
afirmam que os egpcios foram bem sucedidos na fabricao de pes, na poca de 2686 a
2181 a.C.
Na verdade, o uso do po para alimentao humana antiqssimo. Pelo que se
tem registro, sua produo remonta a milhares de anos a.C. Inicialmente, eram assados sobre
pedras quentes ou debaixo de cinzas, datando, ao que consta, do VII milnio a.C. a utilizao
de fornos de barro para seu cozimento. Refere-se que foram os egpcios os primeiros a usar os
fornos, sendo-lhes atribuda tambm descoberta do acrscimo de lquido fermentado
massa, para torn-la leve e macia (ABIP, 2006).
A Associao Brasileira das Indstrias de Panificao e Confeitaria (ABIP)
(2006) tambm informa que, no Egito, o po era o alimento bsico. E, segundo Herdoto
cognominado o Pai da Histria o po era amassado com os ps e, normalmente, feito de
cevada ou outras espcies de trigo de qualidade inferior. Os pes preparados com trigo de
qualidade superior eram destinados apenas aos mais abastados. Com o po tambm se
pagavam os salrios: um dia de trabalho valia trs pes e dois cntaros de cerveja. Os judeus
tambm fabricavam seus pes na mesma poca, porm no utilizavam fermentos (pes
19
zimos, do grego azymos = sem fermento) por acreditarem que a fermentao era uma forma
de putrefao e impureza. Na Europa, o po chegou atravs dos gregos. Em Roma era feito
em casa, tendo passado, mais tarde, a ser fabricado em padarias, dando origem ao ofcio de
padeiro.
Com a queda do Imprio Romano e da organizao por ele imposta, as padarias
europias desapareceram, retornando o fabrico domstico do po na maior parte da Europa. O
senhor feudal permitia apenas o uso do moinho e dos fornos. Voltou-se a consumir, pela
comodidade do fabrico, o po zimo, sem fermento e achatado, que acompanhava outros
alimentos como carnes e as sopas. Nessa poca, apenas os castelos e conventos possuam
padarias. Os mtodos de fabrico eram incipientes e, apesar das limitaes na produo, as
corporaes de padeiros j tinham alguma fora. No sculo XVII, com a introduo dos
modernos processos de panificao, a Frana tornou-se o centro de fabricao de pes de
luxo. Depois, a primazia de fabricao passou para Viena e ustria, onde se desenvolveram
tambm os estabelecimentos de confeitaria (ABIP, 2006).
No entanto, a grande mudana na produo dos pes veio com a revoluo
industrial, pela utilizao de mquinas, alterando-se progressivamente muitos processos
produtivos (LARA e LOPES, 2006).
A introduo de novos processos de moagem da farinha contribuiu em muito para
as melhorias na indstria da panificao. A comear pela triturao (moagem) dos gros de
trigo, em moinhos de pedra manuais, a que se seguiram aqueles tracionados por animais ou
movidos pela gua e, finalmente, pelos moinhos de vento. Apenas em 1784, apareceram os
moinhos movidos a vapor e em 1881, com a inveno dos cilindros, a triturao dos gros de
trigo e, conseqentemente, a produo de pes, foi aprimorada consideravelmente (ABIP,
2006).
No Brasil - segundo o antroplogo e socilogo Gilberto Freire - o po chegou no
sculo XIX. Antes dele, consumia-se, em tempos coloniais, o biju de tapioca. Registros
encontrados relatam que, em Pernambuco, em 1816, tambm no era comum o uso do po,
apesar da cultura do trigo principalmente em Campina Grande, Paraba. Outras informaes
de viajantes estrangeiros em 1839 do conta do completo desconhecimento do po pelos
nordestinos moradores do serto, a esta poca (ABIP, 2006).
20
No Brasil, a atividade de panificao difundiu-se com os imigrantes italianos,
cujos pioneiros dessa atividade situavam-se em Minas Gerais. Nos grandes centros
proliferaram as padarias tpicas, sendo que, em alguns bairros da cidade de So Paulo, como o
Bexiga, existem ainda hoje, padarias que fabricam pes italianos de forma tradicional (ABIP,
2006).
bem de ver que a histria do po se confunde com a evoluo do homem, pois
h sculos e sculos se consomem esse alimento, passando de geraes para geraes, os
diversos modos de produzi-lo em diferentes culturas. Mais recentemente, as inovaes
tecnolgicas do setor fizeram com que aumentasse espantosamente as panificadoras em
nmero e em desempenho de produo. Apesar disto, estima-se que 90% das panificadoras
trabalhem de forma artesanal e que a medida de consumo de po francs no Brasil, por ano,
por pessoa, de 27 kg (LARA e LOPES, 2006).
3. Referencial terico 3.1 Descrio bsica dos setores de uma panificadora caracterizao do
estabelecimento
Quanto ao tipo de estabelecimento empresarial, as panificadoras podem ser
simples produtoras de pes, com apenas o setor de produo, depsito e balces de venda ou
do tipo Boutique, de Servios e Convenincia. As do tipo Boutique, situam-se em regies de
alto poder aquisitivo, oferecendo produtos prprios e importados. As de Servio localizam-se
em regies centrais ou em ruas de grande circulao de pessoas, oferecendo produtos
alimentcios base de pes e seus derivados e atendimento de bar e lanchonete. J as de
Servios e de Convenincia, alm de produtos prprios de padaria e confeitaria, incluem a
oferta de bens importados, congelados, bolos, bem como servios de auto atendimento
(LARA e LOPES, 2006).
No que concerne ao estabelecimento em si de uma panificadora, pode-se dizer que
seus setores de produo so organizados e distribudos conforme caractersticas prprias,
mas sempre em conformidade com a Resoluo vigente n 216, de 15/09/2004, sobre leiaute,
para evitar contaminaes.
21
Em se tratando da diviso fsica, uma panificadora (Figura 01), tem, basicamente,
os seguintes setores (DICAS DA PADARIA, 2006):
- Setor de Recebimento
Por ser inapropriado o ingresso ou permanncia, no setor de vendas de uma
panificadora, de outros produtos que no sejam aqueles prontos para o fornecimento,
importante que o estabelecimento tenha uma dependncia especificada como setor de
recebimento de matrias-primas ou outros insumos. Por ele, deve efetuar-se o recebimento de
todo e qualquer produto, desde a matria-prima, at aqueles prontos para os consumidores.
Este procedimento evita desconforto para os clientes, facilita a conferncia dos materiais no
ato do recebimento e evita as contaminaes cruzadas.
- Setor de Armazenamento
Este setor recebe, para depsito, o material que foi recebido e classificado no setor
anterior, a fim de que sejam armazenados, com um mnino de organizao, separados por
grupos de produtos e classificados por tipo ou natureza: produtos secos, refrigerados e
congelados. Vale lembrar, a este passo, os antigos armazns que vendiam os mais variados
tipos de produtos e eram designados como "Armazm de Secos e Molhados".
- Setor de Produo
O setor de produo composto por trs reas especficas: panificao, confeitaria
e pastelaria.
Na rea de panificao elaboram-se os pes, de diversos tipos, a partir dos
seguintes equipamentos bsicos: masseira, divisora, cilindro, modeladora, estufas (armrios
de fermentao), batedeiras, fornos, mesas e utenslios em geral.
A rea de confeitaria destina-se ao preparo de bolos, tortas, doces, dentre outros.
A rea de pastelaria reservada ao fabrico de coxinhas, pastis, dentre outros.
22
- Setor de Exposio
o local onde so expostos para venda os produtos de fabricao prpria ou de
terceiros, tais como pes, a granel e embalados, assim como demais alimentos, perecveis ou
no.
Vide abaixo uma sugesto de leiaute para uma padaria, proposto no site Dicas da
padaria! (2006):
- Pequena, com rea prxima de 20m2 para produo; aproximada de 450 pes de
50g/ h.
- Mdia, com rea prxima de 35m2 para produo; aproximada de 750 pes de
50g/ h.
- Grande, com rea prxima de 60m2 com produo de pes; aproximada de 1500
pes de 50g/ h.
Figura 01 Leiaute bsico de produo de pes Fonte: O site de dicas da Padaria!. Leiaute bsico de produo. Disponvel em: http://www.padariaonline.com.br/html/pol/monte_sua_padaria/#Lay-out%20Bsico%20rea%20de%20Vendas. Acesso em: 07 de junho de 2006.
23
3.2 Descrio bsica da fabricao de pes, seguindo o modelo das panificadoras
atendidas
Segundo o regulamento tcnico para fixao de identidade e qualidade de po, a
Resoluo n. 90 de 2000 define:
O po o produto obtido pela coco, em condies tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada ou no, preparada com farinha de trigo e/ou outras farinhas que contenham naturalmente protenas formadoras de glten ou adicionadas das mesmas e gua, podendo conter outros ingredientes.
No caso de pes fermentados, a fermentao pode ser biolgica natural ou
biolgica industrial. A primeira obtida a partir de uma auto-seleo natural de cepas de
leveduras (tipo de fungo) e de lactobacilos (tipo de bactria benfica) presentes na farinha de
trigo e a segunda, a partir de uma seleo de leveduras Saccharomyces cerevisiae (tipo de
fungo), obtida atravs de processo industrial (RESOLUO n. 90, 2000).
O produto classificado conforme os ingredientes utilizados, o processo de
fabricao e/ou atravs do formato que possua. Segundo a Resoluo n. 90, os tipos so: po
zimo, po francs, po de forma, po integral, panetone, grissini, torrada, farinha de po ou
de rosca.
O mercado de panificao predominantemente regional, devido alta
perecibilidade de seus produtos, mas no que concerne a equipamentos, tem influncia do
mundo globalizado e altamente competitivo, com demanda por itens tecnicamente evoludos,
de maior qualidade e menor preo (ESTELLER, 2004).
Por conseqncia, as panificadoras de maior porte buscam mquinas e sistemas
produtivos que permitam, ao mesmo tempo, automatizar os processos produtivos,
uniformizarem a produo, aumentar a produtividade e qualificar a mo-de-obra. H oferta de
grande variedade de equipamentos para as diferentes etapas do processamento, tais como
masseiras, cilindros, modeladoras, dentre outros (ESTELLER, 2004; LARA e LOPES, 2006).
Segundo Esteller (2004), Lara e Lopes (2006) e o site da internet Como Fazer Po
(2006), o processo bsico de elaborao de pes fermentados nas panificadoras estudadas, o
seguinte:
24
- Pesagem dos ingredientes:
Etapa realizada em balanas (Fotografia 01) aferidas e tem grande importncia,
pois a correta pesagem dos ingredientes garante adequada relao quantitativa, o que
determina a qualidade do po. Todavia, alguns ingredientes no necessitam de pesagem e sim
de dosagem, como no caso da gua, medida por meio de um dosador.
Fotografia 01 Equipamento balana digital Fonte: Segurana Alimentar em Padarias, 2006. - Masseira - mistura dos ingredientes:
Equipamento utilizado para dispersar e homogeneizar a gua e os demais
ingredientes (Fotografia 02), pesados na etapa anterior, agregados farinha, at o
desenvolvimento da massa, mediante seu movimento contnuo pelo qual ocorre a mistura dos
ingredientes e a incorporao de ar. A incorporao de ar muito importante, pois a massa
tem um decrscimo de sua densidade e o ar permite a formao dos caminhos por onde o
gs carbnico perpassa os alvolos da massa elaborada. A mistura deve ocorrer em
temperaturas entre 26-28C e o controle da temperatura so realizados atravs da adio de
gua na mistura.
As masseiras so encontradas em diversos tamanhos e modelos (0,5 kg a 500 kg),
com velocidade de batimento da massa: lento ou ultra-rpido. H tambm masseiras
horizontais com carga e descarga automtica e masseiras com cuba fixa e cuba basculante.
25
Fotografia 02 Equipamento - masseira Fonte: Segurana Alimentar em Padarias, 2006. - Cilindros:
o equipamento utilizado para abrir a massa preparada na etapa anterior,
tornando-a homognea (Fotografia 03). Nesta etapa o operador manualmente abre a massa e
verifica se o glten est no ponto. Se estiver, a massa encaminhada para a divisora.
Fotografia 03 Equipamento - cilindro Fonte: Segurana Alimentar em Padarias, 2006. - Divisora:
Aps devidamente misturados os ingredientes e cilindrados, a massa dividida
em pedaos apropriados ao po que se deseja fabricar. Esta diviso pode ser feita manual ou
mecanicamente (Fotografia 04), sendo que as divisoras funcionam com base em volume ou
peso.
Esta etapa deve ser precisa e propiciar uniformidade ao processo, uma vez que o
excesso representa perda econmica e a falta de peso pode levar violao da lei quanto ao
peso do po.
26
Depois de dividida a massa, esta deve ser moldada (Fotografia 05), visando
melhorar a textura e a estrutura do po e dar a forma desejada ao produto. Esta etapa pode ser
realizada manualmente ou com modeladoras.
Fotografia 04 Equipamento - divisora Fonte: Segurana Alimentar em Padarias, 2006.
Fotografia 05 Equipamento - modeladora Fonte: Segurana Alimentar em Padarias, 2006. - Descanso da massa-estufa:
Esta etapa reservada fermentao, quando a massa, j no formato final do po,
levada a um ambiente com temperaturas entre 30-35C e umidade relativa de 75-80%, em
armrios (Fotografia 06) adequados para este fim. O tempo aproximado de descanso entre
55-65 minutos.
27
O fenmeno da fermentao fundamental no fabrico de pes: a capacidade que
a massa tem de aumentar seu volume, por ao dos microrganismos da levedura (o fermento)
que atacam os acares presentes na massa e os transformam em dixido de carbono. E a ao
destes gases, durante o descanso da massa, faz com que esta dobre de volume, provocando o
crescimento do po.
Cabe ressaltar que as condies de temperatura e umidade devem ser bem
monitoradas, porque temperaturas inferiores s recomendadas podem retardar o processo
fermentativo, enquanto que as temperaturas mais altas podem reduzir a capacidade de
reteno dos gases na massa. O controle da umidade tambm fundamental, pois baixas
umidades causam a secagem da massa com conseqente formao de uma crosta indesejada
na superfcie do po. Ademais, nveis elevados de umidade deixam massa pegajosa e de
difcil manuseio.
Fotografia 06 Equipamento - estufa de fermentao Fonte: Segurana Alimentar em Padarias, 2006. - Forneamento:
Depois de devidamente fermentados, os pes so encaminhados ao forno
(Fotografia 07) onde permanecem em torno de 35 a 50 minutos a uma temperatura entre 230 a
300C.
Nesta fase de forneamento, ocorre a transio da massa para o po no seu estado
final. Forma-se a casca e se desenvolvem a cor, cheiro e sabor caractersticos do produto.
Estas transformaes ocorrem por diferentes alteraes fisico-qumicas da massa.
28
Fotografia 07 Equipamento - forno Fonte: Segurana Alimentar em Padarias, 2006. - Resfriamento:
Determinados tipos de pes, que so embalados e/ou fatiados depois de assados,
necessitam da etapa de resfriamento, a fim de que, em temperatura mais baixa - prxima do
ambiente - sejam evitadas deformaes no fatiamento. Evita-se, tambm, que o po seja
embalado ainda quente, propiciando aumento na proliferao de fungos, em funo do
aumento de umidade dentro da embalagem.
Para isto, os pes so retirados do forno e colocados em armrios com prateleiras
e deixados ali at que atinjam a temperatura adequada.
- Embalagem:
A embalagem dos pes pode ser realizada manual ou mecanicamente, atravs de
um equipamento especial para esta atividade. Nas panificadoras atendidas, durante a
realizao deste trabalho, a maior parte realiza a embalagem manual.
Sua finalidade proteger e preservar o produto elaborado e, tambm, atuar como
propaganda para o estabelecimento, a partir da marca da empresa impressa no pacote. Os
materiais mais utilizados para empacotar pes so os celofanes cobertos com nitro-celulose ou
cloreto de polivinilideno e o plstico de polipropileno.
29
- Armazenamento:
Etapa importantssima em se tratando de pes, pelo fato destes j sofrerem
transformaes ao sarem do forno, as quais se intensificam durante a etapa de
armazenamento.
Na medida em que o po envelhece, seu miolo e estrutura endurecem, devido ao
contato com o ar ambiente. Observam-se tambm a perda de crocncia e modificao de
aroma. Por isto, a produo deve ser estimada e calculada conforme a mdia de consumo,
para evitar o armazenamento de pes de um dia para o outro.
As panificadoras devem seguir as orientaes das boas prticas de fabricao em
termos de estocagem, a fim de proteger os produtos de insetos e pragas urbanas; para tal,
devem armazenar os pes em armrios com portas de vai-e-vem e, em se tratando de balces,
mant-los sempre tampados.
3.3 Contaminao Alimentar
3.3.1. Introduo aos microrganismos
Microrganismos so seres vivos, invisveis a olho nu, que participam de quase
todos os aspectos da existncia humana com efeitos benficos ou nocivos. Os cientistas
deduzem que os microrganismos originaram-se aproximadamente h 4 bilhes de anos, a
partir de material orgnico complexo em guas ocenicas, ou possivelmente de nuvens que
circundavam a Terra em formao. Estudos cientficos atribuem tambm a estes seres a
origem de todas as outras formas de vida no nosso planeta (PELCZAR et al, 1996).
Entretanto, segundo Franco e Landgraf (2005):
impossvel determinar exatamente quando, na histria da humanidade, o homem tomou conhecimento da existncia de microrganismos e da sua importncia para os alimentos. Aps um perodo no qual o ser humano tinha a sua alimentao baseada apenas nos abundantes recursos da natureza, o homem passou a plantar, criar animais e produzir o seu prprio alimento. Com o surgimento de alimentos preparados, comearam a ocorrer os problemas relacionados com doenas transmitidas pelos alimentos e com a rpida deteriorao devido, principalmente, conservao inadequada dos alimentos.
30
Segundo Siqueira (1995), a microbiologia um ramo da biologia que estuda os
microrganismos e suas atividades, com aplicao em diversas outras reas do conhecimento,
como: medicina, meio ambiente, os solos e o ar. A microbiologia de alimentos se desenvolveu
pela necessidade vital de se conhecer os microrganismos e os efeitos de sua interao no
metabolismo humano.
A microbiologia, segundo Pelczar et al (1996), o estudo de organismos
microscpicos, sabendo-se que tal denominao deriva de trs palavras gregas: mikros
(pequeno), bios (vida) e logos (cincia). Assim, a microbiologia significa o estudo da vida
microscpica.
Os estudos e o entendimento do que so os microrganismos evoluram, como
tantos outros campos da cincia, sendo o francs Louis Pasteur o primeiro cientista a
compreender o papel dos microrganismos nos alimentos. Em 1837, ele demonstrou que o
azedamento do leite era provocado por microrganismos e, em 1860, empregou o calor para
destruir microrganismos indesejveis em alimentos (ROITMAM et al, 1987; FRANCO e
LANDGRAF, 2005).
Os microrganismos classificam-se em grupos: Reino Monera, Reino Fungi e
Reino Protista. Nessa classificao, aqueles que tm interesse para a microbiologia de
alimentos so os reinos Fungi (fungos e leveduras) e Monera (bactrias), por serem eles
responsveis por processos de deteriorao de alimentos, por participarem da elaborao de
alimentos, ou por serem responsveis por toxiinfeces de origem alimentar (SIQUEIRA,
1995).
Vale ressaltar que os microrganismos podem desempenhar papis muito
importantes nos alimentos, sendo possvel classific-los em trs grupos distintos, dependendo
da interao entre o microrganismo e o alimento: microrganismos deteriorantes,
microrganismos patognicos e os microrganismos benficos (PELCZAR et al, 1996).
Os microrganismos deteriorantes so aqueles que causam alterao qumica nos
alimentos e que tm a capacidade de causar mudana na cor, no odor, na textura e no aspecto
dos alimentos. Os microrganismos patognicos causam doenas, tanto no homem quanto nos
animais, representando, portanto, risco sade. J os do tipo benficos, so os que causam
31
alteraes benvolas nos alimentos, modificando suas caractersticas originais para
desenvolver novos alimentos (SENAI, 2002; LARA e LOPES, 2006).
Todavia, Franco e Landgraf (2005) escrevem que apesar de ser fcil estabelecer
categorias para classificar os microrganismos, bastante difcil definir qual categoria
pertence um determinado microrganismo devido ao fato de que um mesmo microrganismo
pode ter atividades diferentes em alimentos diferentes.
Portanto, a preservao de alimentos consiste, basicamente, em evitar sua
contaminao pelos microrganismos acima citados, antes, durante e aps as operaes de
processamento. Por conseguinte, graas ao desenvolvimento da microbiologia de alimentos,
os produtos alimentcios industrializados podem ser produzidos com maior garantia de
qualidade microbiolgica, evitando-se perdas por deterioraes e problemas de Sade
Pblica, antes to freqentes pela falta de controles sanitrios (SIQUEIRA, 1995).
3.3.2 As doenas transmitidas por alimentos (DTA)
Doenas transmitidas por alimentos so causadas a partir da ingesto de alimentos
contaminados; seja por microrganismos e/ou outros contaminantes. Existem muitos tipos de
microrganismos causadores de doenas e devido a este fato, existem muitos tipos de doenas
classificadas em infeces e intoxicaes. No caso das infeces, o homem adoece devido ao
fato de ingerir clulas viveis do microrganismo causador da doena e este crescer e se
multiplicar dentro do organismo. Quando ocorre a intoxicao, ingere-se a toxina que o
microrganismo deixou no alimento e est desencadear a doena e, neste caso, no h a
ingesto de clulas do microrganismo (PELCZAR et al, 1996; SENAI, 2000; FRANCO e
LANDGRAF, 2005; MOMESSO et al, 2005).
Segundo Benevides e Lovatti (2004), Enfermidade Transmitida por Alimentos
(ETA) ocorre quando duas ou mais pessoas apresentam sintomas semelhantes aps a ingesto
de um alimento comum. A mortalidade relacionada ETA varia em razo da quantidade de
alimento contaminado ingerido, do tipo de microrganismo contaminante e o estado de sade
do indivduo acometido pela doena.
Mais de 250 diferentes tipos de doenas alimentares so descritas na literatura,
segundo CDC (2006), sendo que em sua grande maioria so infeces causadas por diferentes
32
bactrias, vrus e parasitas. As doenas transmitidas por alimentos esto mudando ao longo
dos anos, sendo que antigamente doenas como a febre tifide, tuberculose e clera eram
comuns e, hoje em dia, devido aos diversos avanos na medicina e por conta das melhorias
em termos de segurana dos alimentos, estas doenas foram praticamente erradicadas.
Dentre alguns exemplos de microrganismos desencadeadores de doenas
alimentares tem-se: Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Bacillus
cereus, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Aspergillus flavus,
Fusarium, Penicillium, dentre outros.
3.3.3 A inibio microbiana em produtos de panificao
A indstria de alimentao busca incansavelmente solues para as alteraes
causadas nos alimentos pelos microrganismos.
Alm da adoo de um rgido controle de qualidade e programas de sanitizao e
limpeza durante a fabricao dos produtos, possveis atravs das ferramentas de boas prticas
de fabricao e anlise dos perigos e pontos crticos de controle, o uso de agentes
antimicrobianos tem sido muito empregado (EL-DASH et al, 1991).
Os preservativos qumicos so considerados agentes antimicrobianos. Estes
agentes devem apresentar as seguintes caractersticas: largo espectro antimicrobiano, no ser
txico ao homem, ser efetivo em baixas concentraes, no alterar as caractersticas prprias
do produto, alm de ser estvel durante a estocagem (EL-DASH et al, 1991; MARRIOT e
GRAVANI, 2006).
Existem diversos tipos de agentes antimicrobianos, dentre estes a ao, isto , o
mecanismo como estes produtos agem sobre os microrganismos, diferente ou usado para
inibir ou para matar os microrganismos, sendo que cada um tem uma forma de atuar. Como
exemplo de agentes, tem-se: os benzoatos, os propionatos e os sorbatos (EL-DASH et al,
1991; PELCZAR et al, 1996).
3.3.4 A relao entre a contaminao e a produo de alimentos seguros
Goodman (1992) questiona:
33
Quo seguro so os alimentos que comemos? E afirma:
Que os consumidores esto comeando a se questionar mais acerca das caractersticas dos alimentos, relativamente a contaminaes qumicas, bacterianas e outras possibilidades de contaminao alimentar.
As questes concernentes segurana dos alimentos tm aumentado de
importncia, na mesma proporo em que se desenvolvem novas tecnologias de processo na
industrializao de alimentos. Por isso, a produo de alimentos seguros constitui um desafio
atual, visando oferta de alimentos livres de agentes que possam por em risco a sade do
consumidor. O assunto alimento seguro tema recorrente que interessa a todo o sistema
alimentar, da produo ao consumo.
Desde os ataques terroristas nos Estados Unidos em 2001, os trabalhos para
prevenir tais atos ganharam uma amplitude maior, envolvendo inclusive a rea de alimentos,
em razo das possibilidades de alimentos serem utilizados como arma mortfera. O
conhecimento acerca desta ameaa na rea de processamento e preparo de alimentos torna-se
essencial para manter a segurana na cadeia de suprimento alimentar. Todos os envolvidos na
rea de higiene precisam ter conhecimento adequado sobre os tipos de contaminantes,
incluindo microrganismos, alergnicos, perigos fsicos, qumicos e pesticidas. A indstria de
alimentos vulnervel a estes tipos de perigos e a possibilidade de contaminao alimentar.
Portanto, de grande importncia para a proteo completa de toda a cadeia alimentar,
considerando-se, a, todos os riscos: contaminantes fsicos, qumicos e microbiolgicos
(MARRIOTT e GRAVANI, 2006).
Em relao oferta de alimentos, a vida moderna imps um ritmo acelerado no
cotidiano dos indivduos, sendo que, em termos de alimentao, ocorreram mudanas
significativas nos hbitos da populao. A introduo das refeies rpidas levou ao
crescimento de problemas relacionados contaminao alimentar, pois nem todos os
estabelecimentos produtores de alimentos implantam e seguem as boas prticas de fabricao.
34
Benevides e Lovatti (2004) relatam que o conceito de que o alimento pode ser seu
prprio remdio, ganhou um outro enfoque, ou seja, o alimento pode ser um medicamento,
mas tambm pode ocasionar surtos de enfermidades por ele transmitidas.
Portanto, em se tratando da produo de alimentos, seja em escala industrial ou
em termos de refeies coletivas, os objetivos do controle higinico-sanitrio so, segundo S
e Moretto (2004), os seguintes:
- Aumentar a vida de prateleira (prazo de validade) dos produtos;
- Diminuir o grau de contaminao proveniente de manipuladores, instalaes e
matrias-primas;
- Diminuir as contaminaes cruzadas;
- Reduzir as perdas por deteriorao;
- Minimizar os prejuzos econmicos;
- Padronizar e selecionar fornecedores;
- Reduzir os casos de contaminao alimentar.
A qualidade higinico-sanitria, como fator de segurana, tem sido amplamente
estudada e discutida, pois as doenas veiculadas por alimentos so um dos principais fatores
que contribuem para os ndices de mortalidade. Hoje, admite-se que as doenas por alimentos
contaminados so, provavelmente, o maior problema de sade no mundo contemporneo
(AKUTSU et al, 2005).
Pesquisadores calculam que, aproximadamente 100 milhes de indivduos, em
todos os pases industrializados, contraem doenas decorrentes de alimentos, atravs do
consumo de refeies e gua contaminadas (OLIVEIRA et al, 2003).
Segundo Oliveira et al (2003), a Organizao Mundial da Sade, em 1989, relata
que mais de 60% das doenas alimentares so provocadas por agentes microbiolgicos,
ressaltando que o manipulador o principal veculo de transmisso, durante o preparo dos
alimentos.
Segundo Riedel (2005) e Marriott e Gravani (2006), os manipuladores de
alimentos podem transmitir bactrias ou outros tipos de microrganismos aos alimentos,
causando doenas alimentares. Na realidade, os seres humanos so os maiores transmissores
de doenas veiculadas por alimentos. Suas mos, cabelos, suor, fossas nasais e secrees
35
possuem um grande nmero e variedade de tipos de microrganismos que, em contato com os
alimentos, podem multiplicar-se, desencadeando as doenas alimentares.
As toxiinfeces alimentares constituem um problema srio de sade pblica no
Brasil, sendo que dentre as empresas produtoras de alimentos, as de refeies coletivas
representam a maior fonte de surtos de doenas alimentares (CHESCA et al, 2003).
Para que aconteam doenas alimentares, necessrio que o alimento esteja
contaminado. Os alimentos comumente fornecem a quantidade e os tipos de nutrientes
necessrios, bem como esto com um pH (ndice de alcalinidade) que favorece a proliferao
microbiana. Durante o processamento dos alimentos, estes podem ser contaminados atravs
do ar, solo, das guas e dos prprios manipuladores que contm microrganismos. A destruio
destes microrganismos e de outros provenientes de diversos alimentos depende de fatores
ambientais, como a habilidade do microrganismo em utilizar alimentos frescos, de questes
relacionadas presena ou no de oxignio, temperatura; dentre outros fatores (MARRIOTT
e GRAVANI, 2006).
A contaminao alimentar pode ocorrer de vrias formas, (HOBBS e GILBERT,
1986):
- Do ambiente para o alimento;
- Dos manipuladores para o alimento;
- Das superfcies para o alimento;
- Dos alimentos crus para o pronto para consumo (contaminao cruzada).
Por contaminantes, a legislao Resoluo n. 216, de 15/09/2004, define como:
Substncias ou agentes de origem biolgica, qumica ou fsica, estranhos ao alimento, que sejam considerados nocivos sade humana ou que comprometam a sua integridade.
Os contaminantes so os perigos, e estes so assim definidos segundo Senai
(2002) e Oliveira (2006):
36
- Contaminao biolgica (perigo biolgico)
Este tipo de contaminao ocorre quando um microrganismo e/ou suas toxinas
esto presentes no alimento.
Franco e Landgraf (2005) descrevem que, em termos de contaminantes
microbiolgicos, estes vm do solo e da gua, das plantas, dos utenslios, do trato intestinal do
homem e dos animais, dos manipuladores de alimentos, da rao animal, da pele dos animais
e do ar e do p.
- Contaminao qumica (perigo qumico)
Quando substncias estranhas aos alimentos como inseticidas, metais pesados,
desinfetantes, sabes, dentre outros, entram em contato com o alimento.
- Contaminao fsica (perigo fsico)
Quando corpos estranhos aos alimentos como fragmentos de insetos, cabelo,
pregos, dentre outros, atingem o alimento.
Todavia, muito difcil que uma toxinfeco alimentar seja veiculada por pes,
uma vez que estes alimentos possuem baixa umidade e, geralmente, no permita o
crescimento de todos os tipos de bactrias. Alm disto, o processamento trmico a altas
temperaturas (forneamento) que o po sofre durante sua produo, elimina eventuais
microrganismos presentes na massa. Ainda assim, posteriormente, quando o po entra em
contato com o ar ambiente, este se contamina com os fungos presentes neste e tambm pode
vir a ser contaminado pelo contato direto com os manipuladores (EVANGELISTA, 2001).
Quanto aos fungos areos, estes so agentes causadores do mofo do po e chegam
sua superfcie e penetram em seu interior, procedentes do ar, durante o perodo de seu
resfriamento ou quando do seu corte em fatias, das operaes de manuseio, dos utenslios
contaminados, do papel ou saco de acondicionamento, do envolvimento do produto ainda
quente, das condies de temperatura e umidades relativas do ar (EVANGELISTA, 2001).
Todavia, no se pode pensar que todos os perigos esto eliminados devido ao fato
das contaminaes relacionadas s bactrias serem quase que totalmente descartadas; outros
37
tipos de contaminaes, alm da ocasionada pelos fungos, so possveis de ocorrer e lesar o
consumidor: as contaminaes fsicas e qumicas.
Um dos problemas comumente encontrados em produtos de panificao a
ocorrncia de perigos fsicos. Dessa forma, deve-se ter muito cuidado com a seleo da
matria-prima utilizada, alm dos utenslios empregados na produo e na limpeza do
ambiente em geral. Utenslios como pincis para untagem das formas e estiletes para dar o
formato aos pes, podem soltar fragmentos, o que pode provocar a contaminao fsica.
Utenslios de palha de ao e colheres de madeira so proibidos devido ao fato destes
desprenderem fragmentos, provocando a contaminao (LARA e LOPES, 2004).
Muitos corpos estranhos que contaminam os produtos de panificao esto
presentes originalmente na matria-prima, que consiste basicamente de farinha de trigo, a qual
pode conter fragmentos de insetos, plos de roedores, insetos, larvas de caros, entre outros.
Lara e Lopes (2006) escrevem que os alimentos podem ser contaminados pela
ao dos microrganismos, que podem entrar em contato com os alimentos atravs de vrias
fontes de contaminao, como:
- Ar contaminado, que, eventualmente, entre em contato com alimentos desprotegidos,
depsitos de lixo nas imediaes da panificadora, por exemplo, podem se tornar uma fonte de
contaminao atravs do ar;
- Animais e pragas domsticas, caso existam nos locais de armazenamento, preparao
ou exposio dos alimentos;
- Instalaes, utenslios e equipamentos mal higienizados;
- gua utilizada na preparao dos alimentos, caso os reservatrios no sejam limpos
periodicamente;
- Embalagens grosseiras dos produtos, como caixas de papelo, de madeira e fardos de
plstico que entram incorretamente na rea de armazenamento, preparo e exposio dos
alimentos;
- Armazenamento inadequado dos produtos;
- e o homem, caso no siga os cuidados necessrios com a higiene pessoal, durante a
preparao dos alimentos.
38
Uma vez em contato com os alimentos, se os microrganismos encontrarem
condies favorveis sua proliferao, como temperatura, pH e gua, se reproduziro e
causaro a contaminao dos mesmos (FRANCO e LANDGRAF, 2005).
Quanto aos ingredientes, a farinha de trigo o principal ingrediente em todas as
formulaes de pes e deve-se ter uma ateno especial na sua armazenagem. Em condies
ambientais adequadas, a farinha apresenta excelente durabilidade, contudo em climas midos
e quentes, como os encontrados na Regio Metropolitana do Recife, a sua vida de prateleira
pode ser reduzida. Alm disto, muitas das padarias apresentam condies de armazenamento
que comprometem as condies sanitrias das farinhas, haja vista que estas so armazenadas
encostadas s paredes do depsito, muitas vezes diretamente sobre o cho, isto , sem serem
colocadas sobre estrados, muitos depsitos midos e sem ventilao adequada, outros sem a
proteo nas janelas por telas, dentre outros fatores.
Devido ao fato dos pes serem assados, muitos estabelecimentos desprezam as
questes relacionadas aos cuidados com as matrias-primas em funo de atriburem que por
serem forneados, os produtos sero adequados ao consumo. Esta viso deturpada de qualidade
alimentar comum dentre os panificadores e grave devido ao fato de muitos produtores
usarem matrias-primas inadequadas ao consumo na formulao de seus pes.
Portanto, a segurana do alimento est diretamente relacionada com o tipo de
sistema de controle de qualidade empregado nas empresas, tais como as boas prticas de
fabricao e tambm est relacionada com a qualificao dos recursos humanos que atuam no
setor. Neste sentido, Oliveira et al (2003) e Serafini (2005) escrevem, em seus artigos, que
para contornar problemas de contaminao, deve-se averiguar a maneira como os
manipuladores esto trabalhando, capacitar os funcionrios quanto s boas prticas de
fabricao, reforando a importncia da lavagem das mos e dos utenslios, sendo que estes
so considerados pontos crticos dos trabalhos de elaborao de alimentos.
Carvalho e Frosini (1995) escrevem que a segurana e qualidade originam-se da
educao de todos, ao longo da cadeia, para fazer da preveno um hbito resultante do
conhecimento do que fazer, da capacidade de como fazer e do desejo de melhorar e prolongar
a expectativa de vida do produto.
39
Para facilitar e orientar os trabalhos de preveno s contaminaes alimentares, a
ANVISA tem como finalidade institucional promover a proteo da sade da populao, por
intermdio do controle e da comercializao de produtos e servios submetidos vigilncia
sanitria, inclusive dos ambientes, processos, insumos e das tecnologias a eles relacionados.
Para tal, ela desenvolve leis, como por exemplo: a Resoluo n. 216, de 15/09/2004, a
Portaria n. 326, de 30/07/1997 e a Portaria do Ministrio da Sade (MS) n. 1428 de
26/11/1993, a Resoluo n. 275, de 21/10/2002, dentre outras.
Somando-se os esforos da ANVISA, em regulamentar as leis, com o
desenvolvimento de ferramentas de qualidade como as boas prticas de fabricao, alcana-se
o objetivo maior dentro da indstria alimentcia: a produo de alimentos seguros. E, para
reforar o tema, Carvalho e Frosini (1995) escrevem:
Segurana e qualidade so dimenses inseparveis em todas as fases da cadeia alimentar.
3.3.5 A relao entre a higiene e as contaminaes na indstria de alimentos
Hobbs e Gilbert (1986) definem higiene de alimentos como:
A cincia sanitria que tem por objetivo produzir alimentos sos e com boa qualidade para o consumidor.
Higiene alimentar uma cincia aplicada a desenvolver conceitos e tcnicas para
alcanar a produo de alimentos seguros, com condies de higiene necessrias no fabrico e
manipulao dos alimentos, segundo Marriott e Gravani (2006), que tambm descreve que
antigamente, esta rea no era to explorada e tinha poucos profissionais capacitados para
atuar com competncia neste segmento.
Marriott e Gravani (2006) escrevem que a palavra higiene provm do latim
sanitas, que significa sade e que aplicada na rea de alimentos significa a criao e
manuteno das condies de higiene e sade. a aplicao de uma cincia que tem por
objetivo prover a segurana do alimento processado, preparado, distribudo e tambm as
condies de higiene ambiental e a sade do trabalhador; com isto evitar-se-iam as doenas
transmitidas por alimentos e minimizar-se-ia a proliferao de alimentos contaminados por
40
microrganismos. Sendo assim, ela resume que higiene so todos os procedimentos aplicados
para garantir a produo de alimentos seguros.
A higiene dos alimentos uma matria muito ampla, sendo que seu objetivo de
estudo entender e aplicar os mtodos de higiene na produo e preparao de alimentos, de
forma a ter-se uma garantia de que se est produzindo alimentos seguros. Fundamentalmente,
a higiene de alimentos se caracteriza pelos processos pelos quais os alimentos se tornam
higienicamente e sanitariamente adequados para o consumo, envolvendo para isto, a
utilizao de tcnicas de processamento, utilizando o calor ou o frio para a garantia dos
produtos, alm de tcnicas e produtos para limpeza e desinfeco de vrios gneros de
alimentos (HOBBS e GILBERT, 1986; SILVA, 1995).
Silva (1995) e Chesworth (1999) definem higienizar como qualquer procedimento
aplicado ao controle que elimine os riscos de transmisso de agentes causadores de doena,
oferecendo condies saudveis. E para higienizar alimentos, equipamentos, superfcies,
dentre outros, necessrio fazer a higienizao destes, que definida na Resoluo n. 275 de
21/10/2002, como:
A operao que dividida em duas etapas: a limpeza e a desinfeco. Sendo que limpeza, segundo a mesma fonte, a operao de remoo de terra, resduos de alimentos, sujidades e/ou outras sustncias indesejveis.
E desinfeco, segundo a portaria n. 326, de 30/07/1997,
a reduo, atravs de agentes qumicos ou mtodos fsicos adequados, do nmero de microrganismos.
Portanto, para se produzir alimentos seguros e com qualidade, necessrio que os
colaboradores entendam e pratiquem a diferena bsica entre os conceitos de limpar e
higienizar e tambm conheam as regras adequadas das boas prticas de fabricao que
englobam noes de higiene dos alimentos, dos equipamentos, das instalaes, do ambiente e
tambm pessoal.
Quanto higiene dos alimentos, Lara e Lopes (2006) escrevem que esta consiste,
basicamente, em eliminar as substncias qumicas, biolgicas ou fsicas que possam
41
contaminar os alimentos. Para tal, deve-se ter como principal preocupao manter os
alimentos protegidos e utilizar mtodos de armazenamento e de preparao capazes de inibir o
desenvolvimento ou de destruir os microrganismos, bem como capacitar os colaboradores de
maneira que estes, ao desempenharem suas atividades, consigam evitar as contaminaes
fsicas e qumicas, mediante cuidados bsicos durante o fabrico dos alimentos.
Quanto higienizao dos equipamentos e das instalaes, primeiramente definir-
se- que, na higienizao dos equipamentos, so considerados todos os equipamentos,
mquinas, recipientes e utenslios que entrem em contato com o alimento, bem como todas as
partes integrantes das instalaes, como paredes, piso, teto e etc. Estes devem ser limpos e
posteriormente desinfetados seguindo a seguinte ordem: pr-limpeza, limpeza, enxge e
sanitizao (LARA e LOPES, 2006).
Sendo assim, faz-se primeiramente a etapa de pr-limpeza, removendo-se os
restos de alimentos com auxilio de esptulas, escovas, etc, visando reduo das sujidades.
Em seguida, executa-se a limpeza propriamente dita, que lavar com detergente ou sabo
neutro adequado para a atividade. Posteriormente, enxgua-se com gua corrente at a
completa remoo do produto qumico utilizado. Finalmente, desinfeta-se com o auxilio de
sanitizantes adequados, como soluo de lcool a 70% ou base de hipoclorito de sdio, a
200 ppm (partes por milho), para a eliminao dos microrganismos (SENAI, CARTILHA 2,
2002; SENAC, CARTILHA 2, 2002; LARA e LOPES, 2006).
Em se tratando da higiene pessoal, que considerada a principal fonte de
contaminao alimentar, Lara e Lopes (2006) colocam que necessrio que os manipuladores
tenham conscincia da importncia da higiene pessoal, antes e durante o preparo dos
alimentos, pois um simples contato das mos no higienizadas com os alimentos poder ser
suficiente para que ocorra a transmisso de vrios tipos de microrganismos aos mesmos.
A palavra higiene descreve a aplicao de princpios higinicos que so
elaborados com o objetivo de garantir a sade. Higiene pessoal, portanto, designa a higiene do
manipulador, da pessoa que est em contato com o alimento. A sade dos manipuladores um
dos itens dos programas de qualidade relacionados ao controle e garantia da higiene e
segurana dos alimentos (SENAI, 2002).
42
Oliveira et al (2005) relatam que a possibilidade do manipulador de alimentos vir
a contaminar os alimentos depende do maior ou menor contato direto com os produtos e do
tipo de matria-prima a ser manipulada e que a grande maioria dos manipuladores no tem
conscincia do real perigo que a contaminao pessoal, biolgica ou qumica pode representar
ao alimento.
Assim, com relao higiene dos colaboradores em indstrias de alimentos,
necessrio que estes adotem os seguintes cuidados bsicos (CHESWORTH, 1999; LARA e
LOPES, 2006):
- Tomar banho dirio: indispensvel que o manipulador tome banho diariamente, de
preferncia no local de trabalho antes de iniciar suas atividades;
- Cuidados com os cabelos: os cabelos devero ser mantidos limpos, penteados e
protegidos por touca ou rede para no carem nos alimentos;
- No utilizar adornos: durante o tempo em que estiver no trabalho, o manipulador
nunca poder usar relgio, brincos, anis e etc. Essa medida visa evitar que alguns desses
objetos venham, acidentalmente, cair nos alimentos ou entre em contato com os mesmos, o
que representaria risco de contaminao fsica;
- Cuidados com os dentes: devero estar sempre escovados;
- Uso de uniforme completo: o cuidado com o fardamento um requisito que deve ser
levado em considerao e deve ser confeccionado na cor clara, estarem em bom estado de
conservao e limpeza, no devero ter bolsos acima da cintura e devero ser trocados
diariamente.
As cartilhas elaboradas tanto pelo Servio Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) como pelo Servio Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), ambas em
2002, salientam que a indstria de alimentos deve dispor nos sanitrios, nos vestirios e nas
entradas para a rea de produo, os produtos de pias com o: sabo bactericida ou sabo
lquido e gel a 70% e papel toalha feito de material no reciclvel ou ar quente. Quanto ao
comportamento pessoal, devido ao fato do homem ser fonte de microrganismos e outros
perigos aos alimentos, deve-se dar especial ateno s boas prticas de higiene pessoal e de
43
comportamento, a fim de proteger os alimentos contra as contaminaes fsicas, qumicas e
microbiolgicas. Portanto, os cuidados com a aparncia e higiene so muito importantes.
Quanto higiene ambiental, Senai (2002) evidencia que a higiene
correlacionada com o ambiente do estabelecimento produtor de alimentos. Este dever se
situar em reas isentas de odores indesejveis, em terrenos no sujeitos s inundaes e a rea
externa no dever oferecer riscos de contaminao por proliferao de pragas, sendo que
para isto necessrio evitar o acmulo de objetos em desuso.
Segundo Senai (2002),
1) Quanto s reas externas
- Devem ser cimentadas, asfaltadas ou no mnimo cobertas por pedrisco;
- Devem existir caladas de pelo menos um metro de largura contornando as instalaes com
declive de no mnimo 1% para fora, cimentadas;
- O estacionamento do estabelecimento dever ser pavimentado e ter declive mnimo de 2%
para escoamento;
- rvores e arbustos devem manter distncia de no mnimo 10m das instalaes alimentcias;
- As reas externas devem ser iluminadas, porm devem ser instaladas as lmpadas distantes
das portas para no haver a atrao de insetos.
2) Quanto construo civil
- As instalaes devem ser construdas de forma a reduzir as contaminaes, facilitar as
operaes e permitir fcil limpeza e manuteno;
- As instalaes e o fluxo de operaes devem ser adequados de forma a evitar as
contaminaes cruzadas;
- Os forros e as coberturas devem ser mantidos limpos, sem mofo e em bom estado de
conservao;
- As paredes, o teto e os azulejos devem ser de material de fcil limpeza e de cor clara. Entre
o teto e a parede no deve haver aberturas e/ou frestas que possibilitem a entrada de pragas ou
a formao de ninhos;
44
- Os azulejos devem ser colocados at uma altura mnima de 2 metros do cho e os rejuntes
devem ser impermeveis;
- O piso, alm de ser anti-derrapante, dever ser lavvel, impermevel e resistente ao trfego e
corroso. Nas reas de lavagem, a rea mida dever apresentar declividade de 1%;
- Se houver ralos no piso, estes devero ser com tampa com fechamento para evitar a entrada
de pragas;
- Os ngulos de 90 formados entre o piso e o teto, bases de equipamentos, paredes e etc
devero ser amenizados com o arredondamento atravs de rejunte para evitar o acmulo de
sujidades e mofo;
- Todas as aberturas, portas, janelas, exaustores, dentre outros, devero ser dotados de telas
milimetradas para controle de entrada de pragas;
- As portas devem possuir o sistema de fechamento automtico, tanto na produo como na
entrada dos banheiros;
- Todas as instalaes devero ser devidamente elaboradas de forma a no permitir o acmulo
de sujeiras, de serem de fcil acesso e permitirem a limpeza;
- Quanto s luminrias, estas devem ser dotadas de proteo contra exploso, evitando com
isto a contaminao do ambiente com pedaos de vidro e em caso de exploso, as conexes
eltricas devem ser protegidas por canaletas para facilitar a limpeza, e a iluminao deve ser
boa o suficiente para a correta iluminao dos alimentos;
- Quanto aos sanitrios, estes no podem ter comunicao com a rea fabril, devem ter portas
com fechamento automtico e devem ser mantidos limpos e ventilados;
- Todos os lavadores de mos, tanto dos sanitrios quanto os da produo, devem ser dotados
de sabo lquido bactericida, papel toalha no reciclvel e cesto coletor de lixo com
acionamento automtico, por pedal;
- A gua que abastece a empresa dever ser potvel e necessrio que a potabilidade seja
atestada anualmente em rgo oficial.
Portanto, em se tratando da higiene ambiental, percebe-se que esta abrange todos
os aspectos referentes a edificaes, instalaes, abastecimento de gua, dentre outros, de
forma a assegurar que o ambiente no contamine os alimentos.
Por fim, existe uma relao direta entre os diferentes tipos de higiene e as diversas
formas de contaminao dos alimentos e, para evit-las, necessrio que se estabeleam
45
regras e uma cultura empresarial voltada para a prtica da higiene em equipamentos,
instalaes, manipuladores e ambiente.
3.4 A qualidade na indstria de panificao
3.4.1 A evoluo da qualidade
As empresas buscam incansavelmente reduzir as perdas e, via de conseqncia,
gerar maior produtividade. E ao se escrever sobre as ferramentas para reduzir as perdas na
produo - como as Boas Prticas de Fabricao no se pode deixar de abordar conceitos de
qualidade e tambm repassar a valiosa contribuio que os grandes mestres desta rea legaram
ao longo do tempo; em especial nos ltimos cinqenta anos. Dentre os importantes
pensadores e estimuladores esto: Taylor, Ford, Deming, Juran, Taiichi Ohno.
De fato, a longa histria da organizao das atividades produtivas conduziu
gradativa melhoria da qualidade, que, por si s com o tempo, passou a merecer estudos
especficos. interessante acompanhar essa longa e ininterrupta evoluo.
Nos sculos XVIII e XIX havia um entendimento e uma percepo muito
diferente dos dias atuais do que se considerava qualidade. Os modelos e mtodos de produo
eram artesanais, tipicamente empricos e necessitavam de muita orientao dos mestres mais
experientes.
Segundo Martins (1998), antigamente as pessoas eram muito habilidosas na
produo de bens artesanais e em geral, em sua grande maioria, no tinham consumidor
especfico. Com o passar do tempo, aprimoraram seu desempenho e passaram a produzir
conforme solicitao e especificao pr-determinadas. Surgiram, ento, os primeiros artesos
profissionais e a primeira forma de produo organizada, j que estes estabeleciam prazo de
entrega e prioridades; atendiam a especificaes preestabelecidas e fixavam preos para suas
encomendas. Com o tempo e com o incremento da demanda, houve necessidade de contratar
ajudantes para fazer os trabalhos grosseiros e de menor responsabilidade. Espontaneamente,
surgia a necessidade de organizar as atividades.
O avano dos mtodos de produo e as diversas alteraes na forma de trabalhar,
que ocorreram simultaneamente neste perodo, desencadearam a denominada Revoluo
46
Industrial, cuja primeira fase ocorreu na Gr-Bretanha. Uma caracterstica notvel foi o fato
de ter ocorrido espontaneamente, sem induo ou assistncia governamental. Considera-se os
meados da dcada de 1780 como incio desta importante transformao. E ningum, segundo
Deane (1982), negaria
Que ocorreram mudanas importantes e de implicaes profundas no ritmo caracterstico da vida econmica da Inglaterra, e que estas se constituram numa transformao que foi, num sentido, o prottipo da transio das formas de organizao econmica pr-industriais para as industriais, transio essa que se apresenta em todo e qualquer lugar como condio necessria ao moderno desenvolvimento econmico.
Devido a tais mudanas na forma de produzir, os artesos, que at ento
trabalhavam em suas prprias oficinas, comearam a ser agrupados nas primeiras fbricas.
Esta revoluo na forma como os produtos eram fabricados e na maneira como as pessoas
trabalhavam trouxe consigo algumas exigncias do tipo: padronizao de produtos e dos
processos de fabricao, treinamento e habilitao da mo-de-obra direta, criao e
desenvolvimento dos quadros gerenciais e de superviso. Gradualmente, desenvolveram-se
tcnicas de planejamento, controle da produo, e mais recentemente, controle financeiro e
tcnicas de venda (DEANE, 1982; MARTINS, 1998).
3.4.1.1 Taylor
No processo de evoluo das tcnicas de qualidade, deve-se ressaltar a
importncia de Frederick W. Taylor, considerado o Pai da Administrao Cientfica, devido
ao fato de ter revolucionado os mtodos gerenciais da poca, separando planejamento de
execuo, tendo conseguido com isto alteraes substanciais nos ndices de produtividade das
empresas norte americanas da poca (MIRSHAWKA, 1990).
Neste perodo, ainda segundo Mirshawka, Taylor elaborou mtodos para o
aumento da produtividade da mo-de-obra, que constituram a base para a administrao
cientfica e o nascimento da era do especialista em eficincia.
A evoluo das teorias administrativas teve um desdobramento natural e elas
sempre estiveram relacionadas ao conceito de melhorias nas condies de trabalho e na
qualidade de vida do trabalhador. Conforme Taylor, existe uma correlao entre prosperidade
47
do empregado e a do empregador. Ambos mantm uma relao de interdependncia,
necessitando um do outro para sua sobrevivncia. Para Taylor, era preciso dar ao trabalhador
o que ele mais almejava: altos salrios; ao empregador: baixo custo de produo. A
administrao cientfica introduziu uma estrutura de trabalho cent