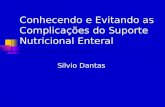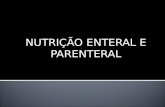UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE … · CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO DE...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE … · CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO DE...
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR
FACULDADE DE FARMCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ENFERMAGEM
MESTRADO EM ENFERMAGEM
FRANCIMARY DE ALENCAR CAMPOS
CONSTRUO E VALIDAO DE PROTOCOLO DE TERAPIA DE NUTRIO
ENTERAL
FORTALEZA
2013
-
FRANCIMARY DE ALENCAR CAMPOS
CONSTRUO E VALIDAO DE PROTOCOLO DE TERAPIA DE NUTRIO
ENTERAL
Dissertao de Mestrado apresentada ao
Programa de Ps-Graduao em Enfermagem
da Faculdade de Farmcia, Odontologia e
Enfermagem da Universidade Federal do
Cear, como requisito parcial para obteno do
ttulo de Mestre em Enfermagem.
rea de Concentrao: Enfermagem na
Promoo da Sade.
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo
de Cuidar na Promoo da Sade.
Orientadora: Prof. Dr. Joselany fio Caetano
FORTALEZA
2013
-
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao Universidade Federal do Cear
Biblioteca de Cincias da Sade
C212c Campos, Francimary de Alencar.
Construo e validao de protocolo de terapia de nutrio enteral/ Francimary de Alencar
Campos. 2013.
102 f. : il.
Dissertao (Mestrado) - Universidade Federal do Cear. Faculdade de Farmcia,
Odontologia e Enfermagem. Programa de Ps-Graduao em Enfermagem, Fortaleza, 2013.
rea de concentrao: Enfermagem na promoo da sade.
Orientao: Prof. Dr. Joselany fio Caetano.
1. Nutrio Enteral. 2. Estudos de Validao. 3. Pesquisa em Enfermagem. I. Ttulo.
CDD 610.73
-
FRANCIMARY DE ALENCAR CAMPOS
CONSTRUO E VALIDAO DE PROTOCOLO DE TERAPIA DE NUTRIO
ENTERAL
Dissertao de Mestrado apresentada ao
Programa de Ps-Graduao em Enfermagem da
Faculdade de Farmcia, Odontologia e
Enfermagem da Universidade Federal do Cear,
como requisito parcial para obteno do ttulo de
Mestre em Enfermagem. rea de Concentrao:
Enfermagem na Promoo da Sade.
Aprovada em 05/02/2013
BANCA EXAMINADORA
________________________________________________
Prof. Dr. Joselany fio Caetano (Orientadora)
Universidade Federal do Cear (UFC)
________________________________________________
Prof. Dr. Viviane Martins da Silva
Universidade Federal do Cear (UFC)
________________________________________________
Prof. Dr. Paulo Csar de Almeida
Universidade Estadual do Cear (UECE)
________________________________________________
Prof. Dr. Mria Lavinas Conceio Santos
Universidade Federal do Cear (UFC)
-
Dedico este trabalho a Deus, minha famlia e
aqueles que me incentivaram e confiaram no
meu potencial. O que fiz, foi tambm por
vocs!
-
AGRADECIMENTOS
A Deus, pela minha vida, pelo seu amor e pela fora para vencer os desafios.
A Nossa Senhora, por estar ao meu lado todos os dias e guiando minhas decises.
minha me, Maria Francisca, a quem agradeo pelas fervorosas oraes.
Ao meu filho, Renato Gabriel, que a cada dia mostra como maravilhoso ser me.
Ao presente de Deus em minha vida, pela alegria, entusiasmo, incentivo, e por acreditar em
mim. Enfim por todo o amor... A recproca verdadeira!
minha orientadora, Prof. Dr. Joselany fio Caetano, pela pacincia e contribuio neste
estudo.
minha turma de Mestrado, pela convivncia, aprendizado e amizades construdas. Em
especial a Juliana Aires, Huana Caroline, Gabrielle Fvaro e Aline Tomaz, pelas alegrias
somadas, dificuldades vividas e conhecimento e experincia multiplicados.
Ao Programa de Ps-Graduao em Enfermagem da Universidade Federal do Cear, corpo
docente e funcionrios, pela acolhida e oportunidade de desenvolver esta pesquisa.
Aos docentes Prof. Viviane Martins da Silva, Prof. Paulo Csar de Almeida, Prof. Mria
Lavinas Conceio Santos pelas contribuies ao estudo e por aceitarem participar da banca
de defesa.
Aos alunos da graduao, que permitem o aprendizado constante no campo de estgio.
s colegas da Ps-Graduao em Enfermagem, em especial: Alzete Lima, Jane Gomes, Isis
Aguiar e Viviane Penaforte, pela fora e ateno que me deram nesta jornada.
Aos especialistas que participaram da validao do estudo, pela disponibilidade,
conhecimentos e contribuio ao desenvolvimento da dissertao.
s bibliotecrias Norma Linhares e Maria Naires Alves, pela disponibilidade e presteza.
Diretora de Enfermagem do Instituto Dr. Jos Frota, Mnica Dantas Sampaio Resende, que
me incentivou e apoiou para realizao deste projeto.
Ao paciente, principal fonte de pesquisa e aprendizado.
-
Tudo posso Naquele que me
fortalece!
(Filipenses 4:13)
-
RESUMO
Este estudo trata da construo e validao de um protocolo de terapia de nutrio enteral para
pacientes adultos em uso de sonda enteral. um estudo metodolgico, em que, na sua
primeira fase, realizou-se a reviso integrativa da literatura a respeito da atuao do
enfermeiro frente a um paciente adulto com indicao de terapia de nutrio enteral. Para
tanto, se procedeu busca de estudos em bases de dados nacionais e internacionais, onde
foram selecionados 36 estudos que atenderam aos critrios de incluso, nas bases de dados
SCIELO, LILACS, LEYES, MEDLINE, CINAHL e BDTD, aps o cruzamento dos
descritores controlados: nutrio enteral, alimentao enteral e terapia nutricional, e suas
tradues em ingls e espanhol. A leitura e a sntese dos estudos apontaram para quatro linhas
de atuao relacionadas TNE que orientaram na operacionalizao da construo do
protocolo. A coleta de dados com os especialistas aconteceu no perodo de junho a setembro
de 2012, sendo usado um formulrio contendo dados referentes aos especialistas e dados
avaliativos do protocolo. O estudo respeitou os preceitos ticos e recebeu a aprovao do
Comit de tica em Pesquisa da Universidade Federal do Cear sob Protocolo de nmero
05/12. A primeira verso do instrumento foi composta de duas sees. A primeira composta
de 20 itens distribudos em seis domnios e se refere ao critrio de indicao da TNE, qual
tipo de sonda: oro ou nasoenteral, e ao procedimento da sua insero, como deve ser a
administrao de dieta e medicamentos. A segunda seo possui sete domnios com 12 itens
que ilustram as situaes em que pode ocorrer a interrupo da dieta. O protocolo foi avaliado
por meio de cinco itens, que correspondiam a cinco nveis de respostas possveis dispostas em
uma escala de Likert variando de 1 a 5, sendo considerados: 1- inadequado e 5- totalmente
adequado. Procedeu-se anlise terica do protocolo, submetendo-se avaliao de 15
especialistas. Aps os testes estatsticos (coeficiente de Cronbach e ndice de Validade de
Contedo) e as alteraes decorrentes das sugestes dos especialistas, obteve-se a segunda
verso do protocolo formada por duas sees com 21 itens na primeira seo, distribudos nos
seis domnios, e 12 itens na segunda seo, distribudos em seis domnios, e tambm com
remodulao dos itens aps anlise criteriosa das sugestes. Conclui-se, portanto, que foi
possvel construir um protocolo de TNE e que o mesmo envolve e representa o contedo do
constructo que se pretende, pois o coeficiente de correlao intraclasse foi =0,83. Pode-se
concluir que a verso final do protocolo vlida para usar na prtica hospitalar.
Palavras chave: Nutrio Enteral. Estudos de Validao. Pesquisa Metodolgica em
Enfermagem.
-
ABSTRACT
This study deals with the construction and validation of a protocol for enteral nutrition
therapy for adult patients on enteral tube use. This is a methodological study, which in its first
phase was held on integrative literature review concerning the nursing procedures related to
enteral nutrition therapy (ENT). For that a search of studies was undertaken in national and
international databases, where we selected 36 studies that met the inclusion criteria, the
databases SCIELO, LILACS, LEYES, MEDLINE, CINAHL and BDTD after matching the
controlled descriptors enteral nutrition, enteral feeding and nutritional therapy and their
translations in english and spanish. Reading and synthesis of studies pointed to four lines of
conduct relating to the ENT operationalization that guided the construction of the protocol
and yielding the first version. Data collection took place with experts in the period June-
September 2012, being used a form containing data for experts and evaluative data protocol.
The study complied with the ethical guidelines and was approved by the research ethics
committee of the Universidade Federal do Cear under protocol number 05/ 12. The first
version of the instrument consisted of two sessions, where the first is composed of 20 items
divided into six domains and refers to the indication criteria of ENT, which type of probe: oro
or nasoenteral and the procedure for their entry, as should be the administration of
medications and diet. The second session has 7 domains with 12 items and refers to situations
where interruption of the diet may occur. The protocol was evaluated in its appearance and its
contents through five items in which each accounted for five levels of possible answers
arranged in a Likert scale ranging from 1 to 5, being considered: 1 inappropriate and 5 totally
appropriate. The protocol items were assessed dichotomously, where one represented without
considerations and two with suggestions and recommendations. After statistical tests
(Cronbach coefficient and Content Validity Index) and changes arising from the experts
gave the second version of the protocol consists of two sessions consisting of 21 items
distributed in the 6 domains in the first session in and 12 items in the second session
distributed in the 6 domains, where there was the refurbishment of items after careful analysis
of the suggestions. It is concluded, therefore, that it was possible to construct a TNE protocol
and that it engages and represents the desired construct contents due to Cronbach's
coefficient and good coefficient of correlation interclass.
Key words: Enteral Nutrition. Validation Studies, Nursing Methodology Research.
-
RESUMEN
Este estudio trata de la construccin y validacin de un protocolo de terapia de nutricin
enteral para pacientes adultos en uso de sonda enteral. Se trata de un estudio metodolgico, en
el que en la primera fase se realiz la revisin integradora de la literatura a respecto de las
conductas de enfermera relacionadas a la terapia de nutricin enteral (TNE). Para ello se
procedi a buscar estudios en bases de datos nacionales e internacionales, siendo
seleccionados 36 estudios que respondieron a los criterios de inclusin, en las bases de datos
SCIELO, LILACS, LEYES, MEDLINE, CINAHL y BDTD despus de cruzar los
descriptores controlados, nutricin enteral, alimentacin enteral y terapia nutricional y sus
traducciones en ingls y espaol. La lectura y la sntesis de los estudios indicaron cuatro
lneas de conductas relacionadas a la TNE que orientaron en la operacionalizacin de la
construccin del protocolo, originando la primera versin. La recoleccin de datos con los
especialistas se hizo de junio a septiembre de 2012, siendo usado un formulario conteniendo
datos referentes a los especialistas y datos evaluadores del protocolo. El estudio respet los
principios ticos y recibi la aprobacin del comit de tica en investigacin de la
Universidad Federal de Cear con protocolo nmero 05/ 12. La primera versin del
instrumento fue composta de dos sesiones, estando la primera composta de 20 artculos
divididos en seis dominios refirindose al criterio de indicacin de la TNE, que tipo de sonda:
oro o naso-enteral y el procedimiento de su insercin, como debe ser la administracin de
dieta y medicamentos. La segunda sesin posee 7 dominios con 12 artculos que ilustran las
situaciones en que puede ocurrir la interrupcin de la dieta. El protocolo fue evaluado por
medio de cinco tems en que cada uno corresponda a cinco niveles de respuestas posibles
dispuestas en una escala de Likert variando de 1 a 5, siendo considerado: 1 inadecuado y 5
totalmente adecuado. Se procedi al anlisis terico del protocolo, sometindose a la
evaluacin de 15 especialistas. Despus de los test estadsticos (coeficiente de Cronbach e
ndice de Validad de Contenido) y las alteraciones consiguientes de los especialistas se
obtuvo la segunda versin del protocolo formada por dos sesiones consistentes en 21 artculos
distribuidos en 6 dominios en la primera sesin y 12 artculos distribuidos en 6 dominios en la
segunda sesin y tambin con remodelacin de los tems despus de un anlisis riguroso de
las sugestiones. Se concluye, por tanto, que fue posible construir un protocolo de TNE y que
el mismo abarca y representa el contenido del constructo que pretende debido al buen valor de
su coeficiente de correlacin inter-clases.
Palabras clave: Nutricin Enteral. Los Estudios de Validacin, Investigacin en Enfermera
Metodologa.
-
LISTA DE ILUSTRAES
Figura 1 Etapas para a construo do protocolo....................................................... 39
Figura 2 Fluxograma geral da busca conforme a base de dados e artigos
encontrados conforme temticas.................................................................
50
Figura 3 Protocolo de Terapia de Nutrio Enteral................................................... 75
Figura 4 Protocolo de terapia de nutrio aps as sugestes e recomendaes dos
especialistas.................................................................................................
85
Quadro 1 Classificao dos estudos conforme a proposta de Stetler (1998).............. 37
Quadro 2 Adaptao do sistema de pontuao de especialistas do modelo de
validao de contedo de Fehring (1994)...................................................
46
Quadro 3 Classificao da confiabilidade a partir do coeficiente de Cronbach...... 48
Quadro 4 Disposio dos artigos conforme ttulo, autor, publicao/ Base de
dados, objetivo, desenho metodolgico, nvel de evidncia e
consideraes..............................................................................................
52
Quadro 5 Coeficiente de correlao interclasses........................................................ 78
Quadro 6 Resumo dos itens avaliados pelos especialistas, problemas identificados
e respectivas mudanas sugeridas, conforme a avaliao do protocolo.....
80
Quadro 7 Itens a serem includos conforme a recomendao dos especialistas......... 81
-
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Distribuio do grupo de especialistas segundo sexo, faixa etria,
profisso, qualificao profissional e tempo de experincia, publicao
em peridico e participao em grupo de pesquisa. Fortaleza, CE, 2012.....
76
Tabela 2 Distribuio do nmero de especialistas participantes de estudo, segundo
o modelo adaptado de pontuao de Ferhing. Fortaleza, CE, 2012..............
77
Tabela 3 Distribuio da concordncia entre os pares de especialistas em relao
aos itens do protocolo. Fortaleza- CE, 2012.................................................
79
-
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
BIC Bomba de Infuso Contnua
BVS Biblioteca Virtual em Sade
COFEN Conselho Federal de Enfermagem
ECR Ensaio Clnico Randomizado
EMTN Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional
IBRANUTRI Inqurito Brasileiro de Avaliao Nutricional
IVC ndice de Validade de Contedo
NE Nutrio Enteral
NPSA National Patient Safety Agency
NPT Nutrio Parenteral Total
PBE Prtica Baseada em Evidncias
pH Potencial Hidrogeninico
RDC Resoluo da Diretoria Colegiada
SBNPE Sociedade Brasileira de Nutrio Parenteral e Enteral
SNE Sonda Nasoenteral
SNG Sonda Nasogstrica
TNE Terapia de Nutrio Enteral
TOT Tubo Orotraqueal
TQT Traquestomo
UTI Unidade de Terapia Intensiva
-
SUMRIO
1 INTRODUO.................................................................................................. 14
2 OBJETIVOS....................................................................................................... 22
3 ASPECTOS CONCEITUAIS E TCNICOS.................................................. 23
3.1 Terapia de nutrio enteral............................................................................... 23
3.2 Administrao da dieta por sonda enteral....................................................... 26
3.3 Administrao de medicamentos por meio de sondas.................................... 26
3.4 Complicaes relacionadas terapia nutricional enteral............................... 28
3.4.1 Quadro diarreico................................................................................................. 29
3.4.2 Resduo gstrico................................................................................................... 31
3.4.3 Interrupo da dieta para procedimentos e exames........................................... 32
3.4.4 Obstruo da sonda............................................................................................. 32
3.5 Papel da enfermagem na terapia de nutrio enteral..................................... 34
4 PROCEDIMENTOS TERICOS METODOLGICOS.............................. 36
4.1 Referencial metodolgico................................................................................... 36
4.2 Materiais e mtodos........................................................................................... 39
4.2.1 Tipo de estudo...................................................................................................... 39
4.2.2 Reviso Integrativa.............................................................................................. 40
4.2.3 Construo do protocolo..................................................................................... 42
4.2.4 Validao............................................................................................................. 44
4.3 Seleo da amostra............................................................................................. 45
4.4 Instrumento de coleta de dados........................................................................ 47
4.5 Tratamento estatstico........................................................................................ 48
4.6 Aspectos ticos do estudo................................................................................... 49
5 RESULTADOS E DISCUSSO....................................................................... 50
5.1 Resultados da reviso integrativa..................................................................... 50
5.2 Discusso dos resultados da reviso integrativa.............................................. 61
5.3 Resultados da validao por especialistas........................................................ 76
6 CONCLUSES.................................................................................................. 86
REFERNCIAS................................................................................................. 89
APNDICES....................................................................................................... 95
ANEXO................................................................................................................ 103
-
13
1 INTRODUO
A impossibilidade de fornecer nutrientes necessrios para atender s exigncias
corporais uma preocupao sria em pacientes hospitalizados, principalmente pessoas com
doenas crnicas, ferimentos traumticos, idosos e pacientes internados em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), que so especialmente vulnerveis s complicaes decorrentes da
desnutrio, pois eles podem apresentar limitao da ingesta hdrica, instabilidade
hemodinmica e diminuio da absoro de drogas e nutrientes. Alm desses fatores, a pouca
ateno dos profissionais de sade na avaliao nutricional e a monitorao ineficaz da
aceitao da dieta podem contribuir para alteraes no estado nutricional (BENFENATTI,
2008; CASTRO; FREITAS; ZABAN, 2009).
Essa inadequao nutricional no perodo de hospitalizao resulta no
comprometimento no estado de sade do paciente e pode influenciar na sua recuperao, alm
de promover complicaes que so entre duas e vinte vezes maiores, quando comparadas aos
enfermos nutridos. Pacientes com risco nutricional podem apresentar reduo da imunidade e,
consequentemente, maior risco para infeces, retardo no processo de cicatrizao, alm da
resposta teraputica ser mais onerosa e representar aumento nos custos hospitalares, pois
eles podem permanecer hospitalizados durante um perodo de tempo 50% maior do que os
pacientes saudveis (CORREIA; CAMPOS, 2003; BENFEENATTI, 2008).
O ndice de pacientes hospitalizados que no se alimentam suficientemente para
atender suas necessidades calrico-proteicas elevado devido aos mais variados fatores,
como a doena de base, dor, nuseas, vmitos, ansiedade, inapetncia, disfasia, depresso,
incapacidade funcional, tratamentos agressivos como cirurgias, radio e quimioterapia, e at
mesmo pelo fato de estarem em um ambiente hospitalar, pois a internao constitui momentos
de dor, medo, angstia e insegurana.
Waitzberg, Baxter e Carnevalli (2004) consideram que existe um conjunto de
situaes encontradas no cenrio hospitalar que contribuem para piora do estado nutricional,
destacando: o peso e a altura que no so aferidos na admisso hospitalar, logo a desnutrio
no identificada, e a no observao da aceitao de alimentos por parte dos pacientes;
intervenes cirrgicas em pacientes desnutridos sem a instituio de uma terapia nutricional,
e uso prolongado de hidratao venosa associada ao jejum, que nessa condio resulta na
atrofia da mucosa intestinal. Todos esses fatores se refletem na ausncia do rastreamento e
triagem nutricional dos pacientes em regime hospitalar.
-
14
A Sociedade Brasileira de Nutrio Parenteral e Enteral (SBNPE), preocupada em
investigar o estado nutricional e o ndice de desnutrio hospitalar no Brasil, realizou um
estudo epidemiolgico transversal, o Inqurito Brasileiro de Avaliao Nutricional
(IBRANUTRI), que foi um estudo multicntrico feito em hospitais da rede pblica do pas,
atingindo 12 estados e o Distrito Federal, envolvendo 4000 pacientes hospitalizados. Esse
estudo mostra o desconhecimento e o descaso da equipe de sade com relao ao grau de
nutrio, pois 81,2% dos pacientes internados no tinham qualquer referncia nos pronturios
sobre seu estado nutricional, apesar de 75% dos pacientes estarem a menos de 50 metros de
uma balana de peso corpreo (WAITZBERG, 2000).
De acordo com Correia, Caiaffa e Waitzberg (1998), o percentual de pacientes
desnutridos em regime hospitalar no pas era de 48,1%, quando foi realizado o inqurito e, as
taxas de desnutrio variavam de acordo com as instituies e conforme a regio estudada;
nos estados do Norte e Nordeste a mdia de pacientes desnutridos era alta, com desnutrio
moderada, 43,8% e 20,1% com desnutrio grave, perfazendo um total de 63,9%. Essas taxas
mostraram ter referncia direta no tempo mdio de permanncia hospitalar, pois os pacientes
desnutridos permaneciam em torno de 13 dias, enquanto que os eutrficos ficavam em mdia
seis dias.
Diante desse contexto, a desnutrio uma realidade em pacientes hospitalizados,
com prevalncia variando entre 30% e 65% em diferentes estudos, e pode estar presente no
momento da admisso hospitalar ou desenvolver-se no decorrer da internao
(WAITZBERG; CAIAFFA; CORREIA, 2001; KUMBIER et al., 2005).
O estudo de Logan e Hildebrandt (2003) relatou que 40% dos pacientes so
desnutridos quando ingressam no hospital, e que 75% desses pacientes perdem peso quando
internados por mais de uma semana, resultando na taxa de mortalidade maior do que aquela
esperada em pacientes adequadamente nutridos.
Diante dessa problemtica, desde o sculo XIX, estudiosos vm aperfeioando
tcnicas de nutrio artificial, com o objetivo de prolongar a vida, prevenir a perda de peso e a
desnutrio (HERMANN; CRUZ, 2008). Quando o trato gastrintestinal est em
funcionamento, a Nutrio Enteral (NE) uma forma de recuperar ou, em casos de danos
repentinos, proporcionar um estado nutricional timo.
A prtica de administrao de nutrientes originou-se na era antiga com os
egpcios, os quais utilizavam os enemas para preservar a sade geral; frmulas enterais
especializadas s apareceram em 1930 e a primeira frmula enteral comercial foi introduzida
no mercado em 1942 (TIRAPEGUI, 2006).
-
15
Por conseguinte, a Terapia de Nutrio Enteral (TNE) tem sido considerada
sempre que possvel como mtodo de escolha para pacientes internados que no apresentam
condies de se alimentar por via oral. E, quando iniciada mais precocemente, favorece a
recuperao do estado de sade, atravs da preservao do estado nutricional, com a
manuteno do peso corporal e da massa muscular (FUJINO; NOGUEIRA, 2007;
ARAUNJES et al., 2008). Assim, cada vez mais a nutrio enteral tem sido utilizada por
trazer benefcios para os pacientes, e, com o crescimento das indstrias, as formulaes
dietticas esto cada vez mais especializadas e de fcil preparo, o que contribuiu muito para
este crescente uso da terapia nutricional enteral em pacientes hospitalizados com o passar dos
anos.
Assim, visando garantir qualidade na utilizao da dieta enteral, em julho 2000 a
Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) aprovou um regulamento tcnico
fixando requisitos mnimos a serem exigidos para a TNE, por meio da Resoluo RDC 63,
definindo a nutrio enteral como:
... alimento para fins especiais, com ingesto controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composio definida ou estimada, especialmente
formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializado ou no,
utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentao
oral em pacientes desnutridos ou no, conforme suas necessidades nutricionais, em
regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando sntese ou manuteno dos
tecidos, rgos ou sistemas (ANVISA, 2000, p.2).
Atualmente, a ANVISA regulamenta a formao de Equipe Multidisciplinar de
Terapia Nutricional (EMTN), obrigatria nos hospitais brasileiros. Essa regulamentao
regida pelas Portarias 272/1998 (Regulamento Tcnico de Terapia de Nutrio Parenteral) e
337/2000 (Regulamento Tcnico de Terapia de Nutrio Enteral). Assim, fazem parte das
atribuies da EMTN: definir metas tcnico-administrativas, realizar triagem e vigilncia
nutricional, avaliar o estado nutricional, indicar terapia nutricional e metablica, assegurar
condies timas de indicao, prescrio, preparao, armazenamento, transporte,
administrao e controle dessa terapia; educar e capacitar a equipe; criar protocolos, analisar o
custo e o benefcio e traar metas operacionais (BRASIL, 1998; ANVISA, 2000).
Uma das atribuies da equipe multidisciplinar de terapia nutricional a
construo de protocolos, entendidos aqui como um conjunto de dados que permitem
direcionar o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados na resoluo ou
preveno de um problema (ATAKA; OLIVEIRA, 2007).
-
16
O conceito e a importncia do termo padronizao tm sido relatados desde a
Revoluo Industrial, com o processo de substituio da fora humana pela fora da mquina,
sendo que a padronizao dos processos de fabricao tinha o objetivo de se obter produtos
mais uniformes, com aumento de produo e qualidade do servio. A palavra padro tem
como significado aquilo que serve de base ou norma para a avaliao e est relacionada aos
resultados que se deseja alcanar. Na rea da sade, equivale aos padres de cuidado, que se
relacionam com os direitos do cliente de receber assistncia de enfermagem de acordo com as
suas necessidades (GUERRERO; BECCARIA; TREVIZAN, 2008).
A padronizao atravs de protocolos considerada como uma ferramenta de
gerenciamento nos dias atuais, pois o caminho mais seguro para a produtividade e
competitividade, constituindo uma das bases do gerenciamento moderno. Na prtica
assistencial, os protocolos so importantes porque avaliam a eficcia e a segurana das
intervenes e geram resultados cientificamente vlidos, replicveis e generalizveis, de
maneira a reduzir custos e melhorar a qualidade da assistncia, pois auxiliam no tratamento de
doenas, na investigao e identificao de problemas (CURCIO; LIMA; TORRES, 2009).
Destarte, a criao de protocolos de enfermagem imprescindvel para a execuo
das aes nas quais ela est envolvida, pois sua utilizao no cuidado permite integrar a teoria
e a prtica, desencorajando aes ritualsticas, sendo uma soluo para associar os achados em
pesquisa prtica assistencial (ATAKA; OLIVEIRA, 2007).
Os enfermeiros bem capacitados propiciam racionalizao de rotinas,
pradonizao e mais segurana na realizao dos procedimentos, participao efetiva no
planejamento e liberao de mais tempo para interagir com o paciente, da a necessidade de
acompanhar as novas tendncias e participar da construo de alternativas que respondam aos
desafios de melhorar a oferta de qualidade dos servios prestados. Alm disso, o enfermeiro
dever exercer o papel de produtor, implementador e controlador das aes assistenciais de
enfermagem (GUERRERO; BECCARIA; TREVIZAN, 2008).
Corroborando com esse pensamento, Caliri (2002) afirma que o aprimoramento
da prtica assistencial ocorre quando se utiliza o conhecimento cientfico na tentativa de
excluso de uma prtica isolada, envolta por experincias clnicas assistemticas e
fundamentadas em opinies e tradies, colaborando, assim, para uniformizao e
padronizao da assistncia.
O protocolo de enfermagem definido como um documento que descreve
detalhadamente uma prtica de enfermagem subsidiada por resultados de pesquisas, obtidos
por meio de metodologia de reviso, promovendo o desenvolvimento de estudos que
-
17
contribuam para a prtica clnica, constituindo-se em um momento importante para o
crescimento da enfermagem (LOBIONDO-WOOD; HARBER, 2001).
Quando se investiga a prtica assistencial de enfermagem direcionada para o
cuidado e sua interligao com a construo de protocolos, observa-se que o cuidar pode ser
entendido como um processo que envolve e desenvolve aes, atitudes e comportamentos que
se fundamentam no conhecimento cientfico, tcnico, pessoal, cultural, social, econmico,
poltico e psicoespiritual, buscando a promoo, manuteno e ou recuperao da sade.
Assim, o cuidado de enfermagem consiste na essncia da profisso e pertence a duas esferas
distintas: uma objetiva, que se refere ao desenvolvimento de tcnicas e procedimentos, e uma
subjetiva, que se baseia em sensibilidade, criatividade e intuio (ROCHA et al., 2008).
Torna-se, neste momento, fundamental a correlao da construo de protocolos
com o cuidado de enfermagem. Nesse contexto, o protocolo pode ser descrito como uma
forma de ao, um modo de fazer, que se encontra estruturado em uma srie de passos ou
normas que o definem ou o orientam para a realizao do cuidado. Alm disso, para sua
construo, buscam-se conhecimentos estruturados (baseados em evidncias cientficas) e
para sua utilizao necessita-se do estabelecimento de relaes para que as preconizadas por
ele sejam compreendidas e aceitas por aqueles que iro utiliz-lo (NIETSCHE et al., 2005).
Correlacionar as condutas de enfermagem relacionadas terapia de nutrio
enteral referendadas com resultados de pesquisas motivou na investigao sobre a temtica;
pois o perodo de trabalho em unidade de terapia intensiva de um hospital pblico, como
enfermeira, proporcionou o primeiro contato com pacientes que necessitavam de suporte
enteral. E permitiu observar a pouca ateno dada ao suporte nutricional desses pacientes,
resultado talvez das polticas atuais de alimentao hospitalar e tambm da escassez de
informao sobre nutrio durante a graduao, o que pode gerar desinteresse e
desconhecimento por essa rea, provavelmente acarretando aumento da possibilidade de
complicaes durante a terapia nutricional.
Historicamente, no Brasil, os cursos superiores responsveis pela formao de
enfermeiros, mdicos e farmacuticos do pouca importncia ao estado nutricional dos
doentes e sua relao direta com a evoluo clnica. Contudo, faz-se necessrio que os centros
formadores de profissionais da sade se preocupem em incentivar a pesquisa, para alicerar a
qualidade da assistncia prestada aos pacientes em uso da terapia nutricional (BENFENATTI,
2008).
Esse fato foi comprovado pelos resultados obtidos pelo IBRANUTRI, que
confirmaram uma situao preocupante, pois, aps 25 anos de existncia da terapia
-
18
nutricional, ela usada de maneira incipiente, embora seja recomendada a iniciativa de
pesquisas sobre a temtica (BENFENATTI,2008).
Cabe ressaltar que muitas condutas realizadas esto fundamentadas em
experincia emprica, baseadas no senso comum e na experincia profissional. Esses
processos de deciso valorizam as crenas do profissional sobre o que ele acha melhor para o
seu paciente, deixando o conhecimento cientfico em segundo plano. Dessa maneira, vrios
profissionais podem ter opinies e experincias diferentes para situaes clnicas semelhantes,
e o que apresenta resultado positivo para um paciente pode no ser adequado para outro.
Observa-se ainda na prtica a inexperincia em introduzir sonda enteral, com
vrias dvidas e desconhecimento no seu manuseio, assim como quais testes realizar para
verificar o seu posicionamento, quais medicamentos podem ser administrados e sua interao
com a alimentao; se melhor administrar dieta contnua ou intermitente, e que cuidado se
deve ter para prevenir infeco associada ao uso da terapia de nutrio enteral.
Dessa forma, a experincia profissional e a aproximao com os pacientes, aliados
aos conhecimentos cientficos adquiridos motivaram a realizao desta pesquisa sobre
protocolos de enfermagem na terapia enteral, uma vez que o cuidado de enfermagem ao
cliente em terapia enteral no possui uma sistematizao desenvolvida como protocolo na
rede hospitalar. Alm disso, a responsabilidade desse planejamento fica atrelada aos esforos
individuais de enfermeiros. Entretanto, vrios fatores limitam a administrao plena de NE,
tais como interrupes para cuidados de enfermagem e de fisioterapia, estase gstrica, piora
clnica, jejum para procedimentos e obstruo ou deslocamento da sonda nasoentrica
(TEIXEIRA; CARUSO; SORIANO, 2006).
Assim, a administrao inadequada de nutrientes resulta em baixo aporte calrico
aos pacientes crticos, portanto, a adoo de protocolos e a participao efetiva da EMTN tm
o potencial de detectar e minimizar os fatores envolvidos com a administrao inadequada,
visando aperfeioar o aporte nutricional nesses pacientes.
Heyland et al. (2010) cita em seu estudo trs protocolos de TNE; no primeiro foi
investigado se o paciente recebia a oferta de protenas e calorias prescritas. O segundo
analisou vrias condutas implementadas para administrar a TNE, e o terceiro analisou a oferta
nutricional em pacientes em uso de ventilao mecnica, uso de sedao e analgesia e
controle glicmico. Nos locais onde eram utilizados protocolos foi evidenciado que eles
recebiam a oferta nutricional prevista e essa oferta era precoce. Essas condutas geraram
reduo do tempo de internamento e diminuio dos ndices de complicaes.
-
19
Foi ressaltado nos estudos que os protocolos devem ser construdos observando as
particularidades da realidade hospitalar onde eles vo ser utilizados, e tambm os recursos
humanos e materiais para sua aplicabilidade (BENFENATTI, 2008; ROS; McNEIL;
BENNETT, 2009; DE SETA et al., 2010).
Observa-se, nos locais onde havia protocolos, que ocorreu a oferta adequada de
nutrientes com melhora ou manuteno do estado nutricional. O uso de protocolos citado
nos estudos como marco diferencial no cuidado prestado ao paciente em uso de TNE, estes
protocolos associados educao continuada e participao da equipe multidisciplinar
demonstram que a oferta nutricional atinge as metas propostas (DOBSON; SCOTT, 2007;
ROBERTS, 2007; ROS; McNEIL; BENNETT, 2009; HEYLAND et al., 2010; OLIVEIRA et
al., 2010).
Para isso, no Brasil a terapia de nutrio regulamentada por instituies
vinculadas ao Ministrio da Sade, que preconizam a formao de uma equipe
multidisciplinar de terapia nutrio (EMTN), que um grupo composto por mdico,
nutricionista, enfermeiro e farmacutico, com treinamento especfico para essa atividade, com
o estabelecimento de diretrizes gerais e protocolos de conduta imprescindveis para a
assistncia ao paciente em uso de TNE. Mas o estudo de De Seta et al. (2010) observou que,
embora exista regulamentao no Brasil quanto TNE, ela no devidamente cumprida, o
que compromete a qualidade da assistncia prestada (ANVISA, 2000; DOBSON; SCOTT,
2007; BENFENATTI, 2008; NOZAKI; PERALTA, 2009; DE SETA et al., 2010).
Nesse contexto, surgiu o interesse em investigar: Qual a atuao do enfermeiro
frente a um paciente com indicao de terapia de nutrio enteral? Quais inovaes no
cuidado em terapia de nutrio enteral vm sendo desenvolvidos pelos enfermeiros? Que
reas necessitam de novas investigaes? Quais os delineamentos de pesquisa mais
frequentes? A construo de um protocolo com base nas evidncias levantadas pode
representar e assegurar a assistncia de enfermagem? Assim, decidiu-se buscar na literatura o
conhecimento cientfico e construir um protocolo de enfermagem para terapia enteral, e
consequentemente contribuir para a criao de uma prtica de enfermagem cientfica e
atualizada sobre o tema.
As respostas a essas questes devero colaborar para a atuao efetiva dos
enfermeiros que prestam assistncia na terapia de nutrio enteral, com o objetivo de fornecer
uma base cientfica para as aes de enfermagem. Devero ainda contribuir para a sntese do
conhecimento produzido at o momento, tornando-se de grande valia para os profissionais
que prestam cuidados aos pacientes em uso de alimentao enteral, alm de fornecer subsdios
-
20
para futuros pesquisadores. Pois necessrio investigar, explicitar o corpo de conhecimentos
cientficos produzidos, assim como identificar as prioridades de pesquisa, para fornecer
respaldo e direcionamento cientfico s aes de enfermagem em terapia enteral.
-
21
2 OBJETIVOS
Neste estudo realizou-se uma reviso integrativa sobre os cuidados de
enfermagem desenvolvidos na terapia de nutrio enteral, e posteriormente construiu-se um
protocolo de terapia de nutrio enteral seguido da validao aparente e de contedo do
mesmo, com os objetivos abaixo discriminados.
Identificar na literatura as evidncias disponveis sobre as condutas de
enfermagem implementadas durante a terapia de nutrio enteral;
Construir um protocolo de terapia de nutrio enteral atravs do conhecimento
na rea da Enfermagem;
Validar protocolo de terapia de nutrio enteral.
-
22
3 ASPECTOS CONCEITUAIS E TCNICOS
A terapia de nutrio enteral uma prtica usual no cenrio hospitalar e
domiciliar. considerada como um mtodo excelente para fornecer nutrientes, alm de
apresentar um baixo custo se comparado a outras formas de administrao de alimentos, como
a nutrio parenteral. A adeso a essa terapia tambm decorre do aprimoramento na
formulao dos nutrientes, bem como das tcnicas utilizadas para sua administrao e da
qualidade do material empregado. Apesar dos seus benefcios, ela no est isenta de
complicaes durante sua utilizao, sendo fundamental o aprofundamento do conhecimento
a respeito desta temtica.
3.1 Terapia de nutrio enteral
Por definio, enteral significa dentro ou atravs do trato gastrintestinal. Na
prtica, a nutrio enteral o fornecimento de alimentao lquida ou de nutrientes atravs de
solues nutritivas com frmulas quimicamente definidas, por infuso direta no estmago ou
no intestino delgado atravs de sondas (TEIXEIRA NETO, 2003).
A terapia de nutrio enteral (TNE) compreende um conjunto de procedimentos
teraputicos para a manuteno ou recuperao do estado nutricional do paciente, por meio da
ingesto controlada de nutrientes pela via enteral, visando oferta adequada de protenas,
minerais, vitaminas e gua aos pacientes, que, por algum motivo, no possam atingir sua
necessidade nutricional pela via oral convencional. Ela tem ganhado uma considervel
popularidade nos ltimos anos, sendo denominada como cuidado padro de tratamento em
pacientes impossibilitados de utilizar a via oral para alimentao ou como complementao
dessa via. considerada a via mais fisiolgica, pois promove a manuteno da integridade da
mucosa intestinal, previne a translocao bacteriana, est associada reduo das taxas de
complicaes infecciosas e se apresenta como economicamente vivel para as instituies
(CASTRO; FREITAS; ZABAN, 2009).
As situaes clnicas ilustradas na literatura como indicativas do uso da TNE so:
leses do sistema nervoso central, traumas, caquexia, cncer de boca, queimaduras superiores
a 30% da extenso corporal ou de 3 grau, deglutio comprometida, fstula digestiva,
anormalidades metablicas, m absoro, pancreatite com motilidade gstrica preservada,
anorexia, infeco grave, coma ou estado convulsional, neuropatias, traumas abdominais e
crnio enceflicos (BROTHERTON; JUDD, 2007).
-
23
Uma vez que o paciente tenha sido avaliado como candidato nutrio enteral,
deve-se selecionar a sonda e a via de acesso apropriada. A seleo do acesso enteral depende
de: previso da durao da alimentao enteral, grau de risco de aspirao ou deslocamento da
sonda, presena ou no de digesto e absoro normais, previso de interveno cirrgica e
aspectos que interferem na administrao, como viscosidade e volume da frmula
(UNAMUNO; MARCHINI, 2002).
Os parmetros utilizados para a avaliao da eficcia da nutrio enteral so os
mesmos que definem sua indicao: avaliao nutricional antropomtrica e bioqumica,
avaliao subjetiva global, exames bioqumicos e hematolgicos, testes de funo heptica e
renal, e balano nitrogenado (MIRANDA; OLIVEIRA, 2005; DE SETA et al., 2010).
A adequao de uma frmula de alimentao para cada paciente deve ser avaliada
com base nas caractersticas do estado funcional do trato gastrintestinal do paciente:
capacidade de digesto e absoro do paciente e necessidades metablicas especficas, e das
caractersticas fsicas da frmula: osmolalidade, teor de fibras, densidade calrica e
viscosidade, proporo de macronutrientes. As frmulas enterais so geralmente classificadas
com base na composio proteica ou de todos componentes. Os macronutrientes so
protenas, carboidratos e lipdeos, e os micronutrientes so vitaminas, minerais e eletrlitos
(ARAUNJES et al., 2008).
A sonda pode ser inserida por via nasal, oral, por insero percutnea ou
laparotomia, sendo que sua poro distal pode estar localizada no estmago, duodeno ou
jejuno. A insero por via oral aconselhada quando no existe a possibilidade da passagem
pela narina e deve ter pequena permanncia, sendo usada tambm em prematuros que
respiram exclusivamente pelo nariz (WILLIAMS; LESLIE, 2005). O suporte nutricional
enteral pode ser ofertado por sondas introduzidas pela via nasogstrica, nasoduodenal ou
nasojejunal, para terapia em curto prazo (trs a quatro semanas), ou, ento, por procedimentos
cirrgicos gastrostomias ou jejunostomias, como a endoscopia percutnea, para alimentao
em longo prazo (perodo superior a quatro semanas) Observa-se que esses perodos de uso da
sonda podem ser prolongados na prtica clnica, dependendo das condies de manuseio e dos
cuidados com a sonda (UNAMUNO; MARCHINI, 2002; TEIXEIRA NETO, 2003;
TIRAPEGUI, 2006).
A escolha do local onde ficar a sonda vai depender da doena, presena da
motilidade gstrica, do risco de aspirao pulmonar e durao da TNE. O estmago o local
mais utilizado devido ao seu tamanho, e pode receber diversos tipos de dieta e medicamentos,
porm existe maior risco de aspirao. O duodeno indicado para pacientes com pancreatite,
-
24
gastroparesia, refluxo esofgico severo e alto volume de resduo gstrico com o risco de
aspirao. O jejuno no local conveniente para grandes volumes de dieta, pois pode
ocasionar diarreia, nem deve ser utilizado para aspirao de resduo devido ao risco de
migrao de microorganismos patognicos (WILLIAMS; LESLIE, 2005; ROBERTS, 2007;
BOURGAULT et al., 2007).
A sondagem nasogstrica refere-se insero de uma sonda plstica flexvel
atravs da nasofaringe at o estmago (aproximadamente 90 cm), empregada mais
frequentemente para drenagem ou lavagem gstrica. Utiliza-se o conceito sondagem
orogstrica quando a sonda for inserida pela orofaringe (UNAMUNO; MARCHINI, 2002;
TEIXEIRA NETO, 2003).
Existem no mercado diversos tipos de sondas, ressaltando-se a distino entre as
sondas utilizadas para infundir nutrientes e aquelas usadas para drenagem de secrees
digestivas. As sondas podem ser fabricadas de poliuretano ou silicone, j que no sofrem
alterao fsica na presena do potencial hidrogeninico (pH) cido e conservam a
flexibilidade, maleabilidade e durabilidade. A utilizao desses materiais evita os efeitos
colaterais, que ocorriam frequentemente, com o uso das antigas sondas calibrosas de polivinil,
como, por exemplo, aspirao pulmonar, irritao nasofarngea e refluxo gastresofgico
(UNAMUNO; MARCHINI, 2002).
A sonda nasoentrica um tubo de silicone ou poliuretano com 104 a 115 cm de
comprimento com paredes finas e flexveis. Em sua extremidade distal existem orifcios por
onde a dieta escoa, alm de uma ponta de mercrio ou tungstnio que funciona como um
pequeno peso para facilitar o posicionamento da sonda no trato gastrintestinal
(UNAMUNO; MARCHINI, 2002; BORK, 2005).
Para a instalao das sondas nasogstrica ou nasoentrica importante que o
paciente esteja em jejum alimentar de pelo menos 4 h, pois a presena de alimentos no
estmago reduz os movimentos gstricos que so importantes para o posicionamento e
previnem a ocorrncia de nuseas e vmitos (UNAMUNO; MARCHINI, 2002).
A localizao da sonda pode ser confirmada por visualizao radiogrfica e
tambm pela tcnica do diferencial do pH. O exame radiolgico considerado o mais acurado
para visualizar a posio da sonda. A verificao do posicionamento da sonda deve ser feita
sempre que se for administrar dietas e medicamentos (WILLIAMS; LESLIE, 2005;
BOURGAULT et al., 2007).
-
25
3.2 Administrao da dieta por sonda enteral
Quanto infuso da dieta, ela pode ser contnua ou intermitente; a contnua mais
recomendada, pois previne a lcera de estresse, alm de ser o mtodo mais vantajoso em
relao infuso intermitente; j que o esvaziamento gstrico favorecido na infuso
contnua (ROBERTS, 2007; HITCHINGS; BEST; STEED, 2010).
Na infuso contnua, a dieta deve ser oferecida em gotejamento lento e contnuo
ou, preferencialmente, em bomba de infuso contnua (BIC); pode ser utilizada quando
houver dificuldade de esvaziamento gstrico, presena de distenso abdominal, risco de
aspirao e para prevenir a diarreia. Tem como desvantagens o aumento do custo devido o
uso da BIC, aumento da possibilidade de obstruo da sonda, alm da necessidade de
interrupo da dieta caso seja preciso administrar medicamentos pela sonda.
A dieta por infuso intermitente caracteriza-se pela administrao gravitacional ou
em bolus, que pode ser feita em seringas ou em bombas de infuso. vantajosa quando h
necessidade de administrao de medicamentos pela sonda e pode ser realizada nos intervalos
da dieta. Apresenta como desvantagens a maior incidncia de diarreia e pneumonia aspirativa,
assim como a possibilidade de deslocamento da sonda, em relao infuso contnua
(ROBERTS, 2007; HITCHINGS; BEST; STEED, 2010).
recomendado iniciar a infuso da dieta com a velocidade de 25 mlh para
possibilitar o desenvolvimento gradual da tolerncia ao volume e osmolalidade da frmula,
devendo ser aumentada a vazo a cada quatro horas at atingir entre 80 -125 mlh, que
considerada a vazo eficaz para induzir o ganho de peso sem causar clicas abdominais e
diarreia (BOURGAULT et al., 2007).
A questo da pausa na administrao da dieta citada por Roberts (2007),
afirmando que ela deve ser de quatro horas para que o estmago retorne ao pH cido e previna
a translocao bacteriana e gastrenterites; minimizando o risco de infeco nosocomial por
ascenso bacteriana.
3.3 Administrao de medicamentos por meio de sondas
Para a realizao adequada da administrao de medicamentos, atravs de sondas
digestivas, necessrio o conhecimento das caractersticas das diferentes formas
farmacuticas orais disponveis no mercado, assim como da possibilidade ou no da sua
utilizao e da tcnica correta para a manipulao. A triturao de formas slidas, antes da sua
-
26
administrao, pode apresentar vrios inconvenientes, principalmente quando isso comporta
alterao da farmacocintica e ao farmacolgica do medicamento. Vale destacar que
algumas formas farmacuticas so inadequadas para administrao por sondas (MOTA et al.,
2010).
Outro aspecto relevante relacionado absoro de drogas administradas por sonda
diz respeito poro do trato gastrointestinal (estmago ou intestino) onde o frmaco tem sua
maior absoro, verificando-se, assim, se a posio da sonda contribui ou prejudica sua
absoro. Leses no trato gastrointestinal podem acontecer pelas caractersticas fsico-
qumicas da formulao triturada e dissolvida. Condies de pH e osmolalidade devem ser
consideradas para cada frmaco. Solues bsicas devem ser administradas com cautela em
sondas enterais e solues cidas no estmago (MOTA et al., 2010).
As drogas podem ser ofertadas na forma lquida, em comprimidos ou cpsulas.
Sua absoro pode ocorrer no estmago ou no intestino. Conforme a literatura, o local certo
para a absoro das drogas o estmago, pois ele promove a desintegrao e a dissoluo dos
medicamentos. Se os medicamentos forem para o duodeno, podem ter pouco benefcio para o
paciente, sendo citados como exemplo os anticidos que neutralizam a acidez do estmago e
as drogas como opioides, antidepressivo e beta bloqueadores, que, se forem absorvidas no
jejuno, podem potencializar sua ao. Os antifngicos tambm devem ser absorvidos no
estmago, pois necessitam da acidez do estmago para seu deslocamento no trato
gastrointestinal (WILLIAMS; LESLIE, 2005).
As solues lquidas so vantajosas, porque apresentam rpida absoro e
diminuem o risco de obstruo da sonda, sendo os elixires e suspenses as de melhor
absoro. A utilizao do sorbitol nas solues lquidas pode causar diarreia, nuseas ou
intolerncia gstrica, por isso recomenda-se diluir o medicamento com 10 a 30 ml de gua.
Com relao aos comprimidos e s cpsulas, importante que eles sejam triturados at se
tornarem p e diludos com 10 a 15 ml de gua, porm ressalta-se que a triturao pode
acarretar alterao na farmacocintica da droga. A droga com revestimento entrico
inapropriada para administrao por sonda, pois ela no deve ser quebrada, e essa
recomendao tambm se aplica s drogas efervescentes e s medicaes citotxicas, porque
seus aerossis so prejudiciais sade (WILLIAMS; LESLIE, 2005; HITCHINGS; BEST;
STEED, 2010).
Mota et al. (2010) fala a respeito da triturao de medicamentos para
administrao por sonda, onde deve-se ter ateno quanto modificao na
biodisponibilidade do medicamento e certo nmero de interaes podero ocorrer a partir da.
-
27
necessrio conhecer e respeitar cada teraputica e seu modo de administrao. De acordo
com os mesmos autores, existem formas farmacuticas slidas orais que no devem ser
trituradas, como aquelas que possuem: revestimento gstrico e/ou entrico, liberao
controlada, administrao sublingual, revestimento com sabor desagradvel ou agressivo,
frmaco sensvel luz ou umidade, potencial carcinognico; e tambm os comprimidos
efervescentes e cpsulas gelatinosas com lquido no interior.
O material utilizado para triturao do frmaco pode interferir em sua
composio. Corroborando com essa afirmao Mota et al. (2010) dizem que o pilo de metal,
madeira ou plstico ainda o material mais utilizado para triturar as formas slidas prescritas,
entretanto, interaes de componentes da formulao farmacutica prescrita com o material
do pilo e interaes medicamentosas, pela falta de lavagem do pilo entre a triturao de
uma formulao e outra, devem ser evitadas.
Estudos afirmam que a interao entre drogas e alimentao pode resultar em
incompatibilidade, diminuio na absoro do frmaco, obstruo da sonda ou potencializar o
risco de contaminao; sendo recomendado no se administrar medicamentos juntamente com
dietas; os medicamentos devem ser dados separadamente, com a lavagem da sonda antes e
aps cada medicao, pois a lavagem permite a permeabilidade da sonda. Os volumes de gua
sugeridos para a lavagem variam de 10 a 30 ml, e 60 a 100 ml para diluio. Caso ocorra a
administrao de mais de um medicamento no mesmo horrio, intercalar com 10 ml de gua
entre cada medicao, e as sondas devem ser lavadas com gua antes e aps cada
medicamento (WILLIAMS; LESLIE, 2005; ROBERTS, 2007; IDIZINGA; JONG; BEMT,
2009).
3.4 Complicaes relacionadas terapia nutricional enteral
Durante a TNE podem ocorrer diversas situaes que interferem na oferta
nutricional planejada, que incluem desde o jejum para procedimentos at a intolerncia, em
que podem aparecer nuseas, vmitos, distenso abdominal, diarreia, elevao do resduo
gstrico ou obstruo da sonda. Outras complicaes citadas na literatura so: a
hiperglicemia, isquemia mesentrica e a constipao (FUJINO; NOGUEIRA, 2007).
A taxa glicmica maior ou igual a 200mgdl considerada complicao
metablica, que pode causar resistncia medicamentosa e desequilbrio cido-base. Para
prevenir a hiperglicemia devem administrar dietas isentas de sacarose e com monitorao
diria dos nveis glicmicos (CASTRO; FREITAS; ZABAN, 2009).
-
28
A isquemia mesentrica pode ocorrer em casos de hipoperfuso sangunea,
especialmente no contexto de sepse, trauma, choque e insuficincia de sistemas em pacientes
crticos. Fujino e Nogueira (2007) ilustram como condies que podem influenciar o
peristaltismo: a mecnica ventilatria, a sedao, o uso de alguns antibiticos e outras drogas.
A constipao atribuda condio clnica do paciente ou ao tratamento
medicamentoso de que ele faz uso. O estudo de Azevedo et al. (2009) confere sua incidncia
limitao ao leito, uso de sedativos e opioides, bloqueadores neuromusculares, drogas
vasopressoras, mediadores inflamatrios, choque, desidratao e distrbios eletrolticos, entre
outros. O incio precoce da nutrio enteral reflete em baixa incidncia de constipao em
pacientes crticos.
Araunjes et al. (2008) tambm aponta que a administrao da dieta enteral
dificultada por fatores diretamente relacionados terapia intensiva: instabilidade
hemodinmica ou interrupo para jejuns a fim de realizar procedimentos e exames. Ocorrem
igualmente problemas mecnicos com a sonda, como a obstruo, posicionamento
inadequado e a demora na repassagem. O estudo de Hermann e Cruz (2008) cita como
procedimentos de enfermagem mais mencionados para preveno das complicaes
relacionadas com a TNE: verificar o gotejamento da dieta (43,7%), verificar a posio da
sonda (37,5%), verificar a estase gstrica (31,2%) e manter a cabeceira elevada (25%).
Diante das evidncias citadas na literatura por Fujino e Nogueira (2007), Araunjes
et al. (2008) e Castro, Freitas e Zaban (2009), considera-se como principais situaes que
ocasionam a interrupo da dieta enteral: obstruo da sonda enteral, quadro diarreico, jejum
para procedimentos ou exames e a elevao do resduo gstrico. Sendo oportuna a reviso
dessas situaes para subsidiar a construo do protocolo de terapia de nutrio enteral.
3.4.1 Quadro diarreico
O quadro diarreico a complicao de maior frequncia em pacientes submetidos
TNE, porm sua incidncia varia de acordo com o conceito utilizado para definio da
consistncia e da frequncia de evacuaes que se caracterizam como diarreia. Kumbier et al.
(2009) considerou em seu estudo que diarreia seria a eliminao de fezes lquidas ou
semilquidas pelo menos trs vezes ao dia ou quantidades maiores ou iguais a 500 ml de fezes
por dois dias consecutivos.
Frequentemente a nutrio enteral responsabilizada pela ocorrncia da diarreia,
no entanto, na maioria das vezes, no a dieta que causa a diarreia; visto que as dietas
-
29
utilizadas so isomolares e compostas por nutrientes de fcil digestibilidade (KUMBIER et
al., 2009). As consequncias do quadro diarreico so infeces; problemas na pele como a
lcera por presso; perda de eletrlitos; e a elevao dos custos hospitalares. A incidncia do
quadro diarreico pode estar associada contaminao da dieta, que pode ocorrer por fatores
endgenos ou por fatores exgenos.
A contaminao exgena diz respeito a no se utilizar ingredientes estreis para a
confeco da dieta, sistemas de infuso com falhas e no utilizao de tcnicas asspticas no
manuseio dos equipamentos (WILLIAMS; LESLIE, 2005). So consideradas causas da
contaminao exgena da dieta: uso de equipamento inapropriado, limpeza ineficaz,
reutilizao de seringas, higienizao precria das mos, manuteno inadequada da sonda.
Os sintomas da contaminao da dieta podem ser: diarreia, pneumonia, infeco
do trato urinrio, septicemia e infeco por enterococos (WILLIAMS; LESLIE, 2005; BEST,
2008). No estudo de Castro, Freitas e Zarban (2009) encontrou-se Escherichia coli e
coliformes fecais na anlise de amostra de dieta enteral. So recomendados na literatura:
substituio da frmula, caso seja comprovado que h contaminao; utilizao de bomba de
infuso com controle rigoroso da velocidade da infuso da dieta, principalmente em sondas
com posicionamento ps-pilrico (KUMBIER et al., 2009).
Outra recomendao pausar a dieta por quatro horas para restaurar o pH, pois a
sua elevao favorece a proliferao das bactrias, porm existem estudos que recomendam a
pausa por oito horas em pacientes de UTI, pois reduz a prevalncia de pneumonia de 54%
para 12% (BEST, 2008). Quanto ao intervalo de tempo entre o preparo e administrao da
dieta no existem estudos que determinem o tempo ideal, mas o tempo acima de quatro horas
contraindicado, devido exposio prolongada temperatura ambiente (WILLIAMS;
LESLIE, 2005).
A contaminao endgena pode ocorrer pelo movimento retrgrado dos
microorganismos presentes na prpria flora intestinal. A colonizao bacteriana pode ocorrer
quando se vai conferir o resduo gstrico ou aspirar o contedo para verificar a posio da
sonda; isso acontece devido colonizao do lmen da sonda, ascendendo bactrias do trato
gastrintestinal para a dieta.
Alguns autores consideram que o fio-guia da sonda pode contribuir para a
colonizao do lmen da sonda com bactrias prprias da flora intestinal do paciente, quando
se faz sua retirada, o que pode contaminar a poro distal da sonda. Assim, a lavagem da
sonda recomendada aps a aspirao do resduo, antes e aps a administrao de
-
30
medicamentos e dieta, bem como as seringas utilizadas devem ser acondicionadas e mantidas
secas aps sua utilizao (ROBERTS, 2007; BEST, 2008; HERMANN; CRUZ, 2008).
Para evitar o risco de infeco enfatiza-se a lavagem rigorosa das mos quando se
manipular a sonda e a dieta. Havendo a recomendao do uso de sistemas de infuso
fechados, luvas descartveis, utilizao de soluo alcolica para limpar as conexes da sonda
com o equipo e com o frasco de dieta, trocar equipo e frasco de dieta a cada 24 horas. Deve-se
tambm observar o rtulo do frasco de alimentao; que deve conter o nome do paciente,
volume da dieta, velocidade de infuso, hora e data em que foi preparada (ANVISA, 2000;
UNAMUNO; MARCHINI, 2002; WILLIAMS; LESLIE, 2005; BEST, 2008). A Portaria
1428/1993 considera que deve ser realizada a higienizao das mos, bem como que no
permitido operacionalizar a dieta com joias nas mos ou braos (BRASIL, 1993).
3.4.2 Resduo gstrico
O resduo gstrico elevado contribui para o risco de aspirao e pode ocorrer em
pacientes com injrias cerebrais, utilizao de tubo endotraqueal (TOT) ou em decbito
dorsal. recomendada a suspenso da dieta quando o resduo gstrico estiver entre 200 e 250
ml. Devendo se realizar a conferncia do volume de resduo a cada hora, aps o primeiro
episdio com a lavagem da sonda, para prevenir obstruo. Pode-se usar uma seringa de 50 a
60 ml para aspirar o resduo a fim de evitar que os orifcios da sonda colabem
(BOURGAULT et al., 2007; CASTRO; FREITAS; ZABAN, 2009).
recomendado o uso de procinticos (metoclopramida) para promover a
motilidade gstrica e ajudar a reduzir o resduo gstrico. O uso da eritromicina no indicado,
pois aumenta a resistncia bacteriana (BOURGAULT et al., 2007; CASTRO; FREITAS;
ZABAN, 2009).
A pneumonia aspirativa considerada a complicao de maior gravidade e
potencialmente fatal, e pode ser consequncia do refluxo ou do posicionamento incorreto da
sonda (HERMANN; CRUZ, 2008).
Para evitar a aspirao, deve-se posicionar a cabeceira elevada e manter o paciente
nessa posio at 30 minutos aps a administrao da dieta. A cabeceira elevada entre 30o
a
45o reduz o risco de aspirao, principalmente em pacientes em uso de ventilao mecnica;
reduzindo, assim, o risco de pneumonia associada a essa modalidade ventilatria. A cabeceira
acima de 45o
pode ocasionar injrias na pele do paciente (UNAMUNO; MARCHINI, 2002;
BOURGAULT et al., 2007).
-
31
As sondas de fino calibre no prejudicam a capacidade de contrao esfincteriana,
diminuindo o risco de refluxo gstrico e um consequente risco de pneumonia aspirativa,
principalmente em pacientes inconscientes ou com reflexos diminudos (UNAMUNO;
MARCHINI, 2002).
3.4.3 Interrupo da dieta para procedimentos e exames
O estudo de Teixeira, Caruso e Soriano (2006) aponta como a segunda principal
causa de interrupo da dieta o jejum para procedimentos (extubao, traqueostomia e
repassagem da sonda), em 21% dos casos. Os principais fatores que impediram a adequada
administrao da NE foram: as interrupes de rotina relacionadas ao paciente (40,6%),
como, por exemplo, pausas para administrao de medicamentos por sonda e pausas para
banho, curativos, mobilizao no leito; embora no tenha sido possvel quantificar essas
pausas, j que no existem registros especficos para anotao em fichas de controle.
Teixeira, Caruso e Soriano (2006) descreveram em seu estudo que o intervalo de
jejum para procedimentos como extubao e exames preconizados por alguns autores varia
em torno de quatro horas, e, nas situaes que requerem o transporte do paciente, este pode
ser realizado com a infuso da dieta enteral desde que a cabeceira seja mantida elevada
(TEIXEIRA; CARUSO; SORIANO, 2006, HERMANN; CRUZ, 2008).
Outra estratgia citada na literatura a fim de minimizar a perda do aporte calrico
resultante da interrupo da dieta realizar de forma sistematizada e articulada o treinamento
dos profissionais atravs do uso de protocolos que abordem essas situaes, pois, ao se adotar
medidas como a criao de protocolos de terapia nutricional, as complicaes que interferem
no fornecimento da dieta podem ser prevenidas e minimizadas (WILLIAMS; LESLIE, 2005;
TEIXEIRA; CARUSO; SORIANO, 2006; ROBERTS, 2007; BEST, 2008; HERMANN;
CRUZ, 2008).
3.4.4 Obstruo da sonda
A obstruo da sonda pode ocorrer em funo de uma variedade de circunstncias,
incluindo a administrao de medicamentos triturados ou na forma lquida, incompatibilidade
de frmulas de nutrio e sucos gstricos, incompatibilidade frmaco-frmaco e frmaco-
alimento (IDIZINGA; JONG; BEMT, 2009).
-
32
Outros fatores relacionados com a obstruo incluem a formulao da alimentao
(alto contedo de protenas, uso de molculas de casena inteiras como fonte de protena, alta
viscosidade, baixo pH), o regime de administrao (intermitente ou contnuo) e o tamanho da
sonda enteral. Sondas que esto localizadas no estmago, no qual o contedo est em pH mais
baixo, mostram mais razes de ocluso do que as que esto localizadas em jejuno ou duodeno
(BROTHERTON; JUDD, 2007).
Dessa forma, a obstruo de sondas enterais pode ser evitada utilizando-se
formulaes apropriadas (formas lquidas de preferncia); comprimidos totalmente triturados;
tcnicas corretas de lavagem aps a alimentao e administrao de frmacos; evitando-se
interaes alimento-medicamento, considerando-se o tamanho da sonda (sondas de pequeno
calibre so mais fceis de obstruir) (IDIZINGA; JONG; BENT, 2009) e consultando-se o
servio de farmcia ou a literatura quando houver qualquer dvida sobre o medicamento e
sobre possveis formas farmacuticas alternativas.
A primeira interveno em casos de ocluso da sonda a irrigao da mesma. O
mtodo mais usado para a desobstruo a lavagem com gua. Mas tambm podem ser
utilizados outros lquidos como Coca-ColaR, Pepsi
R ou Sprite
R; pois o cido contido na
frmula desses produtos pode favorecer a quebra do cogulo de protena presente na dieta,
porm deve-se ter um cuidado, pois lquidos muito cidos podem contribuir ainda mais para a
ocluso das sondas devido desnaturao das protenas das frmulas enterais. Encontram-se
na literatura tambm a utilizao de gua morna e a pancrealipase (ViokaseR) associada ao
bicarbonato de sdio. O fio-guia no dever ser introduzido na sonda na tentativa de
desobstru-la, porque poder perfur-la e lesar a mucosa digestiva (UNAMUNO;
MARCHINI, 2002; WILLIAMS; LESLIE, 2005; BOURGAULT et al., 2007). Caso seja
usada a protena enzimtica (pancrealipase), deve-se dissolver em 5 ml de gua e manter a
sonda fechada por cinco minutos, e posteriormente lavar a sonda at que ocorra a
desobstruo (BOURGAULT et al., 2007).
Encontra-se na literatura a recomendao de massagear a sonda entre o polegar e
o indicador, pois pode ajudar a quebra de fragmentos de dieta ou medicaes. Medicamentos
como o lansoprazol aumentam a possibilidade de obstruo devido ao tamanho de suas
partculas (WILLIAMS; LESLIE, 2005).
So recomendaes da literatura para evitar a obstruo da sonda: lavagem da
sonda com gua a cada 4 horas, em caso de dieta em infuso contnua; lavagem da sonda a
cada dieta; antes e depois da administrao de drogas; e aps a verificao de resduo gstrico
(WILLIAMS; LESLIE, 2005; BOURGAULT et al., 2007). Deve-se evitar a lavagem da
-
33
sonda em flush com volume acima de 30 ml, pois pode ocorrer o rompimento dos orifcios
da sonda; principalmente naquelas com menor lmen. A obstruo tambm pode ocorrer
devido lavagem inadequada com gua ou pela ausncia desse procedimento (WILLIAMS;
LESLIE, 2005).
Quando a sonda nasogstrica ou nasoduodenal obstruda no pode ser irrigada
com xito, ela deve ser substituda, o que acarreta aumento no custo assistencial, desconforto
para o paciente e risco de trauma da mucosa, alm de exposio adicional radiao para
controle de seu posicionamento.
As bombas de infuso com alarme so de grande valor, porque permitem o
controle do fluxo da dieta, mas acusam problemas como: obstruo, presena de ar no
sistema, trmino da dieta ou bateria descarregada (UNAMUNO; MARCHINI, 2002).
3.5 Papel da enfermagem na terapia de nutrio enteral
A terapia de nutrio enteral (TNE) uma atividade amplamente executada pela
enfermagem e est fundamentada pela Resoluo n 277/2003, do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN), que determina a competncia do enfermeiro na TNE relacionada com
as funes administrativas, assistenciais, educativas e de pesquisa, assumindo junto equipe
de enfermagem, privativamente, o acesso ao trato gastrointestinal: sonda com fio-guia
introdutor e transpilrica (COFEN, 2003). Como tambm est respaldada pela Resoluo da
Agncia de Vigilncia Sanitria (ANVISA) n 63/2000, onde de competncia do enfermeiro
prescrever os cuidados de enfermagem na TNE, em nvel hospitalar, ambulatorial e
domiciliar. Esses cuidados englobam a manuteno da via de administrao e a conservao
da dieta at a completa administrao (ANVISA, 2000).
Observa-se que o papel da enfermagem nesse contexto, embora legitimado pelos
rgos governamentais, como o COFEN e a ANVISA, ainda no evidenciado atravs de
estudos ou publicaes de enfermeiros abordando a temtica, principalmente a nvel nacional.
Percebe-se que os cuidados de enfermagem exigidos na prtica assistencial ficam limitados s
instituies de sade, e no so divulgados para a comunidade cientfica, mesmo com o
surgimento de especializaes na rea como a de Enfermagem em Terapia Nutricional.
Hermann e Cruz (2008) realizaram um estudo a respeito das atividades
desempenhadas pela enfermagem na terapia de nutrio enteral em pacientes hospitalizados
que evidenciaram a existncia de lacunas importantes na comunicao com o paciente e em
aes elementares para a preveno de complicaes associadas a essa teraputica, bem como
-
34
um descompasso entre o conhecimento referido e a prtica. Os autores tambm assumem a
importncia de que na prtica, em curto prazo, sejam elaborados e observados protocolos
especficos, alm do reconhecimento de sua importncia para o sucesso teraputico e
preveno de agravos.
A insero do enfermeiro nas atividades relacionadas terapia de nutrio reflete
diretamente no estado nutricional dos pacientes, atravs do rastreamento dos pacientes que
apresentem risco nutricional ou se encontrem em estado de desnutrio, pelo
acompanhamento dirio e registro das atividades implementadas, pois essas aes servem de
parmetro quanto eficcia dos cuidados prestados e tambm fornecem subsdios para
pesquisa.
Corroborando com essa afirmao, Santos e Abreu (2005) dizem que a
desnutrio hospitalar vem sendo indicada como a maior responsvel pelos altos ndices de
morbimortalidade em pacientes internados, alm de ser a causa de vrias complicaes
clnicas e elevar os custos das instituies de sade. A equipe multidisciplinar que presta a
assistncia est envolvida diretamente nesse processo, sendo de grande importncia que o
enfermeiro saiba identificar um paciente desnutrido e tambm as complicaes que a
desnutrio hospitalar pode causar.
Assim, o interesse pelo desenvolvimento de estudos que evidenciem a atuao da
enfermagem na terapia de nutrio enteral necessrio, pois os conhecimentos tcnicos
influenciam na teraputica para o cliente. Com isso, o profissional enfermeiro sente-se
impulsionado a ampliar seus conhecimentos para romper paradigmas existentes na lacuna
entre a prtica e a pesquisa, contribuindo para o xito profissional.
-
35
4 PROCEDIMENTOS TERICOS METODOLGICOS
Para alcanar os objetivos propostos no estudo, foi utilizado o modelo proposto
por Stetler (1998) e, a partir deste, construdo o protocolo de terapia de nutrio enteral e sua
posterior validao. Esse referencial permite sintetizar o conhecimento a respeito de uma
determinada temtica, possibilitando o desenvolvimento de polticas, protocolos ou
procedimentos.
A escolha do referencial de Stetler para este estudo justifica-se, pois ele responde
da melhor forma o questionamento quanto assistncia de enfermagem ao paciente em uso de
terapia de nutrio enteral, e possibilitando a criao de um protocolo a partir dos achados da
pesquisa.
4.1 Referencial metodolgico
Na enfermagem norte-americana, a utilizao de resultados de pesquisa tornou-se
uma realidade nos anos de 1970, com a formulao de vrios modelos metodolgicos para
sistematizao de resultados de pesquisa na prtica assistencial (CALIRI, 2002). Dentre esses
modelos destaca-se o de Stetler (1998), que um modelo alternativo de prtica baseada em
evidncias (PBE) e prope diferentes fontes de evidncias na prtica, e os achados das
pesquisas tornam-se provas para se tomar uma deciso.
Segundo Caliri (2002), o modelo de Stetler (1998) focaliza a transformao da
prtica, onde o enfermeiro busca e implementa o conhecimento cientfico na assistncia,
atravs de seu empenho pessoal ou da sua participao em pesquisas.
Esse modelo preconiza a realizao de seis fases, quais sejam: estabelecimento
dos propsitos de reviso de literatura (reviso integrativa); anlise crtica dos estudos;
avaliao comparativa; deciso e implementao dos resultados na assistncia; formulao de
protocolos com a finalidade de instrumentalizar o enfermeiro para as atividades de assistncia,
gerncia e educao; e, por fim, validao do instrumento construdo (STLETER, 1998).
Na primeira fase, os propsitos so definidos e especificados como uma questo
de pesquisa, e, para o levantamento dos dados que norteia a reviso integrativa da literatura,
palavras-chave relacionadas ao tema so utilizadas, a fim de identificar os estudos relevantes
(BEZERRA, 2007).
-
36
A segunda fase proposta no modelo de Stetler (1998) refere-se anlise crtica
dos estudos, com o objetivo de aceitar ou refutar os resultados apresentados (CALIRI, 2002).
Uma estratgia recomendada por Stetler (1998), para nortear a anlise crtica, a classificao
dos estudos segundo a qualidade das evidncias geradas, ou seja, a fora da evidncia. Para o
estabelecimento da fora da evidncia adotam-se seis nveis decrescentes, considerando-se o
tipo de metodologia empregada e o rigor na conduo da investigao, conforme o Quadro 1.
Quadro 1 Classificao dos estudos conforme a proposta de Stetler (1998)
Nvel I Estudos de metanlise de mltiplos estudos controlados.
Nvel II Estudo experimental individual.
Nvel III Estudo quaseexperimental, controlado e no aleatorizado, com grupos
pr e ps-teste.
Nvel IV Estudo no experimental, como pesquisa correlacional descritiva e
qualitativa, ou estudo de caso.
Nvel V Relato de caso ou dados obtidos sistematicamente, de qualidade
verificvel ou dados de programas de avaliao.
Nvel VI Consensos, regulamentos e legislaes.
Fonte: Autoria prpria
Nessa classificao, a evidncia mais forte deriva-se de uma reviso sistemtica
ou metanlise de ensaio clnico randomizado (ECR) bem delineado. O ECR considerado o
melhor desenho de pesquisa para avaliar a eficcia de intervenes de sade (STETLER,
1998).
A terceira fase proposta pelo modelo em questo refere-se avaliao
comparativa dos resultados com a prtica clnica (CALIRI, 2002). Essa fase muito
importante, pois todas as caractersticas dos estudos podem influenciar nos achados, sendo
necessria a anlise rigorosa para que o objetivo da reviso seja alcanado.
Na quarta fase, ocorre o processo de deciso sobre a possibilidade de utilizar o
conhecimento. Assim, tal deciso diz respeito a usar, considerar seu uso, esperar para
usar ou rejeitar ou no usar (STETLER, 1998; CALIRI, 2002). Nesse contexto, usar
refere-se a colocar o conhecimento em uso, sem que haja a necessidade de se fazer novos
estudos (STETLER, 1998; CALIRI, 2002).
Quanto ao considerar seu uso, equivale ao emprego do conhecimento aps a
realizao das observaes pessoais que consideram a eficcia da medida (STETLER, 1998;
-
37
CALIRI, 2002). Para esses autores, o termo esperar para usar importante, desde que
outras pesquisas sejam feitas para tentar solucionar os conflitos existentes e para demonstrar
que no h risco na sua utilizao.
Ao se empregar o termo rejeitar ou no usar, deve-se considerar o risco da
insero dos resultados na prtica, devido aos custos, falta de resultados consistentes ou
suficientemente fortes, ou ainda adequao prtica atual (STETLER, 1998; CALIRI,
2002).
A quinta fase diz respeito formulao de generalizaes lgicas que
racionalmente formam ou reformulam os resultados em termos de informaes relevantes e de
aes a serem aplicadas (CALIRI, 2002). Nessa fase, h a formulao de protocolos, ou seja,
um guia contendo os passos de um procedimento descrito de forma detalhada, que direciona a
seleo de intervenes ou fornece argumentos persuasivos sobre um posicionamento ou um
problema (STETLER, 1998).
Na sexta fase ocorre a validao do protocolo formulado na fase anterior, ou seja,
se ele atende ao que se prope: atravs da utilizao de condutas de enfermagem embasadas
nos melhores nveis de evidncias e que estejam prontas para uso ou pode ser considerado seu
uso (CALIRI, 2002).
Stetler (1998) recomenda a utilizao mecanismos para que ocorra a validao,
assim, no presente estudo, utilizou-se a avaliao com especialistas na temtica.
Para favorecer a compreenso do referencial a ser utilizado, confeccionou-se uma
figura explicativa, onde se adaptaram os propsitos do estudo com relao proposta de
Stetler. (Figura 1)
-
38
Figura 1 Etapas para a construo do protocolo
1- Elaborao da questo de pesquisa 2- Anlise crtica dos estudos 3- Avaliao comparativa
Aceita
Rejeita Rejeita
4- Processo de deciso 5- Formulao do protocolo 6- Validao
Fonte: Adaptao de Steller (1998)
4.2 Materiais e mtodos
4.2.1 Tipo de estudo
Trata-se de uma pesquisa metodolgica. Esse tipo de estudo tem como propsito
as investigaes de mtodos de obteno, organizao e anlise dos dados, elaborao,
validao e avaliao dos instrumentos e tcnicas de pesquisa. Ressalta-se, ainda que a meta
desse tipo de estudo a elaborao de um instrumento confivel que possa ser utilizado
posteriormente por outros pesquisadores (LOBIONDO-WOOD; HARBER, 2001).
No presente estudo realizaram-se as seis fases do referencial de Stetler (1998)
descritas anteriormente e, para facilitar a compreenso, optou-se em dividi-lo em trs etapas:
Questo Norteadora:
Qual a atuao do
enfermeiro frente a um
paciente com indicao
de terapia de nutrio
enteral (TNE)?
Critrios de incluso
ou excluso dos
estudos. Nveis de
evidncia.
Recusa o estudo que no
contempla os objetivos
da pesquisa
Validao do protocolo
atravs avaliao com os
especialistas.
Os estudos respondem
questo norteadora e mostram
evidncias importantes
exequveis na prtica.
Construo do protocolo de
TNE, atravs da seleo das
condutas com as evidncias,
que podem ser pronto para uso
ou se pode ser considerado seu
uso. Detalhando os seus
componentes e as condutas a
serem realizadas
Apresentao dos estudos
selecionados e correlao se
as condutas encontradas
podem ser elencadas em:
Pronta para uso ou
Considerar seu uso
-
39
1) Reviso integrativa (englobando as fases do referencial 1 a 4); 2) Construo do protocolo,
corespondendo s fases 5; e 3) Validao, que se refere fase 6.
4.2.2 Reviso integrativa
- Item 1: Questo norteadora
Vale ressaltar que reviso integrativa definida como uma reviso de pesquisas j
realizadas e que so resumidas por meio de uma extrao geral das concluses de muitos
estudos, cujo objetivo apresentar o estgio atual do conhecimento sobre aquele tpico
especfico ou lanar luzes sobre assuntos ainda no selecionados (URSI; GALVO, 2006;
BEZERRA, 2007).
Assim, a questo norteadora do estudo : Qual a atuao do enfermeiro frente a
um paciente com indicao de terapia de nutrio enteral (TNE)?
- Item 2: Anlise crtica dos estudos
A partir dessa questo, ocorreu a busca por estudos na plataforma da Biblioteca
Virtual em Sade (BVS), que uma rede de gesto da informao, intercmbio de
conhecimento e evidncia cientfica em sade, e que se estabelece por meio da cooperao
entre instituies e profissionais na produo, intermediao e uso das fontes de informao
cientfica em sade, em acesso aberto e universal na Web. As bases: Scientific Eletronic
Library on line (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Cincias da Sade
(LILACS) e a Legislao Bsica de Sade da America Latina e Caribe (LEYES) foram
acessadas pela BVS.
Outras bases de dados selecionadas foram a Pubmed, servio da U.S National
Library of Medicine, que contm a base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (MEDLINE), acessada diretamente pelo portal da Pubmed; e a Cumulative
Index to Nursing and Alied Health Literature (CINAHL), que foi acessada pelo portal
EBSCOhost. Os estudos que no estiveram disponveis nas bases de dados foram acessados
atravs do Portal Capes e pelo acervo da Biblioteca do Campus da Sade da Universidade
Federal do Cear. No portal Capes tambm foram acessadas teses e dissertaes que
respondiam a questo norteadora do estudo, atravs da Biblioteca Digital de Teses e
Dissertaes (BDTD).
-
40
As estratgias de busca foram adaptadas para cada base, considerando as
peculiaridades de cada uma, mantendo sempre a questo da pesquisa da reviso integrativa e
os critrios de incluso e excluso.
Os critrios de incluso para a presente reviso integrativa foram: estudos na
ntegra que abordem as intervenes de enfermagem relacionadas TNE em pacientes adultos
em uso de sonda naso ou oroenteral e indexados nas bases de dados supracitadas, no perodo
de 2007 a 2011; publicados nos idiomas portugus, ingls ou espanhol. Estudos que
utilizaram as seguintes metodologias de pesquisa: revises sistemticas, revises integrativas,
pesquisa experimental, pesquisa quase experimental e estudos descritivos comparativos,
segundo os nveis de classificao de evidncias estabelecidos por Stetler (1998).
Para se estabelecer adequadamente os critrios de incluso e excluso, realizou-se
a leitura do ttulo e resumo dos estudos. Quando surgiram dvidas sobre a pertinncia do
estudo, acessou-se o texto completo e realizou-se uma leitura flutuante para o emprego dos
critrios de incluso e excluso.
Para excluso dos estudos, os critrios foram: aqueles que se repetiram em duas
ou mais bases de dados, estudos com enfoque em intervenes cirrgicas, que abordavam a
confeco de ostomia para administrao da dieta e aqueles que no seu desenho metodolgico
no obedeciam aos critrios de evidncia de Stetler (1998).
Os critrios para seleo dos estudos so importantes, pois sua representatividade
o indicador crtico de generalizao das concluses, confiabilidade e fidedignidade dos
resultados (BEZERRA, 2007). Critrios bem definidos minimizam possveis vieses, facilitam
a busca bibliogrfica e tornam possvel a reproduo do estudo em outros momentos; para
isso, importante o detalhamento desta etapa, com critrios de amostragem claramente
definidos, para no interferir na validade do estudo. O ideal seria a incluso de todos os
estudos, no entanto, esse procedimento nem sempre possvel, e a melhor opo, nessas
situaes, definir critrios claros de incluso e excluso (OTRENTI, 2011).
Para a busca dos estudos, nas bases de dados selecionadas, utilizamos os
descritores controlados em Cincias da Sade (DeCS) e suas combinaes na lngua
portuguesa e inglesa: ("Enteral Nutrition" or "Nutricin Enteral" or "Nutrio Enteral" or
"Alimentao por Tubo" or "Alimentao Enteral" or "Alimentao Forada") and ("Nutrition
Therapy" or "Terapia Nutricional" or "Terapia Nutricional Mdica"). Os descritores foram
associados com operador boleano or. importante ressaltar que no foi utilizado o descritor
Enfermagem or Nursing or Enfermera, pois ao se coloc-lo na busca a amostra ficava
reduzida, invalidando o critrio de representatividade da amostra.
-
41
O descritor controlado parte de um vocabulrio estruturado e organizado para
facilitar o acesso informao. Esses vocabulrios so usados como uma espcie de filtro
entre a linguagem utilizada pelo autor e a terminologia da rea (POLIT; BECK, 2011).
- Item 3: Avaliao comparativa
Aps a seleo dos estudos foi realizada a avaliao comparativa, que
corresponde terceira fase do referencial, observando se os estudos respondem