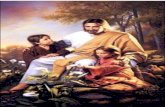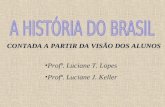UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ LUCIANE PEREIRA...
Transcript of UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ LUCIANE PEREIRA...
1
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
LUCIANE PEREIRA ROCHA
O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DA ESCOLA NO CAMPO
CURITIBA
2014
2
LUCIANE PEREIRA ROCHA
O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DA ESCOLA NO CAMPO
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para obtenção do grau de Pedagoga. Orientadora: Profª Drª Maria Antônia de Souza
CURITIBA
2014
4
AGRADECIMENTOS
À DEUS, que nos momentos difíceis de minha caminhada, me deu forças
para continuar.
Á Professora Dra. Maria Antonia de Souza, pelo seu exemplo enquanto
profissional que acredita na educação, pela sua perseverança e por ter me inserido
no Observatório, pois com os conhecimentos adquiridos neste Projeto, tenho uma
nova visão a respeito da pesquisa e da educação do campo
À minha Coordenadora Professora Maria Iolanda Fontana, que sempre tão
“aveludada”, mostrou garra e compromisso com a educação, sempre tão solícita,
mesmo estando tão atarefada.
À meus pais, que com toda sua humildade, que desde o início me apoiaram e
acreditaram em mim, fazendo possível minha caminhada até aqui.
À toda minha família, pelo apoio, pelo carinho e por entender minha ausência
em momentos tão especiais.
Ao marido Luis Fernando, por compreender a importância desta etapa de
minha vida, e estar sempre ao meu lado.
A minha amiga, companheira, parceira, minha irmã de coração Camila que,
juntas passamos os momentos mais difíceis e mais alegres de nossas vidas, pelos
sorrisos, choros, decepções, conquistas... e sei que sem ela essa caminhada tinha
tomado outro rumo.
À minha querida Professora Rosilda, pelo carinho e pelo incentivo.
A minhas amigas e companheiras Raissa e Iane, que sempre estiveram
presentes nos momentos difíceis e felizes de minha vida.
À equipe do Observatório da Educação, que desmistificou muitas verdades
prontas e abriu caminhos para novos olhares.
A Rita, Rosana e Regina, que com sua dedicação, carinho, e alegria me
fizeram entender que com humildade as conquistas tornam-se permanentes.
Aos meus sogros, que sempre me apoiaram.
E àqueles que de alguma forma contribuíram para a minha formação.
5
DEDICATÓRIA
À todos os profissionais da Escola Municipal Professora Mercedes Marques
dos Santos que fizeram possível meu trabalho.
À todos os meus professores da Educação Básica, que, privados de
conhecimentos acabaram por desvalorizar nossa cultura, que hoje enxergo com
outros olhos.
À minha amiga Camila Ineis da Silva, que mesmo eu estando distante há
tanto tempo, lutando por um sonho, não desistiu de mim.
À todos os profissionais, alunos e moradores do campo, que um dia, torne
concreto todos os anseios da Educação do Campo, e que possam viver com
respeito e dignidade.
6
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo identificar as atribuições do Coordenador Pedagógico, apontando as dificuldades e sua importância para a busca da identidade da escola localizada no campo. Escola que, no decorrer do processo histórico, sofreu e vem sofrendo, com falta de infraestrutura, políticas públicas e formação de professores com especificidade no campo. A pesquisa foi realizada em uma escola localizada no município de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas obras de autores tais como: Arroyo (2004-2011), Caldart (2002-2004), e Souza (2011), entre outros. Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram: estudo bibliográfico, entrevista e observações do ambiente escolar e do trabalho pedagógico. Os resultados apontam que a escola necessita de um Coordenador Pedagógico para nortear o trabalho dos professores, favorecendo a formação continuada e fazendo a mediação entre os saberes e as práticas desenvolvidas no contexto escolar, buscando soluções juntamente com os demais envolvidos com a prática educativa. Na escola pesquisada há o reconhecimento da contribuição do Programa do OBEDUC, para a formatação e o trabalho do pedagogo e professores para a construção do Projeto Político Pedagógico em consonância com a identidade da escola do campo e princípios da Educação do Campo. Palavras-chave: Coordenador Pedagógico, Identidade, Educação do Campo,
Projeto Político Pedagógico.
7
LISTA DE GRÁFICOS
GRÁFICO1 - PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NAS ORGAGANIZAÇÕES SOCIAIS-
_________________________________________________________________ 28
GRÁFICO 2-PARTICIPAÇÃO DAS PROFESSORAS NAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS _________________________________________________________ 28
GRÁFICO 3-USO DO LIVRO DIDÁTICO NA PRÁTICA COTIDIANA __________ 35
GRAFICO 4- O QUE AS FAMÍLIAS CONSIDERAM IMPORTANTE AS CRIANÇAS
QUE MORAM NO CAMPO APRENDEREM NA ESCOLA ___________________ 39
GRAFICO5 - PAPEL DA ESCOLA _____________________________________ 42
8
LISTA DE ABREVIATURAS
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CFE Conselho Federal de Educação
FONEC Fórum Nacional de Educação do Campo
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
IPARDES Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação
MEC Ministério da Educação
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
NUPECAMP Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, Movimentos Sociais e
Práticas Pedagógicas
OBEDUC Observatório de Educação do Campo
PCN Parâmetros Curriculares Nacionais
PRONERA Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
PPP Projeto Político Pedagógico
SECAD Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
SEDUC Secretaria de Educação
UTP Universidade Tuiuti do Paraná
9
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 10
2. PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES À EDUCAÇÃO DO CAMPO ............................ 13
2.1 Educação do Campo x Educação Rural .......................................................... 13
2.2 Marcos legais da Educação do Campo e Educação Rural ............................... 15
2.3 Em busca de uma Escola do Campo de qualidade .......................................... 19
3. O COORDENADOR PEDAGÓGICO E SUAS ATRIBUIÇÕES ........................ 22
3.1 Breve histórico da trajetória do Coordenador Pedagógico. .................................22
3.2 Gestão democrática na Escola do Campo ......................................................... 25
4. CARACTERIZANDO O MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO .............................. 31
4.1. Conhecendo a Escola Professora Mercedes Marques dos Santos
............................................................................................................................ 32
4.2. Formação e práticas pedagógicas .................................................................... 33
5. O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A IDENTIDADE DA ESCOLA DO
CAMPO .............................................................................................................. 36
5.1 Fragilidades e superação na construção do Projeto Político Pedagógico ...........36
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 44
7. REFERÊNCIAS ................................................................................................... 46
10
1 INTRODUÇÃO
A educação escolar, na perspectiva da Educação do Campo, tem um papel
primordial para a conquista de direitos e oportunidades, tornando- se um caminho
para o acesso ao conhecimento historicamente produzido e participação ativa nos
processos decisórios, nos âmbitos cultural e político.
Deste modo, a organização do trabalho escolar, é de extrema relevância para
a aquisição dos componentes educativos essenciais, que desenvolveram
habilidades e competências necessárias para que os educadores e educandos
atinjam seus objetivos. Sendo assim, estas questões são fundamentais para todos
os espaços educativos, sejam eles em áreas urbanas ou rurais.
No entanto, a população campesina, no decorrer do processo histórico sofreu
e ainda sofre com diversos tipos de preconceitos e desigualdades sociais. Sob este
olhar, o presente estudo originou-se pelo contato com a disciplina de Educação do
Campo ofertada na Universidade Tuiuti do Paraná, e lecionada pela Prof.ª Maria
Antônia, pesquisadora da temática do campo, também se dá pela inserção no
Projeto Observatório da Educação do Campo 1, que integra os três estados do Sul
do Brasil: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e realiza pesquisas nas
escolas localizadas no campo, com menor Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica. Participam da pesquisa doutorandos, mestrandos, graduandos e professores
da rede pública. E também pela experiência da pesquisadora enquanto moradora e
estudante de uma escola rural localizada em Morretes, município do Estado do
Paraná.
Antes de cursar a referida disciplina e a inserção na iniciação científica, eram
por mim desconhecidas as lutas dos movimentos sociais, pesquisas e estudos
realizados relativos à temática da Educação do Campo. Percebe-se então, que
estes estudos careciam de um olhar mais atencioso. Sendo assim, decidiu-se
realizar a pesquisa, focada no Coordenador Pedagógico da escola do campo. Pois
entende-se as atividades desenvolvidas por este profissional é (são)fundamental(is)
1 Esta pesquisa faz parte do programa do Observatório da Educação/CAPES/INEP – modalidade em rede, que
foi aprovado pelo Edital nº 038/2010, intitulado “Realidade das escolas do campo na região Sul do Brasil: Diagnóstico e intervenção pedagógica com ênfase na alfabetização, letramento e formação de professores”. O projeto está sendo desenvolvido desde fevereiro de 2011, em parceria pelas seguintes instituições: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (proponente), Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul (UFPel) e Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Os critérios de escolha das escolas foram os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
11
para que se faça compreender o campo, como lugar de vida pessoas de cultura,
costumes próprios e portadores de direitos.
Compreende-se que um dos caminhos para a consolidação desse olhar
venha por meio da formação continuada e da construção coletiva do Projeto Político
Pedagógico (PPP), voltado a atender as necessidades mais imediatas dos
envolvidos.
O estudo tem como objetivo geral identificar as atribuições do Coordenador
Pedagógico, apontando as dificuldades e sua importância para a construção da
identidade da escola campo, a partir da concepção de Educação do Campo, e os
objetivos específicos são: identificar as atribuições do Coordenador Pedagógico da
escola localizada no campo, caracterizar as dificuldades de conhecimento e de ação
no contexto em que está inserido e verificar como é possível a efetivação da
concepção de educação do campo mediada pelo coordenador pedagógico.
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, realizada
em uma escola municipal localizada no campo, situada no município de Campo
Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, sendo participantes da pesquisa a
Coordenadora Pedagógica geral, que atende todas as escolas do município, a
Pedagoga, a Diretora e os Professores e, consequentemente, os alunos, que é onde
se tem o reflexo dos resultados.
Para a elaboração deste trabalho, foram realizados num primeiro momento
estudos de autores que trabalham a perspectiva da Educação do Campo e do
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.
Num segundo momento, foi realizado trabalho de campo na escola
pesquisada, observando o trabalho das professoras, pedagoga, diretora e
coordenadora pedagógica e um pouco da história de cada uma, por meio de
questionários já aplicados anteriormente pela equipe NUPECAMP- Núcleo de
Pesquisa em Educação do Campo, Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas.
E no terceiro momento, realizou-se entrevista aberta com as coordenadoras
pedagógicas, entendendo como se dá seu trabalho e intervenção no contexto
escolar para a consolidação da Escola do Campo.
Em seguida, uma reflexão acerca da teoria e da prática, baseadas na
construção do conhecimento a partir das relações entre os sujeitos envolvidos com a
prática educativa, tendo como princípio que o saber não é estático, para o alcance
do objetivo principal que é identificar as atribuições do Coordenador Pedagógico,
12
apontando as dificuldades e sua importância para a construção da identidade da
escola campo, a partir da concepção de Educação do Campo e a busca de soluções
juntamente com os envolvidos no contexto escolar, para que a escola contribua de
maneira positiva para a valorização do campo, com pessoas que compreendam e
pratiquem seus direitos, conquistando uma sociedade mais justa, e lutem para se
tornarem sujeitos de sua própria história.
O trabalho está organizado em três capítulos, a saber, o primeiro, traz o
histórico da concepção de educação rural e educação no campo, para melhor
compreender a realidade da escola localizada no campo. O segundo capítulo traz
uma discussão do histórico e atribuições do coordenador pedagógico enquanto
articulador e mediador do processo educativo. O terceiro capítulo traz a discussão
acerca do papel do coordenador pedagógico para que se efetive a escola localizada
no campo como lugar de saberes, aprendizados e formação de consciência crítica
dos envolvidos com o processo educativo.
13
2 . PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES À EDUCAÇÃO DO CAMPO
Este capítulo tem o objetivo de fazer uma discussão sobre a concepção de
educação rural e educação do campo, trazendo um breve histórico da trajetória
educacional até o momento.
A imagem da escola rural sempre esteve associada a precariedade tanto de
estrutura quanto de educação, conforme afirmação de Arroyo (2004):
A imagem que sempre temos na academia, na política, nos governos é que para a escolinha do campo qualquer coisa serve. Em nossa história domina a imagem de que a escola no campo tem que ser apenas uma escolinha rural das primeiras letras. A escolinha cai não cai, onde uma professora que quase não sabe ler ensina alguém a não saber quase ler. (ARROYO, 2004, p.71).
De acordo com Silva et al.(1993, p.03) a expressão educação rural foi
empregada na época do Governo Getúlio Vargas, para delimitar o espaço urbano e
definirem políticas públicas de ação para estes espaços geográficos já
compreendidos na época, como diferentes, mas, no entanto, as práticas educativas
implementadas para ambas as situações, se constituíam em um único paradigma, o
urbano.
E ainda complementa
O rural representava o espaço das políticas compensatórias e paliativas, um lugar onde projetos econômicos e políticos da cultura capitalista se instauravam demarcando o território do agronegócio, das empresas exploradoras de madeira, mineiro e outros. Nessas circunstancias, a relação homem-natureza se caracteriza como exploratória, depredatória, concentradora de bens, o lugar do latifúndio, da escravidão, exclusão social e da expropriação de uns em detrimento de outros. ( SILVA, et al., 1993, p.03).
Sendo assim, o papel da Escola do Campo de acordo com Molina e Sá (2011,
p.329) é de fazer o enfrentamento da hegemonia epistemológica do conhecimento
inoculado pela ciência capitalista, contribuindo para a nova geração de intelectuais
orgânicos capazes de conduzir o protagonismo dos trabalhadores do campo em
direção a consolidação de um processo social contra-hegemônico.
2.1 Educação do Campo x Educação Rural
14
De acordo com Souza (2011, p.88), são perceptíveis as diferenças entre as
práticas político-educacionais construídas em períodos históricos diferentes e
atendendo a ideologias opostas.
A Educação do Campo vem sendo construída nos últimos anos pelos
trabalhadores, tendo como marco referencial a década de 1990 e os encontros e
conferências realizadas pelos povos do campo a partir de 1997. A Educação Rural
se dá na primeira metade do século XX mediante o debate sobre o atraso do Brasil e
a relação do subdesenvolvimento com o analfabetismo e a Educação do Campo.
Souza (2011) nos mostra que as características da escola rural e do campo,
estão definidas em três aspectos, a saber:
QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA RURAL E DO CAMPO Características da escola rural Características da escola do campo
1.Distanciamento entre conteúdos escolares e prática social;
1.Identidade construída no contexto das lutas empreendidas pela sociedade civil organizada, especialmente a dos movimentos sociais do campo;
2.Centralidade em materiais didáticos que valorizam o espaço urbano e ignoram o rural;
2.Organização do trabalho pedagógico, que valoriza trabalho, identidade e cultura dos povos do campo;
3.Organização do trabalho pedagógico marcado pelo cumprimento de tarefas e proposições oficiais.
3.Gestão democrática da escola, com intensa participação da comunidade.
SOUZA (2011, p. 32-33). Quadro organizado pela autora ROCHA (2014).
As características da educação rural vêm identificadas por meio do ruralismo
pedagógico, como nos diz Souza (2011, p.16-17), se caracteriza como um
movimento de pensadores da educação voltados a defender uma escola articulada à
situação local e com o intuito de fixar o homem no campo.
Nesta perspectiva, a educação rural é entendida, segundo Freire (1987),
como uma forma de “alienação”, onde o sujeito apenas tem acesso ao saber
reduzido, saber este que o não o faz pensar, apenas aceita sem discutir, em
contraposição, a educação do campo, vem com o intuito de emancipação humana,
onde o sujeito é formado para ter condições de lutas coletivas, para a busca de seus
direitos, formação de organizações sociais que visem formar novas políticas
públicas, tendo condições de pensar e criar meios para a desmistificação de
verdades prontas que lhes são impostas.
15
Historicamente a educação no meio rural, não teve visão política que
contribuísse para a evolução do homem no campo, que segundo Silva Júnior e
Borges Netto (2011, p.48), [...] privou a população do campo, em especial, a classe
trabalhadora, de ter acesso às políticas e serviços públicos em geral, contribuindo
para o acelerado êxodo rural registrado a partir da década de 1950, resultado da
decorrente modernização do campo, privilegiando os grandes latifundiários, não
incluindo a agricultura familiar e atraindo os trabalhadores para as cidades em busca
de melhores condições de vida e emprego trabalho.
A Educação do Campo surge a partir da necessidade dos povos do campo
por políticas públicas que contemplassem sua realidade. Os principais fatores que
levaram a emergência da Educação do Campo foram: [...] as reivindicações
manifestadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), os quais,
por meio de uma intensa luta, buscaram a atenção do governo para criação de
políticas públicas que atendessem as peculiaridades do sujeito do campo. (VAZ e
SOUZA, 2008, p.869).
2.2 Marcos legais da Educação do Campo e Educação Rural
Conforme relata Souza (2011, p.23), “os primeiros anos de 1960 foram
marcados por intenso interesse em realizar reformas de base no país, como
educação e reforma agrária”. Ainda complementa que a sociedade brasileira
ingressou num modelo político autoritário e as reformas de base não foram
efetivadas.
Foi um momento de intensa repressão à população e aos movimentos sociais
interessados na construção de um país democrático e justo, imbuídos em superar os
processos de concentração de renda e da terra.
Na década de 1970, houve reações da população ao autoritarismo segundo
Silva Júnior e Borges Netto (2011, p.48), “iniciativas diferentes, situadas no campo
da educação popular, política, educação de jovens e adultos passaram a exigir
maior participação do Estado no cenário rural brasileiro”.
A partir das lutas dos movimentos sociais por uma nação mais democrática, é
aprovada em 1970 a Lei nº. 5.692/71, que tinha como interesse a reforma do ensino
de 1º e 2º graus, e segundo Souza (2011, p.23), “havia uma preocupação em formar
mão de obra para o mercado em expansão”. Souza afirma ainda, que praticamente
16
nada era dito sobre o trabalho rural, sobre a organização das comunidades. Os
olhares estavam voltados para o urbano e para os processos de industrialização.
Leite (1999) aponta três intenções “ocultas” na Lei 5692\71:
a)Utilização do processo escolar, em todos os níveis de escolaridade, como meio de propagação, de divulgação e penetração do ideário nacionalista-militar do Estado, isto é, fazer prevalecer a ideologia empresarial-estatal; b) Controle político-ideológico-cultural, principalmente da classe operária, através da profissionalização e do currículo escolar mínimo desprovido de um conteúdo crítico-reflexivo; c) Recriação de infra estrutura material e de recursos humanos adequados ao desenvolvimento do capital e da produção. (LEITE, 1999, p.26).
Em 1988 foi aprovada a Constituição Federal Brasileira, que, em seu artigo
205, determina “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”, fruto das reivindicações dos movimentos sociais.
Em 1996, ocorreu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
9394\96 (LDB 9394\96), que contempla em seus artigos 26 e 28 o currículo da
educação rural diferenciado do urbano.
O artigo 26 dispõe que:
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. (BRASIL, 1996,
O artigo 28º expressa que:
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I-conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996).
Segundo Brandão e Ferreira (2011, p.10), “enquanto a LDB se volta à
lapidação de mão de obra visando o mercado de trabalho, os movimentos sociais e
academia veem a educação do campo como mudança de sociedade e formação da
cidadania.” Os autores afirmam que a LDB (9394\96):
17
[. .] também se cala quanto à continuidade dos estudos dos que se formam no ensino médio nas instituições de ensino existentes no campo e as pesquisas acadêmicas indicam que milhares dos que se formam no ensino médio nas escolas do campo, interrompem os estudos ao concluírem o ensino médio, sendo prejudicados pela ausência de políticas públicas de incentivo ao ensino superior. (BRANDÃO E FERREIRA 2011, p.10).
Segundo o Fórum Nacional de Educação do Campo – FONEC (2012, p.04) a
Educação do Campo:
[...] tem como ponto de partida o I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária – I ENERA, em 1997, e o seu batismo aconteceu na I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do Campo realizada em Luziânia, GO, no ano de 1998, reafirmada nas lutas e em sua identidade nas diferentes ações desde então e envolvendo progressivamente um conjunto maior de organizações e entidades.
De acordo com Munarim (2008) a Conferência teve o objetivo de pensar
novas alternativas e projetos visando a superação das práticas pedagógicas
existentes no meio rural, bem como, recolocar o campo e a educação que a ele se
vincula, na agenda política do país, além de pensar uma educação articulada ao
desenvolvimento.
Em 2001 ocorre a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), que,
segundo Munarim (2008), mantiveram quase fechados as tentativas de influências e
inclusão de propostas dos movimentos de Educação do Campo, constituindo-se
numa política unilateral com metas consideradas insuficientes e com uma visão
urbanocêntrica, preconceituosa e excludente do campo, que, ademais, sempre
embasara as políticas educacionais brasileiras.
Em 2002 foram aprovadas as Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo, por meio da Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril
de 2002, que cita em seu artigo 2º: Parágrafo único:
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva do país.
Segundo Marcoccia (2011, p.40), as Diretrizes Operacionais para Educação
Básica nas Escolas do Campo, representa a primeira política pública da Educação
do Campo. Em seu bojo, as diretrizes trazem a luta histórica dos movimentos sociais
18
do campo pelo direito à educação, pensada no contexto dos direitos e da identidade
dos povos do campo, bem como discussões sobre organização curricular, projeto
político-pedagógico diferenciado e participação da comunidade no currículo escolar.
De acordo com Souza (2011, p.54), “foi uma década de conquistas para a
educação do campo, fruto do empenho da ação dos trabalhadores do campo e
trabalhadores da educação nesse país”.
No ano de 2004 os movimentos sociais do campo promovem a II Conferência
Nacional Por uma Educação do Campo, de acordo com Marcoccia (2011, p.40):
”além de influenciar as ações do MEC- instituiu, no mesmo ano, a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), com o objetivo de
atender a diversos programas de educação do campo –, a conferência criou dentro
da SECAD uma Coordenação específica de Educação do Campo.
Conforme Souza (2011, p.54) na declaração final da Conferência fica explícita
a intenção de organizar, a partir da educação, um projeto de sociedade que seja
justo, igualitário e democrático, que se contraponha ao agronegócio e que promova
a realização de uma ampla reforma agrária.
Dentre os marcos legais conquistados pelas lutas dos movimentos sociais,
tem destaque o Decreto n° 7.352/2010, que dispõe sobre a política de educação do
campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, que
visa o reconhecimento da Educação do Campo em sua especificidade,e
obrigatoriedade do Estado em promover as intervenções necessárias para o
cumprimento e garantia da universalidade da educação.
Em seu artigo 2º, dispõe sobre os princípios da Educação do Campo:
II- incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho; III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. (BRASIL, 2010).
19
No Estado do Paraná, foram implementadas em 2006, as Diretrizes
Curriculares da Educação do Campo, fruto de muitas discussões com professores
da rede de ensino do Paraná, tornando-se mais um passo importante para a
afirmação da educação como um direito universal.
Ao tratar da organização política, as Diretrizes Curriculares da Educação do
Campo (p.43) diz que; [...] “é mais que falar de partidos políticos, de representantes
políticos, de processos eleitorais. É valorizar a organização da população brasileira,
na cidade ou no campo”.
2.3 Em busca de uma escola do campo de qualidade
De acordo com Souza (2011, p.28), “o que se busca é a transformação da
escola rural em escola do campo, uma escola pensada, organizada e vivida pelos
próprios povos do campo”. Ainda revela que no estado do Paraná, “embora
experiências de educação do campo e iniciativas governamentais na área tenham
expressividade, a realidade escolar é marcada por influências ideológicas, tanto da
Educação Rural quanto da Educação do Campo”. (SOUZA, 2011, p.29).
Segundo Marcoccia (2011, p.31), “a educação dos povos do campo
brasileiro sempre esteve vinculada às necessidades do sistema produtivo do país”.
Sendo que as forças dominantes têm decidido o tipo de educação destinada aos
povos campesinos, ou seja, a educação é criada a partir de uma visão
extremamente urbana, onde o currículo não atende as necessidades da população.
Nas escolas localizadas no campo, é comum nos depararmos com
professores que trabalham em período integral e ainda faz “bicos” para
complementar sua renda.
Os Projetos Políticos Pedagógicos estão em sua grande maioria
desatualizados e engavetados, e professores relatam que, em sua prática
pedagógica não trabalham a realidade do campo, por não saber como e o que
trabalhar com os educandos.
É comum também, a aceitação de programas governamentais que
desvalorizam a realidade do campo dando ênfase ao agronegócio, como exemplo o
“Agrinho”, e também professores que educam para que seus alunos abandonem o
campo na primeira oportunidade que surgir, sendo reflexo da educação ao qual foi
submetido.
20
Segundo Bastos e Pires (2007, p.03):
O direito à apropriação do conhecimento é um direito negado ao indivíduo, muitas vezes, pelo contexto histórico em que o mesmo se insere, ideologizado por um sistema de poder que inculca nas pessoas uma forma de ver e pensar a sociedade e mesmo o homem, individualizado, como inertes à mudança, obscurecendo a visão de classe e educando para a passividade.
Nesse cenário, trazemos o quão importante se faz a escola para que haja
mudanças desses paradigmas, conscientizando e transformando a realidade em que
está inserida.
A escola do campo necessita unir forças com a comunidade, com os
professores, alunos, municípios, para articular movimentos que busquem a
superação das políticas de caráter adaptativo, que coloca o “bolsa-família” todo mês
na conta, mas não garante emprego, estabilidade, educação com um mínimo de
qualidade, escolas com infraestrutura adequadas, transporte coletivo de qualidade,
formação de professores do e no campo, políticas que valorizem a agricultura
familiar, que venham ao encontro das necessidades dos sujeitos que ali habitam.
Como explica Munarim (2011, p.15):
O crescimento alarmante das taxas de analfabetismo da população do campo evidencia o descaso histórico do campo brasileiro e do direito de acesso e permanência na escola. Tal realidade pode ser comprovada na precariedade do atendimento escolar nas áreas rurais, bem como as inadequadas instalações físicas, a localização mal distribuída das escolas, condições desfavoráveis de trabalho para os professores... Além disso, a escola rural nega a identidade do campo, desestimula agricultores familiares, assalariados rurais, assentados como pessoas, desconsidera a realidade na qual eles se inserem.
Diante deste panorama, os educadores do campo têm o grande desafio de
superar estes paradigmas impostos pelo histórico da educação do campo e na (re)
construção de sua identidade.
Construir uma educação do campo significa pensar numa escola
sustentada no enriquecimento das experiências de vida, obviamente não em nome de permanência, nem da redução destas experiências, mas em nome de uma reconstrução dos modos de vida, pautada na ética da valorização humana e do respeito à diferença. Uma escola que proporcione aos seus alunos e alunas condições de optarem, como cidadãos e cidadãs, sobre o lugar onde desejam viver. Isso significa, em última análise, inverter
a lógica de que apenas se estuda para sair do campo. (MUNARIM, 2011,
p.13).
21
Ou seja, reconhecer a especificidade da Educação do Campo é um indício de
democratização, pois esse reconhecimento se deu por meio das lutas dos
movimentos sociais, “mais do que um movimento social, a educação do campo é um
movimento da sociedade pela educação pública” explica Martins, (2012, p.117).
De acordo com Caldart (2002, p.22):
Um dos traços fundamentais que vem desenhando a identidade do movimento por uma educação do campo é a luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o direito à educação, e a uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais.
Sendo assim, os sujeitos do campo devem ter a liberdade de permanecer no
local vivido para morar, estudar e trabalhar, tendo condições adequadas para que
tudo isso possa de fato ser colocado em prática, com professores qualificados, uma
comunidade praticante de sua cidadania valorização do seu trabalho, dignidade e
respeito com sua cultura e identidade, necessitando pensar em uma educação que
valorize suas especificidades, sem que os vejam como subordinados, devendo a
educação ser no campo e do campo e não para o campo.
22
3. O COORDENADOR PEDAGÓGICO E SUAS ATRIBUIÇÕES
Este capítulo traz um breve histórico da construção identidária do
coordenador pedagógico, bem como a necessidade da gestão democrática no
contexto escolar, para a superação da visão fragmentada dos povos do campo
De acordo com Freire (1987), a pedagogia não deve ser neutra, pois é ela
quem dá direção as práticas educativas e formativas.
Sendo assim, compreende-se que a formação dos educadores se dá pela
mudança de paradigma da sociedade atual, ou seja, “muda a sociedade, muda a
escola, e não cabe mais à escola o papel de reprodução social. A visão agora é
outra: resgatar os valores humanos, formar o cidadão na visão crítica e criativa”.
(MATTAR, 2004, p.03).
3.1 Breve histórico da trajetória do Coordenador Pedagógico
É importante trazer para esta discussão alguns aspectos históricos que
marcaram a jornada do Coordenador pedagógico, para até conseguir-se
compreender como ele é visto pela sociedade e pelos atores educacionais
atualmente.
Em 1939, foi instituído no Brasil, pelo Decreto-Lei 1.190, o curso de
Pedagogia, que assumiu de acordo com Saviani (2012, p.04) “um caráter
generalista, ou seja, sem especificidade de diferentes habilitações”.
Com o Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) nº. 252 de 11 de
abril de 1969, o curso de Pedagogia introduziu oficialmente as habilitações para
formação dos especialistas em administração escolar, supervisor pedagógico,
inspetor de ensino, orientador educacional e o professor das disciplinas pedagógicas
dos cursos normais, que a partir de 1971, passaram a ser definidos como cursos de
magistério.
Na LDB 5692\71 que tinha como interesse a reforma do ensino de 1º e 2º
graus, os profissionais especialistas da educação tinham como função a ação
supervisora. Em seu artigo 33, a lei define a formação de especialistas:
A formação de administradores, planejadores, orientadores, inspetores, supervisores e demais especialistas da educação será feito em curso superior de graduação, com duração plena ou curta, ou de pós graduação. (BRASIL, 1971).
23
Com o processo de democratização da sociedade ocorrido a partir da década
de 80, aumentou-se a reivindicação para que a democracia ocorresse também
dentro da escola.
Assim, a gestão democrática foi incluída na Constituição Federal de 1988. A
partir de debates dos educadores em fóruns, ocorreu a promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (9394\96) e ao estabelecimento do Plano Nacional
de Educação em 2001.
Em seus artigos 12, 13 e 14, a LDB prevê que os estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência
de elaborar e executar sua proposta pedagógica, e delibera que a elaboração da
proposta pedagógica contará com a participação dos profissionais da Educação.
Ainda, em seu artigo 64, houve avanço para o Coordenador Pedagógico,
assegurando um modelo de gestão pedagógica ao elaborar os critérios essenciais
para a função:
A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 1996).
Sendo assim, a LDB (1996), ainda preocupa-se com a experiência deste
profissional que deve levar em conta a experiência docente como pré-requisito, a
obrigatoriedade na formação em cursos de graduação e pós-graduação.
Atualmente, o pedagogo é legalmente amparado pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Pedagogia aprovadas em 2006 pelo Conselho Nacional de
Educação.
Portanto, percebe-se que este profissional e as instituições de ensino, ainda
encontram dificuldades em definir seu papel.
[...] o papel do pedagogo no ambiente escolar tem sido polemizado por alguns setores do sistema de educação assim como o da própria instituição onde hoje ele se encontra. Na verdade, os equívocos em relação às suas atribuições, ocasionados pela história recente de sua pretensa profissionalidade, tem deslocado o foco de seu trabalho, descaracterizando sua função e secundarizando o sentido do pedagógico. Desse modo, muitas vezes, é compreendido como burocrata, disciplinador de alunos, fiscalizador de professores e/ou profissional multitarefa. Estes determinantes e condicionantes têm merecido significativa atenção por parte das políticas públicas que objetivam a transformação social voltada para os princípios básicos da democracia e, por conseguinte, para a superação das desigualdades sociais. (BRECKENFELD E ROMANOWSKI, 2008, p.4658).
24
Concorda-se com Zanlorenzi (2011, p.04) quando revela ser comum se ver
nas escolas muitos pedagogos “em cima do muro”, ou servindo, mesmo que
inconscientemente, a uma sociedade conservadora, que busca manter a divisão de
classes e a desigualdade social. Para a autora, o pedagogo enquanto profissional da
educação é aquele que tem como objeto de estudo a ação educativa intencional, [...]
aquele que conduz ao aprendizado. (ZANLORENZI2011, p.01).
Mas quem é o pedagogo atualmente? Feiges (2007) classifica o pedagogo
como o profissional da educação que se converte em formador de homens, em
diferentes espaços de educação e em diferentes práticas educativas e que se
expressa de forma crítica, criativa e transformadora.
Neste contexto, faz-se necessário compreender que o papel do pedagogo vai
muito além dos muros da escola. Como explica Bastos e Pires (2007, p.03):
Para compreender o pedagogo e sua função no contexto atual da Escola Pública é necessário compreender que a educação não é um fenômeno estritamente escolar, porém é no processo educacional escolar que se dão as contradições de uma sociedade antagônica, onde a especificidade da escola, que está em ir além do processo de socialização e reprodução, tem sido usada como instrumento de autocontrole do sistema, ora político, ora econômico, religioso ou sob influência de todos num determinado tempo histórico.
Sendo assim, o papel do coordenador pedagógico tem uma função
desafiadora no processo de formação continuada dos professores das escolas
localizadas no campo e na articulação dos saberes historicamente produzidos,
trabalhados em sua totalidade e voltados para a realidade local, além de fazer um
trabalho que envolva todo o coletivo educacional (professores, pais, alunos,
comunidade), instigando neles a consciência crítica, e a construção de coletivos que
lutem por um mesmo ideal de educação emancipadora do sujeito do campo, ou seja,
É problematizar cada realidade local, instigar novas pesquisas, interrogar políticas públicas e, de forma democrática, sempre ouvindo a população local, tentar propor experiências que possam fazer valer direitos, valorizar identidade, trabalho e cultura. Eis o desafio do pedagogo: fazer a diferença nas práticas e políticas governamentais. (SOUZA 2011, p.32).
Cabe ao coordenador compreender-se, segundo Breckenfeld e Romanowski
(2008, p.4667), como “agente transformador da realidade”, buscando “humanizar o
que foi e continua sendo barbarosamente desumanizado pelo capital: a relação
entre os seres humanos” (Carvalho, 2007, p.12).
25
Nesse cenário, apareceram também os povos do campo, que no decorrer do
processo histórico sofreram e ainda sofrem com a desvalorização de identidade,
cultural, e política, tendo uma visão utilitarista da educação. Essa visão ainda
permanece por grande parte da sociedade, sendo as políticas públicas e o acesso
ao conhecimento para os povos do campo ainda superficiais para a superação
desses ideais da educação rural.
Zanlorenzi (2011, p.04) diz que o pedagogo deve assumir uma dimensão e
atuação política. A dimensão política se traduz na escolha, porque assim como a
educação não é neutra, a atuação que o pedagogo terá no interior da escola
também não é, exige posição, escolha, pela conservação ou transformação social. É
uma atuação política, no sentido do compromisso que se deve ter com a formação
do cidadão para a sociedade que se quer construir.
Apenas introduzir nas escolas localizadas do campo conteúdos regionais e
locais e cultivar relatos de cultura, não é suficiente para que se emancipe o ser
humano. Faz-se necessário representá-las no contexto político pedagógico, tendo o
educador uma postura crítica, voltada para formação continuada, atualização e
atento as mudanças ideológicas do contexto histórico social em que está inserido.
3.3 A gestão democrática na escola do campo
A gestão democrática é marcada pelo período da ditadura militar, sendo uma
reivindicação dos movimentos sociais, formado por educadores e sociedade civil,
onde, nesse período, a educação tinha o caráter “anti democrático”, ou seja, não
podia questionar o Governo, apenas aceitar as normas impostas.
Ainda, para reforçar, criou-se o Decreto Lei 477 de 1969, que tinha como
objetivo “calar” a voz do povo, objetivando tornar as pessoas alienadas ao sistema, e
quem ousava questionar e reivindicar as práticas militares eram demitidos, mortos,
presos e muitos acabavam se exilando.
Nesse período, o objetivo da educação, era a formação de profissionais que
atendessem as necessidades produtivas e financeiras das indústrias, ou seja, o
professor ficava reduzido ao aplicador de manuais e ao aluno, cabia assumir ao
papel da receptividade e responder as necessidades das indústrias, isto é, formar
para o trabalho a classe menos favorecida e a classe dominante para liderar.
Esta visão ainda é considerada comum na atual sociedade em que vivemos.
De acordo com Bastos (2001, p.09) “[...] há uma acirrada disputa entre os que
26
trabalham na escola, e aqueles que ocupam cargos nas várias instâncias de poder:
município, estado e união”. E ainda acrescenta que “para a sociedade, e para os
trabalhadores em educação, a democracia da e na escola é o único caminho para
reconstruir a escola pública de qualidade”.
Para Paro (2001, p.10):
Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a escola que temos ai. E a transformação dessa escola passa necessariamente por sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras. È nesse sentido que precisam ser transformados o sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior da escola
Complementa-se com a visão segundo Lima (2007, p.49):
Não se constrói uma escola democrática, interativa, aberta, viva, dinâmica e acolhedora sem o envolvimento político de todos que a compõem, ou sob uma administração centrada apenas em uma pessoa, mas sim, por um colegiado que reúna todos os envolvidos no processo educativo.
Acredita-se que para as mudanças ocorrerem de fato no contexto escolar,
faz-se necessário a construção de um Projeto Político Pedagógico, pois de acordo
com Souza et al. (2008, p.44), se apresenta como uma possibilidade de construção
coletiva, resultado de lutas e reivindicações de participação e ainda de convivência
social que supere as fragmentações do conhecimento defendidas por grupos
socialmente hegemônicos.
Esse é o papel da gestão democrática na escola, a conscientização e o
envolvimento de todo o coletivo que trazem diferentes pontos de vista para um
objetivo em comum, e a busca da autonomia para decidir o que é melhor para a
comunidade e não ficar seguindo regras impostas por alguém que desconhece sua
realidade.
Realidade que está carente do olhar das políticas públicas, de formação de
professores, de estrutura física, remuneração, entre tantos outros.
De acordo com Gadotti (2014, p.01):
A participação popular e a gestão democrática fazem parte da tradição das chamadas “pedagogias participativas”. Elas incidem positivamente na aprendizagem. Pode-se dizer que a participação e a autonomia compõem a própria natureza do ato pedagógico. A participação é um pressuposto da própria aprendizagem. Mas, formar para a participação é, também, formar para a cidadania, isto é, formar o cidadão para participar, com
responsabilidade, do destino de seu país.
27
As comunidades e escolas privadas de sua autonomia jamais terão condições
de concretizar uma gestão democrática, de educar para a cidadania. BORDIGNON
(2005, p.13).
[...] ou seja, uma gestão democrática da escola do campo pressupõe uma prática educativa que contribua efetivamente para o desenvolvimento das relações sociais do campo. A escola age como um espaço de valorização das relações sociais e culturais dos sujeitos do campo e, mais que isso, pode funcionar como um núcleo articulador de desenvolvimento de políticas sociais de desenvolvimento local. Uma escola que se quer democrática e vinculada à realidade e à comunidade local tem como função social promover ações que visam a proporcionar a ampliação de melhores
condições de vida no campo. (MARTINS, 2012, p.121).
Mas segundo Gadotti (2014, p.01), a LDB 9394\96:
[...] não respeitou esse princípio de que a educação deveria ser “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”: “a gestão democrática – princípio caro aos educadores e que foi base-mestra do primeiro projeto de regulamentação do Sistema Nacional de Educação – ficou reduzida, na Lei no. 9.394 de 1996, aos preceitos dos artigos 14 e 15, que prevêem, somente, a participação dos profissionais no projeto pedagógico, e da comunidade, nos conselhos escolares, além de uma 'progressiva' autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira às escolas”.
De acordo com Hora (1994, p.140), é fundamental que a escola sintonize com
os movimentos sociais e se descubra como parte de um coletivo capaz de controlar
socialmente o poder, caminho para a conquista de uma democracia, pois que na
verdadeira democracia é a sociedade quem controla o poder.
O trabalho de campo na escola Professora Mercedes Marques dos Santos foi
realizado no ano de 2012 e 2013, e criou-se juntamente com a equipe OBEDUC e
pessoal da escola, um questionário que foi enviado aos pais para a construção do
marco situacional do Projeto Político Pedagógico. Responderam a este questionário
117 famílias.
Em relação a participação das famílias e da escola em organizações sociais
presentes na comunidade, os gráficos 01 e 02 mostram a participação das 117
famílias2 e das 13 professoras da escola de Campo Magro, município em que se
realiza a pesquisa, em organizações e\ou grupos sociais na comunidade:
2 Os dados aqui apresentados foram coletados por meio de instrumento aplicado no período de 17 a 21 de setembro do ano de
2012 às famílias de todos os estudantes da escola Professora Mercedes Marques dos Santos com o objetivo de obter dados acerca da realidade local para subsidiar a reestruturação do projeto Político Pedagógico da escola.
28
GRÁFICO1–PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Fonte: Trabalho de Campo, 2013. Organização: A autora (2014).
GRÁFICO 2- PARTICIPAÇÃO DAS PROFESSORAS EM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
21%
26%
5%16%
32%
Professoras
Conselho escolar
Associação de pais e mestres
Grupo de jovens
Catequese
Sem resposta
Fonte: Trabalho de Campo, 2013. Organização: A autora (2014)
Das 117 famílias, apenas 39% relatam ser ativas nas organizações sociais da
comunidade. Em relação às professoras, apenas 7 responderam que participam,
equivalendo à 63%. Isso é reflexão do processo educacional em que estão
inseridos. A comunidade e escola não compreenderam a força do coletivo.
De acordo com Martins (2012, p.123), para que se efetive a democratização
da escola do campo faz-se necessário, “inserir a comunidade camponesa, com seus
valores, principalmente o da cooperação, no interior das instâncias administrativas
da escola”, tornando-se assim um reforço para a efetivação das ações comunitárias.
29
Observa-se que os professores não estão inseridos em movimentos sociais,
ou sindicatos, associações, organizações rurais. Este contexto revela a necessidade
de trazer os sujeitos que participam destas organizações sociais para compor a
gestão da escola, conforme explica Martins (2012, p.122):
Além dos movimentos sociais, outros espaços como cooperativas, sindicatos, associações estão presentes na organização rural e o próprio conceito de comunidade é mais intenso. A partir da realidade, é necessário destacar que, ativa e instrumentalmente, esses segmentos necessitam compor os espaços e mecanismos gestores da escola. Supera-se, por exemplo, a concepção de Associação de Pais e Mestres tradicional, que agrega somente os sujeitos ligados diretamente à realidade escolar, como
professores e pais de alunos, como mecanismo gestor.
Mas percebe-se que as escolas localizadas no campo têm pouco
conhecimento do poder que o coletivo exerce em busca de seus direitos, pois ao
deixar que apenas a direção ou coordenação lidere, serão repassados à escola
ideologias às quais estes gestores estão sendo submetidos, atendendo às
necessidades apenas governamentais.
Segundo Bérgamo (2008, p.3271):
[...] o Estado ao assumir as despesas pretende controlar a escola, dificultando o acesso dos trabalhadores na sua gestão democrática, colocando o diretor como seu representante autoritário, e desse modo
impedindo a melhora no processo educacional das classes instrumentais.
Sendo assim, a escola localizada no campo torna-se vítima do sistema de
políticas fragilizadas, que não colaboram para a superação da visão fragmentada de
mundo e sociedade.
Não se trata de culpar professor ou gestores escolares. O importante é analisar a realidade para verificar e constatar a ausência de formação continuada direcionada ao conhecimento do município e o quanto ele é necessário para uma prática educativa de valorização do sujeito, da sua identidade, cultura e trabalho locais.Tal conhecimento é o ponto de partida para o estabelecimento de relações entre aspectos da prática e os conhecimentos científicos gerais. (SOUZA, 2011, p.34).
Percebe-se que há pouca formação nos municípios voltada para a construção
da consciência crítica dos profissionais que atuam no campo. E sem assumir esta
identidade e compromisso político consigo mesmo, irão apenas ser meros
reprodutores da ideologia a qual foram submetidos. Ideologia que está vinculada a
concepção de educação rural, onde o sujeito torna-se alienado às contradições
30
existentes na sociedade, apenas aceitando e favorecendo aos interesses das
camadas mais favorecidas economicamente.
O conhecimento liberta, e não é isso que se quer para a sociedade,
principalmente do campo, que tem um histórico bem esquecido e os governantes
querem que assim continue.
Segundo Veiga, (1997, p.49) “É a desqualificação que torna o trabalhador
dependente. Desenvolve habilidades específicas e limitadas tornando o trabalho
repetitivo, mecânico, acrítico e desprovido de criatividade”.
31
4.CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Este capítulo tem como objetivo caracterizar o município e a escola em que
se realizou a pesquisa, trazendo um breve de ambos.
Campo Magro é um dos 29 municípios da região metropolitana de Curitiba.
Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(Ipardes, 2012), Campo Magro fica à 19 km da capital. A renda do município advém
em grande parte do turismo rural e da agricultura.
O município de Campo Magro possui uma área de 278, 224 km ², sendo que
a zona rural corresponde a 250 km ² e a zona urbana apenas 28 km ². A população
do município é de 24. 843 habitantes, sendo que 19.547 residem no meio urbano e
somente 5.296 na zona rural. O grau de urbanização do município corresponde a
78,68%.
Percebe-se que a concentração de pessoas está na área urbana, apesar do
campo possuir maior espaço físico. A mudança para a região urbana se dá pela
busca de melhores empregos e pela própria desvalorização do campo e da
agricultura.
Como indicam os dados do Ipardes (2012), a renda média domiciliar per
capita do município é de R$543,44, tornando-se difícil o acesso aos bens culturais e
a educação, sendo necessário ir a busca de melhores empregos na cidade, e até
mesmo de estudos, pois ao terminar a educação básica, a continuidade dos estudos
32
se dá na área urbana, para quem tem condições financeiras e de transporte, pois
não há transporte coletivo, a não ser o ônibus escolar.
Conforme dispõem as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo (2006,
p.28)
[...] as políticas educacionais, parte do princípio que o espaço urbano serve de modelo ideal para o desenvolvimento humano. Esta perspectiva contribui para descaracterizar a identidade dos povos do campo, no sentido de se distanciarem do seu universo cultural. Essa lógica faz parte de um modelo de desenvolvimento econômico capitalista, baseado na concentração de renda; na migração do trabalhador rural para as cidades, atuando como mão-de-obra barata, na grande propriedade e na agricultura para exportação que compreende o Brasil apenas como mercado emergente, predominantemente urbano e que prioriza a cidade em detrimento do campo.
Ainda, de acordo com Ribeiro, (2000, p.02) em relação a formação precária e
descontextualizadas dos professores do campo, muitas famílias continuam deixando
a zona rural em direção as periferias das cidades em busca, dentre outras coisas, de
uma escola que possa significar oportunidades de futuro e emprego assalariado
para os filhos. Para as famílias que permanecem e que enviam seus filhos para a
escola rural, o ensino oferecido por esta, não os prepara para permanecer no
campo.
4.1 Conhecendo a escola Professora Mercedes Marques dos Santos
A pesquisa foi realizada na Escola Municipal do Campo Professora Mercedes
Marques dos Santos, que faz parte do Observatório de Educação do Campo, sendo
uma das escolas localizadas no campo com menor IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) 4,6 no município de Campo Magro em 2011
e da Região Metropolitana de Curitiba, e 4,1 em 2013.
Figura 1Escola Municipal Professora Mercedes Marques dos Santos. Fonte: a autora
33
A escola pesquisada é uma das 11 escolas municipais do município que
atende Educação Infantil e Ensino Fundamental. Criou-se a partir do fechamento de
várias escolas na região.
Os dados a seguir sobre o histórico da escola foram retirados com base no
Projeto Político Pedagógico da Escola pesquisada, atualizado em 2013.
As atividades escolares na Escola Municipal do Campo Professora Mercedes
Marques dos Santos iniciaram em 1991, tendo a Resolução nº 310/91 de 25/10/91,
que funcionava com nome de Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida e através
da Resolução nº 3034/97 de 10/09/97, passou a denominar-se “Escola Municipal
Professora Mercedes Marques dos Santos”, em homenagem a primeira diretora
deste estabelecimento de ensino, a qual dedicou uma vida toda em prol da
Educação local.
A referida Escola foi construída em 1990, e está localiza no município de
Campo Magro, emancipado de Almirante Tamandaré em 1º de janeiro de 1997,
culminando assim a desativação de várias escolinhas multisseriadas, sendo
reconhecida na região como Escola Consolidada, denominação dada às escolas que
reuniam alunos de várias escolas rurais.
O terreno foi doado por pessoas da comunidade, medindo 503 metros
quadrados, sendo 300 metros de área livre e 50 metros de área coberta e o restante
de área ocupada pelo prédio.
A Escola é de alvenaria contém 06 salas, 08 banheiros, 01 cozinha, 01
biblioteca, 01 secretaria, 01 sala de professores e 01 sala de informática.
Este estabelecimento de ensino na época que foi construído tinha como
entidade mantenedora a Prefeitura do Município de Almirante Tamandaré, desde
1991 até 1996. Após a emancipação do Município, passou a ser mantida pela
Prefeitura do Município de Campo Magro.
Atualmente a escola funciona no período da manhã e a tarde e oferta as
seguintes modalidades: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Atende
aproximadamente 212 alunos e possui 10 professoras, 02 coordenadoras
pedagógicas e 01 diretora.
4.2 Formação e práticas pedagógicas
Em dados coletados pelo OBEDUC (2013), observamos que, todas as
professoras possuem o Magistério em nível médio, 5 possuem graduação em
34
Pedagogia, três cursaram Magistério Superior, sendo que 7 cursaram a graduação à
distância em instituição privada, 4 em instituição privada\ presencial e 1 à
distância\pública e 1 não respondeu.
Das treze professoras, considerando a diretora e as coordenadoras
pedagógicas, onze possuem pós-graduação lato sensu. Todas são concursadas e
em sua grande maioria atuam a mais de 10 anos na escola do campo, sendo que
apenas uma professora leciona na escola urbana.
Nas reuniões promovidas pelo OBEDUC (2013), as professoras relataram que
“o currículo da graduação nunca contemplou a realidade do campo. O que torna
difícil o trabalho com seus alunos”.
Das treze professoras que responderam o questionário 7 consideram a
experiência de sala de aula como item mais relevante para o aperfeiçoamento da
prática docente e as outras 6, a formação no nível médio em Magistério é o que foi
mais relevante. Em relação a graduação, apenas 3 professoras a citaram como
segunda formação relevante que contribuiu para a prática docente.
Onze professoras realizaram pós graduação, e 9 relataram esta formação
como a menos importante, sendo a formação inicial que mais contribuiu para sua
prática pedagógica.
Importante ressaltar que, independente de as professoras terem realizado sua
formação na modalidade presencial ou a distância, se em instituição pública ou
privada, em nenhum momento seu processo de formação foi mediado pela
concepção da Educação do Campo.
De modo geral, a formação continuada dos professores nessas escolas
ocorre a partir de um modelo único de educação, sem respeitar a especificidade do
campo.
Na elaboração de seus planejamentos, que ocorrem semanalmente, o uso do
livro didático torna-se o recurso mais utilizado pelas professoras.
35
GRÁFICO 3- USO DO LIVRO DIDÁTICO NA PRÁTICA COTIDIANA
Fonte: Trabalho de Campo, 2013. Organização a autora (2014)
Na escola, por meio do relato das professoras, verifica-se que o livro didático
é utilizado por 84% das professoras na elaboração do planejamento, nota-se que
este não contempla a concepção de Educação do Campo.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.96), o livro
didático é um dos recursos mais utilizados na prática pedagógica brasileira. É
preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais
restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos. Além
disso, é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a
ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o
aluno ter uma visão ampla do conhecimento
Em reunião realizada em 2013 pelo OBEDUC, a pedagoga da escola relata:
“O livro didático não foi escolha da escola, é do município, cada escola escolhe um,
junto com a equipe da SEDUC e ocorre uma votação para saber qual livro será
utilizado”. (CP2).
Sendo a escolha do material didático ocorrendo por pessoas que não os
professores, diretora e pedagogos, o papel da escola enquanto “gestão
democrática”, torna-se fragmentado, e a educação fragilizada.
Sendo assim, a escola localizada no campo, necessita de um pedagogo que
compreenda as intenções educacionais e políticas, para ter condições
argumentativas com as secretarias do que é adequado para sua realidade e fazer a
reflexão com o coletivo de professores sobre o trabalho pedagógico que está sendo
desenvolvido e que concepção de educação se almeja para os povos do campo.
36
5. O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A IDENTIDADE DA ESCOLA DO CAMPO
O objetivo deste capítulo é trazer reflexões acerca do papel do pedagogo para
a efetivação de um Projeto Político Pedagógico aderente a concepção de escola do
campo.
Partindo do princípio que o ato educativo é essencialmente político,
consideramos que o pedagogo assume um papel político. Como diz Gadotti (2005,
p.57): “sempre que o pedagogo deixou de fazer política, escondido atrás de uma
psiconeutralidade e da educação, estava fazendo, com a sua omissão, a política do
mais forte, a política da dominação”.
5.1 Fragilidades e superações na construção do PPP
A pesquisa foi realizada no período de 2012 e 2013, com 02 professoras que
atuam como coordenadoras pedagógicas no município de Campo Magro.
A coordenadora pedagógica denominada CP 1, refere-se a profissional que
coordena todas as escolas de Ensino Fundamental do Município, tem formação em
Magistério Superior e pós graduação em Psicopedagogia, assumiu a função pelo
tempo elevado de trabalho na Prefeitura .Atua há 32 anos na educação e 17
especificamente nas escolas localizadas no campo.
A coordenadora denominada CP 2, refere-se à pedagoga da escola
Professora Mercedes Marques dos Santos, é formada em Letras à distância e pós
graduada em gestão, e foi indicada para o cargo, visto que desenvolvia um bom
trabalho como professora. Ambas declararam não terem estudados temas relativos
a concepção de educação do campo em sua formação..
As autoras André e Dias (2010, p. 64) explicam que uma das causas do
fracasso escolar e da baixa qualidade e eficiência do ensino é a dissociação entre a
cultura escolar e a cultura social. As escolas ainda não conseguem ser espaços de
sistematização do conhecimento no sentido de contemplar as dimensões
antropológicas, políticas, sociais e culturais da clientela que a elas tem acesso.
Em entrevista com as coordenadoras pedagógicas, ambas foram unânimes
em dizer que o primeiro acesso à discussão sobre educação do campo, se deu por
meio do Observatório de Educação. Projeto este, que teve início em 2011.
“Fui conhecer as discussões sobre educação do campo após cursos
oferecidos pela UTP”. (CP 1). “Conheci através do Observatório”. (CP 2).
37
E as respostas não foram diferentes em conversas informais com as
professoras que atuam na escola entre 5 e 10 anos. Todas desconheciam a
discussão e automaticamente seus alunos também estavam privados desse
conhecimento da própria realidade, como explica Bastos e Pires (2007, p.03)
quando nos dizem que “a apropriação do conhecimento é um direito negado ao
individuo, muitas vezes pelo contexto histórico em que o mesmo se insere” [...].
Ao conversar com as professoras com que frequência elas abordam a
realidade do campo em suas aulas e como abordam, elas nos dizem:
“Poucas vezes. Talvez por não ter consciência da importância desse trabalho com o tema, acreditando que tem que abordar temas diferentes, mostrar o novo”.(PROFESSORA 1). “Poucas vezes. Procuro envolver o conteúdo quando necessário.”(PROFESSORA 2) “Poucas vezes. Pois necessita de melhor capacitação para saber relacionar os conteúdos curriculares a realidade do campo, e pouco tempo para pesquisa do professor.”(PROFESSORA 3, 2013)
Em relação a necessidade de formação para assumir a função as
coordenadoras dizem que “consideram sua formação insuficiente para atuar como
pedagoga, o que influenciou para o trabalho foi à prática de 32 anos na educação e
17 especificamente com escolas do campo”. (CP 1).
“Não sou formada em Pedagogia, pesquiso, estudo e busco me informar para
cumprir a minha função dentro da escola” (CP 2).
O que remete a pensar na fragilidade da educação superior e continuada,
quando traz a prática como sendo essencial para o trabalho. De acordo com Lima
(2007, p.30), o que tem prevalecido na educação é pautado na teoria antidialógica,
no qual a invasão cultural ainda está transformando as pessoas em “homens e
mulheres latas3”, seja por comodismo ou falta de formação, reduzindo-se a meros
executores de tarefas rotineiras.
De acordo com o documento Conselho Escolar e a Educação do Campo
(2006, p. 66), diz que as pesquisas vêm demonstrando a questão da baixa
qualificação desses profissionais, gerando diversas limitações na sua atuação
consciente e responsável [...].
Ao serem questionadas sobre suas atribuições enquanto coordenadoras
3Homens e mulheres latas: termo utilizado por Paulo Freire significa que o indivíduo é uma lata vazia que
precisa ser preenchida de informações e conhecimentos.
38
pedagógicas nos revelam:
Acompanho o trabalho pedagógico na escola, observando o planejamento das professoras, visitando a escola e orientando quanto ao trabalho com literatura e ajudando no que for solicitada, como material, sugestão de atividades. (CP 1). Oriento o trabalho pedagógico, auxiliando e trabalhando junto. (CP 2).
Sendo assim, o pedagogo restringe seu trabalho principalmente ao
acompanhamento de planejamentos, tornando-se alienado as práticas educacionais,
secundarizando a análise, reflexão, estudo, pesquisa e o replanejamento das ações
pedagógicas. De acordo com Veiga (1997, p.49): “é a desqualificação que torna o
trabalhador dependente. Desenvolve habilidades específicas e limitadas tornando o
trabalho repetitivo, mecânico, acrítico e desprovido de criatividade”.
Na escola, o PPP era tido apenas como um documento de gaveta, elaborado
para atender as normas da Secretaria de Educação. A última reformulação do
documento foi realizada no ano de 2007, e trazia menções das características da
educação do campo, mas sem trazer autores que discutem a temática.
Percebemos ser um texto desconexo para o leitor. Abaixo, fazemos
referências a algumas características encontradas no texto:
Dar um tratamento ao conhecimento de forma a potencializar o desenvolvimento do campo, sendo necessária a capacitação dos profissionais da área da educação; Valorização do campo como um lugar bom para se viver, valorizando também os movimentos sociais; Municipalização da merenda, permitindo o consumo dos alimentos localmente produzidos; Conteúdos relacionados a realidade do educando; Parceria entre escola e comunidade; Incentivo a agricultura local, evitando o êxodo rural. (PPP, 2007, p.31-32).
Ao desconhecer a discussão sobre Educação do Campo, o trabalho não
surtirá efeito, pois não se cria uma relação entre realidade e prática.
De acordo com Souza (2011, p.97), a Educação do Campo convive com a
educação rural. Muitos professores e gestores municipais desconhecem tal
movimento. Mas, aos poucos o debate das políticas e práticas dessa educação
chega aos municípios brasileiros por meio das ações dos movimentos sociais, dos
projetos em parcerias com as organizações e movimentos, através das
universidades, como o programa OBEDUC.
39
Com as discussões do OBEDUC de textos e legislações que discutem e
amparam a Educação do Campo percebemos que a coordenadora pedagógica da
escola e a direção, conseguiram mobilizar as professoras para a construção do PPP
(2013), aderente a realidade inserida, realizando reuniões e discutindo textos para a
construção do documento.
Para a construção do marco situacional, os alunos levaram para suas famílias
uma entrevista com questões sobre a realidade local e, após tabulação e
apresentação dos dados em forma de gráficos, alguns resultados surpreenderam as
professoras\pedagogas\diretora, indício de que o conhecimento da própria realidade
era um fator desconhecido em sua essência.
De acordo com Caldart (2004, p.37) compreender o lugar da escola na
educação do campo “é compreender o tipo de ser humano que ela precisa ajudar a
formar e como pode contribuir com a formação dos novos sujeitos sociais que vêm
constituindo no campo hoje”.
Percebe- se que os sujeitos do campo, sentem grande necessidade de serem
valorizados e buscam respeito a sua identidade. As famílias entendem que são
desvalorizadas em sua cultura, e que a escola tem a possibilidade de ser um meio
de transformação dessa visão estereotipada do campo.
GRÁFICO 4 - O QUE AS FAMILIAS CONSIDERAM IMPORTANTE AS CRIANÇAS QUE
MORAM NO CAMPO APRENDEREM NA ESCOLA
Fonte: Trabalho de Campo, 2013. Organização: A autora (2014)
40
Ao serem questionadas sobre o que é importante seus filhos aprenderem na
escola, 22% das famílias relatam ser a valorização da cultura. e 18% consideram o
acesso a leitura e escrita, compreendendo a necessidade da comunicação para a
valorização da cultura na qual está inserido, pois de acordo com Freire, a leitura e
escrita nos dá as respostas dos desafios da sociedade” e que transforma o mundo, o
homem e toda a sociedade.
Quando questionadas se é desejo que seus filhos continuem morando no
campo e quais motivos, as famílias, em sua grande maioria, 40%, moram no campo,
pela qualidade de vida e 29% pela segurança que a comunidade oferece, longe das
violências do meio urbano. Percebe-se que esta visão está relacionada ao meio de
comunicação que a maioria das famílias tem: a mídia. Mas é interessante
percebermos que 4% não enxergam a cidade como um local para morar, pois não
veem perspectiva.
Por outro lado, 37% das famílias consideram o campo como local com muitas
dificuldades, de acesso, financeiro, 31% com pouca oportunidade de emprego e
26% não enxergam a perspectiva de seus filhos terem um futuro melhor no campo.
Isso faz com que os pais e os próprios filhos queiram abandonar o campo, pelas
dificuldades encontradas, visando à cidade como um local de muitas oportunidades
e bons salários, e abandonam sua comunidade, instalando-se em casas alugadas
ou de parentes, e encontrando empregos que não os valorizam, pois necessitam de
formação para atuar em atividades bem remuneradas na cidade.
O coordenador pedagógico da escola do campo tem grandes desafios para
superar, ao lidar com a fragilidade na formação dos professores, a concepção que o
município tem sobre as escolas localizadas no campo, e políticas fragmentadas e
exclusórias criadas a partir de um ideário de sociedade que não o do campo.
Um dos meios para a superação da desvalorização do campo se dá por meio
da elaboração do projeto pedagógico da escola que deve, antes de tudo, ser político,
sendo construído com todos os atores envolvidos com o processo educativo
(comunidade, pais, alunos, professores, gestores).
Souza, et al. (2008, p.44), nos explica que este documento se apresenta
como possibilidade de construção coletiva, resultado de lutas e reivindicações de
participação e ainda de convivência social que supere as fragmentações do
conhecimento defendidas por grupos socialmente hegemônicos.
Orsolon, (2003, p.19), explica que:
41
O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas ações para a transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto político-pedagógico transformador.
Nesse sentido, percebe-se que a gestão presente na escola, torna-se fator
importante para a conscientização das famílias e comunidades no contexto escolar.
Pois não basta apenas ter garantido por lei “educação universal, de qualidade,
democrática...”, se não houver a conscientização dos atores educacionais
participativos e que lutem por um mesmo ideal de educação.
Caldart (2004, p.28) explica que o PPP, aderente a concepção de Educação
do Campo, torna-se uma possibilidade efetiva de os camponeses assumirem a
condição de sujeitos de seu próprio projeto educativo, de aprenderem a pensar o
seu trabalho, seu lugar, seu país e sua educação. Trata-se de um projeto de
educação dos e não para os sujeitos do campo, ou seja, uma possível re
(construção) da identidade da escola e dos povos do campo.
Enquanto articulador do processo educativo, o coordenador pedagógico deve
ter uma postura política definida, que contribua para a conscientização de sua
equipe, objetivando a busca da autonomia para a transformação social, ou, como
explica Zanlorenzi (2011, p.04), na prática, a escolha política do pedagogo deve
manifestar-se diariamente quando faz o professor refletir sobre seu trabalho, quando
busca igualdade nas relações interpessoais e prima em todas as suas atitudes pela
qualidade de ensino.
Um grande desafio encontrado pelo coordenador pedagógico é na articulação
dos atores educacionais, para que se faça compreender a importância da
construção coletiva para a transformação social, já que a coordenadora pedagógica
da escola relata “a falta de interesse dos pais em participar de assuntos relativos à
escola”. (CP2).
Mas, ao analisar a visão que a família tem em relação ao papel da escola, em
sua grande maioria, considera como local de ensino\aprendizagem, ascensão social
e aprendizagem de valores.
Isso faz com que a escola seja vista como um local de formação de sujeitos
que, aprendam a ler e escrever, pois a escola deve formar cidadãos críticos,
reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de
compreender a realidade em que vivem preparados para participar da vida
42
econômica, social e política da comunidade e do país e aptos a contribuir para a
construção de uma sociedade mais justa.
GRÁFICO 5- PAPEL DA ESCOLA
Fonte: Trabalho de Campo, 2013. Organização: A autora (2014)
Percebe- se que o coordenador pedagógico promove em conjunto com sua
equipe, um trabalho que envolva a família na escola, pois observa-se que ele
entende a escola como parte importante na educação de seus filhos.
Também se leva em consideração a pouca participação das famílias (39%) e
educadores (63%) da escola em organizações sociais na comunidade, conforme
apresentado no gráfico anterior.
De acordo com Paro (2001, p.10): “se queremos uma escola transformadora,
precisamos transformar a escola que temos ai. E a transformação dessa escola
passa necessariamente por sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras”.
Se não houver a participação do coletivo para defender suas necessidades e
anseios, a escola torna-se um espaço de reprodução da sociedade em que estamos
inseridos, reforçando as desigualdades sociais, ou seja, torna-se um modelo
baseado na concepção de educação rural, pois sem o diálogo as ações tornam-se,
segundo Lima (2007, p.31), desmobilizadoras e controladoras que impedem a
participação e o desenvolvimento da autonomia para a concreta emancipação dos
cidadãos.
43
Ainda completando a ideia, as autoras Breckenfeld e Romanowski(2008,
p.4658) constatam que a escola deve “constituir-se em espaço de transformação e
emancipação do homem a partir de um processo de construção coletiva do projeto
político pedagógico, que é um projeto de escola e, conseqüentemente, de
sociedade”. E o coordenador pedagógico deve atuar como agente transformador,
provocando, por meio de debates, estudos coletivos e individuais a reflexão crítica
sobre a prática desenvolvida no contexto escolar.
De acordo com Lima (2007, p.33-34), a liderança, reflexiva e crítica, não
aparece naturalmente nas pessoas: ela é uma habilidade apreendida, desenvolvida
e exercitada no dia-a-dia, sendo necessária a busca do embasamento teórico para a
atualização e formação pedagógica, visando uma análise crítica dos procedimentos
adotados. E ainda, o ideário quanto a concepção de homem e sociedade que se
quer formar, avaliando constantemente a prática educativa.
Quando o coordenador pedagógico consegue fazer com que os educadores
assumam esta postura,
O contexto escolar passa a ser norteado por outros valores: ao invés de ser apenas um espaço de cumprimentos de fazeres, na maioria das vezes individual e solitária, torna-se um local intencionalmente voltado para um pensar coletivo das práticas, das pesquisas, dos planejamentos e das situações vividas, valorizando a construção da sua identidade e a formação dos educadores como sujeitos participativos e reflexivos. (LIMA, 2007, p.35)
Percebe-se um dos grandes desafios do pedagogo na construção da
identidade da escola do campo e de seus profissionais seja fazer da pesquisa um
processo permanente pela busca do conhecimento, pois para Freire (1987) a
formação nunca se efetiva por mera acumulação de conteúdos, mas representa uma
conquista que pode ser ampliada com o auxílio de vários segmentos, dependendo
muito do esforço e do trabalho de cada um, pois, segundo o autor, o educador é o
sujeito de sua prática e sua tarefa é formar-se a si próprio, criando e recriando,
através da reflexão, sua ação cotidiana.
44
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral do trabalho foi identificar as atribuições do Coordenador
Pedagógico, apontando as dificuldades e sua importância para a construção da
identidade da escola campo, a partir da concepção de Educação do Campo.
Conclui-se que tratar do coordenador pedagógico e de suas atribuições
juntamente com o corpo docente e com os demais membros da comunidade escolar,
torna-se uma forma de buscar sua identidade profissional, que no decorrer do
processo histórico tornou-se indefinida por ideais políticos e econômicos de
sociedade.
Constataram-se diferentes identidades assumidas no trabalho escolar, ora
assumia como supervisor, ora como orientador, ora como o “tapa buracos” e,
atualmente, vem tornando-se peça fundamental no contexto escolar, buscando
articular formação docente, unindo os demais envolvidos com o processo educativo,
para a melhoria do ensino aprendizagem, e também na importância da construção
coletiva do Projeto Político Pedagógico. Este documento que muitas vezes é um
documento de gaveta, elaborado para atender as necessidades do município é
ressignificado, pois, este documento leva a construção da identidade escolar,
definindo de forma participativa o tipo de ação educativa que se pretende realizar.
A conscientização da tamanha importância deste documento para a
superação de paradigmas presentes nas escolas localizadas no campo torna-se
uma das atribuições essenciais do Coordenador Pedagógico, quando este, por meio
de discussões coletivas, sensibilize os atores educacionais na busca de um ideal de
educação emancipadora para os povos do campo que consiga superar a visão de
atraso, e de local ruim para se viver, pois sozinho o coordenador não resolve as
fragilidades presentes na escola, mas pode representar uma ferramenta para sua
democratização. Segundo Lima (2007, p. 57), as mudanças não acontecem do dia
para a noite, no entanto, as condições precisam ser criadas para que elas ocorram e
avancem significativamente.
Mas para isso, faz-se necessário este profissional assumir uma postura crítica
em relação a sociedade em que está inserido, pois constatou-se que
ideologicamente as políticas contribuem para que a escola do campo forme
cidadãos acríticos, ou seja, oprimidos, que aceitam descaracterizar sua cultura, por
meio de ideais extremamentes capitalistas e urbanizados.
45
No entanto, é necessário o coordenador buscar sempre a formação
continuada, pois somente a graduação não consegue abranger toda a formação
necessária para o bom desenvolvimento de um trabalho qualitativo, e essa visão
deve estar vinculada a todos os educadores.
De acordo com Caldart (2004, p.157), “construir uma Escola do Campo
significa pensar e fazer a escola a partir do projeto educativo do campo”, ou seja, é
um projeto de educação que reafirma como grande finalidade da ação educativa o
pleno desenvolvimento do ser humano na sua inserção crítica na dinâmica da
sociedade em que faz parte. Por isso, a Educação do Campo parte do princípio de
que a participação democrática de todos os envolvidos na educação é fundamental
para construir um projeto de escola que inclua a todos. pensar a escola a partir do
seu lugar e dos seus sujeitos, dialogando sempre com a realidade mais ampla.
46
REFERÊNCIAS
ANDRÉ, Marli; DIAS, Hildizina Norberto. O coordenador pedagógico e o atendimento à diversidade. In; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza (Org.). O coordenador pedagógico e a formação de professores para a diversidade. São Paulo: Edições Loyola, 2010, p. 63-76. ARROYO, Miguel Gonzalez. Educação Básica e o movimento social do campo. In: ARROYO, Miguel Gonzalez. CALDART, Roseli Salete; MOLINA, MônicaCastagna. (Org.). Por uma educação do campo. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 65-86. BASTOS, João Baptista. Gestão democrática da educação: as práticas administrativas compartilhadas. Gestão democrática. Rio de Janeiro: DP & A: SEPE, 2001. BASTOS, Carmen Célia B. C. PIRES, Ivanise Vitorino da Silva. A função do professor pedagogo no cotidiano da escola pública: uma compreensão possível? Disponível em http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2007/trabalhos.html. Acesso em 30\04\2014. BERGAMO, Edmir Aparecido. Gestão democrática na escola pública brasileira, uma luta para transformá-la em realidade concreta, principalmente por meio da formação dos professores. Disponível em: http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/80_143.pdf. Acesso em 05\05\2014. BORDIGNON, Genuíno. Proposta pedagógica: gestão democrática da educação. Boletim 19. Ministério da Educação, Brasília, 2005. BRASIL, Conselho Escolar e a educação do campo / elaboração Regina Vinhaes Gracindo. [et. al.]. –Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. (Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares ). BRASIL, Lei 5692, de 11 de agosto de 1971. Estabelece as Diretrizes e Bases para a educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 agosto. 1971 BRASIL. Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. Dispões sobre a Política Nacional de Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Diário Oficial da União, Brasília, 5 nov. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ acesso em 06\05\14 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental (SEF). Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução. Brasília, DF: SEF, 1998.
47
BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 9 abr. 2002. BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008. Estabelecem diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 29 de abril 2008. BRASIL. Lei nº7044, de18 de outubro de 1982. Referente a profissionalização do ensino do 2º grau. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006.Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. BRASIL. Lei nº 4024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 20 de dezembro de 1961. BRASIL. Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (CNE. Resolução CNE/ CEB 1/2002. Diário Oficial da União. Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1. p. 32). Acesso em 30\03\2013 BRASIL. Parecer 36/2001, da relatora SOARES, Edla de Araújo Lira às Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília: CNE, 2001. BRECKENFELD, Eleane Jean Negrão; ROMANOWSKI, Joana Paulin. O pedagogo escolar: limites e possibilidades de sua profissionalidade no sistema de ensino público estadual do Paraná. Disponível em: http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/406_476.pdf. Acesso em 27 de abril de 2014 CALDART, Roseli Salete. Por uma educação do campo: traços de uma identidade em construção. In:KOLLING, Edgar Jorge; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete (Org).Educação do campo: identidade e políticas públicas – Caderno 4. Brasília: Articulação Nacional “Por Uma Educação Do Campo”, 2002, p.25-36. CALDART, Roseli Salete. Elementos para a construção do Projeto Político e Pedagógico da Educação do Campo. Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, 2004. (Coleção Por Uma Educação do Campo, 5). CALDART, Roseli Salete. A Escola do Campo em Movimento. In: ARROYO, Miguel Gonzalez et al. Por uma educação do campo. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
48
CARVALHO, Marlei, Fernandes de. Os entraves na atuação das/os Pedagogo/as. Edição Pedagógica, 2007. APP-Sindicato. FEIGES, M.M.F. Educação, Pedagogos e Pedagogia – questões conceituais. Disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/cadep/>. Acesso em 16\04\14. FERREIRA, Fabiano de Jesus; BRANDÃO, Elias Canuto.Educação do campo: um olhar histórico, uma realidade concreta. Revista Eletrônica de Educação. Ano V. Nº.
09, jul./dez. 2011. Disponível em http://www.unifil.br/ acesso em 05\05\2014. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 32 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO (Fonec). Carta de criação do Fórum [...] na sede da Contag, durante os dias 15 a 17 de agosto de 2012. Brasília,
2012. Disponível em: http://www.gepec.ufscar.br acesso em 06\05\14
GADOTTI, Moacir. Gestão democrática com participação popular no planejamento e na organização da educação nacional. Disponível em http://conae2014.mec.gov.br/. GADOTTI, Moacir. Educação e Poder: Introdução a Pedagogia do Conflito. 14ª edição, São Paulo: Cortez, 2005. HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola. Campinas: Papirus, 1994. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP. Panorama da Educação do Campo. Brasília, DF: INEP, 2007. JÚNIOR, Astrogildo Fernandes da Silva. NETTO, Mário Borges. Por uma Educação do Campo: percursos históricos e possibilidades. - Revista Eletrônica de Culturas e Educação Caderno temático: Cultura e Educação do Campo N. 3 p. 45-60, Ano 2 (Nov/2011). Disponível em http://www.ufrb.edu.br.Acesso em 30\04\14 LEITE, Sérgio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: Cortez,1999. Coleção questões da nossa época; v. 70. LIMA. Regina Canhoto de. Paulo Freire e a administração escolar: A busca de um sentido. Brasília; Liber Livro Editora, 2007. MARCOCCIA, Patrícia Correia de Paula. Escolas Públicas do Campo: indagação sobre a educação especial na perspectiva da inclusão educacional. 2011. 191 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2011 MATTAR, Sandra. A contribuição da sociologia na formação do pedagogo crítico, 2004. Disponível em http://www.portalanpedsul.com.br/ acesso em 27\04\14. MARTINS. Fernando José. Gestão democrática e educação do campo. Revista
Brasileira de Política e Administração da Educação ‑ v. 28, n. 1, p. 112‑128, jan/abr.
2012, disponível em:http://seer.ufrgs.br/ acesso em 05\05\2014.
49
MOLINA, Mônica Castagna; SÁ, Laís Mourão. Escola do Campo. In: CALDART, Roseli Salete et al. (Org.) Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro: IESJV, Fiocruz, Expressão Popular, 2011. MUNARIM, Antonio. Movimento Nacional de Educação do Campo: uma trajetória em construção. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 31., Caxambu, 2008. Disponível em: http://www.anped.org.br. (GT 3 – Movimentos Sociais e Educação). Acesso em 28 de mar. de 2013. MUNARIM, Antonio. ”Educação do Campo: Identidade em construção” in SANTOS, E.V. (Org.) Educação na Reforma Agrária: gênese da Educação do Campo no Brasil. Fetaemg: 2ª Edição 2011. ORSOLON, Luzia Angelina Marino. O coordenador/formador como um dos agentes de transformação da/na escola. In: ALMEIDA, Laurinda Ramalho de; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza (Orgs). O Coordenador Pedagógico e o Espaço de Mudança. São Paulo: Loyola, 2003. PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Educação do Campo. Curitiba: SEED, 2006. PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática na escola pública. São Paulo: Ática, 2001. PROJETO Político Pedagógico: Escola Municipal Professora Mercedes Marques dos Santos. Campo Magro, 2007. RIBEIRO, Marlene. Educação básica no campo: um desafio aos trabalhadores. (digitalizado) 2000. SAVIANI, Dermeval. O papel do pedagogo como articulador do trabalho pedagógico na sociedade capital. Palestra UENP Cornélio Procópio, em 8 de março de 2012. Disponível em http://faficp.br/noticias/2012/1204/n101-040.pdf. Acesso em 10\05\14 SILVA, Cláudio César da Silva. SANTOS, Cristina E. Romão dos. MOURA, Tamires Silva de. RODRIGUES, Ana Cláudia da Silva Rodrigues. Educação Infantil no campo: conhecendo e discutindo sua realidade. Disponível em: www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/.../312. Acesso em 05\05\14 SOUZA, Eloir José de. et al. Limites e possibilidades: um olhar sobre o projeto político pedagógico na perspectiva da educação do campo. In: MACHADO, Carmen Lucia Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares e PALUDO, Conceição (Orgs.).Teoria e prática da educação do campo - análises de experiências organizadoras. Brasília: MDA, 2008. 236 p. -- (NEAD Experiências). SOUZA, Maria Antonia de. Fundamentos Teóricos Metodológicos da Educação do campo. In: SOUZA, M. A. de. (org). Ponta Grossa: UEPG, 2011.
50
VAZ, Gessiana Künzle Tristão. SOUZA, Maria Antônia de. Escola do campo, trabalho pedagógico e relação com a comunidade. IX Congresso Nacional de Educação- Educere III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia, 26 a 29 de outubro de 2009- PUCPR. Disponível em http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/1986_982.pdf acesso em 10\05\14 ZANLORENZI, Andreia. O pedagogo em instituições estaduais de educação: desafios enfrentados e possibilidades de mudança. http://educere.bruc.com.br/ VEIGA, Ilma Passos. Alencastro; et al. Licenciatura em Pedagogia realidades, incertezas, utopias. Campinas, São Paulo: Papirus,1997