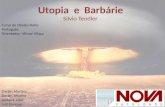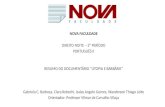Utopia e distopia
description
Transcript of Utopia e distopia
Utopia e distopia em um só lugar: o texto fantástico borgeanoHeloisa Helena Siqueira Correia
Universidade Federal de Rondônia – UNIR (Brasil)
Em “Utopía de un hombre que está cansado”, conto de 1975, de Jorge
Luis Borges, é possível perceber o esboço de uma utopia que, ao realizar-se,
começa a demonstrar as condições distópicas da nova ordem. Ao final do
conto, o narrador alcança, por assim dizer, o momento crítico em que a utopia
desvela sua face monstruosa, distópica e geradora de novos problemas;
momento de denúncia da utopia como algo produzido pelo cansaço dos que
conhecem o caráter contraditório da existência, a projeção de melhores
mundos ao lado da tessitura imperativamente real e histórica de sua realização.
A referência à obra Utopia de Tomás Morus, de 1516, ao longo do conto,
aponta a vizinhança, e também indica a estranheza dos dois textos. Como a
obra renascentista, a utopia borgeana descreve uma sociedade em que o
dinheiro não determina os valores humanos e as relações entre indivíduos e na
coletividade; em que a agricultura e a língua são realmente valorizadas e em
que se sabe que os nomes não encontram referência no real (BORGES
1994:54) (MORUS 1997: 103), são embalagens vãs e irreais. Também os
ofícios são valorizados: a personagem borgena é quem constrói sua casa e
móveis (BORGES 1994: 55), como os homens de Utopia, que, além da
agricultura, apreendem um ofício, geralmente ligado à tecelagem, ao trabalho
de ferreiro e à carpintaria (MORUS 1997: 79). Como a obra renascentista, a
utopia americana não é precisa quanto às demarcações geográficas e
espaciais, o narrador borgeano menciona apenas que está em uma planície
(BORGES 1994:52).
Diversamente da utopia que narra o contato com outras sociedades,
promovido por viagens terrestres e marítimas, a narrativa borgeana é uma
história contada pelo narrador-personagem Eudoro Acevedo, que ao viajar pelo
tempo visita um homem do futuro; esse encontro proporciona ao narrador o
conhecimento do modo de vida futuro e do que ocorrera com práticas,
conhecimentos e costumes da sociedade da qual partira.
Diferentemente do humanismo que se pode encontrar no texto de
Morus, o conto borgeano desconfia das qualidades humanas. A memória
precisa ser superada por ser fonte de sofrimento, vaidade e ilusão. A sociedade
apresentada por Borges vive sub specie aeternitatis, seus habitantes aprendem
nas escolas a arte do esquecimento (sobretudo o esquecimento do pessoal e
do local) e a dúvida. Não há estatística, história e cronologia na tal sociedade
do futuro. Nas palavras da personagem do futuro: “Pero no hablemos de
hechos. Ya a nadie le importan los hechos. Son meros puntos de partida para
la invención y el razonamiento” (BORGES 1994: 53). A superação da memória
em nome do cultivo do esquecimento, algo bem possível, ao que parece,
durante a maior parte da narrativa, demonstra-se problemática no desfecho do
conto, quando a memória ressurge assombrando a liberdade que o
esquecimento pretensamente havia conquistado para os homens, o que
veremos mais adiante.
Ao invés do justo governo projetado pela mente renascentista, a utopia
contemporânea em questão acontece na condição de uma sociedade em que
os governos deixaram de existir, nas palavras da ficção:
—¿Qué sucedió con los gobiernos?
—Según la tradición fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a
elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas,
ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta
los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies.
Los políticos tuvieron que buscar ofícios honestos; algunos fueron buenos
cómicos o buenos curanderos. La realidad sin duda habrá sido más
compleja que este resumen. (BORGES 1994:55)
Onde se percebe a presença marcante da ironia borgeana que concebe
os ofícios do cômico e do curandeiro como ofícios honestos a que alguns
políticos recorreram ao fim dos governos. Trata-se de um ideário que abole a
política comum e a substitui pelo humorismo e curandeirismo. Este último, com
certeza, censurável pelo ideário racionalista renascentista, mas muito mais útil
que práticas governamentais corruptas, lugar histórico em que a utopia
renascentista e o iluminismo desembocaram.
Em outras palavras, evidencia-se que o conto borgeano é
contemporâneo do processo de ruína da razão ocidental, simultâneo à
desesperança inspirada pelas guerras e pela violência social de todos os tipos;
não à toa, os habitantes do futuro não possuem cidades ou famílias, elementos
sociais fraturados que, ao longo da história materializam a dilaceração das
coletividades. No futuro a imprensa está abolida, porque no passado “Sólo lo
publicado era verdadero. Esse est percipi (ser es ser retratado) era el principio,
el medio y el fin de nuestro singular concepto del mundo” (BORGES 1994:54) ,
exatamente como faz nossa sociedade midiática.
A utopia em questão revela o fortalecimento do individual em detrimento
do coletivo, com a ressalva de que se trata de um individual livre de
pessoalidades e propriedades: não é demais lembrar que a personagem do
futuro é chamada de “alguém”, não tem nome próprio ou marca de origem.
Essa forma de chamamento faz lembrar outro viajante, o herói grego Odisseus
que, para enganar seu inimigo, autodenominou-se ninguém, o que lhe
proporcionou o ardil necessário para sair triunfante do combate. A personagem
borgeana, no entanto, não carece do falsete de linguagem nem da força do
substantivo, basta-lhe o pronome indefinido para atestar sua existência. O que
também indica ausência de vaidade, orgulho e pessoalidade heroicos. Além
dos trabalhos, a personagem do futuro pinta telas e toca harpa, o que sugere
vivência estética contínua.
Pela babélica situação contemporânea das línguas e linguagens
justifica-se que os homens do futuro tenham encontrado uma língua única,
estranhamente, no entanto, regressaram ao latim. A personagem explica ainda
que a língua é um sistema de citações (BORGES 1994: 55), coroando nosso
paradigma contemporâneo da teoria e crítica literárias que concebem a língua
como intertextualidade infinita e incessante.
A concepção da língua como sistema de citações é base de construção
da obra borgeana, que trama um registro ficcional composto de palavras de
outros textos, autores e épocas; registro novo em que as apropriações, burlas,
fragmentações, distorções, adaptações e empréstimos trabalham a favor da
diluição da personalidade do autor, espécie de proposta estética de Borges
(MONEGAL 1980). A utopia borgeana, nesse sentido, realiza-se; ali, na língua
do futuro, Borges alcança o pagamento da autoria: não há palavra que seja
apenas borgeana, a língua é um conjunto de citações. Também a importância
conferida por Borges à releitura e a libertação do labirinto de textos da
Biblioteca de Babel realizam-se no conto:
—Nadie puede leer dos mil libros. En los cuatro siglos que vivo no habré
pasado de uma media docena. Además no importa leer, sino releer. La
imprenta, ahora abolida, ha sido uno de los peores males del hombre, ya
que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios. (BORGES
1994: 53-54)
Basta uma nova visada sobre o conto para a percepção da fragilidade da
utopia borgeana: o texto revela uma marca pessoal intransferível, o conto é
borgeano por excelência. As menções a Tomas Morus, Bernard Shaw,
Arquimedes e Jesus Cristo estranhamente inauguram a novidade. A utopia
presente no conto parodia a utopia de Morus: não há governo ou governante
porque são inviáveis, a liberdade segue sendo determinada pela história e pelo
passado, e as crenças não deixam de existir. A história do pensamento, da
ciência e da religião, caras ao homem do século XVI, foram abolidas com o
cultivo do esquecimento:
—¿Todavía hay museos y bibliotecas?
—No. Queremos olvidar el ayer, salvo para la composición de elegías. No
hay conmemoraciones ni centenarios ni efigies de hombres muertos. Cada
cual debe producir por su cuenta las ciencias y las artes que necesita.
—En tal caso, cada cual debe ser su propio Bernard Shaw, su propio
Jesucristo y su propio Arquímedes. (BORGES 1994: 55)
Reler sempre, ânsia borgeana que se repete ao longo de textos de
períodos diversos, é prática que sugere a mnemotécnica, o que contraria a
aprendizagem da arte do esquecimento professada pelas escolas do futuro,
novamente a utopia borgeana se fragiliza. E, em outro sentido, se a língua é
um sistema de citações, ainda que não haja a reprodução impressa de textos,
as palavras mesmas reproduzem significados sobre significados, de modo que
a biblioteca de babel sobrevive de modo minimalista em cada palavra e a
libertação do labirinto segue adiada.
De acordo com o conto, há, ainda, outros hábitos entre os habitantes do futuro:
Cuando el hombre madura a los cien años, está listo a enfrentarse consigo
mismo y con su soledad. Ya ha engendrado un hijo.
¿Un hijo? —pregunté.
—Sí. Uno solo. No conviene fomentar el género humano. Hay quienes
piensan que es un órgano de la divinidad para tener conciencia del universo,
pero nadie sabe com certidumbre si hay tal divinidad. Creo que ahora se
discuten las ventajas y desventajas de un suicidio gradual o simultáneo de
todos los hombres del mundo. Pero volvamos a lo nuestro.
Asentí.
—Cumplidos los cien años, el individuo puede prescindir del amor y de la
amistad. Los males y la muerte involuntaria no lo amenazan. Ejerce alguna
de las artes, la filosofía, las matemáticas o juega a un ajedrez solitario.
Cuando quiere se mata. Dueño el hombre de su vida, lo es también de su
muerte. (BORGES 1994: 54-55)
Observa-se aí o engendramento de apenas um filho para atender à
sobrevivência da espécie. E como uma hipérbole do racionalismo iluminista, a
razão soberana que torna o homem senhor de si mesmo, proporciona que ele
exercite essa razão contra sua própria vida, no pleno gozo da lógica da
liberdade sem principiologia. A utopia iluminista tornara-se outra coisa, espécie
de racionalismo elevado ao rigor das últimas consequências.
Em outra direção, que se relaciona com o avanço das ciências, a
personagem do futuro, visitada pelo narrador que viaja pelo tempo, não se
surpreende com o visitante porque tais visitas acontecem de século em século,
o que significa que a sociedade de partida alcançara a possibilidade das
viagens no tempo, em sintonia com os postulados da física contemporânea.
Isso se confirma na intrínseca relação entre tempo e espaço afirmada pela
personagem, quando o narrador lhe pede informações sobre as viagens
através do espaço sideral:
—¿Y la grande aventura de mi tiempo, los viajes espaciales? —le dije.
—Hace ya siglos que hemos renunciado a esas traslaciones, que fueron
certamente admirables. Nunca pudimos evadirnos de un aquí y de un ahora.
Con una sonrisa agregó:
—Además, todo viaje es espacial. Ir de un planeta a otro es como ir a la
granja de enfrente. Cuando usted entró en este cuarto estaba ejecutando un
viaje espacial. (BORGES 1994: 55)
Em termos literários e pensando na vinculação da ficção borgeana à
tradição da literatura fantástica, constata-se a atualização do tema comum às
narrativas fantásticas: a viagem no tempo. No caso do conto em questão, a
viagem se dá pelo espaço-tempo, sem cisão que lhe possa compartimentar. Ao
mesmo tempo, curiosamente, o que interessa à sociedade do futuro é o
presente: o aqui e agora da existência, o que equivale a dizer que o que
importa é o contemporâneo e o próximo, o vívido.
O narrador apresenta-se escritor de contos fantásticos (BORGES 1994:
53), e “alguém” conhece em especial duas obras fantásticas: As viagens de
Gulliver e a Suma Teológica (BORGES 1994: 53). Neste ponto, a proposta
estética de um fantástico construído com a matéria da metafísica, que se pode
encontrar já na década de 1940 e 1950, respectivamente em Otras
Inquisiciones e Ficciones, entre outros textos, converte-se em algo que já se
configurou, por isso a personagem refere-se tranquilamente à obra Suma
Teológica como um conto fantástico. O que se supunha uma revisão da
tradição torna-se, assim, lugar comum para o leitor futuro do fantástico literário.
Esta utopia borgeana se realiza sem que o conto a despedace em momento
posterior, o que é inesperado em se tratando da obra de um mestre em
reviravoltas.
Como a Máquina do Tempo de Wells, no conto borgeano há uma prova
da viagem no tempo; a personagem Eudoro volta à sua época com uma tela
presenteada a ele por “alguém”, personagem do futuro: “En mi escritorio de la
calle México guardo la tela que alguien pintará, dentro de miles de años, con
materiales hoy dispersos en el planeta” (BORGES 1994: 56).
A reviravolta textual, ainda que familiar aos leitores de Borges, acontece
no desfecho deste conto de modo surpreendente, demonstrando que a suposta
utopia baseada em uma vida sem memória, e, portanto, sem aprisionamento
no passado, revela sua condição distópica ao denunciar o perigo do
esquecimento, até então, apenas apresentado como algo libertador.
Ao acompanharmos o narrador, a história prossegue com o encontro das
personagens mencionadas com dois homens e uma mulher. Todos juntos
esvaziam a casa da personagem do futuro e o acompanham em direção a uma
torre, onde dará fim a sua vida. Nas palavras de Alguém: “—Es el crematorio —
dijo alguien—. Adentro está la cámara letal. Dicen que la invento un filántropo
cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler” (BORGES 1994:56).
É exatamente neste momento que a utopia escancara a distopia nela
contida: o esquecimento de quem foi Hitler, de sua existência e ações nefastas,
implica no perigo da utopia totalitária. A possibilidade de resistir a ela reside na
experiência histórica, nos documentos e testemunhos do passado e na
manutenção da memória histórica, sob pena de o esquecimento abrir espaço
para utopias semelhantes em totalitarismo, violência e barbárie. O final do
conto é alarmante, a ficção fantástica critica a utopia e a limita. Não se trata de
afirmar que a realização das utopias é impossível, mas sim que a criação das
utopias se tornou uma tarefa arriscada, perigosa. Ao invés de fazer vislumbrar
a felicidade que as utopias perseguem, o conto demonstra a ilusão pura e
simples, materializada nas palavras da personagem feminina que, logo em
seguida da entrada de “alguém” no “crematório”, afirma: “—La nieve seguirá-...”
(BORGES, 1994: 56).
Referências bibliográficas
BORGES, Jorge Luis
1994 “Utopía de un hombre que está cansado”. En: Obras completas: 1975-
85. Buenos Aires: Emecé Editores, 52-56.
MONEGAL, Emir
1980 Borges: uma poética da leitura. São Paulo: Perspectiva.
MORUS, Tomas
1997 Utopia. Porto Alegre: L&PM.