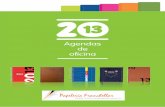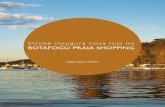V AGENDAS DE DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL 1 - Livro... · Direito na Sociedade de Consumo, motivo...
Transcript of V AGENDAS DE DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL 1 - Livro... · Direito na Sociedade de Consumo, motivo...

1
ANAIS
V AGENDAS DE DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL
UM LUSTRO DE DISCUSSÕES, PRIMEIROS PASSOS PARA A
INTERNACIONALIZAÇÃO
Marcos Catalan
Lucas Abreu Barroso
Marcos Ehrhardt
Pablo Malheiros
Ricardo Aronne
(Org.)
UNILASALLE, CANOAS
2016

2
Sumário
Apresentação 05 Resumos 07 A transmissão contratual da propriedade imóvel sem registro: perspectivas hermenêutico-construtivas
07
Alexandre Barbosa da Silva Direito ao esquecimento na Internet: o projeto de lei da Câmara dos Deputados 08 Alexsandro da Silva Linck Responsabilidade civil e a tutela dos danos morais difusos e coletivos pelo direito do consumidor
10
Ana Carolina de Azevedo O paradigma da mediação familiar: concretizando direitos civis-constitucionais 11 Ana Carolina de Oliveira Quintela e Ísis Boll de Araujo Bastos Superendividamento do consumidor e a necessidade de tutelas legais e jurisdicionais efetivas para a garantia do mínimo existencial
12
Ana Laura Peres Palacio Incidência, derrotabilidade normativa e segurança jurídica substancial: concretização das agendas de direito civil contemporâneo
13
André Luiz Arnt Ramos A mediação como instrumento de resolução dos litígios jusconsumerista 14 Ardala Marta Corso O estudo da boa-fé objetiva e o código civil de 2002: concreção jurisprudencial à luz do direito civil-constitucional
14
Beatriz Hernandes Silva A plena capacidade civil das pessoas com deficiência e seus desdobramentos no direito do consumidor: uma análise da hipervulnerabilidade à luz das modificações introduzidas pela lei de inclusão da pessoa com deficiência
15
Bruna Brum Reprodução humana assistida e Sociedade do Espetáculo: análise das ofertas via Internet de tratamento de fertilização
16
Carla Froener Ferreira Nova perspectiva de danos extramateriais: o dano ao projeto de vida como uma das concretizações da responsabilidade por danos
18
Carolina Vieira de Oliveira e Matheus Mendanha Lorero Bernardino
A virada cognitivista na teoria do direito e a questão dos papeis de gênero: algumas provocações metodológicas.
18

3
Fabrício Pontin Princípio da solidariedade como um meio de interpretação na jurisdição constitucional: uma forma de concretização dos direitos sociais
18
Fernanda Brandt e Jorge Renato dos Reis O perfil constitucional da revisão judicial dos contratos por desequilíbrio sinalagmático 19 Gabriel Fernandes Khayat A constitucionalização do direito privado e a solidariedade 20 Grace Kellen de Freitas Pellegrini e Vinícius Oliveira Braz Deprá A proteção do mínimo existencial como garantia constitucional de tutela do consumidor superendividado
21
Guilherme Antônio Balczarek Mucelin Danos à pessoa humana nas redes sociais virtuais 22 Guilherme Martins Venire contra factum proprium: uma análise comparativa acerca da utilização da figura pela jurisprudência brasileira e italiana
22
Isabela Maria Lopes Bolotti A colisão discursiva do direito fundamental ao acesso à internet no Brasil 23 Jorge Alberto de Macedo Acosta Junior Ocupação de bem público imóvel por particular e suas consequências jurídicas: Análise do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
24
José Pedro Brito da Costa Recusas de cobertura por planos de saúde e a garantia de atendimento pela intervenção judicial
25
Karoline Tavares Vitali Diálogos entre a Constituição e o código civil: a formação de um direito privado solidário 27 Laís Bergstein A responsabilidade civil dos acionistas da Samarco S.A. no desastre ambiental ocorrido em Mariana
27
Laura Schneider Longhi O papel direito privado na construção de uma sociedade livre, justa e solidária 28 Lauricio Alves Carvalho Pedrosa Vida a prestações e déficit decisório: os parâmetros de um novo modelo de escravismo econômico
29
Lucas Rodrigues Lima
A proteção da criança contra a comunicação mercadológica no mercado de consumo 30 Lúcia Souza d’Aquino

4
Mudança do nome do(a) transexual: constituição subjetiva e direito da personalidade 30 Manoel Pereira da Cruz Neto e Mislene Lima da Costa Direito privado e saúde suplementar brasileira: as insuficiências do Direito para concretização de direitos
32
Marcelo Maduell Guimarães A importância da delimitação do termo “pessoa pública” e suas consequências no mundo jurídico: uma análise da ADI 4815
33
Marcos Cesar Silva Valverde Gentrificação e função social da propriedade: forma jurídica e ordem econômica na Constituição Federal de 1988
34
Norberto Milton Paiva Knebel Responsabilidade civil pela ocorrência de efeitos colaterais ao uso de medicamentos contraceptivos: o papel do dever de informação
35
Patrícia Durante A releitura da teoria do fato jurídico para a construção do Direito: entre a passagem do andar sob o amarelo desértico ao andar sob a Luz manifesta do céu
36
Paulo Júnior Trindade dos Santos e Gabriela Möller Novos paradigmas da concorrência desleal e o ambiente da internet: fungibilidade, semiologia e o processo reputacional
37
Pedro Marcos Nunes Barbosa Como julga o STJ: análise de conteúdo de decisões sobre boa-fé e função social 37 Priscila Zeni de Sá O perfil civil-constitucional da mediação familiar 38 Ricardo Calderón Teoria da aparência: mecanismo de expansão da responsabilidade do fornecedor de produtos e de serviços
39
Simone Regina Backes O papel da constitucionalização do direito privado na tutela da criança diante da publicidade 40 Yasmine Uequed Pitol

5
Apresentação
Alcançamos o quinto ano.
Um lustro de vida de um encontro acadêmico que nos parece merecer, de fato, o
adjetivo democrático. Desde o primeiro encontro, havido em Porto Alegre, professores
doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, graduados e graduandos têm dividido as mesmas
mesas, os mesmos espaços de fala. Todos têm recebido a mesma atenção de seleta plateia.
Esta é a primeira edição a internacionalizar-se. Isso só foi possível graças à generosidade
do professor Andrés Mariño Lopez, da UDELAR no Uruguai, e do professor Gonzalo Martín
Rodriguez, da UBA na Argentina e ao CNPq.
É a edição que conta com o maior número de grupos de pesquisa.
Quatorze grupos de pesquisa – e, aproximadamente, 50 pesquisadores – estarão
reunidos no Unilasalle, em Canoas, atados pela matriz epistêmica que nos une a todos: a
constitucionalização do direito privado.
1. Danos à pessoa humana nas redes sociais virtuais (UFRJ).
2. Direito, Ambiente e Novas Tecnologias (Unilasalle).
3. Direito privado e contemporaneidade (UFAL).
4. Direitos Fundamentais, Cidadania e Novos Direitos (FURB).
5. Extraversão (FDRP).
6. Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos e Fundamentais (UESC).
7. Intersecções jurídica entre o público e o privado (UNISC).
8. Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização (UFRGS).
9. Núcleo de Pesquisa em Direito Privado (UFG).
10. O direito civil na pós-modernidade jurídica (UFES).
11. O processo civil contemporâneo: do Estado Liberal ao Estado Democrático de
Direito (Unisinos).
12. Prismas do direito civil-constitucional (Unilasalle).
13. TSD – Teorias Sociais do Direito (Unilasalle).
14. Virada de Copérnico (UFPR)

6
É importante ratificar que entre expositores, mediadores e comissão organizadora,
aproximadamente meia centena de pesquisadores estiveram imersos ao longo de quatro
jornadas de trabalho deliciosas. Duas manhãs, duas tardes. Seis painéis temáticos nos quais
temas relevantes serão expostos e debatidos com muita responsabilidade e com muita alegria.
Aliás, a última novidade foi a introdução de um painel para tratar de questões atadas ao
Direito na Sociedade de Consumo, motivo que levou à seleção do artigo que inaugura este
repositório com os resumos das pesquisas apresentadas por ocasião do evento.
Registramos nossa gratidão ao Unilasalle Canoas pelo apoio incondicional, sem o qual
esta edição do Agendas não teria ocorrido.
Historiamos, ainda, que desde aquele longínquo 2012 muito se construiu.
Estivemos em Recife, na Faculdade de Direito UFPE, fomos ao UNICEUB em Brasília e
depois à Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Aliás, naquela ocasião, os que lá
estiveram puderam se deliciar com os saberes e a generosidade do professor Luciano de
Camargo Penteado, jovem docente e dedicado pesquisador que, infelizmente, prematuramente
nos deixou.
A tua memória, Luciano, esta edição do Agendas é dedicada.
Marcos Catalan
Lucas Abreu Barroso
Marcos Ehrhardt
Pablo Malheiros
Ricardo Aronne
(Org.)

7
Resumos
A transmissão contratual da propriedade imóvel sem registro: perspectivas hermenêutico-construtivas
Alexandre Barbosa da Silva
A propriedade imóvel é transferida no Brasil, conforme o direito (im)posto no art. 1245 do CC, unicamente por meio do registro do título no albo imobiliário. Desconsidera-se, para fins de transmissão, elementos típicos da hermenêutica contratual, tais como a boa-fé, a alteridade e a necessária percepção da complexidade pujante nas relações sociais contemporâneas. O Direito Civil percebido sob as lentes da Constituição, fulcrado em uma teoria que sugere revisitar conceitos clássicos e ressignificá-los à luz das realidades contemporâneas, deve ser o fundamento jurídico a nortear a construção de novos significados para os antigos significantes no campo das titularidades. A propriedade, nesse contexto, merece uma atual consideração no que pertine a seu alcance, estrutura e função, o que se pode densificar com base no rompimento da perspectiva unicamente teórica e abstrata da lei, assim como na superação do individualismo na sua proteção. Na constatação de insuficiência do modelo historicamente construído na modernidade, estão os fundamentos temporais que justificam a edificação de uma nova consciência dominial. As estruturas clássicas, ainda vigentes no Brasil, não conseguem atender às demandas sociais oriundas da aludida complexidade e da pluralidade que emergem das novas formas de vida e da porosidade e liquidez das relações humanas, especialmente as jurídicas. A teoria da separação relativa dos planos, como raiz do sistema de apropriação brasileiro, está em crise, especialmente por conta de seu excessivo conteúdo abstrato e individualista, que não considera situações subjetivas existenciais e patrimoniais que estejam fora do formato prescrito no Código Civil, como se as realidades de vida fossem possíveis de enquadramento perfeito nos moldes fechados da literalidade do Direito estatal, com sua pretensão totalizante. O sistema registral brasileiro se funda em ficções e, por isso, não é mais adequado como único a reger as situações jurídicas que envolvem as titularidades, em especial o acesso e a proteção da propriedade imóvel. Nesse duto de ideias, permite-se afirmar, ainda, que a rígida separação dos efeitos e das finalidades das obrigações e dos direitos reais também entra em colapso diante dos contemporâneos modelos relacionais cuja criatividade e rapidez o Direito não consegue acompanhar. A função dos institutos de Direito Civil deve ser a de conduzir a pessoa à realização de suas necessidades e propiciar qualidade de vida. Nesse sentido, a função social da propriedade e do contrato ganha nova configuração, que supera a antiga ideia de restrição de liberdades em prol de um social abstrato, com o preenchimento de seu conteúdo e a busca de eficácia a partir da liberdade positiva ou substancial. A função social, assim, se torna concretizadora dos princípios, valores e objetivos constitucionais, a partir das liberdades que se efetivam e não naquelas que residem tão somente no campo do discurso da modernidade, ou seja, a liberdade formal. É correto afirmar, assim, que a liberdade acolhida pelo Direito Civil é realística, e a função social é, agora, compreendida como função social como liberdade(s), que deseja a proteção da sociedade em geral, mas também da pessoa individualmente considerada. Com base nisso, a propriedade e o contrato devem ter por finalidade a concretização das realidades que envolvam as pretensões que compõem as atividades jurídicas – para além do conceito de negócio jurídico –, com prevalência da justiça na consideração do caso concreto, cujos fundamentos estão nos conteúdos de dignidade humana, solidariedade, alteridade e boa-fé. Para além do conceito tradicional de contrato, como encontro de vontades, fundado na pacta sunt servanda, o que se busca é a sua funcionalização, a partir da liberdade substancial das partes e dos terceiros que

8
tenham legítimo interesse, em realizar suas objetividades e efetivar seus interesses constitucionalmente assegurados. A contemporânea compreensão sobre a temática da aquisição proprietária igualmente se constitucionaliza, a partir da função social, e seu conceito se amplia em relação aos poderes proprietários, reconstruindo-se com base na liberdade substancial de acesso e de manutenção, em conformidade com a principiologia e os valores da Constituição. Com fundamento nessas ideias, afirma-se que a propriedade imóvel não é mais alcançável unicamente pela via do registro público, uma vez que o contrato precisa ser considerado em sua teleologia, assim como a apropriação também guarda nova concepção, em respeito aos não proprietários. A atividade jurídica que conforma o contrato é dinâmica e ultrapassa a divisão de planos, permitindo que o contrato seja interpretado e compreendido em sua finalidade. Os contratos de transmissão têm por objetivo transferir a propriedade e não, tão somente, prometer a transferência, como determinado na codificação em vigor. O direito à propriedade, portanto, deve ser considerado como acesso constitucionalmente assegurado, a partir dos princípios da dignidade, solidariedade e da boa-fé, sempre valorados com base na alteridade e no não abuso do direito. Cabe ao intérprete, nesse viés, considerar as intencionalidades do contrato, o conteúdo da boa-fé, o paradigma solidarista e a alteridade, como suficientes a uma hermenêutica construtiva da ideia de que a aquisição da propriedade sem registro é possível, na concretude do caso específico e na primazia da realidade em face da abstração legista. O paradigma de segurança do registro é fruto da história e já se vê superado pela realidade das novas formações negociais. A pesquisa que ora se apresenta resultou em tese de doutoramento no PPGD da UFPR, com perspectiva de continuidade, para fixação de possíveis alternativas ao atual formato de aquisição imobiliária no Brasil, visando otimizá-lo e torná-lo mais acessível, com uma publicidade verdadeira, mediante a adoção de sistemas de informação integrados, com unificação dos cartórios de documentos e de registro imobiliário, sem qualquer prejuízo aos direitos dos gestores e funcionários dos entes públicos extrajudiciais. É certo, portanto, que alternativas há para a modernização do sistema. Não obstante, o que se pretende com a pesquisa, neste momento, é desvelar o espaço dos fundamentos que propiciem a edificação de um novo paradigma que seja razoável a justificar tomadas de decisão, em casos concretos, tanto pelo advogado, como pelo juiz, mas, sobretudo, fomentar o debate acadêmico e profissional sobre esse diferente olhar acerca da apropriação sobre bens imóveis. O acesso à propriedade imóvel pode se concretizar no cumprimento do próprio contrato, independente de registro, como prestígio da promessa constitucional de acesso aos bens, em especial quando se tratar de moradia, de posses configuradas fora das hipóteses tradicionais de aquisição, entre outras situações possíveis que façam efetivar a realidade de vidas na sociedade.
Palavras-chave: transmissão contratual, propriedade imobiliária, registro.
Direito ao esquecimento na Internet: o projeto de lei da Câmara dos Deputados
Alexsandro da Silva Linck
Em 24 de abril de 2014 foi publicada, no Diário Oficial de União, a Lei nº 12.965 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. A elaboração do diploma legal em questão contou com a participação dos cidadãos, a partir de comentários e sugestões postados em uma plataforma específica disponibilizada na Internet. Além da preocupação com a neutralidade da rede, a privacidade esteve na pauta dos debates entre os participantes; essa conjuntura denota o interesse da Sociedade em Rede pela Internet. No entanto, em que pese a novidade do Marco Civil da Internet, o regramento já é objeto de proposta de alteração, ou seja, para inclusão de dispositivo legal tratando especificamente do direito ao esquecimento. Dessa forma, o escopo do trabalho é a verificação do substitutivo adotado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aos Projetos de Lei 215, 1.547 e 1.589 de 2015 e o direito ao esquecimento na Internet, a fim de averiguar a adequação

9
ou não da proposta em trâmite. As hipóteses do projeto de pesquisa são: (a) o reconhecimento e a efetivação do direito ao esquecimento no âmbito da Internet enseja a existência de previsão no Marco Civil da Internet; (b) os artigos 21 e 187 do Código Civil amparam o reconhecimento e a efetivação do direito ao esquecimento. Analisar o direito ao esquecimento e o substitutivo adotado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aos Projetos de Lei n 215, 1.547 e 1.589 de 2015. A constatação ou não da existência de necessidade do regramento específico para o direito ao esquecimento na Internet, ou da suficiência do disposto no artigo 21 e 187 do Código Civil para o reconhecimento do direito de estar só no ambiente virtual. A metodologia utilizada na pesquisa é a revisão bibliográfica, a pesquisa de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, ainda, dos projetos de lei destinados a alteração do Marco Civil da Internet para previsão do direito ao esquecimento. A pesquisa está em curso e com 40% (quarenta por cento) das atividades realizadas. Em meados de 1890 os advogados norte-americanos Samuel Warren e Louis Brandeis iniciaram o debate quanto aos limites para intromissão na esfera privada do indivíduo, uma vez que estava em curso o avanço da tecnologia e a multiplicação das notícias (VIEIRA, 2007, p. 40). Os advogados publicaram um trabalho com o título The right to privacy, no qual apontavam a necessidade de proteção à privacidade: “[...] o sistema do common law deveria garantir a cada pessoa o direito de decidir até que ponto os seus pensamentos, sentimentos e emoções poderiam ser comunicados a terceiros, não se admitindo, em qualquer hipótese, que se forçasse alguém a fazê-lo contra sua vontade” (AGOSTINI, 2011, p. 102-103). Na contemporaneidade, pode-se dizer que “o direito à privacidade se traduz na faculdade que tem cada pessoa de obstar a intromissão de estranhos na sua intimidade e vida privada, assim como na prerrogativa de controlar suas informações pessoais...” (VIEIRA, 2007, p. 30-31). O esquecimento — ato ou efeito de esquecer — traduz-se em um “mecanismo” para preservação da privacidade. Não podemos, entretanto, restringir o esquecimento ao aspecto de não ser lembrado ou recordado, uma vez que no âmbito em estudo (divulgação de informações no ambiente virtual) interessa é o não acesso ou a cessação de divulgação de determinadas informações relativas à intimidade e à vida privada (evitar a evocação), a fim de atingir-se a qualidade de olvido ou, ainda, de ser deixado em paz. O direito ao esquecimento tem por finalidade impedir a manutenção da divulgação de acontecimento pretérito quanto ao ente, e permitir, no âmbito da Internet, a remoção do conteúdo classificado como ofensivo, como expõem André Zonaro Giacchetta e Pamela Gabrielle Meneguetti (2014, p. 385). O direito em debate, então, “define-se pelo direito de que ninguém pode ser eternamente lembrado ou cobrado por atos praticados no passado” (CONCI; GERBER, 2015, p. 262). O assunto em pauta não se revela novo, pois mesmo sem tal nomenclatura (direito ao esquecimento), há registro de situação semelhante destinada à proteção da privacidade em um julgamento realizado no ano de 1973, pela Primeira Sala do Tribunal Constitucional Federal Alemão. No julgamento citado, diante da colisão entre os direitos constitucionais à privacidade, à ressocialização do preso e à liberdade de rádio e televisão, a Corte Alemã decidiu pelo direito à privacidade mesmo em se tratando de informações verídicas. Trata-se do caso Lebach (SARLET, 2015). Em meados dos anos 90, entretanto, o Tribunal Constitucional Federal Alemão decidiu em sentido distinto: foi permitida a divulgação do novo documentário produzido sobre o caso Lebach, tendo em vista que o trabalho audiovisual não contemplava elementos para identificar os autores do crime e, portanto, a “interferência no livre desenvolvimento da personalidade seria reduzida” (CONCI; GERBER, 2015, p. 262). No segundo julgamento houve o resguardo da privacidade, mas sem a proibição à livre manifestação do pensamento: ocorreu uma mitigação ao amplo esquecimento garantido quando do primeiro julgamento. Contudo, no âmbito da Internet, o “grande marco” para o debate acerca do direito ao esquecimento ocorreu em 13 de maio de 2014. Na

10
data em questão, o Tribunal de Justiça da União Europeia julgou o processo C-131/12 — envolvendo Google Spain SL e Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González —, e assegurou proteção ao direito de olvido: direito de o indivíduo requerer o “esquecimento” diretamente aos “motores de busca na Internet”, a fim de que “eliminem as páginas com informações pessoais ‘irrelevantes ou desatualizadas’ […]” (GUERRA, 2014. p. 411). Os questionamentos que decorrem desta decisão são diversos, uma vez que, no ambiente da Internet, as informações são transmitidas com agilidade e não há facilidade de esquecimento, bem como, em contrapartida, é assegurado o direito de livre manifestação do pensamento e de informação. Portanto, o objeto da pesquisa é a constatação da existência ou não da necessidade de inclusão do direito ao esquecimento no Marco Civil da Internet, considerando-se, além dos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o disposto no artigo 21 e 187 do Código Civil.
Palavras-chave: direito ao esquecimento, Internet.
Responsabilidade civil e a tutela dos danos morais difusos e coletivos pelo direito do consumidor
Ana Carolina de Azevedo
A chamada sociedade de consumo é uma sociedade de massas e de classes: suas relações definem-se pelo mercado, que ao mesmo tempo permite interações anônimas e despersonalizadas entre um grande número de pessoas e promove a apropriação de benefícios da vida social pela posição social que os sujeitos ocupam no processo produtivo. O consumidor, exposto a tais fenômenos econômicos, acaba sendo vitimado pela desigualdade de informações, pelos produtos defeituosos e perigosos, pelos efeitos sobre a vontade e a liberdade, o que lesiona sua integridade econômica, física e psíquica, emergindo a necessidade de protegê-lo e colocá-lo em equilíbrio nas relações de consumo. A relevância social dessa classe vulnerável rompeu com a tradição jurídica clássica de que só indivíduos seriam titulares de um interesse juridicamente tutelado ou de uma vontade protegida pelo ordenamento, tendo o Código de Defesa do Consumidor criado direitos cujo sujeito é uma coletividade difusa, indeterminada, que não goza de personalidade jurídica e cuja pretensão só pode ser satisfeita quando deduzida em juízo por representantes adequados. Assim, de acordo com o art. 81, parágrafo único, do CDC, são três as espécies de interesses metaindividuais: os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Difusos correspondem aos “interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” (art. 81, parágrafo único, I). Coletivos, por seu turno, são os “interesses ou direitos transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica - base ” (art. 81, § único, II, CDC). E, Individuais Homogêneos, embora não objetos do presente estudo, tratam-se dos “interesses ou direitos decorrentes de origem comum (art. 81, III, do Código do Consumidor). A tutela de tais interesses ou direitos despontou da desestruturação do Estado Social de Direito, na medida em que este tornou-se incapaz de garantir os direitos humanos, a democracia e o exercício da cidadania, em decorrência da subversão das funções estatais às políticas de mercado e aos poderes que o constituem. Em outros termos, as mudanças históricas e legislativas têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. Não obstante, para responsabilizar alguém por dano moral, seja difuso, seja coletivo, mister se faz provar o grave desrespeito atingidor do patrimônio moral da coletividade, não bastando o mero constrangimento para tornar possível a reparação, o que dificulta a responsabilização e a indenização por tais lesões. O reconhecimento dos danos morais coletivos ainda não é uma matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que prescinde da superação do caráter individualista e egoístico da responsabilidade civil. Para Ministra Nanci Andrighi, “nosso ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de que

11
um grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado”. Embora o CDC admita a indenização por danos morais coletivos e difusos, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar esse tipo de dano resultando na responsabilidade civil, sendo um dos objetivos da presente pesquisa identificar os fatos transgressores que sejam de razoável significância e transbordem os limites da tolerabilidade. Assim, cumpre demonstrar quais fatos são graves o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, justificando a responsabilização civil. Nesse sentido, o presente excerto tem como escopo principal elucidar os alargamentos jurisprudenciais e doutrinários acerca das concepções de dano e responsabilidade civil, ante intranquilidade e sentimento de desapreço gerado pelos danos coletivos que, justamente por serem indivisíveis, acarretam lesão moral que deve ser reparada coletivamente. Ademais, sabe-se que o direito civil pode contribuir para orientar os atores sociais no sentido de evitar determinadas condutas, mediante a punição econômica de quem age em desacordo com padrões mínimos exigidos pela ética das relações sociais e econômicas. Esta corresponde a função que a responsabilidade civil pode, excepcionalmente, assumir, ao lado de sua clássica função reparatória/compensatória, sendo o aprofundamento da primeira um objeto mediato do estudo. Para tanto, pretende-se, incialmente, apresentar os conceitos imprescindíveis à compreensão da problemática, para, em seguida, demonstrar a relação entre a responsabilidade civil e os danos difusos e coletivos. Ao final, far-se-á uma pesquisa no âmbito do Poder Judiciário a fim de investigar como tem se dado a tutela dos direitos difusos e coletivos através da aplicação da disciplina normativa prevista no Código de Defesa do Consumidor. A fim de concretizar a primeira fase da pesquisa fundamentar-se-á o estudo em obras clássicas, contemporâneas, artigos científicos, bem como teses de mestrado e doutorado acerca do tema e de seus pormenores – elucidando os conceitos de responsabilidade civil, direitos coletivos, direitos difusos, dano moral e seus desdobramentos –, sempre com referência às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez apresentadas as noções essenciais e demonstrada as implicações da tutela dos danos morais coletivos e difusos, pretende-se dissecar os julgados que contiverem a expressão “dano moral coletivo”, com o recorte metodológico da responsabilização do fornecedor, visando-se constatar o posicionamento do Poder Judiciário acerca do tema. Cumpre mencionar que o atual estágio da pesquisa se encontra no aprofundamento bibliográfico e no início da elaboração do artigo científico. Ante o exposto, resta evidente que esses novos danos repercutem em uma inovadora e importante dimensão relacionada a responsabilidade civil, cumprindo a presente pesquisa o papel de elucidar a evolução dos mecanismos de proteção do consumidor frente à sociedade consumerista.
Palavras-chave: danos morais, direitos difusos e coletivos, consumidor.
O paradigma da mediação familiar: concretizando direitos civis-constitucionais
Ana Carolina de Oliveira Quintela e Ísis Boll de Araujo Bastos
Através da mediação se busca evitar a judicialização das relações familiares e atuar como um mecanismo efetivo de concretização dos direitos e princípios fundamentais provenientes desses contextos. Partir-se-á de uma análise da Constitucionalização do Direito Civil e das Famílias em suas facetas contemporâneas, na perspectiva de arquitetar, com base nos preceitos comunicativos e emancipatórios da mediação, um direito das famílias fundamentado na efetiva repersonalização das relações e promoção de direitos fundamentais nas relações entre particulares. O objetivo geral da pesquisa é analisar a mediação familiar como mecanismo e fundamento teórico de promoção da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade nas relações familiares. Além de delinear, no âmbito do direito das famílias, a influência provocada pela constitucionalização do direito civil; desenvolver um

12
contraponto entre a constitucionalização do direito civil e os fundamentos da mediação enquanto paradigma de mudança sócio-cultural e apresentar a mediação familiar como forma de efetivação dos direitos fundamentais familiares. O cerne da mudança operada pela constitucionalização do direito civil, principalmente a repersonalização das relações civis, desencadeou uma preocupação e foco nas pessoas e no desenvolvimento de sua personalidade. No mesmo sentido, o paradigma mediativo refere que as pessoas precisam ser conduzidas para um caminho de intercompreensão, pois “inconscientemente, os mediandos comunicam-se pela linguagem do conflito – inadequada e destrutiva – em lugar de uma linguagem adequada e construtiva da intercompreensão.” Por esse motivo, “a mediação é melhor fórmula, até agora encontrada, para superar o imaginário do normativismo jurídico.” Pois, além de um instrumento ou porta de acesso ao bem da vida almejado, a mediação opera uma ressignificação do conflito muito maior e que alcança um contexto jurídico para além do normativismo e pode ser uma excelente aliada a efetivação dos direitos civis-constitucionais. Neste sentido deve-se questionar a relação entre as bases teóricas da constitucionalização do direito civil e da mediação, a fim de desvendar: em que medida cada uma das duas bases teóricas indicadas se retroalimentam em sentido e favorecem uma maior efetivação de tutela da pessoa humana? Metodologicamente para os fins que a pesquisa se propõe, quanto ao objeto, uma análise a partir da pesquisa bibliográfico-documental. Quanto aos objetivos, a pesquisa será exploratória. Em relação à natureza, será qualitativa, através de publicações do tema em livros, revistas, artigos científicos, etc. A pesquisa encontra-se na fase embrionária de construção bibliográfica e levantamento de bases teóricas para responder a problemática proposta. A construção da intersecção entre dois paradigmas (constitucionalização do direito civil e mediação) dependerão destas bases para identificar a viabilidade teórico-prática desta pesquisa e dos fundamentos apresentados.
Palavras-chave: mediação, mediação familiar.
Superendividamento do consumidor e a necessidade de tutelas legais e jurisdicionais efetivas para a garantia do mínimo existencial
Ana Laura Peres Palacio
É um fenômeno do mercado de consumo contemporâneo a indiscriminada e irresponsável concessão de crédito por parte de fornecedores, que se aliada à imposição de condições onerosas e/ou desproporcionais à realidade e capacidade de adimplemento dos consumidores, potencializa o fenômeno do superendividamento. Segundo MARQUES (2006, p. 256), o superendividamento é apurado como “a impossibilidade global de o devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”, configurando-se, assim, um fenômeno aquém do mero descumprimento obrigacional. Em termos gerais, o consumidor superendividado é aquele sujeito que não consegue arcar com suas dívidas contraídas, comprometendo seu sustento, sua família e, inclusive, sua saúde - características atinentes ao seu mínimo existencial. Nesse sentido, SARLET (2015, p. 69) chega a inferir que o mínimo existencial tem por função precípua “assegurar a qualquer pessoa condições mínimas para uma vida condigna”. Dessa forma, a ocorrência do superendividamento revela não só questões de ordem econômica, mas também social, psicológica, comportamental e jurídica, necessitando de tutela por parte do Estado e de atividades jurisdicionais efetivas para seu controle e regulação. Assim, partindo do pressuposto de que o consumidor é a parte vulnerável da relação de consumo, a pesquisa desenvolvida tem por objetivo verificar a necessidade de tutelas jurisdicionais e legais mais eficazes, por parte do Poder Estatal, para a garantia do mínimo existencial dos consumidores superendividados frente à superioridade econômica dos fornecedores. Para tanto, será utilizado o método de abordagem hipotético-dedutivo, a fim de, partindo de doutrina, legislação e jurisprudência, confirmar ou refutar a hipótese de pesquisa. Será dado enfoque especial ao Projeto de Lei do Senado n. 283/2012 (PLS 283/2012). Até o momento, ainda que importante fenômeno

13
contemporâneo, a matéria é tratada de forma incipiente na legislação brasileira, limitando-se, na maioria dos casos, a discussões doutrinárias. O Código de Defesa do Consumidor tangencia o tema da concessão de crédito, ponto abrangido basicamente no art. 52. No campo de atuação do Poder Judiciário, ainda que haja iniciativas jurisdicionais que visem à reinserção social do consumidor superendividado, como, por exemplo, a realização de audiências de conciliação entre credores e devedores, as decisões entendem pela inexistência de fundamento legal suficiente para a garantia efetiva no tratamento do superendividado para os casos em que as conciliações não resultarem exitosas. Diante das informações coletadas, concluiu-se que efetivamente há uma necessidade de o Estado criar medidas que visem a prevenção do superendividamento da pessoa física e promovam acesso ao crédito responsável e educação financeira ao consumidor de modo a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial, com base nos princípios da boa-fé e da função social do crédito ao consumidor, benefícios esses que serão proporcionados pela implementação do PLS 283/2012 e que demonstrarão forte avanço frente ao cenário brasileiro atual.
Palavras-chave: superendividamento, consumidor, mínimo existencial.
Incidência, derrotabilidade normativa e segurança jurídica substancial: concretização das agendas de direito civil contemporâneo
André Luiz Arnt Ramos
O Direito Civil brasileiro contemporâneo, constitucionalizado e consciente da derrocada do Código como fator de agregação e elemento constitutivo do sistema de Direito Privado, em prol da Constituição, traz consigo marcas típicas da transição entre os modelos de Estado de Direito e de Estado Constitucional. Esta travessia, consistente de uma espacialidade gnosiológica cara à temporalidade inaugurada pelo Constitucionalismo Democrático pós-Segunda Guerra, é marcada por quatro viragens fundamentais. Estas compreendem desde a renovação da técnica empregada na redação dos textos constitucionais – a qual se torna dúctil, prenhe de conceitos jurídicos indeterminados, princípios e cláusulas gerais, em oposição à rigidez regulamentar típica dos novecentos – até projeção supranacional de valores consagrados pelo direito interno para o âmbito do direito internacional, e vice-versa, passando pela reformulação das relações entre Legislação e Jurisdição e pelo estiramento do princípio da igualdade. Consectário destas transformações qualitativas e de avanços operados na Teoria do Direito é o abalo do vetusto dogma da unidade entre texto e norma, caro aos esquadros do Estado de Direito e inspirador da acepção formal de segurança jurídica, ancorada na pré-determinação textual de hipóteses normativas. Paulatinamente, então, consolidam-se (i) o enfraquecimento da ideia de sistema de Direito Privado centrado no Código Civil, haja vista a emergência das Constituições democráticas como elementos propriamente constitutivos do sistema e delineadores, por assim dizer, de seus ângulos e parâmetros; e (ii) a dualidade entre texto e norma, produto das viragens havidas na transição entre os modelos de Estado de Direito e de Estado Constitucional, impulsionadas, entre outros fatores, por novos ventos soprados da Teoria do Direito. Assim, consolida-se paulatinamente a compreensão de que o texto não esgota sua normatividade, como um dado; antes, consiste no espaço de onde o intérprete colhe subsídios para a construção da norma, de sorte que o dispositivo constitui o objeto da interpretação e, a norma, seu resultado. Os desafios postos por esta ordem de ideias chancelam a ruína da tradicional noção de incidência normativa, segundo a qual o simples aperfeiçoamento do suporte fático descrito na hipótese de um enunciado normativo implicaria, automaticamente e de modo infalível, a imantação desta situação de fato pelo consequente normativo. Em seu lugar, exsurge a deferência à derrotabilidade, consistente na inexorável possibilidade de se afastar (derrotar ou não aplicar) determinada norma jurídica, se um fato, interpretação ou circunstância com ela não guardar compatibilidade. Isto exige, da comunidade jurídica em geral e da civilística em especial, uma nova postura hermenêutica, que conjugue tópica e sistemática e que se abra ao sentido substancial da noção de segurança jurídica,

14
já não mais adstrito à certeza haurida da lei, mas vinculado à controlabilidade, calculabilidade e confiabilidade dos processos argumentativos (às razões) empregados na justificação de soluções jurídicas à vista de cada problema concreto e dos limites da unidade do sistema. Tudo isto informa uma nova agenda para o estudo e para a aplicação do Direito Civil brasileiro na contemporaneidade, de modo a não contrariar o rumo das transformações em curso e alcançar, com assertividade, a realização da multifacetada principiologia axiológica de índole constitucional na ordem jurídica das relações interprivadas.
Palavras-chave: derrotabilidade normativa, segurança jurídica.
A mediação como instrumento de resolução dos litígios jusconsumerista
Ardala Marta Corso
O debate acerca do uso de meios alternativos de resolução de conflitos, dentre eles a mediação, é cada vez mais presente no meio jurídico e acadêmico brasileiro. O cabimento e os benefícios da mediação em algumas áreas específicas, tais como o Direito de Família e o Direito de Vizinhança, por exemplo, é quase consensual. No entanto, a aplicabilidade desta técnica alternativa de resolução de controvérsia em outras esferas jurídicas, a exemplo do Direito do Consumidor, ainda permanece em aberto. O presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de utilização da mediação como instrumento de resolução de conflitos que envolvem relação de consumo. Para tanto, por meio do método bibliográfico, faz-se uma breve análise do procedimento da mediação, para, a seguir, apontar a possibilidade ou não de sua aplicação aos litígios jusconsumeristas, assim como suas vantagens como instrumento de resolução de conflitos no âmbito das relações de consumo. Conclui-se que, não obstante o Código de Processo Civil possibilite interpretação no sentido de que a mediação não é aplicável aos litígios jusconsumeristas, inexistem óbices para sua utilização, porquanto mesmo a vulnerabilidade do consumidor não pode ser tida como um impedimento. Nesse contexto, a mediação pode consistir em importante instrumento para a resolução destes conflitos, sendo que, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor abre expressamente a possibilidade de criação de métodos alternativos para solução de controvérsias que envolvem as relações de consumo.
Palavras-chave: consumidor, mediação, fragmentação do direito.
O estudo da boa-fé objetiva e o código civil de 2002: concreção jurisprudencial à luz do direito civil-constitucional
Beatriz Hernandes Silva
O Direito Privado apresenta, em sua conjuntura e organização, a cláusula geral. Quanto a sua definição, pode haver divergências, mas há consenso quanto ao seu conceito indeterminado e sua vagueza semântica, características estas que fazem com que o intérprete da lei complete o seu significado, havendo, assim, a concreção do seu sentido. São as cláusulas gerais, importantes instrumentos que promovem a flexibilidade dos ordenamentos jurídicos e a permeabilidade dos mesmos. Afinal, a possibilidade de preenchimento do conteúdo, faz com que a mesma esteja atenta à realidade fática, de modo a proporcionar a estruturação dos ordenamentos jurídicos, trazendo em seu bojo, valores constitucionalmente eleitos. É o que ocorre com a boa-fé objetiva, cláusula geral aposta no Código Civil de 2002, cujo significado não pode ser entendido senão em consonância ao empenho de cooperação e lealdade comercial. É, em sede de contrato, o ingresso da eticidade, valor social que é juridicizado e eleito para ingressar no ordenamento jurídico, a partir de padrões de conduta que garantem a máxima participação e cooperação dos agentes, havendo, como fim, não mais o mero adimplemento, mas o bom adimplemento. É essa perspectiva que inaugura um novo entendimento sobre os contratos, que deixam de ser economicamente neutros e tornam-se arcabouço valorativo, no quadro axiológico-constitucional. Considerada a boa-fé objetiva como cláusula geral, há dificuldades no estabelecimento de seus limites de atuação. Não que se queira definir o conceito, afinal, justamente por ser cláusula geral, apresenta a abertura semântica como característica, mas é importante o estabelecimento de seus limites de significação. Diante disso, a fim de se estabelecer a boa-fé objetiva em consonância a seus critérios, de forma sistemática e refletida, é necessário o

15
estudo desta cláusula geral, tanto nas possibilidades significativas construídas pela doutrina, quanto da concreção jurisprudencial realizada pelos Tribunais de Justiça. O trabalho foi desenvolvido a partir da pesquisa dos artigos do CC/02 que citam, expressamente, o termo boa-fé para posterior levantamento bibliográfico. Assim, foi possível a identificação de três setores operativos de atuação da boa-fé, quais sejam: (i) Paradigma Interpretativo-integrativo, (ii) Controle e limitação do exercício de direito, (iii) Paradigma Comportamental e imputação de deveres às partes. Dessa forma, encerrada a fase de identificação das possibilidades significativas da boa-fé objetiva, e, analisada a sua construção doutrinária, analisaram-se os Acórdãos dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e São Paulo. Diante do elevado número de acórdãos, adotou-se o lapso temporal de um ano (01.01.2014 a 31.21.2014) e palavra-chave boa-fé objetiva. Foram analisados 150 acórdãos, sendo 100 do Tribunal de Justiça de São Paulo e 50 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para cada acórdão foram realizados questionamentos, que significaram a adoção de critérios, através dos quais tornou-se possível a análise qualitativa das decisões e os pressupostos de aplicação da boa-fé objetiva. Estas variáveis foram submetidas à análise de correspondência múltipla (ACM), que se caracteriza pela análise exploratória multivariada que utiliza o conceito básico qui-quadrado para padronizar as frequências e formar a base para as correspondências. A ACM foi processada com a tabela de Burt (X’X), para isso, utilizou-se o software Statistica 7® (versão 7.0) e foi considerada correspondência significativa quando p < 0,05. Como a boa-fé objetiva é termo multifacetar, cláusula geral constantemente construída pela doutrina e pelos Tribunais, o receio que se tem é que todo significado que se queira atribuir a ela possa ser feito facilmente, sem crivos e pressupostos. Afinal, em virtude de sua amplitude e flexibilidade, é mais fácil incorrer na criação de significado inadequado e o falso entendimento de que a boa-fé pode resolver todos os problemas. Todavia, deve-se combater o uso irrefletido da boa-fé objetiva, a fim de utilizá-la apenas quando houver razão de ser, com vistas a impedir a sua vulgarização e manter a segurança jurídica. Há que se falar que o emprego desenfreado do termo não indica necessariamente desconhecimento dos juristas, mas mormente o uso retórico do instituto, a fim de se demonstrar que a decisão estava consonante aos novos princípios contratuais. Nesse sentido, identifica-se, dos Tribunais de Justiça analisados, a existência de três padrões de decisão. Um primeiro grupo que aplica adequadamente o instituto, um segundo que aplica inadequadamente a boa-fé, em virtude de características fáticas que não condizem com a concreção da cláusula, e um terceiro grupo, cujo uso desmedido e retórico, gera sua banalização.
Palavras-chave: boa-fé objetiva, código civil, direito civil-constitucional.
A plena capacidade civil das pessoas com deficiência e seus desdobramentos no direito do consumidor: uma análise da hipervulnerabilidade à luz das modificações introduzidas pela lei de inclusão da pessoa com deficiência
Bruna Brum
O Direito do Consumidor regulamenta relações entre privados (consumidor e fornecedor), tendo, foco em um caráter social, visando tutelar o direito dos agentes considerados vulneráveis na sociedade de consumo. Um desses agentes, que ganha destaque na conjuntura atual, é a pessoa com deficiência. A importância das pessoas com deficiência envolve uma problemática histórica e social muito forte, que o Direito visa a abarcar e regulamentar de maneira a conceber uma sociedade mais justa e digna para a convivência desses indivíduos. No que tange ao direito do consumidor, a proteção concedida a estas pessoas se caracteriza de forma especial, com maior salvaguarda de seus direitos dado o instituto da hipervulnerabilidade. O Código Civil de 2002, também na intenção de resguardar os direitos das pessoas com deficiência, impunha limitações ao exercício da capacidade civil, classificando-os como “absoluta” ou “relativamente” incapazes. Contudo, o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe expressivas modificações. A Lei 13.146 de 06 de Julho de 2016, intitulada de “Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tem por objetivo a emancipação da pessoa com deficiência,

16
buscando, de forma humanitária, “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (art. 1º, EPCD). O ímpeto de promover a ampla tutela e a democratização dos direitos das pessoas com deficiência, todavia, pode ter deixado de lado indispensáveis métodos protetivos, o que importaria em exposição a maiores riscos e prejuízos, especialmente na sociedade de consumo. A reforma mais expressiva trazida pelo Estatuto modificou o plano da capacidade no Código Civil, excluindo os termos que denotavam a incapacidade da pessoa com deficiência (art. 3º e 4º do CC). Hoje, após a vigência do Estatuto, a pessoa com deficiência funcional (mental, intelectual, físico, sensorial) passa a ter plena capacidade de exercício dos atos da vida civil. Com tal modificação, muitas áreas do direito sofrerão impacto e, consequentemente, possíveis reformas, a fim de garantir o exercício pleno e digno da capacidade civil da pessoa com deficiência. Isso importará, também, em uma análise dos institutos protetivos já existentes no Direito do Consumidor, a fim de verificar se a proteção concedida por estes, no modelo atual, será eficaz e adequada para tutelar as relações de consumo que se desenvolverão a partir da reforma provocada pelo Estatuto. A presente pesquisa visa a verificar se o instituto da hipervulnerabilidade, hoje pacificado na doutrina e jurisprudência com base nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, é suficientemente protetivo e apto a resguardar as relações de consumo envolvendo pessoa com deficiência funcional detentora de plena capacidade civil. Embora a novidade do tema impeça conclusões hígidas, buscar-se-á responder o questionamento utilizando-se do diálogo das fontes, dada a necessidade de harmonização e coordenação entre as normas que serão trabalhadas. A metodologia empregada trabalha com a análise da doutrina e da legislação pertinente ao assunto (Código Civil, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Código de Defesa do Consumidor) de forma hipotético-dedutiva, partindo dos conceitos abordados para testar a hipótese da pesquisa.
Palavras-chave: capacidade civil, deficiência, hipervulnerabilidade.
Reprodução humana assistida e Sociedade do Espetáculo: análise das ofertas via Internet de tratamento de fertilização
Carla Froener Ferreira
A busca pelo projeto de parentalidade nunca foi tão explorado quanto na sociedade atual, principalmente, devido aos avanços da medicina no campo da reprodução humana. A fertilização não é mais vista apenas como um tratamento de saúde reprodutiva, pois se tornou um negócio lucrativo e em expansão, que utiliza a publicidade, muitas vezes apelativa e manipuladora, para conquistar clientes. Ao mesmo tempo em que a imagem passa a ter grande importância, representa a superficialidade da aparência, que reduz a complexidade das coisas apenas ao visível. Nessa linha, desenvolve-se a presente pesquisa, que possui como tema o estudo da aplicação da teoria da “sociedade do espetáculo” de Guy Debord nas ofertas via Internet de tratamentos para a fertilização. Busca-se explorar o seguinte questionamento: os elementos da sociedade do espetáculo estão presentes na publicidade via Internet da reprodução humana assistida? Além do objetivo geral que é investigar o problema de pesquisa, o trabalho possui como objetivos específicos: estudar a reprodução assistida e a sua (des)regulamentação, analisar como se dá a publicidade, estudar a sociedade do espetáculo, consultar os sites que oferecem tratamento para a reprodução humana assistida e verificar a possível presença da espetacularização em tais ofertas. Assim, são hipóteses da pesquisa: a) a sociedade do espetáculo se faz presente nas ofertas via Internet de tratamentos de reprodução pesquisadas, sendo que as imagens e os símbolos utilizados seduzem facilmente o consumidor-espectador, entorpecendo o seu senso crítico e objetificando as relações de parentalidade; b) apesar de os elementos da sociedade do espetáculo estarem presentes nas ofertas via Internet de tratamentos de reprodução, as imagens e os símbolos não são utilizados de forma a objetificar as relações de parentalidade; c) não é possível encontrar os elementos da teoria da sociedade do espetáculo nas ofertas via Internet. Como marco teórico,

17
utilizou-se autores que tratam sobre reprodução humana assistida, sociedade do espetáculo, sociedade de consumo e publicidade. Adriana Maluf conceitua a reprodução humana assistida como a intervenção médica no processo de procriação natural, com o objetivo de auxiliar pessoas a terem filhos. Moore e Persaud explicam que entre as principais técnicas, é possível citar a inseminação artificial, a fertilização in vitro e a injeção intracitoplasmática de espermatozóide, podendo o material genético utilizado para a fecundação ser ou não dos autores do projeto parental. Atualmente, a única norma regulamentadora desta matéria é a Resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina. Explica Ikemoto que nas últimas décadas, a intervenção médica na reprodução humana tornou-se um negócio rentável e em grande expansão, no qual participam instituições médicas, como clínicas e hospitais, agenciadores e intermediários, bem como doadores de material genético e mulheres que gestam e dão à luz. Esse mercado da fertilidade é potencializado pela configuração da sociedade atual, classificada como “de consumo”, na qual predomina a compra e venda de mercadorias produzidas de maneira massificada como principal atividade econômica. Uma das mais acentuadas características da sociedade de consumo é a “objetificação”, defendida por Baudrillard, em que as relações humanas deixam de ser focadas nos sujeitos e passam a ser centralizadas nos objetos. Segundo Bauman, como um sistema econômico capitalista baseado no consumo necessita de um movimento constante de mercadorias para gerar riqueza, os consumidores são bombardeados com estímulos para consumirem cada vez mais. Neste sentido, Baudrillard entende que todos os valores concretos e naturais viram formas produtivas e fontes de lucro. O mesmo ocorre com a procura pelas técnicas de reprodução que são difundidas por meio da publicidade e percebidas pelos destinatários como uma solução mágica. Moriarty, Mitchell e Wells conceituam a publicidade como uma forma paga de comunicação para atingir audiências amplas com objetivo de conectar fornecedores e consumidores, providenciar informações sobre seus produtos e interpretar suas características de acordo com o desejo e necessidade destes consumidores. Para que a publicidade seja capaz de atingir os seus fins, é necessário que tenha uma alta capacidade de persuasão em estimular o consumidor a comprar determinado produto. Assim, Nelly Carvalho afirma que o emissor da publicidade utiliza a manipulação disfarçada para convencer e seduzir o receptor. Durandin vai além, defendendo que o uso da mentira é um artifício recorrente na publicidade, visto que sua finalidade é influenciar o comportamento do consumidor, e não apenas transmitir informações fidedignas. É neste contexto que a “espetacularização” das relações sociais merece destaque. Debord defende que o mundo contemporâneo, inserido no sistema capitalista, experimenta uma “sociedade do espetáculo”, como resultado da dominação da economia sobre a vida social. É a relação social entre pessoas mediada por imagens, o predomínio da aparência. O propósito de persuadir e manipular o receptor das mensagens para que ele compre aquilo que é oferecido, é atingido por meio da publicidade, que se constitui na espetacularização do objeto e das relações que são formadas em torno dele, mesmo que isto signifique subverter o fim último da ação principal, que no caso da reprodução humana assistida, é o projeto de parentalidade. Quanto às técnicas metodológicas a serem utilizadas no presente estudo, escolheu-se duas: pesquisa bibliográfica e empírica. A pesquisa bibliográfica é utilizada principalmente no início do trabalho (capítulos 1 e 2), quando são feitas referências aos autores e suas conclusões, de forma a conceder fundamentos para a parte seguinte do estudo. Já a pesquisa empírica (capítulo 3) é necessária para o fim de verificar na prática o modo como são difundidas as ofertas dos serviços de fertilização e se os elementos da sociedade do espetáculo estão presentes nestes anúncios. Este estudo está sendo feito por meio da pesquisa no ambiente virtual da Internet, nos sites das clínicas situadas nos Estados da Região Sul do país (RS, SC, PR) que fazem parte da “Sociedade Brasileira de

18
Reprodução Assistida”. Por fim, quanto ao estágio da pesquisa, tem-se o capítulo 1 concluído, o capítulo 2 em revisão final e o capítulo 3 em fase de análise de sites e redação.
Palavras-chave: reprodução assistida, Sociedade do Espetáculo.
Nova perspectiva de danos extramateriais: o dano ao projeto de vida como uma das concretizações da responsabilidade por danos
Carolina Vieira de Oliveira e Matheus Mendanha Lorero Bernardino
Embora o direito à reparação por danos extramateriais seja consolidado no Brasil, há ainda muita confusão no que tange às espécies de danos extramateriais existentes, principalmente no uso e aplicação de dano moral e dos novos danos extramateriais, como o dano ao projeto de vida. Procura-se entender melhor a respeito dos novos danos, principalmente o dano ao projeto de vida, propondo uma classificação sinônima aos danos extramateriais: danos existenciais (estes que vêm sido conhecidos como espécie, não gênero), a fim de minimizar tal confusão, à luz da constitucionalização do direito civil e da responsabilidade por danos.
Palavras-chave: dano ao projeto de vida, direito de danos.
A virada cognitivista na teoria do direito e a questão dos papeis de gênero: algumas provocações metodológicas
Fabrício Pontin
O paradigma cognitivista traz desafios importantes para questões de direito civil, particularmente no que tange o direito de família e questões vinculadas a atribuição de papeis familiares e sociais, e o tipo de evidência sócio biológica que pode ser usada para fundamentar diferentes tipos de produção legislativa e prioridades administrativas e congressionais sobre problemas vinculados a papéis de gênero, mercado de trabalho, guarda compartilhada e licença neonatal. Meu objetivo nessa apresentação é apresentar, inicialmente, a perspectiva inatista e determinista “forte” sobre questões de papéis de gênero e atribuições familiares dentro do cognitivismo (PINKER, 2002; SWAAB, 2012; BECHARA, 2014) focando nas consequências dessa perspectiva no discurso legal. Em oposição a posição determinista, irei demonstrar como perspectivas cognitivistas e construtivistas (PINKER, 2008; Bandura, 2000) permitem apontar para a importância de políticas legislativas que adotem certa cautela diante de perspectivas inatistas e naturalistas de gênero, papéis familiares e referências sociais. Finalmente, defenderei uma posição pós-cognitivista, de fundo utilitarista, para a construção de estratégias legislativas para lidar com problemas que emergem dentro da virada cognitivista.
Palavras-chave: virada cognitivista, teoria do direito, gênero.
Princípio da solidariedade como um meio de interpretação na jurisdição constitucional: uma forma de concretização dos direitos sociais
Fernanda Brandt e Jorge Renato dos Reis
A sociedade contemporânea está umbilicalmente ligada ao Estado para a realização de uma vida digna. Assim, importante olhar para a concretização de Direitos Sociais, através de Políticas Públicas de inclusão social, como forma de tornar possível esta vida digna a todos e não somente a alguns privilegiados, Para tanto, tem-se no estudo do constitucionalismo contemporâneo uma os mecanismos de viabilidade de tais demandas. Emerge pesquisar, a concretização dos direitos fundamentais da Constituição Federal, diante do desafio de integração entre o texto e a realidade. Como o momento vivido transferiu do executivo e do legislativo para o judiciário a concretização da Constituição Federal, a jurisdição constitucional vem, trazendo uma atuação ativa e criativa dos tribunais. Por meio de decisões judiciais, percebe-se a vagueza das cláusulas constitucionais e a necessidade de sua aplicação ao dia a dia do cidadão. Assim, tem-se a centralidade na realização da Constituição e na garantia de seus direitos uma necessidade de refundação do Estado e da Sociedade, onde a realização plena da pessoa humana é o norte central de todo o ordenamento jurídico. Tal realização somente é possível no momento em que se entender o direito do outro tão importante quanto o meu próprio. Logo, a concretização de uma sociedade com pleno respeito à vida digna de todos deve se dar pela observância do princípio da solidariedade. Em que pese o novo paradigma da solidariedade fuja do âmbito exclusivamente jurídico, carece a compreensão

19
básica de que a solidariedade é uma responsabilidade individual e social. Devidamente prevista no texto da Constituição Federal, mas esquecida no momento de atuação do Poder Judiciário, age em nome da concretização de todos os demais direitos fundamentais, sendo, todavia, esquecido pela maioria, restando por banalizado o sofrimento alheio e gerando uma indiferença com o próximo. É no constitucionalismo contemporâneo que se tem o importante desafio de efetivação dos direitos fundamentais à sociedade como um todo e é no processo de jurisdição constitucional, que se tem a discutida atuação do Poder Judiciário, buscando tornar a Constituição Federal um texto normativo efetivo, frente à omissão, muitas vezes, aos pedidos de socorro daqueles esquecidos pelas políticas públicas do Executivo ou pelas muitas leis poucas efetivas criadas pelo Legislativo. Essa atuação do Judiciário é discutida acerca da sua legitimidade ou ilegitimidade, quando posta contrária à alegação do Executivo no sentido de impossibilidade de cumprimento de direitos sociais, quando acionado a responder sobre seu papel, escorando-se nas limitações trazidas pela realidade, sob o argumento da “reserva do possível”. Assim, o propósito consiste em partir da interpretação do princípio da solidariedade no processo de jurisdição constitucional como meio de busca da concretização dos direitos sociais, mesmo a par do falacioso argumento da “reserva do possível”. Para tanto, utilizou-se de material bibliográfico, transcorrendo o estudo com base na metodologia dedutiva, através da pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos. Diante do propósito posto, exige-se que, partindo da interpretação com base no princípio da solidariedade, deverá haver uma maior concretização dos direitos sociais. Isto porque o conformismo não pode mais conduzir a atualidade, visto que a pessoa humana é o fundamento da sociedade e do próprio Estado. Deste modo, o perfeito entendimento e a vivência da cultura da solidariedade determina o avanço do processo de jurisdição constitucional, que se materializará na efetividade da garantia dos direitos fundamentais individuais e sociais. A Constituição Federal possui os instrumentos jurídicos necessários à plena vivência da dignidade de todos e de cada um, necessita-se, entretanto, esta plena vivência a “vontade de Constituição” como refere Konrad Hesse e esta somente se dá quando se passa a viver a solidariedade. Diante da grande carga valorativa-moral que carrega o princípio da solidariedade, sua utilização quando do processo de interpretação pelo jurista é primordial. Cabe o despertar do conformismo vivido, não se aceitando mais que as desigualdades sociais sejam um preço a ser pago pela ineficácia da economia, mas sim uma tragédia evitável. Assim, para o Constitucionalismo Contemporâneo, se perceber como parte de um todo, possibilita a constatação de contribuir de um amanhã melhor, a partir da vivência da solidariedade quando da jurisdição constitucional, trazendo valores e moralidade, em prol da concretização da dignidade humana.
Palavras-chave: solidariedade, interpretação, jurisdição constitucional.
O perfil constitucional da revisão judicial dos contratos por desequilíbrio sinalagmático.
Gabriel Fernandes Khayat
A revisão judicial dos contratos por desequilíbrio sinalagmático é tema antigo na história do direito privado, tendo acompanhado as mutações do próprio sentido de contrato, adquirindo diversas fundamentações a partir da doutrina vigente e do contexto econômico. No direito brasileiro, o artigo 317 do Código Civil prescreve comando neste sentido, pois permite a revisão judicial dos contratos por motivos imprevisíveis que provoquem quebra da base objetiva do negócio, desequilíbrio contratual, desproporção da prestação, quebra da função social do contrato, ou ofensa à boa-fé objetiva. O presente texto é resultado de pesquisa fomentada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sob o título “A Causa na Revisão Judicial dos Contratos por Desequilíbrio Sinalagmático e Análise Jurisprudencial dos Contratos de Fornecimento de Produto Agrícola”, que foi levada a outra perspectiva, que é o direito civil-constitucional. Dessa forma, pretende-se verificar se há uma dimensão constitucional da revisão judicial dos contratos e quais as suas

20
implicações na concreção do artigo 317 do Código Civil. Portanto, a escolha do tema se deu pelos seguintes pontos: (a) relevância prática e teórica do instituto da revisão judicial do contrato; (b) superação dos velhos princípios contratuais e atuação dos princípios sociais na concreção do artigo 317 do Código Civil; (c) necessidade de integração intra-sistemática por meio de cláusulas gerais. A pesquisa foi realizada a partir de da leitura de fonte doutrinário-científica, formada pela obra de juristas nacionais e estrangeiros, a partir da qual se extraiu elementos essenciais da teoria do direito aplicável ao tema. O artigo 317 do Código Civil constitui a “cláusula geral do sinalagma”, conferindo ao sistema, mobilidade interna, a partir da integração “intra-sistemática” no Código Civil, e “inter-sistemática”, para alcançar legislação especial e a Constituição Federal. Assim, o preenchimento do conteúdo dos conceitos legais indeterminados, dotados de vagueza semântica, é determinado pelos princípios contratuais. Neste sentido, deve-se reconhecer que ao lado dos princípios tradicionais – liberdade contratual e autonomia da vontade, pacta sunt servanda ou obrigatoriedade dos efeitos do contrato e a relatividade dos efeitos do contrato -, historicamente houve o surgimento dos princípios sociais contratuais – função social dos contratos, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual ou sinalagma. A partir destes, é possível compreender a revisão dos contratos como resultado da realização da justiça contratual pela aplicação do princípio do sinalagma, que é seu fundamento e limite. De um lado, alicerça a procedência da revisão por buscar o permanente equilíbrio entre o dar e receber, mas de outro, limita a interferência a aspectos objetivos, pois as prestações não devem ser reajustadas tendo em vista a condição socioeconômica dos agentes. No entanto, nem por isso desconsidera-se o aspecto social envolvido, pois a função social atua quando o contrato perde seu significado social, como resultado da sua dimensão externa, justificando a pacta sunt servanda e impedindo a manutenção dos pactos que venham a prejudicar a coletividade. Ao lado disto, a boa-fé objetiva sempre apareceu associada a revisão contratual, já que em meio a discordâncias e ausência de consenso sobre qual seria o fundamento da revisão contratual, as teorias apontavam para equidade e a boa-fé. De fato, há relação, pois a alteração das circunstâncias e a formação de uma nova realidade econômica não se coadunam com um padrão ético de conduta de exigir o cumprimento de obrigações desequilibrados, apontando para a associação entre o equilíbrio econômico e o dever de colaboração, para evitar a extinção do vínculo contratual. Ainda, na atuação judicial para a revisão do conteúdo do contrato, a boa-fé objetiva delineia o campo da integração pelo qual o juiz deverá percorrer, ampliando ou restringindo deveres, em função da existência de dupla lacuna – do contrato e da lei. Portanto, a autonomia da vontade foi modulada pela ordem pública, e hoje se apresenta como autonomia privada, justificando a intervenção contratual. No entanto, nem por isso, há uma descaracterização da pacta sunt servanda, pois o contrato continua sendo obrigatório, mas rompe-se com a ideia de intangibilidade do seu conteúdo material. Dessa forma, é possível afirmar que os princípios sociais do contrato e a cláusula geral do sinalagma permitem a formatação do perfil constitucional da revisão judicial dos contratos, pois permitem a transição entre o direito constitucional e o direito privado, a partir da interpretação e integração sistemática, conferindo mobilidade interna ao sistema jurídico.
Palavras-chave: revisão judicial, desequilíbrio sinalagmático.
A constitucionalização do direito privado e a solidariedade
Grace Kellen de Freitas Pellegrini e Vinícius Oliveira Braz Deprá
A constitucionalização do direito privado perfectibiliza que o direito civil tenha a inserção dos valores constitucionais, transmutando o viés legalista e distanciado da realidade, o que causa uma análise restrita das normas privatistas. A vinculação dos princípios constitucionais nas relações privadas é fruto do processo de constitucionalismo e, nesse modelo, a premissa é de que o texto constitucional é uma ordem de valores que se espraia por todo o ordenamento jurídico, a partir do fenômeno da dimensão objetiva dos Direitos Fundamentais.

21
Não se deve esquecer que há incidência direta dos dispositivos constitucionais na esfera privada em sua dupla perspectiva, objetiva e subjetiva, fazendo concluir que a solidariedade, enquanto princípio constitucional e direito fundamental, aplica-se às relações interprivadas, de modo direito. A releitura dos institutos do Direito Civil a partir dos ditames previstos na Constituição Federal é necessária para que haja a concretização do texto constitucional. Afinal, de outro modo não seria possível que sua incidência ocorresse do modo perfeito. Destaca-se que, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que se quer é a solidarização de seus institutos, a partir da presença de uma vasta principiologia, a boa-fé objetiva, o equilíbrio econômico e a função social são mandamentos inseridos formalmente na norma civilista brasileira, a partir de 2003 e que necessitam de efetiva aplicabilidade. Assim, existe uma relação estreita com a boa-fé objetiva, uma vez que este preceito preza pela lealdade contratual, pelo solidarismo e pela cooperação entre os indivíduos, bem como pela noção de função social, conceitos que não deixam de ser completar, já que todos esses princípios estão assentados nos mesmos valores constitucionais e buscam o mesmo fim, qual seja, a construção de uma sociedade melhor, guiada pela solidariedade e pela dignidade da pessoa humana. Esta releitura é necessária a fim de se evitar que seja feito trabalho inverso, ou seja, a leitura dos dispositivos constitucionais à luz da lei ordinária, transformação sentida nos ordenamentos jurídicos a partir do constitucionalismo contemporâneo. A solidariedade, princípio firmado pela dogmática jurídica no século XX, apresenta-se, na atualidade, com uma missão difícil, que passa por solidificar a democracia, humanizar as relações, conduzir o indivíduo à reflexão e concretizar a dignidade da pessoa humana. É a partir desta visão que este princípio se apresenta nas relações de cunho privado, historicamente individualistas, mas que, com a contemporaneidade solidarizaram seus institutos. Assim, a solidariedade, a partir da Lei Maior, torna-se fundamental, desfrutando de preeminência na sua realização pelos destinatários do texto constitucional (MORAES, 2008), eis que denota “escolhas de concretização do que lhe antecede e sendo densificados por todos os princípios gerais de direito que devem lhe concretizar” (ARONNE, 2010, p. 106). Nesse mote, a pesquisa tem como fulcro a aplicação do princípio da solidariedade nas relações particulares, a partir da ideia de que o direito é constitucional em sua essência. O estudo é de natureza bibliográfica, sendo que o método de abordagem a ser utilizado no desenvolvimento da pesquisa será o hipotético-dedutivo e os procedimentos utilizados serão o analítico e o histórico, e está em andamento.
Palavras-chave: constitucionalização do direito privado, solidariedade.
A proteção do mínimo existencial como garantia constitucional de tutela do consumidor superendividado
Guilherme Antônio Balczarek Mucelin
A pesquisa trata sobre a proteção do mínimo existencial como forma de garantia constitucional de amparo ao consumidor superendividado, em um contexto de constitucionalização do direito privado, o qual tem por leitmotiv a valorização dos direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana. Busca-se avaliar se a proteção do reste à vivre encontra-se estabelecida na Constituição da República, de forma a orientar e tutelar os consumidores superendividados, não causando, assim, sua exclusão do mercado de consumo. Objetiva, percebendo que o superendividamento é fonte de isolamento, de marginalização, contribuindo para o aniquilamento social do indivíduo. Quanto mais este fenômeno aumentar, mais seu custo social se eleva e mis a necessidade de combatê-lo se impõe . Este pensamento embasa o primeiro desafio do pesquisador que trata deste assunto: estabelecer qual o fundamento constitucional para combater o superendividamento do consumidor. A pesquisa tem por objetivo, essencialmente, configurar o mínimo existencial como garantia constitucional implícito proveniente diretamente do corolário da dignidade da pessoa humana, à luz da Constituição da República de 1988, que estabelece a pessoa como seu valor principal. O estudo justifica-se pela constatação de que cresce cada vez mais a quantidade de pessoas

22
superendividadas no Brasil, de modo a comprometer as condições mais básicas de vida – o mínimo existencial. O atual estágio da pesquisa mostra que o mínimo existencial não está consagrado em nenhum dispositivo de nossa Constituição Federal. Contudo, tal preceito é inerente ao ser humano, surgindo em um patamar inclusive pré-constitucional através da dignidade da pessoa humana e, como tal, condicionante da ordem jurídica. Em outras palavras, o princípio da dignidade da pessoa humana, que visa a garantir os meios mínimos para a sobrevivência dos cidadãos, traz atrelado a si a proteção do mínimo existencial, ou, de acordo com a doutrina francesa, do reste à vivre. Também é compreendido como um todo de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna, constituindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais. Nesse sentido, a lesão ou a ameaça de lesão ao mínimo existencial por conta do endividamento excessivo exclui o consumidor superendividado do mercado e traz a impossibilidade de consumo e de quitação das suas dívidas, de forma a comprometer-lhe a dignidade, ganhando sentido a proteção e tratamento do superendividamento. Conclui-se, a priori, que o reconhecimento dessa garantia do mínimo existencial independe de expressa previsão legislativa, devendo guardar sintonia com uma compreensão constitucionalmente adequada do direito à vida e da dignidade da pessoa humana como princípio constitucional fundamental e o direito constitucional de proteção do consumidor. O presente estudo é balizado pelo método científico dedutivo, na medida em que toma como premissa máxima o fundamento da dignidade da pessoa humana como norte de aplicação do Direito, para se chegar às conclusões quanto à proteção do mínimo existencial como tutela dos consumidores superendividados.
Palavras-chave: mínimo existencial, consumidor, superendividado.
Danos à pessoa humana nas redes sociais virtuais
Guilherme Martins
Hipótese: A popularização crescente da Internet nos últimos tempos trouxe profundas transformações a toda a sociedade. A comunicação mediada por computador é, hoje, uma realidade consolidada em grande parte do mundo. E as redes sociais virtuais confundem-se com o próprio conceito de Internet para muitos. Por seu turno, no Brasil, o ordenamento jurídico é carente de regras legais específicas acerca das relações jurídicas travadas em seu âmbito. E a jurisprudência vem enfrentando cada vez mais o tema. Objetivo: De maneira crítica, enfrentar os problemas trazidos pelo Marco Civil da Internet no Brasil (Lei 12.965/2014), à luz da visão jurisprudencial, e sempre sob a ótica da cláusula geral da dignidade da pessoa humana. Metodologia: Hipotético-dedutiva, com recurso a casos concretos. Estágio da pesquisa: Iniciada em 2010.
Palavras-chave: dano, dano à pessoa, redes sociais.
Venire contra factum proprium: uma análise comparativa acerca da utilização da figura pela jurisprudência brasileira e italiana
Isabela Maria Lopes Bolotti
A pesquisa foi finalizada em fevereiro de 2015, quando da entrega do relatório final para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. A presente pesquisa parte da análise doutrinária da figura do venire contra factum proprium nos ordenamentos jurídicos brasileiro e italiano e uma posterior comparação da aplicação da figura pelos magistrados de ambos os países. Tal análise jurisprudencial visa compreender não apenas o porquê da utilização exacerbada da figura do venire contra factum proprium no Brasil, enquanto a mesma encontra-se praticamente abandonada no direito italiano, mas compreender as origens de tais diferenças e, principalmente, se e em que medida o direito brasileiro pode ser enriquecido com os aportes do direito italiano. No direito italiano, ao contrário do que verificamos no Brasil, a figura do venire contra factum proprium sofre uma marginalização por parte da jurisprudência que, em sentido ao contrário ao que faz a doutrina, praticamente não aplica o venire contra factum proprium, prezando pela aplicação de outras figuras as quais o direito italiano julga ter os mesmos efeitos, como é o caso da “autoresponsabilità”, a mais recorrente entre as aplicações jurisprudenciais. A figura do venire contra factum proprium, assim como no direito brasileiro, no

23
direito italiano deriva da figura da boa-fé. Trata-se de um comportamento sucessivo incompatível com aquele precedentemente realizado, sendo a expressão de um espírito incoerente e contraditório, o qual é refutado com vistas a assegurar a segurança jurídica daquela relação. Porém, mesmo tratando longamente da figura e aproximando a definição feita pela doutrina italiana daquela que vimos no Brasil, foi possível perceber com a pesquisa a existência de uma divisão da doutrina italiana acerca do venire contra factum proprium: enquanto uma doutrina majoritária a reconduz para dentro da boa-fé (assim como o faz a doutrina brasileira), outra parte minoritária da doutrina a reconduz a outras figuras, como é o caso da “autoresponsabilità”. Tal divisão doutrinária acerca da figura dificulta, então, não apenas uma visão mais clara e unânime da figura, uma visão que traga os pressupostos de aplicação, por exemplo, como ocorre no Brasil, mas dificulta também a aplicação jurisprudencial da mesma. Enquanto na jurisprudência brasileira sofremos com o problema da aplicação excessiva e desenfreada da figura, na grande maioria das vezes em casos em que a mesma não seria necessária para decidir a questão ou por diversas vezes confundida com outras figuras, o que acaba por gerar uma banalização da mesma e uma perda de seu profundo significado, na jurisprudência italiana, o caso é exatamente o oposto. Percebeu-se uma falta completa de aplicação da figura, uma resistência por parte dos magistrados em aplicar princípios e cláusulas gerais, preferindo a aplicação de normas positivadas. Aplicação restritiva esta que é amplamente criticada pela doutrina italiana que busca, através de seus estudos, ampliar a permeabilidade da jurisprudência à figura. Apesar da tardia incorporação do venire contra factum proprium, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência ter-se dado igualmente em ambos os ordenamentos e, tanto o brasileiro como o italiano, terem como referencial o modelo da Verwirküng alemã, o que foi feito por um e outro ordenamento foi completamente diverso após a incorporação. A jurisprudência brasileira, após a segunda guerra mundial, deixou-se permear pelos princípios e cláusulas gerais, passando a aplicá-los com certa frequência, ao contrário do que parece ter ocorrido na Itália, cujos magistrados ainda preferem a aplicação de normas positivadas em detrimentos de princípios e cláusulas gerais do direito, e tal impermeabilidade explica o porquê de uma resistência à utilização do venire contra factum proprium. Ao fazer, então, uma comparação entre a aplicação do venire contra factum proprium no direito brasileiro e no direito italiano, é possível perceber que a jurisprudência brasileira aproxima-se muito mais do modelo alemão, no qual existe também uma utilização excessiva da figura por parte dos juízes, o que é bastante criticado pela doutrina italiana, enquanto a jurisprudência italiana aplica a figura apenas em alguns casos esparsos, mostrando a relutância que ainda existe por parte dos juízes italianos com a aplicação de figuras não previstas em lei. Tal atitude jurisprudencial também amplamente criticada pela doutrina italiana, o que nos faz perceber que, quando o assunto é a figura do venire contra factum proprium aparentemente não se encontrou um ponto ótimo de aplicação. O trabalho em questão desenvolveu-se em duas fases: a primeira delas dedicou-se ao estudo do ordenamento jurídico brasileiro, e a segunda ao estudo do ordenamento jurídico italiano para que, apenas assim, fosse possível a análise comparativa entre eles. Em ambas as fases a pesquisa partiu de um levantamento bibliográfico acerca da figura do venire contra factum proprium, tanto na doutrina brasileira, quanto da doutrina italiana. Encerrada a fase de análise da construção doutrinária do venire contra factum proprium, analisaram-se acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça. Diante do elevado número de acórdãos encontrados no TJ/SP, adotou-se o lapso temporal que compreendeu de maio a agosto de 2013, enquanto que no que tange o STJ a análise envolveu julgados encontrados durante todo o ano de 2013. Foram analisados 181 acórdãos, sendo 160 do Tribunal de Justiça de São Paulo e 21 do Superior Tribunal de Justiça. Para cada acórdão foram analisados alguns dados (adequação da

24
utilização da figura, matéria de aplicação, acolhimento ou não, pelo juiz, do venire contra factum proprium) que possibilitaram chegar à conclusão acerca da utilização excessiva ou não da figura do venire contra factum proprium. Analisaram-se, ainda, 24 julgados encontrados na chamada “Corte de Cazassione Civile”, os quais foram individualmente estudados à luz do quanto dispõe a doutrina italiana, visando a comparação com a forma de utilização no Brasil. Ao final, todos os dados obtidos foram, com vistas a uma melhor elucidação dos resultados da pesquisa, tabelados e colocados em gráficos, de acordo com os critérios utilizados quando da análise.
Palavras-chave: venire contra factum proprium, análise comparativa.
A colisão discursiva do direito fundamental ao acesso à internet no Brasil
Jorge Alberto de Macedo Acosta Junior
Parte-se da premissa que a globalização e, principalmente, o acesso ao ciberespaço possibilita a atuação e a criação de novas esferas jurídico-sociais por parte dos cidadãos em relação às organizações empresariais. Este trabalho tem por objetivo, a partir de uma metodologia funcional-estruturalista da teoria dos sistemas autopoiéticos, investigar as tentativas de limitação da esfera econômica realizadas pela organização autônoma da sociedade civil no ciberespaço. Dada a constitucionalização meramente simbólica no Brasil, se faz visível a utilização da legalidade como retórica legalista pelo sistema político, a legalidade, então, perde sua capacidade de conexão com as práticas jurídicas, eis que se verifica uma corrupção dos códigos, desdobra-se uma ilegalidade fática na realidade constitucional. Continuamente, não há concretização normativa da realidade constitucional, faz-se do artefato semântico da constitucionalidade instrumento particularista nos casos de instabilidade do sistema político, a ordem constitucional que, em situação autopoiética, implicaria na inclusão generalizada da normatização constitucional, repercute apenas na prática discursiva. A sobreposição generalizada dos códigos de comunicação do sistema econômico (ter/não-ter) e político (poder/não-poder) em detrimento do código legal/ilegal resulta em alopoiese do sistema jurídico, isto é, inexistência do fechamento operacional que possibilita reprodução do código, desfazendo os limites entre sistema e ambiente. As consequências da corrupção sistêmica contínua dos códigos destes subsistemas impossibilitam a integração de maneira generalizada, manifestando o problema da exclusão, ou melhor, de subintegração e sobreintegração. A subintegração diz respeito a inclusão ao sistema “por baixo”, existindo dependência dos parâmetros estabelecidos pelo sistema, entretanto, sem que este ofereça suas prestações. Em outras palavras, não se verifica a consistência das expectativas normativas de uma sociedade funcionalmente diferenciada (institucionalização de Direito fundamentais, princípio de inclusão nos sistemas sociais, Estado de bem-estar Social constitucionalmente garantido, generalização dos direitos humanos), sobressai a incapacidade do Direito como sistema autopoiético de lidar com o ambiente social. Em relação a sociedade globalizada aponta-se a constituição de “autonomia relativa” em detrimento da unicidade do direito do Estado-nação no âmbito mundial, esse direito “global” está intimamente ligado aos grupos empresariais multinacionais. Assim, há uma transferência das fontes dominantes do Direito que recai principalmente ao regime privado do mercado na figura das multinacionais através das normatizações organizacionais, negociações interorganizacionais e contratos padronizados. Desta forma, oportuniza-se a hiper-expansão do código ter/não-ter do sistema econômico, aos cidadãos resta a subintegração nos sistemas sociais, seja na esfera pública ou privada. Entretanto, pretende-se deixar de lado a despolitização do setor privado e a deseconomização do setor público, o presente trabalho propõe uma reorientação teórica do direito privado, estendendo-o de modo a abarcar de forma plural a sociedade civil e não reduzi-la ao imperativo do direito referente à propriedade e às relações econômicas. A policontexturalidade, trata de modo apropriado os diversos setores da sociedade, excluindo classificações binárias como Estado/Sociedade. Neste sentido, a hipótese a ser testada na presente

25
pesquisa é a de que os cidadãos subintegrados produzem comunicações no sentido de tentar reverter sua posição de inferioridade em relação ao sistema econômico, no que corresponde as imposições e/ou precariedades nos bens disponibilizados pelas organizações empresariais. A pesquisa encontra-se em estágio inicial, em primeiro momento se tem como campo de pesquisa o ciberespaço, seja em sites dedicados aos consumidores como www.reclameaqui.com.br, em redes sociais como o facebook ou ações de coletivos hacktivistas. Como objeto de pesquisa esboça-se as comunicações referente a atuação da Telefónica que tem como marca VIVO S.A. no Brasil, envolvida na ação de limitação da internet com outras operadoras e ANATEL.
Palavras-chave: colisão discursiva, direitos fundamentais, Internet.
Ocupação de bem público imóvel por particular e suas consequências jurídicas: Análise do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
José Pedro Brito da Costa
O presente trabalho visa analisar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca das consequências jurídicas advindas da ocupação irregular de bem público por particular. Para tanto, o trabalho empreende uma pesquisa jurídico-exploratória com a finalidade de identificar o “estado-da-arte” sobre o tema “ocupação irregular de bem público” por meio da pesquisa em diversos núcleos de expressão do Direito, tais como a lei, a literatura jurídica e o entendimento dos Tribunais. A pesquisa foi dividida em dois eixos: pesquisa bibliográfica e pesquisa empírica. A pesquisa bibliográfica foi baseada na análise de obras jurídicas e de leis aplicáveis à espécie. A pesquisa empírica empreendida teve por universo de análise as decisões judiciais proferidas pelo STJ no período de 2009 à junho de 2016. A escolha do STJ se justifica por ser esse o Tribunal Superior competente em razão da matéria e que, em tese, tem a função de uniformizar o entendimento dos demais Tribunais em relação ao tema. As decisões foram encontradas e colhidas através de pesquisa no campo “jurisprudência” disponível no site: www.stj.jus.br, tendo por palavras chaves e conectores: “posse” e “detenção” e “bem público”. Dessa pesquisa foram encontradas 30 (trinta) decisões que tratavam diretamente sobre o assunto: apropriação irregular de bens públicos por particulares e suas consequências jurídicas. O método utilizado para a análise foi o ferramental teórico denominado MAD – Metodologia de Análise de Decisões, criado por Robertos Freitas Filho e por Thalita Lima. As decisões foram analisadas numa perspectiva lógico-formal, isto é, parte-se da premissa utilizada pelo próprio Julgador, avaliando-se, tão somente, a coerência interna do argumento. A pesquisa jurídico-exploratória apontou que há três entendimentos principais sobre o problema da ocupação irregular de bens públicos por particulares: (i) o particular exerce posse sobre bem público e pode alcançar a titularidade proprietária por meio de usucapião; (ii) o particular exerce posse sobre bem público, mas não pode torna-se proprietário destes por meio de usucapião; (iii) o particular não exerce posse sobre o bem público, uma vez que não é possível se tornar proprietário desse, e só se pode exercer posse sobre coisas passíveis de apropriação por meio do instituto jurídico da propriedade. Assim, a situação jurídica oriunda da ocupação do bem público por particular é de detenção. A pesquisa empírica demonstrou que o STJ se perfilha ao terceiro entendimento, embora esporadicamente se comporte de forma contraditória. O STJ utiliza como fundamento geral para negar o reconhecimento da posse de particular sobre bem público o argumento de que “os bens públicos estão fora do domínio jurídico privado” e de que “não se pode reconhecer a posse sobre bem que o particular não pode se tornar proprietário”. O entendimento existe em nosso ordenamento jurídico há mais de um século e foi incorporado pela cultura jurídica nacional. Dessa forma, o trabalho objetiva: (i) identificar a genealogia do argumento, isto é, desvelar a matriz jusfilosófica que embasa o posicionamento do STJ; (ii) aferir se houve adequada fundamentação das decisões por parte do STJ; (iii) verificar se o posicionamento do STJ é suficiente para tutelar a realidade social envolvida na questão da ocupação irregular de bem público, que é multifacetada. O trabalho conclui que o entendimento do STJ está ancorado na

26
filosofia moderna, que construiu um determinado sentido de posse, e que tal sentido é insuficiente para lidar com os problemas sociais que emergem da ocupação irregular de bem público. O trabalho constatou, ainda, que as decisões do STJ apresentam déficit de fundamentação, o que releva uma violação ao Estado de Democrático de Direito, na medida em que o cidadão tem o direito de conhecer os fundamentos de toda e qualquer decisão proferida pelo (em nome do) Estado. Utiliza-se como marco teórico o pensamento de Roberto Freitas Filho, no livro “Intervenção Judicial nos Contratos e Aplicação dos Princípios e das Cláusulas Gerais ”, no que concerne à utilização do critério da fundamentação adequada das decisões judiciais como uma forma de controle social possível sobre a atividade judicativa.
Palavras-chave: ocupação, bem público, Superior Tribunal de Justiça.
Recusas de cobertura por planos de saúde e a garantia de atendimento pela intervenção judicial
Karoline Tavares Vitali
O contexto de inseguranca trazido pelo vertiginoso avanco tecnologico da sociedade pos-moderna, que traz consigo inumeros beneficios e tambem incalculaveis riscos, criou o cenario ideal para o aparecimento e o desenvolvimento dos planos de saude, especies de seguro, que assumem a responsabilidade de arcar com os custos relativos a tratamentos e procedimentos relacionados a saude de seus conveniados, mediante pagamento de contraprestacao pecuniaria. Nada obstante a relevancia que os planos de saude possuem em nossa sociedade, pois sua atuacao revela-se em uma das formas de efetivacao do direito a saude, e acaba por equalizar os gastos nesse setor com o Poder Publico, sao cada vez mais recorrentes as recusas indevidas de cobertura pelos planos de saude aos seus conveniados. Nestes casos, e comum que os contratantes levem suas frustracoes ao Poder Judiciario, ansiando ter acesso ao tratamento indicado e, por conseguinte, ver a realizacao do seu direito fundamental e social a saude. Assim, trabalhou-se com a hipotese de que a principal causa da contratacao de planos de saude e a sensacao de seguranca por ele trazida, de que, se algum dia o contratante vier a precisar de cuidados medicos, tera acesso a um atendimento de qualidade, e de forma rapida. Dessa forma, a negativa de cobertura nao seria apenas uma negativa a concretizacao do direito a saude do seu beneficiario, no ambito privado, mas tambem acaba por frustrar a propria motivacao da contratacao de um plano de saude. Entao, buscando investigar o papel dos planos de saude na sociedade, a atuacao do Poder Judiciario na garantia de atendimento aos clientes prejudicados pelas recusas de coberturas, bem como contribuir com sugestoes juridicas para a reducao dos conflitos provocados por essas negativas, adotou-se a linha critico- metodologica, assim como, doutrinariamente, a vertente juridico-teorica, e o metodo indutivo-problematico. Alem disso, ansiando obter conclusoes mais proximas da realidade, foi realizada uma pesquisa de campo qualitativa, na forma de questionario, na qual foram entrevistadas 152 (cento e cinquenta e duas) pessoas. Investigou-se, tambem, a atuacao do poder judiciario e da Agencia Nacional de Saude Suplementar (ANS) frente a demandas que envolvem planos de saude. Nesse contexto, urge ressaltar que a pesquisa de campo demonstrou que, dos entrevistados que possuiam plano de saude, 83,1% asseveraram que decidiram contratar um plano de saude por questao de seguranca, pois um dia podem ficar doentes e nao querem ficar a merce do sistema publico de saude. Alem disso, 86,4% daqueles que possuiam plano de saude afirmaram que esperam desses uma cobertura completa, abrangendo o que for necessario para cuidar adequadamente de sua saude. Assim, os resultados desta pesquisa, que foi realizada em Iniciação Científica com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil, no bienio 2014/2015, comprovaram que a principal causa da busca e contratacao de planos de saude e justamente a sensacao de seguranca por eles trazida, de acesso a um atendimento de qualidade no tratamento de doencas e na prevencao de doencas. Alem disso, verificou-se que a relacao contratual dos planos de saude com seus beneficiarios possui especificidades que fazem com

27
que ela ja nasca desequilibrada fatica e juridicamente, ante a adocao dos contratos de adesao, e da dependencia que os beneficiarios possuem em relacao aos seus planos de saude para, de certa forma, garantir a manutencao da sua boa saude, haja vista a seguranca que depositam neles. Assim, tal relacao acaba por demandar um tratamento diferente daquelas relacoes que ja nascem equilibradas. De maneira geral, os tribunais adotado uma postura garantista em relacao ao tema, desempenhando um importante papel na efetivacao do direito a saude no ambito privado, ao assegurar o atendimento do consumidor pelo seu plano de saude. O STF, todavia, utilizando-se de jurisprudencias defensivas, nao tem analisado o merito de tais demandas, deixando de reconhecer que a negativa indevida de cobertura por plano de saude, mais do que uma questao contratual, representa por vezes uma ofensa direta (e nao reflexa) a Constituicao, ao atingir o direito a saude em sua essencia. Ainda podem ser adotadas alternativas a judicializacao, como uma fiscalizacao intensa, pela ANS, dos contratos oferecidos pelos planos de saude. Assim, poderiam ser detectadas previamente clausulas abusivas, evitando que contratos que as incluam sejam oferecidos aos consumidores e, por conseguinte, judicializados. Referida medida, dentre outras passiveis de serem adotadas, trariam, sem duvidas, mais seguranca aos consumidores.
Palavras-chave: cobertura, planos de saúde, intervenção judicial.
Diálogos entre a Constituição e o código civil: a formação de um direito privado solidário
Laís Bergstein
A pesquisa ora resumida trata da problemática envolvendo a passagem do completo isolamento do direito público em relação ao direito privado para o contexto pós-moderno de desconstrução de velhos dogmas e de sua reconstrução sobre o alicerce da dignidade da pessoa humana. Busca-se aferir se a unidade do direito civil se deslocou, deixando de estar enraizada nos códigos civis, exclusivamente, para transitar em meio ao conjunto de princípios, regras e direitos fundamentais elevados à Constituição da República e inscritos nos tratos internacionais protetivos à pessoa. Claus-Wilhelm Canaris sugere que a relação entre a Constituição e o Direito Privado é representativa da verdadeira “problemática do século”. Esse pensamento dimensiona o primeiro desafio encontrado pelo pesquisador que pretende tratar desta relação simbiótica: existe uma carga oceânica de publicações o tema. A despeito das dificuldades naturais da temática, a pesquisa trata, inicialmente, das eras da codificação e da descodificação, seguindo à análise da tríplice dimensão da Constituição da República de 1988: formal, substancial e prospectiva, consoante a doutrina de Luiz Edson Fachin. A partir desses pontos propõe-se a retomada do debate iniciado por Claudia Lima Marques e Bruno Miragem acerca de uma nova conformação do direito privado, sob a rubrica de “Direito Privado Solidário”, que estabelece a pessoa como seu valor principal. A relevância prática que justifica a análise é comprovada com o estudo de casos paradigmáticos, julgados pelos Tribunais Superiores brasileiros, demonstrando-se a partir dos casos concretos como o novo Direito Privado, agora dotado de função social, é aplicado no país. Nas sociedades atuais a defesa da estrita separação entre o direito público e o direito privado, ou seja, a existência de relações verticais (entre estado e pessoas) e horizontais (entre pessoas) é considerada uma análise muito simplista. Também quando se fala em Direito Privado e Constituição, a tônica é, muitas vezes, de usurpação do Direito Civil pelo Direito Constitucional, com uma ideia de conquista do Direito Civil pelo Direito Constitucional. Talvez um caminho melhor seja o da percepção da existência de influências recíprocas que conduzem à harmonização do ordenamento como um todo. A consagração de direitos fundamentais para sujeitos de relações privadas (como o consumidor na esfera das relações de consumo, por exemplo) choca-se com o conceito liberal clássico de Constituição e com a sua definição como documento de organização e limitação do poder político. Tal consagração de direitos anima uma nova percepção sobre o sentido e a função da Constituição. O estado da arte da pesquisa revela que, em maior ou menor grau, todos os institutos de direito

28
privado sofrem influência das disposições constitucionais, assim como que a tradição do direito privado também influencia o texto constitucional dando sentido às suas normas, na medida em que apresenta as definições que não caberiam no texto constitucional. Conclui-se, a priori, que o diálogo e a equidade exsurgem como caminhos para se chegar à melhor expressão do Direito, que é construída a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, como base da liberdade, da justiça e da paz. O estudo é pautado no método científico dedutivo, na medida em que adota como premissa maior, o fundamento da dignidade da pessoa humana como caminho orientador para a aplicação do Direito, para o fim de se chegar às conclusões quanto à percepção de um direito privado ressignificado.
Palavras-chave: Constituição, Código civil, direito privado solidário.
A responsabilidade civil dos acionistas da Samarco S.A. no desastre ambiental ocorrido em Mariana
Laura Schneider Longhi
No dia 05 de novembro de 2015, ocorreu o que muitos consideram como o maior desastre ambiental do Brasil: o rompimento da barragem de Fundão, propriedade da mineradora Samarco S.A., empresa controlada pela Vale S.A. e pela BHP Billiton, no município de Mariana em Minas Gerais. Com esse rompimento, 50 milhões de metros cúbicos de lama, formada pelos rejeitos de minério de ferro, foram lançados à superfície, rompendo outra barragem e carregando resíduos até a foz do Rio Doce, no Oceano Atlântico, no estado do Espírito Santo. Tal fato gerou impactos socioambientais incalculáveis. Segundo laudo técnico preliminar do Ibama, o ocorrido causou a destruição direta de ecossistemas, prejuízos à fauna e à flora e impacto socioeconômico, que “afetaram o equilíbrio da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, com desestruturação da resiliência do sistema”. Além de todo o gigantesco impacto ambiental, trabalhadores da empresa e moradores das comunidades afetadas foram mortos; populações estão desalojadas; edificações, casas, pontes e ruas estão destruídos; áreas agrícolas e pastos foram destruídos; o abastecimento de energia elétrica e de água foram interrompidos; a qualidade da água foi alterada e a pesca está interrompida por tempo indeterminado, causando, assim, a impossibilidade de sustento de centenas de pessoas que dependem da pesca para viver. Conforme o noticiado nos veículos de comunicação nacionais e internacionais, muitas pessoas perderam tudo o que tinham. Recentemente, o Ibama orçou a indenização a ser paga pela Samarco S.A. – apenas pelo dano ambiental – em mais de R$20,5 bilhões de reais. Na ação civil pública movida pela União, considerouse comprovada a falta de patrimônio da mineradora para restituir a totalidade dos danos causados. Assim, muitas vítimas, incluindo o meio ambiente, não seriam indenizadas, visto que a probabilidade é de que a empresa declare sua insolvência e muitas pessoas acabem sem receber valor algum. O Direito não deve ficar inerte frente a esse fato. Seguindo a Teoria do Risco Integral, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, todos os atingidos por esse desastre devem ser indenizados e os danos causados a toda a sociedade brasileira e ao meio ambiente devem ser reparados. O meio ambiente, a vida e a dignidade humana não devem se curvar à desculpa do crescimento econômico. A negligência da Samarco S.A. não deve quedar impune, considerandose todos os prejuízos sofridos pela sociedade brasileira. Se os bens da sociedade responsável pelo desastre ambiental ocorrido não são suficientes para indenizar todas as vítimas, consequentemente, os bens dos acionistas devem ser atingidos. Considerando os fatos expostos, a presente pesquisa, através do método indutivo, busca responder aos seguintes questionamentos: têm os acionistas da Samarco S.A. responsabilidade civil frente ao ocorrido em Mariana? Se sim, qual o tipo de responsabilidade que eles possuem? Há subsídios no ordenamento jurídico brasileiro que permitam efetivamente responsabilizá-los? O instituto da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicado a este caso? Este

29
trabalho busca responder às hipóteses levantadas.
Palavras-chave: responsabilidade civil, Samarco S.A., Mariana.
O papel direito privado na construção de uma sociedade livre, justa e solidária
Lauricio Alves Carvalho Pedrosa
O presente tema foi objeto de pesquisas promovidas no Curso de Doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia, assim como no Estágio de Doutoramento realizado na Justus-Liebig Universität Gieβen (Alemanha), sob a orientação do Professor Dr. Jan Schapp. Foi realizada uma pesquisa exploratória, cujo objetivo consistiu em aprofundar o estudo do problema – pautado pela busca da superação do paradigma liberalindividualista ainda dominante no Direito Civil – e formular hipóteses que assegurem uma interpretação adequada aos atuais anseios sociais, construídos em um ambiente marcado pelo multiculturalismo. A pesquisa, de natureza bibliográfica e documental, propôs-se a apresentar estratégias de argumentação e decisão, diante dos conflitos identificados, na busca por soluções de problemas e questões socialmente relevantes relativas à interpretação/aplicação das normas de Direito Civil. Na tese de doutoramento apresentada em abril do presente ano, sob o mesmo título, buscou-se formular propostas de sentido e justificação aptas a promover uma transformação na interpretação do Direito Privado brasileiro, com base nos valores ético-jurídicos da alteridade e da responsabilidade. O trabalho foi elaborado a partir das ideias formuladas por Emmanuel Levinás, Hans Jonas, Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas, com base em um diálogo entre os pensamentos de tais autores, proposto por Enrique Dussel em sua obra Ética da Libertação. Almejou-se, assim, estabelecer uma maior vinculação entre as normas de Direito Privado e os princípios ético-políticos fundamentais, consagrados na Constituição brasileira, de modo a superar a predominância do paradigma individualista, em direção a uma maior efetivação dos princípios democráticos, dentre os quais se destaca o da solidariedade social. Para tanto, foi realizada uma análise da formação histórica dos valores éticos atualmente dominantes, voltadas à demonstração de que as noções de cuidado e responsabilidade pelo outro remontavam aos primeiros sistemas éticos de que se tem conhecimento e que se expandiram a partir do processo de globalização, restando consagradas dentre os princípios fundamentais da República brasileira. Em seguida, foram apresentadas novas perspectivas interpretativas para as noções de alteridade e responsabilidade, consideradas essenciais para a construção de uma ética adequada ao século XXI. Foram analisados também os efeitos negativos que a padronização e o poder disciplinar produziram em relação à identidade e a cultura de muitos povos, em evidente violação ao conteúdo material do princípio da igualdade. Na luta pelo reconhecimento das diferentes identidades, o multiculturalismo foi compreendido como uma realidade, que se reflete no Direito através do pluralismo jurídico, estruturalmente presente em todo ordenamento jurídico que tenha sido criado em um regime democrático. Nesse contexto plural e multicultural, foi reconhecida à Constituição a tarefa de harmonizar as diferentes ordens e valores em conflitos. Defendeu-se, assim, que, no Brasil, o paradigma individualista do Direito Privado pode ser superado através de uma interpretação de suas normas que esteja em consonância com os princípios fundamentais e os objetivos gerais da República, nos quais podem ser identificados os conteúdos das noções de alteridade e responsabilidade. As propostas apresentadas exigem, portanto, o aprofundamento da ideia de constitucionalização dos direitos. Ultrapassada a transição paradigmática, a partir de uma mudança interpretativa, a pessoa deixará, então, de ser vista como um indivíduo isolado, abstrato e unidimensional, para ser considerado um sujeito multifacetado, plural e socialmente reconhecido em sua dignidade. A autonomia passará a ser concebida numa perspectiva intersubjetiva, dialógica e não mais como poder da vontade, limitado por lei. Ademais, abandonar-se-á o tratamento dicotômico das tutelas da personalidade e do patrimônio, tendo em vista que ambas possuem um objetivo comum: a valorização da pessoa humana. A vulnerabilidade, ao ser

30
reconhecida como um estado do sujeito, além de princípio norteador do novo Direito Privado, deverá ser levada em consideração pelo jurista na interpretação das relações civis, até então marcadas pela padronização e por uma indiferente e insuficiente igualdade formal. Propõe-se que a obrigação seja compreendida como laço de solidariedade social, uma vez que a plena realização de cada ser humano depende não apenas do dever de cooperação, mas de um solidarizar-se com o outro, a fim de atender às suas legítimas expectativas; que as funções sociais das propriedades incorporem em seu conteúdo a ideia de sustentabilidade, sob pena de se esvaziar o conteúdo do princípio, transformando-o em instrumento de legitimação dos atuais modelos de produção e consumo, reconhecidamente insustentáveis, por ameaçarem a permanência das diversas formas de vida no planeta; que o conteúdo ético-jurídico das noções de cuidado, responsabilidade e solidariedade justificam a consideração da prevenção nas hipóteses de responsabilidade por danos e permitem ampliar as hipóteses de responsabilidade solidária. Na concretização dessas propostas, destacou-se também o importante papel desempenhado pelo Poder Judiciário que, na interpretação das cláusulas gerais e demais normas de Direito Privado, deve vincular-se aos princípios constitucionais, razão pela qual não estará autorizado a exercer qualquer poder discricionário.
Palavras-chave: direito privado, sociedade livre, justa e solidária.
Vida a prestações e déficit decisório: os parâmetros de um novo modelo de escravismo econômico
Lucas Rodrigues Lima
Graças ao estilo de vida proveniente de uma ideologia consumista e de concessão indiscriminada de crédito, vivenciamos a preocupante sobrelevação do superendividamento e da incerteza negocial. Soma-se ao cálculo do problema, a inexistência de precisa legislação sobre o tema e a imensa quantidade de demandas judicias propostas, além do reiterado déficit argumentativo em que se baseiam tanto decisões monocráticas, quanto colegiadas.
Palavras-chave: vida a prestações, déficit decisório, escravismo econômico.
A proteção da criança contra a comunicação mercadológica no mercado de consumo
Lúcia Souza d’Aquino
A sociedade de consumo é uma realidade inegável e inafastável. Sua existência é basicamente fomentada pela publicidade, que exerce papel fundamental de despertar o interesse do consumidor. A oferta, que no Código Civil possui poucos requisitos, devendo somente possuir os requisitos do contrato para equivaler a proposta e obrigar o proponente (arts. 427 e 429), no Código de Defesa do Consumidor deve atender a princípios com a finalidade de proteger a parte vulnerável, ou seja, o consumidor, e é denominada publicidade. Assim, deve a publicidade ser identificável como tal, veraz, não abusiva e transparente nas informações que transmite, além de estar submetida à inversão do ônus da prova, correção do desvio publicitário e lealdade. Quando essa publicidade é dirigida à criança, tais deveres devem ser objeto de uma proteção ainda mais forte, diante da condição especial de pessoa em desenvolvimento, que não possui condições suficientes de entender completamente os mecanismos pelos quais a publicidade atua, tornando-se hipervulnerável a ela. Tais deveres decorrem dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (sol em torno do qual o ordenamento jurídico orbita), da proteção do consumidor (direito fundamental e princípio limitador da ordem econômica e financeira), além da proteção integral e prioridade absoluta (princípios segundos os quais família, Estado e saúde, com absoluta prioridade, devem assegurar às crianças seus direitos e uma vida segura e digna). Além disso, o direito básico de proteção contra a publicidade e práticas abusivas (art. 6º, IV do CDC) assegura que é proibido aproveitar-se da deficiência de julgamento e experiência da criança (art. 37, §2º CDC) ou prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV do CDC). Complementando tal normatização, e inserindo no universo de proteção também o conceito de comunicação mercadológica, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)

31
publicou a Resolução n. 163 que, complementando e explicitando os artigos 37 e 39 supracitados, define o que são comunicação mercadológica e publicidade abusivas dirigidas ao público infantil. Ademais, a lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), que dispõe sobre políticas públicas para a primeira infância, determina como áreas prioritárias para tais políticas a proteção contra toda forma de pressão consumista e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. Assim, põe-se a hipótese de pesquisa: a legislação brasileira pertinente ao tema é suficiente para a proteção adequada da criança contra a comunicação mercadológica abusiva no mercado de consumo? Para a abordagem do tema, será utilizado o método de pesquisa hipotético dedutivo para, a partir da hipótese de pesquisa e da doutrina e legislação existentes, verificar sua viabilidade. A pesquisa, por se tratar de projeto de tese de doutorado, encontra-se em fase inicial, e será desenvolvida pelos próximos anos, culminando com tese a ser defendida em 2019. Os marcos teóricos iniciais passam principalmente por Adalberto Pasqualotto, Claudia Lima Marques e Bruno Miragem em suas obras a respeito do Direito do Consumidor e Publicidade, além de Vidal Serrano Nunes Junior e seu Publicidade Comercial: Proteção e Limites na Constituição de 1988.
Palavras-chave: criança, comunicação mercadológica, mercado de consumo.
Mudança do nome do(a) transexual: constituição subjetiva e direito da personalidade
Manoel Pereira da Cruz Neto e Mislene Lima da Costa
Os direitos da personalidade são espécies derivadas da dignidade da pessoa humana (princípio fundamental do qual derivam os demais princípios, que norteiam as regras jurídicas), tida como direito fundamental no direito pátrio (Constituição Federal de 1988, art. 1º, III) (Fachin, 2006, p. 627, 631, 635). Estes direitos têm por sentido ser um conjunto de direitos existenciais, do qual são titulares somente as pessoas humanas, que tem como condição de possibilidade o ser humano, cuja construção é sempre histórica e concreta (Frota, 2016). Na presente reflexão, um direito da personalidade específico será analisado, em um diálogo entre o Direito e a psicanálise, qual seja, o nome, sendo estudada, também, a sua possibilidade de mudança nos casos de transexualidade, independentemente de cirurgia para a retirada da genitália masculina. O nome, portanto, ocupa um papel existencial na constituição e organização subjetiva da pessoa humana, identifica, insere e promove o reconhecimento social, familiar e jurídico desta pessoa humana, a justificar o presente estudo. Soler (2009, p. 172), em relação ao nome próprio, assevera que: “O patronímico é um nome recebido por meio da genealogia, um nome transmitido, digamos que ele vem automaticamente do Outro”, possuindo três características fundamentais: (i) a transmissão automática do Outro (conceito psicanalítico para se referir à cultura e à linguagem, ou seja, transmissão da palavra); (ii) a realização de alianças familiares formais e informais; (iii) e o registro da genealogia por meio da língua. O nome próprio apresenta, por conseguinte, um caráter de individualização e de diferenciação da pessoa humana, pois também tem por característica a intradutibilidade, como Lacan (2003, p.87) aponta: “não importa em que cultura se esteja, que língua se fala, o nome próprio não possui tradução, ele se mantém sempre o mesmo”. As características psicanalíticas do nome dialogam com o molde jurídico deste direito da personalidade, como se verifica, por exemplo, no Código Civil Brasileiro (arts. 16-19). Dessa forma, considera-se que haja uma correspondência entre os aspectos subjetivos de gênero e do nome da pessoa humana, havendo a necessidade de alteração deste quando há incompatibilidade entre estes, mormente nos casos de transexuais (Fachin, 2014). A mencionada mudança é possível, como alude Moraes (2000, p. 24 e 25): “a jurisprudência tem, frequentemente, conseguido garantir que o direito à real e adequada individualização da pessoa suplante a proibição de alteração”. Nesse passo, os contornos jurídico-psicanalíticos para a alteração do nome nos casos de transexualidade, nos quais a mudança do nome e do sexo pode ocorrer, com e sem cirurgia de redesignação sexual (Fachin, 2014), serão objeto deste estudo, cujo intuito é demonstrar critérios para que seja possível a

32
compatibilização entre os aspectos subjetivos, sociais e jurídicos do nome da pessoa humana no âmbito da transexualidade. Emergem para este estudo, destarte, as seguintes hipóteses: (i) o modo pelo qual a literatura jurídica e os julgados analisados constroem os contornos jurídicos do nome e da sua possibilidade de alteração nos casos de transexualidade é insuficiente, pois não tratam de forma conjunta e dialogada os caracteres jurídicos e psicanalíticos do instituto; (ii) a construção jurídica do nome e da sua alteração no caso ora retratado é suficiente, porque o referido duplo aspecto é considerado no campo jurídico. Este estudo tem, por objetivo geral, realizar um levantamento bibliográfico e judicativo, cuja metodologia será a de análise de decisão (MAD - Freitas Filho; Lima, 2010), dos principais aspectos da atribuição de um nome à pessoa humana no duplo aspecto mencionado. Os objetivos específicos se apresentam com a análise da influência do ato de atribuição de nome à pessoa humana na constituição da subjetividade, com a verificação do nome como um direito da personalidade, bem como a sua possibilidade de alteração na legislação, na literatura jurídica e em julgados brasileiros, especialmente nos casos de transexualidade. A pesquisa se caracteriza como uma das principais ações de produção de conhecimento para a sociedade e comunidade científica. Minayo (1993) considera a pesquisa como uma atividade fundamental das ciências nos seus questionamentos e descoberta de realidades. Dessa forma, a pesquisa se instaura como uma atitude e uma práxis ativa, de busca constante, dialética, que apresenta um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma ação de busca da realidade inesgotável, de entrelaçamentos entre teoria e dados. A realização da pesquisa ocorre a partir da seleção de uma metodologia que viabilize seu desenvolvimento, assim como, a melhor adequação aos objetivos estabelecidos pelo pesquisador. Nesse sentido, optou-se para a realização desta pesquisa, a análise de dados obtidos através de um estudo exploratório, obtido por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o nome, sua importância na constituição da subjetividade do indivíduo, assim como a consideração deste, como um direito jurídico da personalidade, em livros, revistas científicas, periódicos e demais tipologias bibliográficas. Silva e Menezes (2005), afirmam que a revisão de literatura se define pela fundamentação teórica utilizada para compreensão do problema de pesquisa. Com a análise de literatura jurídica e dos julgados selecionados há possibilidade da elaboração de um quadro teórico-prático e a estruturação de sentido que permite a sustentação do desenvolvimento da pesquisa. Dessa maneira, ela resultará num processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o problema de pesquisa proposto, permitirá a elaboração de um mapeamento de quem já escreveu e o que foi escrito sobre estes. Até o presente momento foram levantadas referências que possibilitem uma ampliação dos estudos que se referem à atribuição do nome ao indivíduo e o papel deste ato na formação da subjetividade do mesmo, assim como, das atribuições jurídicas decorrentes deste. Percebe-se, nesses estudos, a diminuta referência bibliográfica no que tange a atribuição do nome na constituição da subjetividade na literatura jurídica especializada, de forma que, se evidencia a necessidade do estabelecimento do entrelace entre os aspectos subjetivos e jurídicos acerca do nome, para que haja melhor compreensão da necessidade/solicitação de mudança de nome na transexualidade.
Palavras-chave: mudança do nome, transexual, personalidade.
Direito privado e saúde suplementar brasileira: as insuficiências do Direito para concretização de direitos
Marcelo Maduell Guimarães
Quais os limites cognitivos do Direito Privado? A partir desse problema, coloca-se uma hipótese para teste: quando da necessidade de intervenção do Direito Privado para solução de determinados problemas sociais, nota-se haver uma redução brutal da complexidade do caso e tal comportamento parece sempre pender para soluções de cunho eminentemente individualistas. Assim, após o delineamento das principais características do tratamento jurídico da saúde suplementar brasileira, seja pela revisão crítica da produção bibliográfica

33
brasileira sobre tal tema, seja pela análise qualitativa de julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, procura-se confrontar tais dados com uma análise histórico-política dos pilares conformadores do Direito Privado (contrato; família; propriedade) e com o paradigma da complexidade, utilizando-se especialmente do pensamento desenvolvido por Edgar Morin. Verificou-se, pelo menos em relação ao tema explorado, ser válida a hipótese. Notou-se, através da pesquisa de campo, uma forte presença, no âmbito do Poder Judiciário, de uma racionalidade ainda ligada àquela que sustentava a codificação: como centro hermético e completo do Direito Privado. Ainda que se tenha inferido dos julgados a utilização de diversas fontes normativas para a solução dos casos concretos, não apenas o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor, mas também as regras principiológicas desses diplomas e ainda regras constitucionais, denotou-se que o método de produção da decisão e da bibliografia revestem-se marcadamente de uma posição positivista e autorreferente, implicando, consequentemente, num fechamento cognitivo para a transversalidade. É dizer que há uma abertura semântica horizontal, porque considera sem maiores dificuldades a pluralidade das relações privadas, havendo para solução dos casos concretos a utilização das regras e da principiologia de outras fontes normativas que não apenas o Código Civil, como o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, principalmente, e vertical, porque também considera, ainda que com certo déficit de fundamentação, direitos fundamentais preponderantemente individuais. A transversalidade não verificada seria, na temática proposta, a consideração da ideia ampla de saúde, muito desenvolvida no âmbito do direito sanitário. Por fim, pode-se constatar como razões dessa insuficiente abertura do Direito Privado para a questão sanitária, os seus evidentes traços da natureza liberal, que, apesar dos esforços em sentido contrário pela vigência e a necessidade do Estado Social, aprofundam-se, dado a forte influência do sistema econômico, no caso, do mercado das Operadoras de Plano de Assistência à Saúde. Fica evidente, assim, em que pese o esforço da civilística no sentido de humanizar o Direito Privado, o quão eivado do liberalismo ele é, não percebendo outras lógicas fundamentalmente público-sociais. Exemplo do que se afirma é o Código dos Direitos do Consumidor, o instrumento legal, mais frequentemente invocado nas decisões judiciais envolvendo questões de planos privados de assistência à saúde. Não obstante, seu caráter fundamental, e imprescindibilidade na orientação das relações de consumo – especialmente as massificadas –, é consectário da economia capitalista. Significa afirmar que, como desaguadouro da solução de conflitos envolvendo Planos de Assistência à Saúde, reafirma uma inaceitável ideia de saúde como produto, como mercadoria, como coisa. Dado tais insuficiências ora apontadas intensificadas pela própria marca história que é elemento constitutivo desse ramo do Direito, é improvável na atual conjuntura da realidade da temática analisada – saúde suplementar brasileira – possa haver algum giro de racionalidade.
Palavras-chave: direito privado, saúde suplementar.
A importância da delimitação do termo “pessoa pública” e suas consequências no mundo jurídico: uma análise da ADI 4815
Marcos Cesar Silva Valverde
Os direitos fundamentais são pela sua própria semântica aqueles que constituem são elementares, primários segundo aquela sociedade e momento histórico. Neste sentido, são elencados em nosso ordenamento jurídico, diversos direitos os quais se amoldam neste grupo, como a vida, a liberdade, a segurança, a educação, a moradia e outros taxativamente positivados ou não. A privacidade é um direito consagrado no art. 5º, X de nossa Constituição Federal de 1988 (CF/88), o qual diz de forma cristalina ser inviolável a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, tendo o Superior Tribunal de Justiça por meio do Enunciado 227, da Súmula 3, neste diapasão, reconhecer que inclusive a pessoa jurídica tem direito a proteção a sua imagem, podendo esta sofrer dano moral. O bem maior a ser tutelado pelo direito é a vida e nem este possui garantia absoluta em nosso ordenamento reza o art. 5º, XLVII, “a” que em caso de guerra

34
declarada é permitido o uso da pena capital. Desta forma, em confronto de direitos fundamentais há uma relativização de um em relação ao outro, gerando então efeitos que podem resultar na inaplicabilidade de um direito fundamental em vista a preservação de outro direito fundamental, Marmelstein (2008) apud Lopes (2012) diz que, segundo o Supremo Tribunal Federal - STF, ao analisar a possibilidade de limitação dos direitos fundamentais, decidiu que não há, no sistema pátrio, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto. É o que ocorreu na ADI 4815 que julgou procedente os pedidos postos na demanda interposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL a qual questionou a necessidade, a priori, de autorização do biografado para publicação de obra biográfica, alegando que quando se tratar de “pessoa pública” há a sobreposição do direito à informação e a livre expressão ao direito a privacidade. O direito à privacidade garante que o indivíduo possa ter sua intimidade guardada para si, cedendo-a a seu critério a quem queira, uma vez relativizado tal bem, este não mais terá controle sobre sua intimidade podendo esta ser universalizada a quem quer que tenha interesse em conhecê-la. Nos últimos anos com o advento do processo “instantâneo” da informação e da comunicação, os indivíduos se expõem cada vez mais por meio das redes sociais que navegam pelo mundo digital interligando indivíduos e culturas, muitos inconscientemente estão migrando para um status público de sua personalidade, onde as consequências jurídicas podem ensejar tratamento diferenciado ao limite do risco de ter exposto fatos de sua privacidade que gostaria que se mantivesse neste nível. É uma difícil tarefa reconhecer o liame que separa a pessoa comum de uma pública, pois se esta fosse clara o indivíduo teria a chance de refletir as consequências positivas e negativas de avançar a este limite que vão desde, a vantagens pecuniárias a relativização de seus direitos fundamentais. Ao direito cabe então avaliar de forma objetiva como delimitar o termo “pessoa pública”, numa sociedade cujo dinamismo cultural, econômico, social e ambiental faz com que haja uma abrangência evolutiva e que pode colocar em risco direitos fundamentais. O STF possui grande responsabilidade em suas decisões, em vista a repercussão generalista e universal de suas decisões no âmbito do direito interno, ao definir por determinado fator deve se preocupar com as possíveis interpretações advindas do processo hermenêutico aplicado pelo operador do direito no caso concreto. Ao não se delimitar a abrangência de fatores essenciais, há o risco de que a subjetividade seja a regra é eminente. Sem se delimitar o conceito de pessoa pública não há como prever qual grupo de indivíduos será privado de um direito fundamental garantido pela constituição pátria, neste sentido faz-se necessário fazer o seguinte questionamento: O que é pessoa pública? Quais consequências sofrerão esse grupo de indivíduos pela interpretação dada pelo STF na ADI º 4815? A não definição clara da abrangência do termo “pessoa jurídica” acarreta insegurança jurídica nas relações sociais. Tal conceito subjetivo poderá acarretar a relativização do direito à privacidade de vários indivíduos. Os julgados ao não considerarem, em tese, tal fundamento ao aplicar o art. 489 do CPC/15 poderão acarretar prejuízos a celeridade da Lei em especial no que versa seu § 2º que remete a necessidade de se ponderar ao decidir conflitos principiológicos. Este estudo tem, por objetivo geral, abordar a importância de delimitar o termo “pessoa pública” na aplicação do direito, cuja metodologia consiste na análise da ADI Nº 4815, no que versa ao tema deste trabalho e mais especificamente, contextualizar a problemática e suas consequências, trazendo à discussão a subjetividade das decisões judiciais. A ciência é uma maravilhosa solução criada pela mente humana, alicerçada num princípio básico da natureza, a ordem. Neste sentido, para construção deste trabalho serão utilizadas revisões bibliográficas que a partir da sistematização de análise das informações e do julgado da ADI Nº 4815. Uma vez aplicada esta análise é possível desnudar o hiato legislativa que permite uma interpretação “ilimitada” do termo “pessoa pública”. É possível vislumbrar um alto grau de subjetividade das decisões

35
monocráticas e colegiadas, a ADI 4815 é um exemplo para ser debatido não pela decisão em si, mas pelos argumentos que a construíram. O art. 489 do Código de Processo Civil pátrio define critérios para validade de uma decisão judicial, moldando esta a uma série de critérios que devem ser observados, os quais devem em especial justificar o motivo de uma decisão ser a favor ou contra os fatores postos numa lide. Desta forma, a luz da decisão do STF pode-se, a priori, se intentar que haja uma série de violações a luz do texto constitucional, seja de caráter restritivo ao direito a privacidade, seja de caráter restritivo ao direito a informar. Este trabalho é uma semente a ser germinada acerca deste tema, sendo um esboço de um trabalho futuro que abrangera mais aspectos a respeito deste tema. Que este seja então o embrião de discussões que possam aprimorar a aplicabilidade de uma ciência que é o alicerce para o desenvolvimento de toda a sociedade e dela se alimenta e reconstrói, o direito.
Palavras-chave: pessoa pública, ADI 4815.
Gentrificação e função social da propriedade: forma jurídica e ordem econômica na Constituição Federal de 1988
Norberto Milton Paiva Knebel
O artigo busca verificar como a função social da propriedade consagrada na Constituição Federal de 1988 se relaciona com o processo de gentrificação nas cidades. Por meio de uma revisão bibliográfica da geografia e da sociologia urbana aliado ao pensamento jurídico do direito civil-constitucional, busca deduzir qual a razão da função social da propriedade ao filtrar o tema – de ordem social ou econômica. O processo de gentrificação é a revitalização de devido espaço urbano, gerando novos investimentos e aumentando a incidência de usuários de crescente renda, causando subsequentemente o afastamento daqueles de menor poderio econômico/consumidor, mesmo que historicamente tenham habitado o mesmo espaço. Ou seja, é a ocasião do desenvolvimento econômico sob os custos da segregação socioespacial. O conceito atual do termo gentrificação pontua que o processo é fundamental para a reestruturação do espaço urbano, independente da vontade de deslocamento dos habitantes da cidade, mas sim das vontades do capital em gerar lucro (SMITH, 2007). Para o andamento correto da incidência da função social na concepção jurídica da propriedade na Carta Política de 1988, devemos mencionar a divisão da função social da propriedade: ora como princípio da ordem econômica, atuando na intervenção do Estado sob a economia. Já que a propriedade privada é um dos princípios da atividade econômica estipuladas na constituição (GRAU, 2010). Para o pensamento marxista acerca da forma jurídica, é o direito o instrumento que garante a manutenção da circulação, tornando possível o modo de produção capitalista (EDELMAN, 1976), construído de forma classista (HESPANHA, 2005). Marx, diria que o direito o mesmo que disse do Estado, de que ele está vinculado diretamente às relações históricas sociais capitalistas (MASCARO, 2013). No entanto, não visa a revolução comunista, acabar com toda a forma de propriedade – como o anarquista Proudhon proporia-, mas sim acabar com a propriedade burguesa, fonte e resultado de exploração do trabalho e de como o modo de produção capitalista já havia acabado com as formas anteriores de propriedade. Para o jurista soviético Evgeny Pachukanis (1988), o período de transição para o comunista – o socialismo, constituiria da propriedade estatal dos meios de produção e futuramente em uma economia planificada a extinção da forma jurídica, como a superação do modo de produção capitalista. Sendo fundamental a edificação de uma cultura sem classes do futuro. Portanto, para a teoria marxista de Pachukanis, “não é a propriedade concebida como função social que é o efetivo oposto da propriedade, mas a economia socialista planificada, isto é, a destruição da propriedade” . Dessa maneira, conforme o jurista soviético, não é possível o socialismo associado ao direito – ou o socialismo por meio de instituições jurídicas. O direito é, irremediavelmente, uma forma do capitalismo. Assim sendo, é a revolução– e não a reforma por meio de instituições jurídicas – a única opção realmente transformadora das condições das classes trabalhadoras (MASCARO, 2012). Porém, se opondo ao intuito revolucionário que visa a

36
abolição do modo de produção capitalista por inteiro e – por consequência-, a acumulação de propriedade privada, insurge a teoria com a possibilidade da reforma dos conceitos políticos e jurídicos, para melhor atender a consagração de justiça e democracia. O sentido de reformar os direitos através de atos legislativos, é uma das principais características do Estado Democrático de Direito (STRECK, MORAIS, 2012), onde a Constituição Federal tem supremacia, alicerçando o ordenamento jurídico e dando possibilidades ao Poder Reformador para ampliação de direitos. Nesse sentido se estrutura o conceito de função social da propriedade dentro da forma jurídica. Portanto, a propriedade privada com condição de exercício necessariamente vinculada à sua função social é uma conquista de direito dentro da própria estrutura jurídica. Da abolição do Estado Absolutista em Estado Liberal, que garantiu o direito de propriedade como manifestação de liberdade, até o hodierno Estado Democrático de Direito e seu Constitucionalismo reformista, em todas os seus avanços à limitação do direito de propriedade visando justiça social e suas possíveis contradições (LUXEMBURGO, 2012). Portanto, em era da financeirização da moradia (ROLNIK, 2015), a função social da propriedade da constituição é lida de qual forma? Como princípio da ordem social ou econômica. A fim de consagrar o desenvolvimento econômico soa como a resposta mais apropriada à história. No estágio atual de pesquisa, persiste como coerente hipótese, restando o avanço às evidências empíricas, por exemplo, nas decisões judiciais.
Palavras-chave: gentrificação, função social da propriedade, Constituição.
Responsabilidade civil pela ocorrência de efeitos colaterais ao uso de medicamentos contraceptivos: o papel do dever de informação
Patrícia Durante
A introdução, no mercado de consumo, de medicamentos contraceptivos à base de hormônios ocorrida na década de 60 significou uma revolução na liberdade reprodutora das mulheres, constituindo um importante instrumento para o exercício do direito ao planejamento familiar (art. 226, §7º, da CF). Por envolver também o direito à saúde, é exigida dos fornecedores de pílulas anticoncepcionais a adequada e clara informação sobre os riscos do produto, devendo a consumidora ser alertada sobre a possibilidade tanto de falha na prevenção de eventual gestação como de desenvolvimento de doenças graves como efeito colateral do medicamento. Quanto à segunda alternativa, as ações promovidas por mulheres que desenvolveram complicações, em sua saúde, causadas pelo uso de medicamentos contraceptivos têm levado ao Poder Judiciário a necessidade de avaliar se as informações prestadas são suficientes para eximir o fornecedor do dever de indenizar. Assim, com a presente pesquisa, pretende-se primeiramente trazer uma breve revisão conceitual do que é o dever de informação e de como ele opera nas relações de consumo. Em seguida, visa-se a verificar se o entendimento jurisprudencial vigente atua no sentido de conceder indenização por danos materiais e/ou morais nos casos em que consumidoras de medicamentos contraceptivos desenvolveram, em razão da medicação, problemas de saúde, bem como analisar quais são os fundamentos jurídicos que alicerçam tais decisões. Para tanto, utilizando-se do método de abordagem hipotético-dedutivo, formulou-se a hipótese de que o adequado cumprimento do dever de informação é suficiente para afastar a pretensão indenizatória pelos danos decorrentes do consumo de medicamentos contraceptivos, averiguando-se, então, o papel que ele exerce nessas situações. Para colocá-la à prova, por meio da busca jurisprudencial entre os Tribunais de Justiça das regiões sul e sudeste do Brasil, foram selecionados os dois únicos acórdãos que tratam diretamente do tema, sendo um do Tribunal de Justiça de Santa Catarina do ano de 2011 e outro do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2014, por meio da busca pelas palavras-chaves "contraceptivo" e "dever de informação". Nos casos em análise, não foi reconhecida às autoras a pretensão indenizatória, uma vez que se entendeu que o dever de informação foi cumprido adequadamente. Do conjunto doutrinário e jurisprudencial analisado, concluiu-se, então, que o papel do dever de informação encontra-se no reconhecimento

37
do valor atinente à livre manifestação da vontade de se submeter, ou não, aos riscos inerentes ao consumo de medicamentos contraceptivos. Não foi analisada, até o presente momento, a responsabilidade que eventualmente caberia ao médico prescritor do anticoncepcional e ao farmacêutico responsável pela sua venda, motivo pelo qual a pesquisa encontra-se em expansão.
Palavras-chave: responsabilidade civil, medicamentos contraceptivos, informação.
A releitura da teoria do fato jurídico para a construção do Direito: entre a passagem do andar sob o amarelo desértico ao andar sob a Luz manifesta do céu
Paulo Júnior Trindade dos Santos e Gabriela Möller
A releitura da teoria do fato jurídico para a construção do Direito: entre a passagem do andar sob o amarelo desértico ao andar sob a Luz manifesta do céu, demonstra a contraposição entre os paradigmas científicos que vigoram na Teoria do Direito Moderna. O primeiro, denominado Velho ou Cartesiano, metaforicamente se dá pelo andar sob o amarelo desértico imposto pela Teoria do Fato Jurídico clássica; e o Novo, denominado paradigma da complexidade, tem no seu desvelar uma racionalidade reflexivo-aberta para o Direito, metaforicamente apresentando o andar sob a luz manifesta do céu pela releitura da Teoria do Fato Jurídico clássica. Assim, o problema a ser desvelado se encontra no apego da ciência jurídica ao paradigma cartesiano, que apreende a racionalidade ao fechamento. Neste sentido, a teoria do fato jurídico se encontra aprisionada no paradigma cartesiano, na medida em que realiza uma equação matemática que une a hipótese de incidência ao suporte fático, não fazendo assim uma adequada leitura da contemporaneidade: resulta que fica a teoria do fato jurídico fica aprisionada às molduras de seu quadro e suprimida pelas cores que dão vida a seu mundo. Para superar o velho paradigma que aprisiona a ciência jurídica, necessário desvelar o paradigma da contemporaneidade pela releitura da teoria do fato jurídico, se centra junto a uma nova racionalidade capaz de reestruturar a atual Ciência Jurídica. Tal releitura mostra-se possível através da aplicação da teoria do conhecimento ponteana e da transdiciplinariedade que desvela o iter para uma racionalidade aberta-reflexiva. A nova racionalidade é a reflexão que se faz necessária para o Direito, pois funda uma nova forma de ver a ciência jurídica diante contemporaneidade, pois o antigo paradigma da ciência fundado na unicidade e especialização encontra-se em dissenso com as ondulações rítmicas sociais. Busca-se demonstrar a nova racionalidade dentro de uma razão complexa que a atual sociedade contemporânea reclama para evoluir, fazendo com que o conhecimento científico possa salvar o homem e a humanidade.
Palavras-chave: teoria do fato jurídico, teoria do direito.
Novos paradigmas da concorrência desleal e o ambiente da internet: fungibilidade, semiologia e o processo reputacional
Pedro Marcos Nunes Barbosa
A presente linha de pesquisa parte do viés clássico sobre a Teoria da Concorrência e do Estabelecimento Empresarial visando demonstrar certos anacronismos com o contexto contemporâneo. Nesse sentido, para além de abordar os três requisitos tradicionais (simultaneidade, territorialidade, e identidade) acolheu-se a necessidade de um quarto requisito (público alvo/preço), além de propor uma alteração nos conceitos de cada um dos critérios para a aferição da concorrência. Concebe-se ainda a influência do comércio eletrônico no que concebe os fenômenos semióticos do significante, do significado e do valor/referência, e de como tal processo linguístico opera no mundo online com relação à edificação de uma identidade/distintividade (por exemplo do conjunto-imagem e de outros signos distintivos). Neste sentido, ao invés da tutela estática do direito a ser diferente por parte dos titulares num ambiente virtualizado, propõe-se uma proteção dinâmica e temporária sobre tal esfera jurídica patrimonial. Por fim, apura-se a característica sistólica e diastólica da reputação dos titulares de bens imateriais na internet, e a participação do destinatário-final (consumidor) nas vicissitudes e constituição do aviamento.
Palavras-chave: concorrência desleal, Internet, semiologia.
Como julga o STJ: análise de A pesquisa empírica na ciência jurídica é uma necessidade premente, na medida

38
conteúdo de decisões sobre boa-fé e função social
Priscila Zeni de Sá
em que as simples impressões sobre essa ou aquela tendência precisam transmudar-se em dados objetivos para permitir uma análise crítica séria e efetiva. Nesse cenário, buscou-se como objetivo principal da presente pesquisa a investigação de como o Superior Tribunal de Justiça preenche as cláusulas gerais da boa-fé e da função social. Para tanto definiu-se uma hipótese preliminar, ainda meramente impressionista, de que o STJ utiliza das cláusulas gerais citadas, mas não as preenche adequadamente. Sobre a metodologia utilizada optou-se pela análise de conteúdo, por ser um método que permite pesquisar quanti e qualitativamente discursos e textos advindos das ciências humanas. Demonstram-se como objetivos da metodologia da análise de conteúdo a superação das incertezas e o enriquecimento da leitura, sendo que ambos afastam a simples opinião pessoal do leitor de um determinado texto e permitem que as conclusões sejam extraídas do conteúdo do próprio texto, na medida em que fornece critérios para a extração de elementos. (BARDIN, 2011). Esclarece-se que a análise de conteúdo pode ser aplicada a qualquer forma de comunicação, seja escrita ou verbal, e apresenta duas funções primordiais: “uma função heurística e uma função de administração da prova” (BARDIN, 2011, p. 35), pois ao mesmo tempo em que enriquece a exploração do texto, permite a sua descoberta (primeira função) e também propicia a comprovação de hipóteses preliminares por meio da análise categorial (segunda função). Na primeira fase, pré-análise, procedeu-se a escolha dos documentos a serem estudados, a formulação das hipóteses e dos objetivos bem como elaborou-se os indicadores que fundamentam a interpretação final. Na segunda fase explorou-se propriamente o material selecionado na primeira fase. Resta ainda pendente a última e derradeira fase, na qual pretende-se elaborar as tabelas estatísticas com as consequentes interpretações. Como objeto da pesquisa delimitou-se, pela regra da exaustividade e homogeneidade: acórdãos publicados no Superior Tribunal de Justiça no marco temporal do ano 2015, em sede de Recurso Especial, conhecidos e cuja discussão utilizou os citados verbetes (boa-fé, função social do contrato e função social da propriedade) em suas ementas e fundamentação. Os julgados selecionados concentram-se nas Terceira e Quarta Turmas, e Segunda Seção, cuja competência se restringe ao Direito Privado, delimitação necessária no presente estudo. Limitou-se a 2015, pois nesse ano manteve-se a mesma composição nos órgãos julgadores selecionados, imaginando-se que os mesmos intérpretes conferem uma interpretação mais fiel dos dados. Partiu-se de uma pesquisa prévia de 155 acórdãos, e após a aplicação dos filtros e indicadores selecionados, selecionou-se apenas os recursos especiais conhecidos e cujo mérito tenha sido analisado. Além disso, pela regra da pertinência, a ementa deveria indicar uma das três cláusulas gerais eleitas, boa-fé, função social do contrato e função social da propriedade. Identificou-se a partir dos critérios definidos na primeira fase 36 acórdãos para se proceder a análise de conteúdo. Superada a primeira fase, procedeu-se a exploração do material selecionado e atualmente encontra-se a pesquisa na terceira fase, ou seja, no tratamento dos dados obtidos para se procederem as conclusões. Como marco teórico da pesquisa destacam-se autores cujas pesquisas se voltam para as cláusulas gerais (ENGISCH, 2014; MARTINS-COSTA, 2015) bem como os que discutem a estrutura da norma no caso concreto (MÜLLER, 2014; NEVES, 2014). Afora esses, buscou-se na análise qualitativa do conteúdo das decisões analisadas se há aplicação/utilização da doutrina jurídica, perpassando a dimensão prospectiva (FACHIN, 2014) bem como a dimensão constitucional do Direito Civil (PERLINGIERI, 1994, 2008).
Palavras-chave: boa-fé, função social.
O perfil civil-constitucional da mediação familiar
Ricardo Calderón
As profundas alterações fenomenológicas recentemente ocorridas na família, aliadas aos novos estatutos jurídicos que incidem sobre a forma de acertamento dos seus litígios, exigem uma revisitação dos métodos de solução desses conflitos. A Constituição Federal traz um comando de liberdade no que refere ao

39
trato das relações familiares, o qual não pode ser ignorado e nem mesmo mitigado. Um de seus corolários, é que deve ser conferido aos parceiros de uma dada relação de conjugalidade um amplo espaço para bem regular os seus interesses. A Carta Magna garante um privilegiado espaço de autonomia privada para os particulares regerem seus interesses jusfamiliares, comando esse que deve reverberar inclusive nos momentos de dissenso. A tutela da família deve preservar a sua autonomia existencial e, ao mesmo tempo, proteger as suas vulnerabilidades. Esse movimento pendular exige que suas balizas sejam revisitadas de tempos em tempos e, ao que parece, estamos novamente em um desses especiais momentos. A perspectiva constitucional deve imperar também na definição dos perfis dos métodos de solução dos conflitos que ora se pretende implantar, visto que tanto as regras materiais como processuais devem, necessariamente, estar subordinadas aos princípios e valores constitucionais. A solução dos conflitos familiares é uma seara que – por muito tempo - restou atrelada a apenas uma forma de solução ofertada: a via jurisdicional. Historicamente, edificou-se um “mito” que apenas o Estado-Juiz seria o órgão adequado para solucionar diversos conflitos decorrentes dos relacionamentos familiares. Hodiernamente, nessa temática, há que se superar o fetiche da jurisdição! Esta via monolítica trouxe a reboque consequências nefastas, que devem ser admitidas e, da forma possível, paulatinamente superadas. Em matéria de família e sucessões, nos momentos de crise as partes muitas vezes sequer assumem a sua responsabilidade, limitando-se a imputar ao Estado-Juiz toda a tarefa de solução do impasse, como se não restasse mais sobre elas qualquer vinculação sobre o destino dos seus próprios problemas. O equívoco é evidente, de modo que urge uma alteração paradigmática nos métodos de soluções desses conflitos. Há uma tendência mundial pela desjudicialização das soluções dos litígios privados, tendência essa que passa a reverberar também no cenário pátrio, com cada vez maior incidência. No Brasil, um exemplo forte de adesão a esse movimento foi a Lei 11.441/2007, que passou a permitir a celebração de divórcio e inventário consensuais em serventias extrajudiciais (mediante algumas condições), claramente se distanciando do paradigma da jurisdição. Essa perspectiva de desjudicialização dos conflitos pode assumir especial coloração quando aplicada ao sensível tema do acertamento das lides familiares e sucessórias. Em muitos desses casos resta palmar que a solução jurisdicional pode não ser a melhor solução para as pessoas envolvidas no imbróglio. A mudança de cenário é significativa: há a alteração de um paradigma eminentemente estatal para um paradigma que oferta soluções em um sistema multiportas, com especial espaço para a técnica da mediação. Nesse trilhar, não se pode descurar da perspectiva constitucional, que impõe um espaço de autorregulação aos particulares, comando que deve incidir inclusive na forma de solução dos conflitos. A via jurisdicional não é vista mais como a única possível, buscando-se alternativas que materializem esse movimento de, em certas situações, permitir uma maior retração do Estado-Juiz com um incentivo a uma maior participação direta dos particulares na edificação da solução dos seus problemas. A onda de desjudicialização e a implantação de um sistema multiportas de solução de conflitos pode parecer alvissareira. Entretanto, esse movimento não possui um sentido único, e nem mesmo um perfil unívoco. Uma questão que emerge disso: qual o modelo de desjudicialização que se mostra mais adequado para consagrar os nossos princípios e valores constitucionais, em especial na seara familiar? Especificamente, qual o perfil de mediação que queremos implementar? Em um primeiro momento, parece que o perfil não pode ser um que apenas vise “desafogar o judiciário” ou reduzir o número de processos ajuizados. No estágio atual não é possível mais adiar o dever constitucional de ofertar um espaço adequado de tutela para a solução dos conflitos jusfamiliares. As promessas constitucionais de uma tutela efetiva, tempestiva e adequada não pode mais ser postergada. O direito fundamental a uma solução adequada e em tempo

40
razoável deve ser observado na formulação dos métodos de solução de conflitos familiares e sucessórios, seja na sua esfera existencial, seja na patrimonial. A temática da mediação familiar, impulsionada pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e pelo marco regulatório implementado (Lei 13.140/2015), não pode ser convertida apenas em um meio de reduzir o número de processos. O instituto da mediação é um método que possui características e peculiaridades próprias que devem ser respeitadas. Os pressupostos básicos, as técnicas e os princípios da mediação não podem ser convertidos em uma fábrica de acordos temerários. A verdadeira mediação não pode ser distorcida. Deve-se edificar uma mediação familiar a partir de um viés funcional, de modo a retomar o protagonismo dos envolvidos na busca pela melhor solução para o litígio no qual estão envoltos. Esse proceder privilegiará a responsabilidade dos envolvidos no imbróglio, o que parece necessário e impostergável. Sinteticamente, almeja-se pesquisar qual o perfil adequado para a mediação familiar a partir do atual cenário civil-constitucional brasileiro. A busca por um perfil de mediação que seja adequado ao nosso cenário civil-constitucional é um dos objetivos da presente pesquisa. A pesquisa está em estágio inicial. A metodologia que se pretende utilizar é a análise bibliográfica e jurisprudencial. Pretende-se, ainda, analisar dados empíricos dos CEJUSC´s e demais órgãos que estejam realizando uma efetiva mediação familiar.
Palavras-chave: mediação, desjudicialização.
Teoria da aparência: mecanismo de expansão da responsabilidade do fornecedor de produtos e de serviços
Simone Regina Backes
A presente pesquisa tem por objetivo analisar o papel da teoria da aparência e do efeito obrigatório da informação como mecanismo de expansão da responsabilidade do fornecedor de produtos e de serviços frente ao consumidor de boa-fé. A aparência tem um sentido polissêmico, é não só o conjunto de características ostensivas da coisa, mas também a externalidade de uma situação concreta, ou, ainda, a percepção enganosa de uma certa situação. Como bem explica Maurício Jorge Pereira da Mota, a aparência, no direito, pode ser definida como “uma relação entre dois fenômenos, o primeiro uma situação de fato, imediatamente presente e real, que manifesta por ilação ou reenvio uma situação jurídica, fazendo-a aparecer como real, quando na realidade não existe, ou existe como modalidade diversa daquela assinalada”. O reconhecimento de efeitos jurídicos à aparência representa, portanto, uma forma de diminuição dos custos das relações comerciais, já que, uma vez garantida a aparência, respeitados os limites da boa-fé, não é necessário confirmar cada pequeno dado da negociação, o que geraria altos custos. O presente trabalho estuda a aparência como fundamento da criação de novas obrigações, seja dentro de um contrato já existente, seja em substituição ao contrato. Com efeito, a velocidade das relações jurídica contemporâneas não permite, muitas vezes, distinguir a aparência da realidade, razão pela qual a imagem difundida pode ter um valor maior do que a realidade oculta e desconhecida do contratante. Ademais, sistemas contratuais não paritários, como é o caso das relações de consumo, em que uma das partes está em situação de vulnerabilidade, ao passo que a outra detém todo o aparato técnico/profissional sobre o produto ou serviço contratado, geram uma confiança especial na aparência dos fatos. Essa representatividade decorre, entre outros fatores, da vincularão de longa duração, da existência de complexidade das cadeias contratuais de fornecimento, do uso de marcas simbólicas, a fim de aferir idoneidade e credibilidade ao negócio e, até mesmo, da fiscalização estatal sobre determinados produtos e serviços. Nesse passo, busca-se interpretar o alcance da imputação de responsabilidade civil em caso de descumprimento dessas obrigações fundadas na aparência, visando a proteção do consumidor em conformidade com os princípios orientadores da ordem econômica constitucional. Para tanto, utiliza-se como referencial teórico os trabalhos de Anne Danis-Fatôme, Ricardo Luis Lorenzetti e Claudia Lima Marques . A pesquisa, predominantemente qualitativa, haja vista a preocupação

41
com o aprofundamento e abrangência da compreensão do tema e das relações humanas envolvidas no fenômeno, tem natureza bibliográfica, com consulta à doutrina das áreas jurídicas correlatas ao objeto de pesquisa. Já no que tange aos fins, a pesquisa tem caráter exploratório e explicativo, estando em estágio intermediário de análise.
Palavras-chave: teoria da aparência, responsabilidade do fornecedor.
O papel da constitucionalização do direito privado na tutela da criança diante da publicidade
Yasmine Uequed Pitol
Este trabalho dispõe-se a abordar como a constitucionalização do direito auxilia – e fundamenta – a tutela da criança diante da publicidade. Foi por meio do art.227, da Constituição Federal (CF), que o Brasil adotou a Doutrina da Proteção Integral, sobrevindo, da necessidade de adequação da legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Elevou-se, ainda, a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental, cuja proteção foi atribuída ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos, CDC e ECA, protegem sujeitos vulneráveis e aliam-se no cumprimento do dever de proteção das crianças (AZAMBUJA, 2014), eis que o CDC dispõe ser abusiva a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência deste público (art.37, §2). Questiona-se como a constitucionalização do direito auxilia e fundamenta a promoção da tutela da criança diante da atividade publicitária. Objetiva-se verificar, em face da publicidade, a densificação da proteção constitucional, perpassando pelo papel sedutor da atividade – em caminho alinhavado especialmente pelo lastro teórico de Bauman, Lipovetsky e Benjamin Barber - aferindo-se, mediante pesquisa bibliográfica e exploratória, o caminho que vem sendo trilhado na busca pelo adensamento desta proteção constitucionalmente exigida. A publicidade comercial visa incentivar o consumo (DIAS, 2013). O desejo e o estímulo para que não se retarde a satisfação fazem parte da cultura consumista (BAUMAN, 2008) e em um cenário de abundância, de proliferação de novidades – palco de pseudonecessidades (DEBORD, 1997) – o mero fornecimento de informações, função inicialmente exercida pela publicidade, não mais se mostra suficiente (BARBER, 2009). A mensagem publicitária é clara: não postergue a satisfação do seu desejo pungente (LIPOVETSKY, 2007). As funções objetivas dos produtos são, assim, meras coadjuvantes, uma vez que o sucesso passa por atingir as emoções dos consumidores, racionalmente instrumentalizando-as (BARBER, 2009). Afinal, o consumismo alimenta-se do desejo e aposta, justamente, na irracionalidade dos consumidores (BAUMAN, 2008). É a sedução que regra o consumo (LIPOVETSKY, 2005), sendo o desejo um ingrediente secreto, perante o qual o controle sobre si sucumbe e a vulnerabilidade é potencializada (LINDSTROM, 2013). Vulnerabilidade que é inerente a todos os consumidores, sendo princípio positivado no art.4º, I, do CDC. (MORAES, 2005). Os publicitários, cientes da vulnerabilidade própria da criança, utilizam-na como instrumento (BARBER, 2009). Sabem, ademais, que a maioria dos gostos adquiridos na infância são mantidos durante toda a vida, atraindo-se, também, por essa potencial fidelidade vitalícia (LINDSTROM, 2013). Assim, as crianças são alvo preferencial das mensagens publicitárias (MORAES, 2009) em razão de sua maior suscetibilidade e menor capacidade para se defender dos apelos. São ensinadas a consumir para desenvolver, desde cedo, a vocação consumista (BAUMAN, 2008). No Brasil, entretanto, são protegidas de forma prioritária desde o advento da CF, que adotou a Doutrina da Proteção Integral, sustentada em três pilares: a criança, reconhecida como sujeito de direitos; a infância, como fase especial do desenvolvimento e a prioridade absoluta de seus direitos, como princípio constitucional (AZAMBUJA, 2014). Os direitos das crianças foram, portanto, constitucionalizados. A constitucionalização do direito implica na irradiação do conteúdo constitucional, de modo que não existe mais interpretação das normas infraconstitucionais que possa se mostrar alheia à Constituição, tampouco subsistem aquelas que com ela sejam incompatíveis (BARROSO, 2007). Para Ricardo Guastini, trata-se de “[...] um processo de transformação de um ordenamento ao término do qual o ordenamento em

42
questão resulta totalmente impregnado pelas normas constitucionais. Um ordenamento jurídico constitucionalizado se caracteriza por uma Constituição extremamente invasora, intrometida […] capaz de condicionar tanto a legislação como a jurisprudência e a doutrina, a ação dos atores políticos, assim como as relações sociais” (2009, p.49). O ECA dispõe-se a instrumentalizar a Doutrina da Proteção Integral (SPOSATO, 2009) e consagra o princípio do superior interesse da criança, que se justifica tanto pela sua situação particular de vulnerabilidade quanto pela sua incapacidade para dirigir suas vidas, demandando que as circunstâncias em seu entorno sejam favoráveis ao seu desenvolvimento (BALLESTÉ, 2012). É verdade que, por vezes, há consagração constitucional de bens jurídicos que aparentemente se contrapõem, como a livre-iniciativa – fundamento para a proteção da atividade publicitária – e a defesa do consumidor (BARROSO, 2007). Deve-se, contudo, compreender que “o contrapeso do Estado Liberal será o Estado Social, de forma que são concedidos espaços para o liberalismo, mas são também impostos limites a vantagens excessivas em casos específicos […]” (SCHMITT, 2016). E a tutela das crianças em face da publicidade deve ser permanente, porque a atividade é rebelde, criativa, e não se submete facilmente às tentativas de controle (PASQUALOTTO, 2015), detendo (pelo caráter persuasivo) potencial para abalar a harmonia que se espera das relações de consumo (MARQUES, 1994), mormente quando pretende seduzir crianças, hipervulneráveis conforme Cristiano Schmitt (2009), Bruno Miragem (2014) e Paulo Valério Dal Pai Moraes (2009). Para Cristiano Schmitt (2016), a hipervulnerabilidade “[…] é uma construção necessária, ainda em evolução, e que denota a perspectiva de implementação de deveres de cuidado compatíveis com fragilidades que tornam certos indivíduos ainda mais fracos quando expostos a práticas de mercado [...]”. Uma fragilidade, portanto, superior àquela dos demais consumidores (SCHMITT, 2016). Com vistas à proteção, tramitam alguns Projetos de Lei dispondo-se a regular a prática. Dentre eles, o PL5608/2013, PL5921/2001 e PL283/2012. Em 2014 sobreveio a Resolução n. 163/2014, do Conselho Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, dispondo-se a definir critérios que permitam a interpretação dos arts. 37, § 6.º e 39, IV, do CDC, com o fito de, justamente, densificar a proteção prioritária (MIRAGEM, 2014), mostrando-se adequada para o adensamento do princípio da prioridade absoluta, aplicando o princípio da Proteção Integral (AZAMBUJA; PASQUALOTTO, 2014). Em março de 2016 foi prolatada decisão no Recurso Especial n. 1558086/SP, na qual se considerou “[…] abusivo o marketing (publicidade ou promoção de venda) de alimentos dirigido, direta ou indiretamente, às crianças. [...].” Explica Cristiano Schmitt que se considerou que a situação violava o artigo 227 da CF, direito fundamental, que exige de todos a proteção prioritária (SCHMITT, 2016). Assim, o caminho para assegurar a tutela da criança diante da publicidade segue sendo trilhado, com o intuito, em última análise, de conferir efetividade à proteção constitucional.
Palavras-chave: constitucionalização do direito privado, criança, publicidade.