VIDAL, Laurent. Acervos Pessoais e Memória Coletiva - Alguns Elementos de Reflexão. REVISTA...
-
Upload
diaqueline-lima -
Category
Documents
-
view
248 -
download
23
description
Transcript of VIDAL, Laurent. Acervos Pessoais e Memória Coletiva - Alguns Elementos de Reflexão. REVISTA...
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 3
ISSN 18081967
ACERVOS PESSOAIS E MEMRIA COLETIVA - ALGUNS ELEMENTOS DE REFLEXO
Laurent VIDAL*
Resumo: Poucos meses antes de sua deportao para o campo de Buchenwald, onde
faleceria, o socilogo francs Maurice Halbwachs pretendia publicar uma sntese em torno do
seu principal eixo de reflexo: a memria coletiva. Tratava-se de precisar o papel da mesma na
configurao das sociedades modernas. Segundo Halbwachs, a memria coletiva s poder
ser revelada por meio do estudo dos arquivos coletivos, aspecto que, entretanto, s abordou
de modo implcito. Eu definiria este termo de maneira ampla, ou seja, os documentos
escritos, orais e tambm os gestuais e os monumentos ou espaos, objetos de apropriao
coletiva por parte de um grupo, uma comunidade, uma nao. No entanto, ser que este lao
entre memria coletiva e arquivos pblicos assim to ntido? Ser que um nico
indivduo com uma experincia singular tambm no poderia revelar aspectos da memria
coletiva?
Sem recorrer a casos to extremos, vale questionar em que medida os acervos
pessoais, to procurados pelos historiadores por sua capacidade de revelar as sensibilidades
de uma pessoa e, por extenso, de um grupo, poderiam colaborar para a obteno de um
entendimento mais agudo dos fenmenos de memria coletiva. Como nasce, inventa-se ou se
desfaz a memria coletiva que, tal como a tradio, tambm uma inveno? Eis algumas
questes que gostaramos de discutir nesta conferncia.
Palavras-chave: Memria coletiva, acervos pessoais, memria coletiva e experincia singular.
Rsum: Quelques mois avant sa dportation dans le camp de Buchenwald, o il mourut, le
sociologue franais Halbwachs avait lintention de publier une synthse autour de son principal
axe de rflexion: la mmoire collective. Il sagissait de prciser le rle de cette dernire dans la
configuration des socits modernes. Selon Halbwachs, la mmoire collective peut seulement
tre dvoile par ltude des archives collectives, pense que lauteur a nanmoins aborde
uniquement de faon implicite. Nous dfinirons ce terme de faon ample, cest--dire comme
les documents crits, oraux et aussi gestuels et les monuments ou espaces, objets
dappropriation collective par un groupe, une communaut, une Nation. Cependant, cette
relation entre mmoire collective et archives publiques est-elle si nette? Un seul et unique
individu avec une exprience singulire ne pourrait-il pas lui aussi rvler des aspects de la
mmoire collective?
Sans faire appel des cas si extrmes, il est intressant de se demander dans quelle
mesure les archives personnelles, si recherches par les historiens de par leur capacit de
rvler les sensibilits dune personne et, par extension, dun groupe, pourraient-elles
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 4
ISSN 18081967
collaborer pour lobtention dune comprhension plus dtaille des phnomnes de mmoire
collective. Comment nat, sinvente ou se dtruit la mmoire collective qui, comme la tradition,
est une invention? Voici quelques questions que nous aimerions discuter au cours de cette
confrence 1.
Mots-cls: Mmoire collective, archives personnelles, mmoire collective et exprience
singulire.
1. Em 1552, o escritor francs Franois Rabelais conta, no Quarto Livro, nos captulos
LV e LVI, uma histria, no mnimo, extraordinria: a histria das palavras degeladas2.
Pantagruel e seus amigos esto num barco em pleno mar glacial, quando, de repente,
Pantagruel chama a ateno de todos:
Camaradas, no ouvis nada? Me semelha que ouo algumas gentes falantes no ar, e no vejo, todavia, ningum ali. Escutai! Ao seu comando nos fizemos atentos, e, com as orelhas totalmente alertas, sugvamos o ar, como belas ostras em suas conchas, para perceber se alguma voz ou algum som nela fosse esparso, () e, no entanto, jurvamos vozes nenhumas ouvir. Pantagruel continuava garantindo ouvir vozes diversas no ar, tanto de homens como de fmeas, quando nos deu no siso ou que parelhamente o ouvamos, ou que as orelhas nos corneavam. Tanto mais persevervamos a ouvir, tanto mais discernamos vozes, at ao ponto de perceber motes inteiros. O que formidavelmente nos espantou, e no sem razo, a ningum vendo e, no entanto, ouvindo vozes e sons muito diversos de homens, de fmeas, de infantes, de cavalos. Panurgo comea a ter medo e quer fugir. Escutai: so sons (por Deus!) de estrondos de canhes. Fujamos. (). Muda de direo. Gira o timo, filho da puta! Fujamos! () Para eles no bastamos. Que so dez contra um, vos asseguro. Com vantagem, eles se encontram em seus prprios terrenos. Eles nos mataro. Fujamos. () ora! A estibordo! Ao mastaru! traqueta! Estamos perdidos! Fujamos! com todos os diabos, fujamos! Pantagruel fica perplexo: Quem l esse fujo lambo? Primeiro vejamos com que gentes nos havemos. Por acaso podem ser dos nossos. Ainda no vejo ningum, embora sonde cem milhas em torno. Mas ouamos. Pantagruel comea a conjeturar em torno desta situao extraordinria, quando o piloto intervem: Senhor, de nada vos espanteis. Aqui o confim do mar glacial, sobre o qual se deu, ao comeo do inverno ltimo, a batalha grossa e fela entre os Arismapianos e os Nefelibatas. Ento, congelaram no ar as palavras e os gritos de homens e fmeas, o entrechoque das armas, rudos de arnezes, de alabardas, o relinchar dos bucfalos e todos os demais fragores do combate.
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 5
ISSN 18081967
A esta altura, passado o rigor do inverno, chegadas a serenidade e a temprie do bom tempo, tais sons se fundem e so ouvidos. - Por Deus! (disse Panurgo) bem o creio! Mas ser que poderamos ver alguma voz? () - Atentos! Atentos! (diz Pantagruel) vede algumas delas aqui, que ainda no degelaram Ento nos lanou sobre o convs mancheias de palavras geladas, que pareciam drageadas, perladas de diversas cores. Ali vimos motes de goela, motes verdes, azuis, negros motes e palavras douradas. As quais, apenas um pouquinho esquentadas entre nossas mos, fundiam como as neves; e realmente as ouvamos, embora todos boissemos, pois era lngua brbara. Excetuada uma, bastante grosseira, a qual, tendo-a frei Joo esquentado entre as mos, fez um som tal qual o fazem as castanhas lanadas ao braseiro, sem serem segadas, e por isso estalando: o que nos fez a todos tremer de paura. Essa foi (disse frei Joo) outrora um tiro de falconete. Panurgo suplicou a Patagruel que lhe desse mais delas ainda. Pantagruel respondeu que a palavra dar coisa de amantes. Vendei-me algumas, pois! dizia Panurgo. - Coisa de rbulas o vender palavras, contestou Pantagruel. Antes vos venderei silncio, e bem mais caro (). Isso no obstante, delas lanou sobre o convs trs ou quatro punhados. E ali logo viram-se bem picantes palavras, bocagens bem cabeludas (as quais, garantiu o piloto, retornam por vezes ao stio de que tinham partido, ou seja goela degolada), palavras horrficas e outras terrveis de ver. s quais, juntamente fundidas, assim as ouvamos: ihn, ihn, ihn, ihn, ihs, tique, troque, lornhe, brededan, brededaque, frr, frrr, frrr, bu bu, bu, bu, bu, bu, bu, traquequeque, traque, trr, trr, trr, trr, trrrrr, ahn, ahn, ahn, ahnahnahn, gote magote e no sei quantos mais barbarilquios: e dizia serem palavras do atrito e relinchar de cavalos, hora dos choques. Ouvimos, depois, outras, bem mais grosseiras, que, degelantes, ressoavam, quais como tambores e pfanos, quais como clarins e trombetas. Acreditai que, com isso, nos divertimos bea. Eu queria colocar alguns palavres em conserva de azeite, como se guardam seja neve ou geada, ou entre feno bem limpo. Mas no o quis Pantagruel, dizendo ser tolice fazer proviso disso de que jamais se tem falta, e que sempre se tem s mos ().
2. Eu quis comear com aquela histria das palavras degeladas porque me parece
uma boa introduo temtica deste congresso - convite a pensar as ligaes, as articulaes
entre acervos e memria e, mais especificamente, entre acervos pessoais e memria
coletiva.
O que Rabelais nos permite entender, nesta cena, que a memria de um
acontecimento do qual no participamos depende da possibilidade de termos acesso a este
acontecimento. E este acesso, por sua vez, depende da existncia de traos traos escritos,
orais, monumentais ou arqueolgicos. Sem estes, sobram apenas o silncio e o esquecimento.
Deste ponto de vista, a memria surge do confronto com o outro e os outros.
Outro elemento importante: a transmisso a condio de possibilidade da memria.
a partir do momento em que o piloto comea a contar a histria da batalha (histria da qual ele
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 6
ISSN 18081967
no participou, mas da qual ouviu falar), que Pantagruel e seus amigos compreendem a razo
da presena destas palavras. a partir deste momento que passam a tentar interpret-las.
Nessa perspectiva, as palavras remanescentes no do um acesso direto realidade do
passado elas supem a mediao de um intrprete. A mediao do piloto nos mostra a
possibilidade de articulao entre memria, traos e histria.
A partir da leitura desta cena, percebemos tambm que as palavras vindas do passado
no podem ser dadas nem vendidas, como o queria Panurgo, mas somente interpretadas.
Isso significa que o degelo das palavras no depende do clima, mas sim da presena de
algum capaz de interpret-las. justamente esse o papel do historiador. E ele, ao invs de
Pantagruel, deve fazer proviso de palavras geladas.
Memria, histria, traos, esquecimento, transmisso, interpretao, construo.
sobre todos esses elementos que gostaria de falar agora, para voltar ao nosso assunto
acervos pessoais e memria coletiva. E isso sem perder de vista o problema essencial : se a
vida vivida, o arquivo est escrito e a memria transmitida. Como, ento, essas dimenses
podem encontrar-se?
3. Em primeiro lugar, quero tentar definir cada um desses termos.
O que podemos entender por acervos pessoais? Este termo poderia ser definido
como o conjunto dos documentos produzidos ou/e pertencentes a uma pessoa, um indivduo,
resultados de uma atividade profissional ou cultural especfica. Temos que distinguir os acervos
pessoais dos arquivos privados, que podem relevar uma instituio, e, tambm, dos acervos
familiares, que supem, geralmente, uma transmisso entre vrias geraes. O alcance
cronolgico dos acervos pessoais no ultrapassa a vida do indivduo que o constituiu. Eu
penso, por exemplo, nos arquivos dos cientistas, dos artistas. A leitura destes acervos pessoais
remete o historiador ao nvel microssocial. Por exemplo, tomemos o caso do dirio ntimo, esta
meteorologia interior, segundo a definio dada por Henri-Frdric Amiel (1821-1881)3. Sua
leitura nos permite ter um acesso privilegiado sensibilidade de um perodo, para entender de
forma mais aguda como se articula uma vida pessoal com os acontecimentos mais gerais,
como um indivduo reage, antecipa ou encontra um descaminho para escapar de uma
realidade difcil. A partir da, a compreenso da articulao entre os nveis micro e macro que
est em jogo, entre o singular e o geral. Poderamos dizer a mesma coisa das cartas. s ver,
hoje, o nmero de publicaes relativas s correspondncias entre cientistas, poetas.
E justamente este aspecto que me permite fazer a transio com a questo da
memria coletiva. Este termo comeou a ser discutido a partir das reflexes do socilogo
francs Maurice Halbwachs, que escreveu, em 1925, o livro Os cuadros sociais da memria.
neste livro que aparece pela primeira vez a noo de memria coletiva4. Halbwachs comea
a discutir a teoria da dupla memria do filsofo francs Bergson: a memria como esforo de
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 7
ISSN 18081967
restituio do passado e a memria pura, que surge por acaso, sem que possamos decret-la,
mas que nos restitui o passado na sua integralidade, com seus ambientes.
Os Gregos tinham precisamente duas palavras para definir esta duplicidade: mneme e
anamnesis, que distinguem a lembrana como surgimento casual e como busca racional do
passado. s pensar em Marcel Proust5: a busca do tempo perdido a tentativa da parte do
narrador de restituir seu passado. No entanto, apesar de todos os esforos, ele no consegue
restituir os ambientes. A memria da inteligncia no conserva nada do passado, porque, como
diz o Proust, uma hora no s uma hora, um vaso cheio de perfumes, de sons, de projetos
e de climas. E conclui: assim com nosso passado. Trabalho perdido procurar evoc-lo,
todos os esforos de nossa inteligncia permanecem inteis. fora de seu domnio e de seu
alcance, em algum objeto material (na sensao que nos daria esse objeto material) que ns
nem suspeitamos. Esse objeto, s do acaso depende que o encontremos antes de morrer, ou
que no o encontremos nunca.. E o narador vai finalmente experimentar uma sensao
estranha, no momento em que est bebendo um gole de ch e comendo uma madaleine: Mas
quando mais nada subsiste de um passado remoto, aps a morte das criaturas e a destruio
das coisas, sozinhos, mais frgeis porm mais vivos, mais imateriais, mais persistentes, mais
fiis, o odor e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como almas, lembrando,
guardando, esperando, sobre as runas de tudo o mais, e suportando sem ceder, em sua
gotcula impalpvel, o edifcio imenso da recordao.
Frente a esta viso da memria, especificamente individual, Halbwachs prope a
existncia de uma outra memria, coletiva - memria de um grupo, de uma comunidade, de
uma nao. Esta memria coletiva fruto de uma reconstruo racional do passado. Longe de
ver nessa memria coletiva uma imposio, uma forma especfica de dominao ou de
violncia simblica, ele acentua as funes positivas desempenhadas pela memria comum, a
saber, de reforar a coeso social, no pela coero, mas pela adeso afetiva ao grupo, donde
o termo que utiliza, de comunidade afetiva. Na tradio europia moderna, a nao a
forma mais acabada de um grupo, e a memria nacional, a forma mais completa de uma
memria coletiva.
Em vrios momentos, Maurice Halbwachs insinua no apenas a seletividade de toda
memria, mas tambm um processo de negociao para conciliar memria coletiva e
memrias individuais: Para que nossa memria se beneficie da dos outros, no basta que
eles nos tragam seus testemunhos: preciso tambm que ela no tenha deixado de concordar
com suas memrias. O historiador francs Marc Bloch, que era colega dele na Universidade
de Strasbourg, publicou importante resenha deste livro na famosa Revista de Sntese6. Ele
insiste nos pontos mais fortes do livro de Halbwachs: em primeiro lugar, o fato de que a
memria no conserva o passado, mas o reencontra, o reconstri, sempre, a partir do
presente. Assim, toda memria um esforo. Em segundo lugar, ele sublinha tudo o que entra,
de social, nas lembranas individuais: toda lembrana, a mais pessoal que seja, est em
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 8
ISSN 18081967
relao com um conjunto de valores e experincias mais amplo. A partir daqui, memria
individual e memria coletiva no podem ser consideradas separadamente. E em terceiro lugar,
Bloch insiste na importncia da transmisso: para que um grupo social se recorde, no basta
que seus diversos membros conservem traos do passado do grupo; preciso tambm que
estas lembranas sejam transmitidas aos mais jovens.
Poucos meses antes de sua deportao para o campo de Buchenwald, onde faleceria,
Maurice Halbwachs pretendia publicar uma nova sntese em torno da memria coletiva.
Tratava-se de responder a leitura feita pelos historiadores (notadamente Marc Bloch) e de
precisar o papel da memria coletiva na configurao das sociedades modernas. O livro (A
memria coletiva) s foi publicado depois da Guerra7. No entanto, mesmo incompleto, ele
consagrou a adoo desta noo pelas cincias sociais. Halbwachs no s retoma a distino
entre memria individual e coletiva, mas tambm, discute a diferena entre memria coletiva e
histrica. Para ele, a memria coletiva pertence a um grupo, enquanto a histria se localiza fora
dos grupos e acima deles. E sobretudo, segundo ele, a histria comea no momento em que
se apaga ou se decompe a memria social. Enquanto uma lembrana subsiste, intil fix-la
por escrito. Claro que esta assero pode e deve ser discutida. No entanto, no podemos
negar a existncia de uma diferena entre a memria construda pelo trabalho dos
historiadores e a memria mais profunda, dos grupos. Os ritmos de evoluo deles so
diferentes.
4. A partir dos meados dos anos 70, a questo da memria coletiva conheceu um novo
surto. Na Frana, no trabalho coletivo iniciado por Pierre Nora, Os lugares da memria,
aparece a noo de sociedades memoriais, para descrever nossas sociedades
contemporneas, invadidas por memrias mltiplas8.
Empreenderam-se outros trabalhos e trs aspectos foram, sobretudo, comentados: a
memria como enquadramento, o lugar das memrias subterrneas e a articulao entre
esquecimento e memria. O historiador Henry Rousso utiliza o termo de memria enquadrada,
que considera mais especfico do que memria coletiva. Quem diz enquadrada diz trabalho
de enquadramento. Esse trabalho deve satisfazer a certas exigncias de justificao9.
Michael Pollak, por sua vez, se preocupou com as memrias subterrneas em
referncia s camadas populares10. Para Pollak, o papel do historiador seria o de trazer
superfcie memrias que prosseguem seu trabalho de subverso no silncio e de maneira
quase imperceptvel e que afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e
exacerbados. Mais do que isso, o que a emergncia destas memrias vm ocasionando,
conforme aponta Pollak, a disputa entre memrias ou a luta entre a memria oficial e as
memrias subterrneas. Esta luta que se trava pela incorporao destas memrias
marginalizadas, silenciadas, uma luta pela afirmao, sobretudo, de uma identidade que, por
pertencer a uma minoria, encontra-se marginalizada.
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 9
ISSN 18081967
Um outro aspeto muito comentado foi a questo do esquecimento. J, no sculo XIX,
Renan explicava que uma comunidade nacional se constri sobre o esquecimento das
singularidades, e Friedrich Nietzsche insistia na necessidade do esquecimento para que o
homem possa viver. Leitor de Nietzsche, Jorge Luis Borges escreve en 1942 um conto
chamado: Funes el Memorioso11. Irineo Funes possui uma memria infalvel, que
desconhece o esquecimento. Com insnias, ele segue indigesto por um mundo cheio de
detalhes. Um dia ele decide lembrar-se do seu passado e, querendo reconstituir todo o que ele
viveu, percebe que no tem outra opo seno ficar em casa, porque levava um dia para
lembrar-se do que fizera no decorrer de um dia j vivido.
Sobre a questo do esquecimento, mas no mbito coletivo desta vez, a historiadora
francesa Nicole Loraux escreveu um livro intitulado: A cidade dividida12. O esquecimento na
memria de Athena. Ela analisa a significao do sermo dos democratas, em 403 AC, logo
depois do retorno deles ao poder, de esquecer a ditadura dos Trinta Tyranos. Isso para
evitar uma guerra civil (stasis). Era ento proibido falar deste perodo. Este um caso de
esquecimento decretado pelo poder.
No entanto, sabemos que o esquecimento, como a memria, no se decreta. As
polticas da memria, ou as leis memoriais, que na Frana, por exemplo, queriam obrigar os
professores a ensinar o lado positivo da colonizao, permanecem, felizmente, prescries sem
efeito.
5. Agora, a partir destas definies, gostaria de analisar a complexidade das ligaes
entre estes dois termos antinmicos, que so os acervos pessoais e a memria coletiva. E
essa antinomia no vem da oposio entre os nveis micro e macro (pois explicamos que eram
justamente articulados), mas sim da oposio entre o estatuto dos arquivos, que permitem ao
historiador restituir um passado, e a memria, operao social de escolha de momentos,
eventos que vo estruturar uma sociedade e a construo da qual o historiador no intervm,
seno para analis-la ou desconstru-la. Vale assim questionar em que medida os acervos
pessoais, to procurados pelos histriadores por sua capacidade de revelar as sensibilidades
de uma pessoa e, por extenso, de um grupo, poderiam colaborar para a obteno de um
entendimento mais sutil dos fenmenos de memria coletiva.
Entre estes dois aspectos, o ponto de interseo que me interessa justamente o que
nasce da mediao do historiador. Nesta perspectiva, o historiador o nome dado pessoa
que trabalha com arquivos (num sentido amplo) para utiliz-los num discurso historiogrfico:
pode ser um antroplogo, um gegrafo
O historiador, como qualquer indivduo, compartilha uma memria coletiva, fruto da
reconstruo do passado do grupo a partir do presente. E, ao mesmo tempo, ele tem a
possibilidade de extrair-se dela para olh-la de modo crtico. Seu trabalho pode ser, tambm,
comentado e participar do ajuste de uma memria coletiva. Por exemplo, neste ano, no Festival
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 10
ISSN 18081967
de Cannes, o Prmio de interpretao masculina foi dado a quatro atores franceses, que
atuaram num filme intitulado: Indignes. O tema a participao dos soldados da frica do
Norte ao lado dos soldados franceses na Segunda Guerra Mundial. O historiador Pascal
Blanchard, autor do livro A frctura colonial (2005)13, atuou como consultor histrico durante a
realizao do filme. A partir da sua difuso nacional, em setembro de 2006, o filme entrou em
debate. O Presidente da Repblica fez um decreto para reajustar a aposentadoria destes
soldados (porque, at agora, s recebiam um tero da aposentadoria dos Franceses). Boa
parte dos franceses, neste momento muito tenso em relao presena dos Norte-africanos (e
Muulmanos) na Frana, comeou a perceber que sua liberdade atual tambm depende da
participao destes soldados na Guerra. A partir da, os jornalistas comearam a entrevistar
estes ex-soladados. As palavras deles, contando a especificidade das suas experincias,
puderam enfim, ser entendidas. Abriram-se as bocas, como malas durante muito tempo
fechadas. Abriram-se os armrios com fotos, cartas, jornais ntimos Agora os historiadores
querem trabalhar com esta histria esquecida.
E, ouvindo estas entrevistas, vozes tremendo, e vendo olhos brilhantes, como no
lembrar-se da lgrima de Ulisses na Odissia14? Lembrem-se: na volta de Tria, Ulsses
esquecera quem era. Um dia, ele chega Ilha dos Feacianos e encontra Nausicaa. O pai dela,
o Rei Alcnoo, decide ento festejar seu hspede. Primeiro o bardo Demdoco canta e conta
para o grupo reunido um episdio da guerra de Tria, a discusso que ocorrera entre o ilustre
Aquiles e o inteligente Ulisses. Enquanto escutava, Ulisses chorou e moveu seu manto sobre a
cabea para esconder-se. Apenas Alcnoo percebeu. De noite, Demdoco cantou novamente:
o tema foi o Cavalo de Madeira de Tria. Ulisses chorou novamente enquanto ouvia e
novamente apenas Alcnoo o observou. Ele pediu a Ulisses que lhes contasse quem era, de
onde vinha e para onde desejava ser transportado; e porque chorava com as canes do
bardo. Assim convidado, Ulisses lembrou-se e contou quem era e descreveu todas as
aventuras pelas quais tinha passado. Se abri esse parntese, no foi por acaso. A Odissia
certamente um dos maiores poemas da histria europia. Ele, sem dvida, faz parte de uma
memria coletiva europia. E essa memria nasce da perda da memria de um homem. Do
esquecimento nascem novas possibilidades...
Para voltar a Indignes, a partir do exemplo da recepo social deste filme, podemos
afirmar que o acesso a estes acervos pessoais permitir o reajuste da memria histrica. Mais,
o que vai acontecer com a memria coletiva? Como este justamente um processo vivo,
assistimos a reajustes constantes dos elementos chaves desta memria, em funo das
necessidades do presente, dos desafios que enfrenta o grupo e do qual a leitura dos acervos
pessoais pode participar.
Nestas operaes de reajuste, gostaria de desenvolver um outro exemplo, relativo
tambm Segunda Guerra Mundial, desta vez ligado memria do Holocausto. Em 2002, o
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 11
ISSN 18081967
Prmio Nobel de Literatura foi atribuido ao escritor judeu hngaro Imre Kertesz, autor do
romance (quase) autobiogrfico Sem destino (1961)15.
O livro retrata a vida de um rapaz de 15 anos, Giorgy Koves, que vive numa zona de
Budapeste, em meados de 1943, e que um dia arrebanhado e mandado para um campo de
concentrao. O livro a descrio de um ano e meio da vida no campo feita pelo rapaz.
Kertesz demonstra e faz perceber a aceitao passiva, a indiferena mesmo das prprias
vitimas: muitas no tinham a noo concreta da injustia, da maldade extrema, da
discriminao que tudo aquilo constitua. Este sistema de fora que oprimia e desumanizava
formou uma sociedade na qual boa parte dos membros defendia a legalidade, participando
assim do sistema. Alm disso, insisto sobre o fato de que, neste cotidiano da sociedade, o
cativeiro tem a sua rotina, que o verdadeiro cativeiro no passa, no fundo, de um quotidiano
cinzento.
Este testemunho acervo pessoal no modificou o sentido geral da memria dos
campos de concentrao. No entanto, um convite (feito aos historiadores) para uma leitura
mais sutil do cotidiano, do vivido experimentado nestes campos da morte. E, quem sabe, ao
final, se a memria coletiva no vai ser modificada? Mas isso, ningum pode prever.
6. Ao mesmo tempo, a relao entre os nveis individual e coletivo nos confronta
questo do estatuto do testemunho individual, que seja na forma de um depoimento oral ou de
documentos escritos. Esta questo constitui, alis, um dos problemas essenciais do campo da
histria (e da justia tambm)16. Quando s h (ou sobrevive) um testemunho de certo
acontecimento, que estatuto atribuir ao seu depoimento? A filosofia ocidental j resolveu esta
questo: testis unus, testis nullus. O testemunho deve ser comprovado. Mas ser que
podemos continuar a raciocinar desta maneira? Ser que um nico indivduo com uma
experincia singular tambm no poderia revelar aspectos da vivncia coletiva?
Tomemos um exemplo: hoje ainda h alguns sobreviventes da tragdia dos campos de
extermnio que carregam marcas no s psicolgicas mas, tambm, fsicas. Daqui a uma
gerao muitos tero morrido e, cabe perguntar, qual ser o valor do testemunho do ltimo
remanescente em relao memria desta tragdia? Primo Lvi, no livro Os afogados e os
sobreviventes (1986)17, formula assim as dvidas dos sobreviventes, encenando a conversa de
um official SS com um prisioneiro: qual que seja o fim desta guerra, j vencemos; nenhum de
vocs vai sobreviver para testemunhar, e se alguns conseguem escapar, o mundo no vai
acreditar () porque ns vamos destruir as provas, como vocs. E se por acaso uma prova ou
algum sobrevive, todo mundo vai dizer que os eventos que vocs contam so to
monstruosos que so exagerados; o mundo vai acreditar em ns, que negamos tudo, e no em
vocs. Esta viso extrema da possibilidade de entender um testemunho foi descrita como uma
verdade de doido. De fato, o entendimento de um testemunho depende da capacidade
mental de enquadrar este testemunho num conjunto mais amplo, fruto do nosso conhecimento
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 12
ISSN 18081967
da humanidade, da nossa experincia, da memria coletiva. Assim, o testemunho de um ato
to extraordinrio, incomparvel, coloca a pessoa que o recebe numa situao inicial de
dvida.
O supra-ordinrio intriga como, alis, o infra-ordinrio. Tomemos um exemplo
exatamente contrrio: conhecemos, em Paris, a importncia das placas comemorativas nas
ruas que tm um papel essencial para a construo da memria da cidade. Atualmente, h
2200 placas na capital francesa, dentre as quais 1600 de porte cultural, lembrando a vida dos
artistas ou dos homens de cincias, e 600 relativas Segunda Guerra Mundial. Servem de
ponte entre o indivduo e a sociedade. Ora, em 2001, um falsrio (o Senhor A) colocou 60
placas de mrmore em Paris para comemorar o ordinrio: Em 21 de maro de 1967, aqui, no
aconteceu nada, ou Karima Bentifa, funcionria, morou aqui de 1984 a 1992 E como as
placas foram colocadas em imveis privados, a prefeitura de Paris no sabia o que fazer. Ento
as placas permaceram, o que provocou o espanto dos transeuntes, no acostumados
comemorao do ordinrio, ou, para ser mais preciso, do infra-ordinrio (por oposio ao
extraordinrio). Este espanto nos coloca frente a uma constatao: a memria coletiva se
contri em torno do extraordinrio, o que permite que se desenvolva uma vida ordinria. E
porque este extraordinrio participa do nosso ordinrio que podemos reconhec-lo e aceit-lo
como extraordinrio.
Deste ponto de vista, voltando ao exemplo do Holocausto, que estatuto atribuir ao
Holocausto? Na memria da humanidade, no vejo como pode ser esquecido. No entanto, esta
questo to problemtica, que hoje, na constituio da Comunidade Europia, acompanhada
da estruturao de uma memria histrica europia, a questo da integrao deste
acontecimento na memria oficial da Europa est colocada. O projeto europeu nasceu sobre
as runas da Guerra; no entanto, se retomamos a viso de Ernest Renan, segundo a qual as
naes se constituem a partir do esquecimento das particularidades de cada um, de cada
grupo, cabe perguntar-se, com Carlo Ginzburg, se a Europa no vai constituir-se sobre o
esquecimento do Holocausto. Isso no seria a vitria pstuma de Hitler?
Mais uma vez, confrontamo-nos com as dificuldades de articulao do nvel coletivo
com o nvel individual. H uma resistncia do coletivo ao individual, quando este releva de uma
dimenso supra ou infra-ordinria. Estes seriam os dois polos extremos cada vez repensados,
da linha de tenso que constitui a memria coletiva. E, para voltar a Rabelais, podemos afirmar
que o degelo das palavras contidas nos acervos pessoais tambm contribui para o
reposicionamento da memria coletiva, sem que, obviamente, o historiador possa orientar este
processo. Este me parece ser o desafio principal da questo que vai ser discutida neste
Congresso.
Notas:
-
UNESP FCLAs CEDAP, v.3, n.1, 2007 p. 13
ISSN 18081967
* Laurent Vidal Professor Doutor da Universidade de La Rochelle, Frana. e-mail: laurent.vidal@univ
lr.fr 1 O resumo na lngua francesa foi elaborado pela Brigitte Monique Hervot ,docente do Departamento de
Letras Modernas da Faculdade de Cincias e Letras Campus de Assis UNESP 2 Traduo por Antnio Lzaro de Almeida Prado (http://www.cronopios.com.br/site/artigos.asp?id=1473). 3 AMIEL, Henri-Frdric. Du Journal intime, Bruxelles, ditions Complexe, 1987 4 HALBWACHS, Maurice. Les cadres sociaux de la mmoire, Paris, Felix Alcan, 1925 5 PROUST, Marcel. A la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, Coll. La Pliade, 3 vol. 6 BLOCH, Marc. Mmoire collective, tradition et coutume. A propos dun livre rcent, Revue de synthse,
t. XL, dec. 1925, pp. 73-83. 7 HALBWACHS, Maurice. La mmoire collective, Paris, PUF, 1950 8 NORA, Pierre. Les lieux de Mmoire, Paris, Gallimard, Coll. Bibliothque illustre des histoires, 3 tomes,
1984 - 1992 9 ROUSSO, Henry. Vichy. Lvnement, la mmoire, lhistoire, Paris, Gallimard, 2001 10 POLLAK, Michael. Memria, esquecimento, silncio, Estudos histricos, Rio de janeiro, vol. 2, n3,
1989, pp. 3-15. 11 BORGES, Jorge Luis. Funes el Memorioso, em Ficciones, Buenos Aires, 1944. 12 LORAUX, Nicole. La cite divise. Loubli dans la mmoire dAthnes, Paris, Payot, 1997 13 BLANCHARD, Pascal, BANCEL, Nicolas, LEMAIRE, Sandrine, dir., La fracture coloniale. La socit
franaise au prisme de lhritage colonial, Paris, La Dcouverte, 2005. 14 HOMRE. Illiade, Odysse, Paris, Gallimard, Pliade, 1955 15 KERTSZ, Imre. Etre sans destin, Paris, Actes Sud, 1998 16 Carlo Ginzburg : lhistorien et lavocat du diable : entretien avec ILLOUZ, Charles et VIDAL,
Laurent , Genses, n53, dc. 2003, pp. 113 148, et n54, mars 2004, pp. 112-129. 17 LVI, Primo. Les naufrags et les rescaps. Quarante ans aprs Auschwitz, Paris, Gallimard, 1989






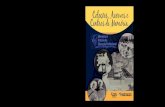







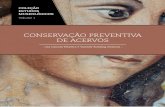


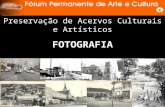

![Thesaurus Para Acervos Museológicos [Volume I]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5695d0691a28ab9b02925d2c/thesaurus-para-acervos-museologicos-volume-i.jpg)