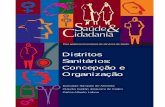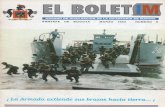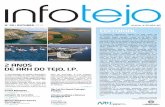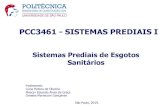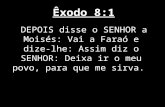VII-008 - A SELEÇÃO DE INDICADORES SANITÁRIOS COMO ... · foi o surgimento do desenvolvimento...
Transcript of VII-008 - A SELEÇÃO DE INDICADORES SANITÁRIOS COMO ... · foi o surgimento do desenvolvimento...
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos 1
VII-008 - A SELEÇÃO DE INDICADORES SANITÁRIOS COMOINSTRUMENTO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
PARA CONSUMO HUMANO NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇASDE VEICULAÇÃO HÍDRICA
Silvano Silvério da Costa(1)
Engenheiro civil, mestrando em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos – UNB foiresponsável pela Vigilância e Controle da Qualidade da Água de Consumo Humano eContaminantes Ambientais na Coordenação de Vigilância Ambiental emSaúde/CNEPI/FUNASA e atualmente é Diretor de Operações e Manutenção do SAAE deGuarulhos - SP.Albertino Alexandre Maciel FilhoEngenheiro civil (UFPE, 1973); especializado em Saúde Pública, Epidemiologia eArquitetura Hospitalar. Foi Coordenador de Vigilância Ambiental em Saúde do CENEPI / FUNASA eatualmente é consultor do Departamento de Ciência e Tecnologia da SPS/MS.
Jacira Azevedo CancioEngenheira sanitarista e civil, com especialização em Saúde Pública e Assessora de Saúde e Ambiente daOPAS/OMS – Representação no Brasil.
Mara Lúcia Carneiro OliveiraEngenheira civil, com especialização em Engenharia Sanitária – USP/SP e Administradora Pública (FGV –Brasília) e Especialista da Coordenação de Vigilância Ambiental /CNEPI/FUNASA.
Endereço(1): Rua Coral nº 55, apto 503, Cidade Maia, Guarulhos, São Paulo, CEP.: 07.115-060, fone/fax.:0xx 11 2080764 (serv.), e-mail: [email protected]
RESUMO
Encontra-se em fase de estruturação no país a Vigilância em Saúde, que se caracteriza pela integração dasVigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental em Saúde.Por ser considerado como ferramenta importante para a prática da vigilância ambiental em saúde, a FUNASAvem estruturando um Sistema de Informação de Vigilância e Controle da Qualidade da Água para ConsumoHumano, o SISAGUA, que foi precedido pela definição de indicadores sanitários a serem utilizados comosentinelas na prevenção e controle de doenças de veiculação hídrica.Este documento, portanto, apresenta a base do modelo adaptado para a definição de indicadores de Saúde eAmbiente pela Organização Mundial da Saúde (OMS).O modelo será devidamente conceituado no presente trabalho que apresentará também a matriz dedesenvolvimento-ambiente-saúde e “ações de resposta” específicas para o controle e prevenção de algumasdoenças e agravos (doenças diarreicas e hepatites A e E). Ao final são apresentados os principais indicadores, com a conceituação, qualificação e as fontes de obtenção.Pretende-se com esses indicadores subsidiar a construção de um Sistema de Informação em Vigilância eControle da Qualidade da Água para Consumo Humano, integrado a um Sistema de Vigilância Ambiental emSaúde e a outros sistemas no âmbito do SUS e fora dele, nos diversos níveis de gestão.
PALAVRAS-CHAVE: Indicadores Saúde Ambiental, Indicadores Sanitários, Indicadores, Saúde e Ambiente eIndicadores de Vigilância Qualidade da Água.
INTRODUÇÃO
Muito já se sabe da relação saneamento e saúde e mais especificamente da água e saúde pública. Em 400 a.C.,Hipócrates já chamava a atenção de seus colegas para a relação entre a qualidade da água e a saúde dapopulação. Afirmava que o médico ”que chega numa cidade desconhecida deveria observar com cuidado a águausada por seus habitantes” (OPS, 1999).
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos2
Segundo estimativas da OMS, em 1993, em todo o mundo, 3.010.00 crianças menores de cinco anos morreramdevido a doenças Diarréicas (OPS, 1999).
Uma das responsáveis pela grave situação apresentada é a falta de serviços adequados de abastecimento de águae de esgotamento sanitário. A situação do saneamento básico no Brasil e no mundo encontra-se extremamentevulnerável, e as perspectivas de melhoria são bastante desanimadoras.
Em recente avaliação da situação do abastecimento de água e do esgotamento sanitário na região das Américas,a Avaliação Global 2000, realizada pela OPAS, Divisão de Saúde e Ambiente, publicou dados mostrando aevolução do ano 1995 ao ano 2000 (OPAS, 2000).
A evolução da cobertura por serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil não seguea mesma tendência da América Latina. A cobertura de água potável que era de 96% em 1990, reduziu para 89%na década de 2000. Quanto ao esgotamento sanitário houve um acréscimo de 78%, em 1990, para 86% nadécada de 2000.
O decréscimo observado na situação do abastecimento de água, em relação à década anterior se deve,provavelmente a uma superestimativa da população abastecida com conexões e com fácil acesso durante aavaliação da década de oitenta (OPAS, 2000).
Os dados da cobertura por serviços de abastecimento de água do Brasil, na década de 2000, são apresentados naTabela 1, para as áreas urbanas e rurais.
Analisando os dados apresentados na Tabela 1 algumas preocupações advêm. Inicialmente pela constatação deque, a despeito de uma cobertura total da população brasileira estar no patamar de 90%, a cobertura dapopulação vivendo na área rural é significativamente inferior, na casa dos 65%. Esse valor inclui a categoria dapopulação rural com fácil acesso ao abastecimento de água, da ordem de 45% do total, cuja qualidade equantidade da água consumida é bastante questionável. Assim, se for considerada apenas a população rural comabastecimento de água encanada esse percentual cai para a casa dos 20%, o que é uma cobertura muitoreduzida. Dessa forma essa população deve ser encarada como de alto risco quanto à exposição amicrorganismos veiculados pela água.
Deve-se ressaltar a falta de perspectiva de que esse quadro venha a se alterar nos próximos anos. Uma eventualprivatização do saneamento pode contribuir para acabar com o subsídio cruzado entre os serviços desaneamento superavitário dos grandes centros e o dos municípios menores. Esse fenômeno pode acarretar queos recursos para investimento nas áreas rurais, na próxima década, sejam ainda menores que no passado.
Apesar do conhecimento do quadro apresentado e a despeito de todo avanço tecnológico, pelo menos no Brasil,a demanda de ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças, e o planejamento de investimentosestratégicos não é norteado de forma sistêmica, sobretudo no setor saneamento, pelas situações deinsalubridade ambiental e sanitária.
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos 3
Tabela 1: Cobertura por abastecimento de água – População Total, Urbana e Rural (OPAS, 2000)Dados de 1998
CARACTERIZAÇÃO DESCRIÇÃO POPULAÇÃO OU PERCENTUALPop. Urb. 161.790.000Conexões 121.791.000
% 75.28Fácil acesso 22.226.000
% 13.74Total 144.017.000
População Total Servida
% 89.01Total 17.773.000População Total Sem Serviço
% 10.99Pop. Urb. 126.773.000Conexões 114.907.000
% 90.64Fácil acesso 6.361.000
% 5,.2Total 121.268.000
População Urbana Servida
% 95.66Total 5.505.000População Urbana Sem Serviço
% 4,.4Pop. Rural 35.017.000Conexões 6.884.000
% 19.66Fácil acesso 15.865.000
% 45.31Total 22.749.000
População Rural Servida
% 64.97Total 12.268.000População Rural Sem Serviço
% 35.03
Os setores saneamento e saúde, apesar de contar, respectivamente, com diversos indicadores sanitários eepidemiológicos não os utilizam de forma sistemática e integrada para nortear tais ações.
Faz-se necessário, portanto, integrar as informações relativas aos setores de saneamento e meio ambiente(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, resíduos sólidos, controle de vetores,poluição e contaminação hídrica), com as informações do setor saúde, particularmente daquelas decorrentes dasdiversas vigilâncias com o objetivo de contribuir para a redução das ocorrências de doenças de veiculaçãohídrica
Existem atualmente, no setor saúde, programas institucionais sendo desenvolvidos no sentido de integrar asVigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental em Saúde, na busca da Vigilância em Saúde.
As duas primeiras, são devidamente pelos profissionais dos setores saúde, saneamento e meio ambiente. Aprimeira se incumbe de cuidar dos produtos e serviços relacionados à saúde, enquanto a segunda é responsávelpor detectar e investigar doenças e agravos à saúde humana. A Vigilância Ambiental em Saúde, área de atuaçãomais recente do setor saúde, tem como objetivo detectar os fatores ambientais (físicos, químicos e biológicos)que colocam em risco a saúde humana, e demandar ações de prevenção e controle.
Por definição, a vigilância ambiental em saúde se configura como um conjunto de ações que proporcionam oconhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambienteque interferem na saúde humana, incluindo ai as ações de saneamento, com a finalidade de recomendar e adotaras medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças, ou outros agravos à saúde,relacionados à variável ambiental.
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos4
Dentro dessa perspectiva, a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, sendo parte integrante daVigilância Ambiental em Saúde, tem como objetivo integrar o setor saúde e as suas ações e informações devigilância (ambiental e epidemiológica), com o setor saneamento e meio ambiente e as ações e informaçõesrelativas à prestação dos seus serviços.
Por ser considerado ferramenta importante para a prática da vigilância, foi estruturado um Sistema deInformação de Vigilância e Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano – o SISAGUA. Aconcepção desse sistema, foi precedida pela definição de indicadores sanitários.
DESENVOLVIMENTO
ANTECEDENTES
Desde o início dos anos 60 e 70 iniciou-se um esforço para incorporar a variável ambiental no movimento dosindicadores sociais, formando-se grupos nacionais e internacionais preocupados com essa questão (Borja eMoraes, 2000).
Ao se avaliar o movimento internacional vinculando saúde ao meio ambiente e ao desenvolvimento, percebe-seque, de acordo com os encontros internacionais realizados, desde a Rio 92 até Istambul 96, fica evidente que asaúde ambiental tornou-se um item importante da agenda do meio ambiente e do desenvolvimento, e que asquestões ambientais receberam maior destaque na agenda da saúde pública. A Tabela 3.7 demonstra os esforçosinternacionais para tornar a saúde ambiental um item importante da agenda do meio ambiente, dodesenvolvimento e da saúde pública.
Um dos mais importantes estímulos para o uso de indicadores de desenvolvimento na área da saúde e ambiente,foi o surgimento do desenvolvimento sustentável, como princípio guia para a política e a adoção da Agenda 21,construída em 1992 na Conferência Ambiental e Desenvolvimento das Nações Unidas.
O Princípio 1 da declaração do Rio/92 diz que:
O “fator humano” é de importância fundamental para o conceito de sustentabilidade. Isto foi enfatizado nopreâmbulo da Declaração do Rio, mais precisamente que “os seres humanos estão no centro da preocupaçãocom o desenvolvimento sustentável. Eles têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com anatureza (ONU, 1993).
O Capítulo 40 da Agenda 21 – Informação para a Tomada de Decisão (ONU, 1993), por exemplo estabeleceque:
Indicadores de desenvolvimento sustentável precisam ser desenvolvidos para prover bases sólidas na tomada dedecisão em todos os níveis e para contribuir para a regulação própria da sustentabilidade do ambiente, integradoa outros sistemas de desenvolvimento (ONU, 1993).
Conforme já reportado, um grande trabalho vem sendo realizado para o desenvolvimento de indicadoresrelativos ao meio ambiente, principalmente por organizações como a Organização para a CooperaçãoEconômica e o Desenvolvimento – (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), oComitê Científico para Problemas do Meio Ambiente (Scientific Committee on Problems of theEnvironment – SCOPE), a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (UnitedNations Comission on Sutainable Development – CSD), a Organização Mundial de Saúde – OMS, oPrograma das Nações Unidas para o Meio Ambiente (United Nations Environment Programe – UNEP), oPrograma das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o Centro das Nações Unidas paraAssentamentos Humanos (United Nations Centre for Human Settlements – UNCHS), o Instituto de RecursosMundiais (World Resources Institute – WRI), o Banco Mundial, a Comissão Européia e outras organizações,bem como vários países, como os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a Holanda e outros(Von Shirnding, 1998).
Considera-se que ainda é preciso avançar muito para se obter um indicador para a saúde ambiental, assim comoo PIB e o IDH são para a economia, e que, em função da diversidade de problemas de saúde ambientalverificados em cada país, os indicadores deverão igualmente diferir em cada nível de decisão.
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos 5
OBJETIVO E NATUREZA DOS INDICADORES
Forge (1994, apud Borja e Moraes, 2000), estabelece algumas indagações que devem ser respondidas antesde se iniciar um sistema de indicadores ambientais urbanos:• Quais o objetivos dos indicadores? Alertar, definir tendências ou avaliar impactos?• Qual o tipo? Avaliação do estado do ambiente, verificação das pressões sobre ele incidentes ou avaliação
das respostas dadas pelo poder público e sociedade quanto à melhoria do meio ambiente urbano?• Qual a escala da avaliação? Global, regional, nacional ou local?• Quais os usuários das informações? Tomadores de decisão, políticos, economistas, público em geral ou
técnicos?Os indicadores sanitários, objeto do presente trabalho, além de auxiliar no processo de planejamento e dealocação de recursos do setor saneamento para a promoção da saúde, a partir do estabelecimento deevidências sanitárias, devem permitir aos gestores do setor saúde avaliar as vulnerabilidades sanitárias dossistemas de abastecimento de água; alertar aos prestadores de serviços de saneamento quanto a eventuaisfatores de riscos à saúde humana; avaliar os impactos que as ações de saneamento, ou a falta delas, têm nasaúde humana.
Tabela 2: Cronologia de eventos internacionais envolvendo discussões sobre saúde ambiental edesenvolvimento (Von Shirnding, 1998 – adaptada)
ANO LOCAL EVENTO DISCUSSÕES
1986 Otawa Otawa Charter onHealth Promotion
Lançamento da “Carta de Otawa sobre Promoção daSaúde” , alertando para a importância de desenvolver-seambientes saudáveis e enfatizando a necessidade de seobservar a saúde por uma perspectiva mais ampla dedesenvolvimento
1987 Seminformação
Comissão Mundialsobre Meio Ambientee Desenvolvimento
Associou a questão de proteção do meio ambiente aocrescimento econômico e desenvolvimento globais
1991 SuéciaConferência deSundsvall sobre
Ambientes Saudáveis
Observância do papel de vários setores na influência dascondições ambientais e de saúde e seus vínculos,verificando como as considerações ambientais e de saúdepoderiam ser melhor incorporadas ao planejamentosetorial
1992 Seminformação
Reunião da Comissãode Saúde e Meio
Ambiente da OMS
Forneceu insumo chave para a subsequente “Conferênciade Cúpula” de 1992.
1992 RJ/Brasil
Conferência dasNações Unidas sobre
Meio Ambiente eDesenvolvimento
Adoção da “Agenda 21” – Plano global de ação paratomada de medidas necessárias para se conseguir umdesenvolvimento ambientalmente sustentável no séculoXXI. A Agenda 21 enfatiza a necessidade de se levar emconta considerações sobre a saúde quando doplanejamento do desenvolvimento sustentável
1994
Manches-ter/
ReinoUnido
Fórum Global
Atenção voltada para a importância do meio ambienteurbano e desenvolvimento sustentável
1996 Istambul/Turquia HABIT II
Focalizou a atenção nas cidades, destacando suaimportância à luz da tendência de rápida urbanização queestá ocorrendo em todo o mundo
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos6
Os indicadores terão como foco prioritário os gestores locais, responsáveis pela vigilância e controle daqualidade da água para consumo humano; os responsáveis pela prestação dos serviços de abastecimento deágua e de esgotamento sanitário; e os tomadores de decisão envolvidos com a formulação de políticas, com oplanejamento e com a alocação de recursos de saúde, saneamento e meio ambiente; e finalmente ao públicoalvo das situações de risco.
Quanto aos objetivos dos indicadores, Will e Brigg (1995, apud Borja e Moraes, 2000) apresentam osindicadores como sendo um meio de prover as políticas com informações, de demonstrar seu desempenho aolongo do tempo e de realizar previsões, podendo ser utilizados para a promoção de políticas específicas emonitorização de variações espaciais e temporais das ações públicas.
METODOLOGIA ADOTADA PARA A DEFINIÇÃO DOS INDICADORES SANITÁRIOS
Nos últimos anos um número significativos de tentativas têm sido feitas para definir uma estrutura conceitualde indicador de desenvolvimento. Dessas uma que tem sido freqüentemente adotada é a seqüência Pressão-Estado-Resposta (PSR), inicialmente aplicada pela OECD como uma estrutura para relatar o estado do meioambiente (OMS, 1996).
Em muitos casos, entretanto, a PSR mostrou-se limitada, e tem mais recentemente sido incorporado a ela asforças motrizes (driving forces) responsáveis pela pressão no ambiente, e os efeitos que freqüentementeprecedem a resposta política (USEPA, 1994 apud OMS, 1996).
Com a inclusão dessas novas diretrizes pela OMS, surgiu a estrutura conceitual para indicadores de saúdeambiental conhecida como “FPEEEA” – Forças Motrizes, Pressão, Estado, Exposição, Efeitos e Ação.
A cadeia Desenvolvimento-Meio Ambiente-Saúde e as “ações de resposta” é o modelo através do qual as forçasmotrizes geram pressões, que modificam a situação do ambiente, e, em última análise, a saúde humana, pormeio das diversas formas de exposição, onde as pessoas entram em contato com o meio ambiente, causando osefeitos na saúde. Várias ações podem ser desenvolvidas em diferentes pontos da cadeia, assumindo diversasformas, como mostrado na Figura 1.
Assim, por exemplo, as forças motrizes do desenvolvimento, representadas pela urbanização e aindustrialização, geram pressões sobre o meio ambiente que deterioram o seu estado e expõe populações ariscos, que podem gerar efeitos negativos para a saúde humana, elevando as taxas de morbi-mortalidade.
Figura 1: Cadeia Desenvolvimento-Meio Ambiente-Saúde (Von Shirnding, 1998)
Uma vez identificadas as causas, dentro desta estrutura, podem-se definir os indicadores, correspondentes aosdiferentes componentes, sendo igualmente importante os indicadores relacionados às ações (efeitos).
Força Crescimento Desenvolvimento TecnologiaMotriz da População Econômico
Pressões Produção Consumo Disposição de resíduos
Situação Riscos Disponibilidade Níveis de naturais de recursos Poluição
Exposição Exposição Dose de Dose orgânica externa Absorção Alvo
Efeito Bem-Estar Morbidade Mortalidade
Ação
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos 7
MATRIZ DE DESENVOLVIMENTO-MEIO AMBIENTE-SAÚDE E AÇÕES DE RESPOSTA
Como salientado anteriormente no Sistema de Informação de Vigilância Ambiental, em função da importânciadas doenças e agravos decorrentes da ingestão de água inadequada, o Centro Nacional de Epidemiologia –CENEPI/FUNASA, priorizou o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para ConsumoHumano - SISGUA que foi elaborado e implantado no ano de 2000.Antes da concepção do SISAGUA, foram discutidos com profissionais que atuam no setor saneamento, saúde emeio ambiente, à luz da metodologia recomendada pela OMS (FPEEEA), anteriormente mencionada, osindicadores que deveriam ser utilizados na vigilância da qualidade da água para consumo humano.Foram discutidas as matrizes da cadeia Desenvolvimento-Meio Ambiente-Saúde e ações de resposta para asseguintes doenças: intoxicações por agrotóxicos, intoxicações por mercúrio, doenças diarréicas e hepatites A eE.
No presente trabalho são abordados somente o desenvolvimento da metodologia para as doenças diarréicas e ashepatites A e E.
As Figuras 2 e 3 apresentam as matrizes da cadeia Desenvolvimento-Meio Ambiente-Saúde elaboradas para asdoenças anteriormente mencionados.
PRINCIPAIS INDICADORES SANITÁRIOS ESCOLHIDOS PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE DAQUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
A Tabela 3 apresenta os indicadores sanitários selecionados para representar os diversos níveis da cadeiaDesenvolvimento-Meio Ambiente-Saúde apresentados nas Figuras 2 e 3.
Tabela 3: Indicadores de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Efeito: DoençasDiarréicas Agudas e Hepatite A e E (FUNASA, 1999)
EFEITO INDICADOR FONTE1. Qualidade bacteriológica da água (consumida e distribuída) Prestador do serviço2. Turbidez da água Prestador do serviço3. Níveis de cloro residual Prestador do serviço
4. Tratamento domiciliar da água SecretariasMunicipais de Saúde
5. Atendimento da legislação de controle da qualidade da água deconsumo humano Prestador do serviço
6. Atendimento da legislação de vigilância da qualidade da água deconsumo humano
SecretariasMunicipais de Saúde
7. Instalações intradomiciliares IBGE8. Cobertura da população em abastecimento de água IBGE9. Cobertura da população em esgotamento sanitário IBGE10. Cobertura da população em limpeza pública IBGE11. Tratamento da água Prestador do serviço12. Desinfecção da água Prestador do serviço13. Consumo per capita de água Prestador do serviço14. Regularidade do serviço de abastecimento de água Prestador do serviço
Doençasdiarréicas
15. Intermitência do serviço de abastecimento de água Prestador do serviçoitens de 1 a 6; de 8 a 10; e de 13 a 15 iguais à DDAHepatite
A e E16. Certificação dos operadores de SAS Prestador do serviço
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos8
ForçaMotriz
Sistemahabitacionalinadequado
Modelo InstitucionalLegal Saneamento
inadequado
Crescimento urbano
desordenado
Sistemaeducacionalinadequado
Modeloeconômicoinadequado
Pressão Instalaçõesintradomicili
aresprecárias
Fonte de águacontaminada:
Esgoto, lixo, efluentesindustriais, poluentes
agro-pecuários edrenagem
Inexistência ou
inadequação do
tratamentode água
Fornecimento
descontínuo de água
(Quantidade
insuficientede água
paraconsumohumano
Baixo níveleducacionale cultural
Baixo nívelde renda dapopulação
Sistemadistribuidor
precário
Estado Acondicionamento daágua de
consumohumano de
formainadequada
Água de consumohumano contaminada
Higienecorporal
inadequada
Hábitohigiênico
inadequado
Exposição Populaçãoconsumindo
águacontaminada
População ingerindoalimentos contaminados
Populaçãoexposta a
microrganismos
através dapele
Populaçãoexposta avetores
Efeito Doenças diarréicas Agudas
ForçaMotriz
Produção Agrícola Déficit de saneamento Desenvolvimento urbano
Déficithabitacional
Déficiteducacional
Pressão Uso de águacontaminada para
irrigação
Demanda de água deconsumo humano não
atendida
Lançamentode esgoto nãotratado- lixonão tratado
Condições demoradiainsalubre
Baixo grau deinstrução
Estado Alimentocontaminado
Água de consumohumano contaminada
Escassez deágua paraconsumohumano
Esgoto “a céuaberto”
Coleçõeshídricas
contaminadas
Acondicionamento de águapara consumo
humanoinadequado
Falta dehigiene e
manipulaçãoinadequadade alimentos
Exposição Populaçãoconsumindoalimentos
contaminados
Populaçãoconsumindo água
contaminada
População emcontato diretocom dejetos /
lixo
População emcontato direto
commananciais
contaminados
Efeito
Hepatite A e E
Figura 2: Cadeia Desenvolvimento-Meio Ambiente-Saúde para Doenças Diarréicas visando aVigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano (*)
Figura 3: Cadeia Desenvolvimento-Meio Ambiente-Saúde para Hepatite A e E visando a Vigilânciada Qualidade da Água de Consumo Humano (*)
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos 9
(*) Metodologia proposta pela OMS para análise de Causa e Efeito nas relações entre Saúde e Ambiente
As Tabelas 4 apresentadas a seguir identificam a qualificação dos indicadores sanitários abordadosanteriormente.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARACONSUMO HUMANO – SISAGUA
O Sistema de Informação de Vigilância e Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano – SISAGUA,que encontra se implantado em cinco estados brasileiros foi concebido a partir dos indicadores sanitáriosselecionados e conta com três módulos:
Módulo 1 - Cadastro dos Sistemas de Abastecimento de Água – SAA e das Soluções Alternativas – SAEsse módulo é constituído de informações obtidas junto aos prestadores de serviços de saneamento básico, nocaso dos sistemas de abastecimento de água. Algumas informações que constam desse módulo: tipo detratamento, existência ou não de desinfecção, número de domicílios atendidos pelo SAA, consumo per capitamédio de água, tipo e nome de manancial, instituição responsável pelo sistema, além de outras. No caso de SAas informações mais importantes são: tipo de suprimento e o número de domicílios atendidos por tipo desuprimento. As informações são atualizadas anualmente e coletadas por sistema e por município.
Módulo 2 - Controle de Qualidade da Água para Consumo HumanoEsse módulo é constituído de informações obtidas junto aos prestadores de serviços de saneamento básico paratodos os SAA. Algumas informações que constam desse módulo: dados de qualidade da água da entrada doSAA e na rede de distribuição (número de amostras coletadas e número de amostras fora dos padrões para osseguintes parâmetros: Turbidez, Cloro Residual, Coliforme Total, Coliforme Fecal, Agrotóxicos e Mercúrio).As informações deverão ser fornecidas mensalmente e para todos os municípios.
Módulo 3 - Vigilância da Qualidade da água para Consumo HumanoEsse módulo é de responsabilidade do setor saúde, especificamente da área responsável pela vigilância econtrole da qualidade da água para consumo humano nos estados e municípios. Além de registrar informaçõesimportantes sobre os dados da amostra coletada (endereço, data da coleta, além de outras) informa também osresultados de tais análises relativos a Turbidez, Cloro Residual Livre, Coliforme Total e Fecal. É feita, também,a coleta e análise da qualidade da água das soluções alternativas para a posterior análise do resultado e ademanda de ações conseqüentes. O número de amostras a serem coletadas para a vigilância da qualidade daágua é pactuado anualmente entre as estruturas formais do SUS através da Programação Pactuada Integradapara Endemias e Controle de Doenças -PPI/ECD. O SISAGUA é alimentado por essa informação no momentoda disponibilidade da informação.
O SISAGUA, que é a base para a alimentação da maioria dos indicadores sanitários, foi implantado nos cincoestados brasileiros, na seguinte cronologia:
• Pernambuco: Foram treinadas nove Regionais de Saúde dos Estados, no período de 10 a 18 deagosto/2000. A Secretaria Estadual de Saúde está alimentando as informações do SISAGUA desde o mêsde outubro/2000;
• São Paulo: Foram treinadas oito Regionais de Saúde dos Estados, no período de 21 a 25 de agosto/2000.A Secretaria Estadual de Saúde está alimentando as informações do SISAGUA desde o mês denovembro/2000;
• Bahia: Foram treinadas nove Regionais de Saúde dos Estados, no período de 11 a 15 de setembro/2000.A Secretaria Estadual de Saúde está alimentando as informações do SISAGUA desde o mês denovembro/2000;
• Rio Grande do Sul: Foram treinadas nove Regionais de Saúde dos Estados, no período de 25 a 29 desetembro/2000. A Secretaria Estadual de Saúde está alimentando as informações do SISAGUA desde omês de dezembro/2000.
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos10
Tabela 4-a – Indicadores sanitários. Agrupamento de acordo com as características dos indicadores(FUNASA, 1999 – modificado)
GRUPO SUBGRUPO• IBtcse – qualidade bacteriológica em relação a Coli Total, relativa às
informações de controle da qualidade da água de Sistemas deAbastecimento de Água na entrada da rede de distribuição;
• IBtcsr – qualidade bacteriológica em relação a Coli Total, relativa àsinformações de controle da qualidade da água de Sistemas deAbastecimento de Água na rede de distribuição;
• IBtvs – qualidade bacteriológica em relação a Coli Total, relativa àsinformações de vigilância da qualidade da água de Sistemas deAbastecimento de Água;
• IBtva – qualidade bacteriológica em relação a Coli Total, relativa àsinformações de vigilância da qualidade da água de SoluçõesAlternativas;
• IBfcs – qualidade bacteriológica em relação a Coli Fecal, relativaàs informações de controle da qualidade da água de Sistemas deAbastecimento de Água;
• IBfvs – qualidade bacteriológica em relação a Coli Fecal, relativa àsinformações de vigilância da qualidade da água de Sistemas deAbastecimento de Água;
1. Qualidade bacteriológicada água - IB
• IBfva – qualidade bacteriológica em relação a Coli Fecal, relativa àsinformações de vigilância da qualidade da água de SoluçõesAlternativas.
• ITcse – turbidez da água relativa às informações de controle daqualidade da água de Sistemas de Abastecimento de Água naentrada da rede de distribuição;
• ITcsr – turbidez da água relativa às informações de controle daqualidade da água de Sistemas de Abastecimento de Água na redede distribuição;
• ITvs – turbidez da água relativa às informações de vigilância daqualidade da água de Sistemas de Abastecimento de Água;
2. Turbidez da água - IT
• ITva – turbidez da água relativa às informações de vigilância daqualidade da água de Soluções Alternativas;
• ICRcse – cloro residual livre na água relativo às informações decontrole da qualidade da água de Sistemas de Abastecimento deÁgua na entrada da rede de distribuição;
• ICRcsr – cloro residual livre na água relativo às informações decontrole da qualidade da água de Sistemas de Abastecimento deÁgua na rede de distribuição;
• ICRvs – cloro residual livre na água relativo às informações devigilância da qualidade da água de Sistemas de Abastecimento deÁgua;
3. Nível de Cloro Residual -ICR
• ICRva – cloro residual livre na água relativo às informações devigilância da qualidade da água de Soluções Alternativas(especificamente em relação a caminhões pipa).
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos 11
Tabela 4-b – Indicadores sanitários. Agrupamento de acordo com as características dos indicadores (FUNASA, 1999 – modificado) continuação
Grupo Subgrupo• ICBce – Índice de coleta de amostras para análise bacteriológica na
entrada da rede de distribuição em relação às exigências daPortaria 36/MS/90, para controle da qualidade da água;
• ICBcr – Índice de coleta de amostras para análise bacteriológica narede de distribuição em relação às exigências da Portaria36/MS/90, para controle da qualidade da água;
• ICCce – Índice de coleta de amostras para análise cloro residuallivre na entrada da rede de distribuição em relação às exigênciasda Portaria 36/MS/90, para controle da qualidade da água;
• ICCcr – Índice de coleta de amostras para análise de cloro residuallivre na rede de distribuição em relação às exigências da Portaria36/MS/90, para controle da qualidade da água;
• ICTce – Índice de coleta de amostras para análise de turbidez naentrada da rede de distribuição em relação às exigências daPortaria 36/MS/90, para controle da qualidade da água;
• ICTcr – Índice de coleta de amostras para análise de turbidez narede de distribuição em relação às exigências da Portaria36/MS/90, para controle da qualidade da água;
4. Atendimento da legislaçãode controle da qualidadeda água de consumohumano - ALC
• Resultados dos índices Bacteriológico (IBt e IBf), Turbidez (IT)eCloro Residual (ICR) para controle de qualidade da água devemestar dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pelaPortaria 36/MS/90
• ICBvs – Índice de coleta de amostras para análise bacteriológica narede de distribuição em relação às exigidas pela PPI/ECD, paravigilância da qualidade da água;
• ICBva – Índice de coleta de amostras para análise bacteriológica emsoluções alternativas em relação às exigências da PPI/ECD,para vigilância da qualidade da água;
• ICTvs – Índice de coleta de amostras para análise de turbidez narede de distribuição em relação às exigências da PPI/ECD, paravigilância da qualidade da água;
• ICTva – Índice de coleta de amostras para análise de turbidez emsoluções alternativas em relação às exigências da PPI/ECD,para vigilância da qualidade da água;
• ICCvs – Índice de coleta de amostras para análise cloro residuallivre na rede de distribuição em relação às exigências daPPI/ECD, para vigilância da qualidade da água;
• ICCva – Índice de coleta de amostras para análise de cloro residuallivre em soluções alternativas em relação às exigências daPPI/ECD, para vigilância da qualidade da água(especificamente em relação a caminhões pipa);
5. Atendimento da legislaçãode vigilância da qualidadeda água de consumohumano - ALV
• Resultados dos índices Bacteriológico (IBt e IBf), Turbidez (IT)eCloro Residual (ICR) para vigilância da qualidade da águadevem estar dentro dos padrões de potabilidade estabelecidospela Portaria 36/MS/90
6. Cobertura deabastecimento de água -IAs
• Percentual da população atendida por sistema de abastecimento deágua tanto na área urbana quanto na área rural do município.
7. Cobertura de esgotamentosanitário - IEs
• Percentual da população com coleta de esgotos sanitários por meiode rede coletora e com fossa séptica, tanto na área urbanaquanto na área rural do município.
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos12
Tabela 4-c – Indicadores sanitários. Agrupamento de acordo com as características dos indicadores (FUNASA, 1999 – modificado) continuação
GRUPO SUBGRUPO8. Cobertura de limpeza
urbana - ILs
• percentual da população com coleta regular, com enterramento equeimada de resíduos sólidos.
9. Tratamento de água - ITAs
• Percentual da população atendida por sistema de abastecimentode água com tratamento – convencional e filtração direta -tanto na área urbana, quanto na área rural do município.
10. Desinfecção de água - IDs
• percentual da população atendida por sistema de abastecimentode água com desinfecçã,o tanto na área urbana quanto na árearural do município
11. Consumo per capita -ICPs
• consumo per capita médio anual da população atendida porsistema de abastecimento de água tanto na área urbana quantona rural do município.
12. Regularidade - IRAs
• IRA1 percentual da população atendida por sistema deabastecimento de água sem intermitência, tanto na área urbanaquanto na área rural do município;
• IRA2 existência ou não do atendimento com intermitência
• Paraná: Foram treinadas 16 Regionais de Saúde dos Estados, no período de 16 a 20 de outubro/2000. ASecretaria Estadual de Saúde está alimentando as informações do SISAGUA desde o mês de janeiro/2001.
O SISAGUA, conforme apresentado anteriormente, é composto por três módulos (cadastro, controle daqualidade da água e vigilância da qualidade da água), sendo que cada módulo contém as informaçõesnecessárias para a construção de indicadores sanitários específicos, de acordo com o apresentado a seguir:
• O módulo Cadastro contém as informações referentes aos indicadores: Tratamento de água - ITAs,Desinfecção de água - IDs, Consumo per capita - ICPs e Regularidade -IRAs .
• O módulo Controle de Qualidade da Água contém as informações referentes aos indicadores: Qualidadebacteriológica da água – IB, Turbidez da água – IT, Nível de Cloro Residual – ICR, Atendimento dalegislação de controle da qualidade da água de consumo humano – ALC.
• O módulo Vigilância da Qualidade da Água por sua vez possui as informações referentes aos indicadores:Qualidade bacteriológica da água – IB, Turbidez da água – IT, Nível de Cloro Residual – ICR,Atendimento da legislação de vigilância da qualidade da água de consumo humano – ALV.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os indicadores apresentados no presente trabalho não pretendem ser inéditos, sobretudo para os profissionaisdo setor saneamento e meio ambiente, mas se apresentam de forma sistematizada para a prática da Vigilância eControle da Qualidade da Água para Consumo Humano como instrumento na prevenção e controle de doençasde veiculação hídrica.
Deste modo os indicadores permitirá ao Programa de Vigilância e Controle da Qualidade da Água paraConsumo Humano acompanhar, dar seguimento e avaliar a evolução histórica de tais indicadoresconcomitantemente às doenças e agravos relacionados à água.
A viabilidade da construção dos indicadores sanitários, nesse trabalho apresentados, sob a responsabilidade doSetor Saúde, só será possível a partir da disponibilização das informações pelos prestadores dos serviços desaneamento, motivo pelo qual é fundamental a compreensão e assimilação dos setores saneamento e meioambiente considerando a necessidade da responsabilidade compartilhada.
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
ABES – Trabalhos Técnicos 13
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. BORJA, P.C., MORAES, L.R.S. (2000). Indicadores de saúde ambiental – saneamento em políticaspúblicas: análise crítica e proposta. Anais eletrônico do XXVII Congresso Interamericano de EngenhariaSanitária e Ambiental. VII-008, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 17p.
2. FORGE, I. (1994). Información e indicadores ambientales urbanos. Comisión Econômica para la AmericaLatina y Caribe. apud Borja, P.C., Moraes, L.R.S. (2000). Indicadores de saúde ambiental – saneamentoem políticas públicas: análise crítica e proposta. Anais eletrônico do XXVII Congresso Interamericano deEngenharia Sanitária e Ambiental. VII-008, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 17p.
3. FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. (1999). Relatório da Oficina de Indicadores de Vigilância daQualidade da Água de Consumo Humano. XX Congresso ABES. Rio de Janeiro, Maio de 1999, 38p(OPS, 1999).
4. ONU. (1993). Agenda 21: Programa de Ação para o Desenvolvimento Sustentável. Declaração do Rio deJaneiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, Brasil. apud Von Shirnding, E.R.(1998). OMS. Indicadores para o estabelecimento de políticas e a tomada de decisão em saúde ambiental.Minuta para Discussão na Oficina de Indicadores de Saúde e Monitoramento Ambiental. Organizado ecoordenado pelo CNEPI/FUNASA e OPAS, Rio de Janeiro – Genebra, Agosto/1998, 97p.
5. OPAS (2000). Informe regional sobre la evaluación global 2000 en la región de las Américas (VersiónPreliminar), 74p; e Desigualdades en el acceso y uso de los servicios de agua potable em once paises deAmérica Latina y el Caribe (Documento en Estudio) 42p. Simpósio Regional sobre Água e Saneamientoen el Nuevo Milênio: Los antiguos y nuevos desafios y las oportunidades, Porto Alegre, Rio Grande doSul, Brasil, 30 de novembro a 2 de dezembro de 2000.
6. USEPA (1994). A Conceptual framework to support the development. New York, U.N apud OMS(1996). Linkage methods for environment and health analysis - General guidelines. Office of Global andIntegrated Environmental Health WHO, Genebra, 136p.
7. VON SHIRNDING, E.R. (1998). OMS. Indicadores para o estabelecimento de políticas e a tomada dedecisão em saúde ambiental. Minuta para Discussão na Oficina de Indicadores de Saúde eMonitoramento Ambiental. Organizado e coordenado pelo CNEPI/FUNASA e OPAS, Rio de Janeiro –Genebra, Agosto/1998, 97p.
8. WILL, J., BRIGGS, D. (1995). Developming indicators for environment and health. World healthestatistics quarterly. 48(2), Genebra, 155-163 apud Borja, P.C., Moraes, L.R.S. (2000). Indicadores desaúde ambiental – saneamento em políticas públicas: análise crítica e proposta. Anais eletrônico do XXVIICongresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental. VII-008, Porto Alegre, Rio Grande doSul, Brasil, 17p. (OMS, 1996).