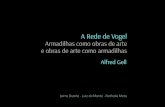VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
-
Upload
nayara-marfim -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
1/9
123
123
Escritores em entrevista:
co-autoria e disseminação
Daisi I. Vogel
Na entrevista com escritores, identicados pela auto-ria de uma obra prévia, o jornalismo se coloca de ma-neira exploratória e participativa diante de um perso-nagem tornado notícia pelo seu fazer literário. Cria-se,desse modo, uma situação peculiar de produção do
texto: a entrevista produz um novo texto do escritor,em co-autoria com o jornalista, enquanto a literaturaingressa num espaço de discussão, divulgação e mes-mo produção.
Resumo
Palavras_chave Entrevista, literatura, autoria, biograa, jornalismo.
Journalism takes an exploratory and active rolewhen facing characters turned into news for itsliterary endeavor, according to interviews withwriters identied in a previous work. A peculiar textproduction takes place: the interview generates a
new text co-authored by the writer and the journalist,whereas the literature enters a new space fordiscussion, communication and even production.
Abstract
KeywordsInterview, literature, authorship, biography, journalism.
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
2/9
124
Estudos em Jornalismo e Mídia, Vol.II Nº 2 - 2º Semestre de 2005
É no âmbito da pesquisa sobre o relacio-namento entre o jornalismo e a literatura,sobre os modos pelos quais esses dois pro-cessos comunicativos se inuenciam mu-tuamente, que se inscreve esta reexão
sobre um tipo especíco de entrevista, aentrevista com aquela ou aquele que es-creve literatura, alguma vezes denomina-da de literária. Tal como está difundidaatualmente, concebida como um diálogomedianamente longo sobre os temas e aatividade literária, a entrevista com es-critores tomou impulso a partir de 1953,quando a Paris Review publicou uma en-trevista com E. M. Forster (cf. LYON, T.
1994: 75). Nas décadas seguintes, a moda-lidade ocupou, em muitos jornais e revis-tas, o espaço antes ocupado pelos ensaioscríticos.
A consolidação da entrevista com es-critores como uma prática constante nos jornais e revistas nos últimos 150 anosrelaciona-se tanto com a disposição e dis-seminação de novas ferramentas tecnoló-gicas, que marcam a história recente daimprensa e dos media, quanto com a so-lidicação de um conceito de notícia. Umconceito que se moldou no século XX, comas novas estruturas de produção baseadasno consumo, “formato novo para uma novaconcepção de informação, consagrando ovalor de intercâmbio da notícia, ao mesmotempo mercadoria e comunicação civil, ho-rizontal frente a qualquer autoritarismo”
(Martín-Barbero, 1997: 195)1
. Deniu-se,assim, um lugar de enunciação criativa eco-autoral no âmbito de um meio de comu-nicação massivo, situado entre a literaturae a informação, com ação articuladora en-tre ambas.
Pelas próprias características do escritor,que envolvem o seu trabalho poético coma palavra e a sua autonomia para ordenara realidade, a entrevista literária resul-ta, e não raramente, num texto marcado
por qualidades estéticas e reexivas. Nes-se caso, o jornalismo se coloca de maneiraexploratória e participativa diante de umpersonagem tornado notícia pelo seu fazerliterário, criando uma situação peculiar deprodução do texto: a entrevista produz umnovo texto do escritor, em parceria com o jornalista, e a literatura ingressa num es-paço em que possibilita a sua discussão, di-vulgação e mesmo produção.
A gura do escritor entrevistado é, desdeo início, aquela que mais perturba, pois eleaí está porque assinou seu livro, mas não éo seu livro que se mostra, e sim o escritor,em seu papel constituído. O que faz o es-critor como personagem da notícia? O quetem a dizer o escritor que já não tenha es-crito? Onde reside o interesse sobre aque-las que, anal, são apenas as suas opini-ões? Fará o que ele diz de alguma manei-ra parte do conjunto de sua obra? Em quemedida vida e obra se articulam e o escri-tor não surge em público como persona-gem de si mesmo, em atitude teatral? Taisquestões apontam para a própria especi-cidade da entrevista literária enquantolugar de discurso, um lugar de fronteira ede jogo com a literatura já pelo estatuto doescritor, que se apresenta como a sua per-
sonagem principal.Numa descrição preliminar do que se-ria a cena da entrevista, verica-se queela se funda num tripé: o entrevistado,o entrevistador e o público, o qual se fazsempre presente, mesmo que hipotetica-
1Martín-Barbero analisa a
trajetória do folhetim nos meios de
comunicação e é em seu estudo que
se baseiam as correlações feitas aqui
com a entrevista.
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
3/9
125
mente, e no caso da entrevista com umaatribuição genérica importante, pois éna direção de um público que se orientao conceito da notícia como informação ecomunicação civil. No evento explícito
da entrevista, contudo, participam dois(eventualmente mais) co-enunciadorescronotopicamente identicados, onde oentrevistado ocupa, por convenção tácita,a posição de personagem principal, a elese dirigindo as perguntas e a expectativamaior de desempenho. Como ocupa já umpapel público e autoral minimamente de-nido, o escritor entrevistado ca no cen-tro da cena.
Com o lugar do entrevistado assim pre-viamente atribuído, parece restar ao en-trevistador o lugar do personagem secun-dário, mas essa terminologia, fortementehierárquica, obscurece o fato de que o de-sempenho de todo entrevistado depende,em grande escala, das qualidades e habi-lidades de seu interlocutor. Na abordagemconversacional da entrevista proposta porLorenza Mondada (1997: 59-86), que suge-re que na entrevista se está lidando comuma construção coletiva e não com umquestionário de transparências, o perso-nagem entrevistador é formalmente valo-rizado. As perguntas feitas durante a in-teração e as observações do entre-vistadorno preparo nal do material estabelecemuma situação, imagem ou idéia préviado entrevistado, de modo que se poderia
armar que o entrevistador é co-autor daimagem pública, do etos do entrevistado.Cada entrevistador reserva seu própriotratamento ao material recolhido, dispon-do para isso de grande liberdade e optan-do por diferentes procedimentos no mo-
mento da nalização e apresentação dostextos.
É, contudo, no escritor em entrevistaque se detém esta reexão. Há um narra-dor em ação, ele fala em primeira pessoa,
relata eventos de sua vida e emite opi-niões pessoais, mas a voz que fala é a dapersonagem pública, que já existe na rela-ção anterior com sua obra, e cuja imagemé então co-construída pelo entre-vistador,pelo espaço no veículo, pelas fotograas epelos títulos – ou seja, a autonomia paraa criação do personagem é cerceada e aomesmo tempo ampliada por uma constru-ção que é contextual e compartilhada. O
cenário captado na imagem fotográca ouno vídeo, o título chamativo em letras gar-rafais, tudo agrega expressão a quem diz.O personagem protagonista da entrevistapode desenvolver suas próprias estratégiasde auto-representação e perder-se inni-tamente dentro delas, mas em meio a umcontexto institucional bastante demarca-do.
A distinção estabelecida por Roland Bar-thes (1977: 205-215) entre as guras doescritor e do escrevente opera como chavepara pensar a mudança de caráter ocor-rida a partir da inserção do escritor noaparato da notícia. Do século XVI ao sécu-lo XIX os escritores (da Europa no norte)eram como que “proprietários” incontes-tes da linguagem, mas a partir de entãoaparecem as guras que se apropriam da
língua dos escritores para ns políticos,novos detentores da linguagem pública,que, em vez de intelectuais, Barthes pre-fere chamar de escreventes. A função doescritor é suportar a literatura, a ativi-dade do escrevente “é dizer em qualquer
“Como ocupa já um papel
públicoe autoral
minimamentedenido,o escritor
entrevistadoca no centro
da cena.”
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
4/9
126
Estudos em Jornalismo e Mídia, Vol.II Nº 2 - 2º Semestre de 2005
ocasião e sem demora o que pensa”, numamanifestação imediata que é exatamenteo contrário da do escritor. Para o escri-tor, escrever é um verbo intransitivo, quese justica e se cumpre no ato mesmo de
escrever; para o escrevente, é transitivo,na medida em que sua fala não é senão omeio para uma nalidade.
Ora, o escritor, quando é solicitado parauma entrevista, ingressa na função deter-minada, informativa da notícia – ele pas-sa a ser também um escrevente, e se movede maneira mais ou menos aberta entre asduas postulações. Começa a se manifestarrápida e imediatamente sobre uma grande
variedade de assuntos, não apenas os quedizem respeito ao fazer da literatura, etampouco possui um controle severo sobrea forma. A função complementar que secria a partir dessa sobreposição de papéis,própria do escritor-escrevente, é aponta-da por Barthes como “o signo paradoxalde uma não-linguagem”, por estimular osonho do escrever sem escrever e estabe-lecendo, como o feiticeiro, “uma doençanecessária à economia coletiva da saúde”(ibidem: 215).
É particularmente estimulante na idéiade Barthes a possibilidade de pensar osdiferentes movimentos que podem ocorrerquando o entrevistado desliza em vaivémda atitude do escrevente à função do es -critor e vice-versa. Pois se o escritor se
precipita no imediato da entrevista, fa-
lando o que não é por convenção literatu-ra e nesse momento encarna o escrevente,esse seu texto pode, contudo, rumar “aoteatro da linguagem” e à intransitividadedo seu gesto. O escritor em entrevista éum escrevente, mas, enquanto escrevente,
aciona e articula o teatro da linguagem,move-se entre um papel e outro e jogacom tais papéis, com o que escreve umatrajetória de si. Congura-se assim umcurioso círculo onde, num lugar que não
é literário por estatuto, pode luzir o que,à revelia, é também da esfera da literatu-ra. Ou seja, na própria movência de umaatribuição para a outra se instala a pos-sibilidade do vazamento e resiste o lumedo criativo e da fruição intransitiva, cujocerne, poético, não se extingue na dupli-cidade inicial da notícia, de mercadoria e
comunicação civil.Num ensaio ulterior (1987: 49-53), Bar-
thes distingue e contrapõe as guras doscriptor e do autor, situadas na mesmaesfera de atuação do escritor e do escre-vente, mas não com eles plenamente coin-cidentes. O autor, nessa visão do últimoBarthes, se concebe como o passado deseu próprio livro, e ele justapõe essa cria-tura linear, situada posteriormente emrelação a um texto anterior, à gura doscriptor moderno, que “nasce ao mesmotempo que o seu texto; não está de modoalgum provido de um ser que precederiaou excederia a sua escrita, não é de modoalgum o sujeito de que o seu livro seriao seu predicado; não existe outro tempopara além do da enunciação [...]” (ibidem:51). A componente reguladora dessa dife-rença é, claramente, de matiz temporal:o scriptor se instaura num tempo não-
diacrônico, onde a lógica da sucessão seextingue; a morte do autor é, por parado-xo, conseqüência dessa extinção. Scriptore autor são assim, feitos da matéria dotempo, e só existem em sua relação.
Nessa segunda abordagem, Barthes si-
“O escritor ementrevista é
um escrevente,
mas, enquantoescrevente,aciona earticula oteatro da
linguagem...”
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
5/9
127
tua a origem do autor na época moderna,quando se descobriu o prestígio pessoaldo indivíduo, que assumiu então um pa-pel central no campo da literatura, rei-nando “nos manuais de história literária,
nas biograas de escritores, nas entrevis-tas das revistas, e na própria consciênciados literatos, preocupados em juntar, gra-ças ao seu diário íntimo, a sua pessoa e asua obra [...]” (ibidem, 49). O grifo é meue enfatiza como nessa passagem, em refe-rência direta, se sublinha a posição que aentrevista assume como lugar de enun-cia-ção no qual a pessoa do escritor e a obra seencontram e onde se conrma e instaura a
gura autoral.O scriptor, por sua vez, que em termos
de época é uma figura moderna assimcomo o autor, assume um caráter per-for-mativo, percebe que sua enunciaçãonão tem outro conteúdo “para além doato pelo qual é proferida” (ibidem: 51) –onde se mostra também intransitiva – e já não se detém no trabalho interminá-vel da sua forma. Como não permitir a
inscrição, nesse campo da scriptura, dotexto da entrevista? Se o escritor e o es-crevente se moviam em vaivém no exer-cício de seu discurso, o mesmo pareceocorrer com o autor e o scriptor quandose encontram no lugar de enunciação daentrevista. Um escritor como José Sara-mago é tão freqüentemente entrevistadoprimeiro porque é o autor de uma obra,
que existe assim prévia e temporalmen-te construída no imaginário de seusleitores e dos críticos; segundo porquetambém sua fala dá origem a um textoque desperta, por seus próprios atribu-tos, curiosidade e leitura.
É assim que, na mudança dos papéis deum mesmo personagem, o autor parecesentar às vezes na cadeira do escritor; ouseja, na entrevista, o autor se manifestacomo um dos papéis do escritor, sendo fru-
to de uma construção discursiva anterior,cujos alicerces se encontram no imagináriode quem lê. O que elucida a possibilidadedessa mudança de papéis é mais uma veza componente temporal. O scriptor, e euprero simplicar a terminologia e chamá-lo simplesmente escritor, constitui seu tex-to enquanto fala, exercitando um tipo derelato de si; já o autor, reconhecido e porisso fadado a ser também um escreven-
te, sobrevive na própria temporalidade. Énela, anal, que se encontram escritores,entrevistados, entre-vistadores e o público,cujo innito é igualmente temporal.
Michel Foucault, quando teorizaacerca da função autor, ironiza o des-tino dramático do autor no aqui-agorade Barthes, mas, superadas algumascolisões termino-lógicas, o que aqueleatribui ao autor não está, em essência,
muito distante do que esse atribuíraao escrevente. Diz Foucault que a fun-ção autor é “característica do modo deexistência, de circulação e de funciona-mento de alguns discursos no interiorde uma sociedade” (1992:46), e que “osdiscursos ‘literários’ já não podem serrecebidos se não forem dotados da fun-ção autor [...]” (ibidem: 49). Como o es-
crevente, o discurso do autor, segundoFoucault, não é “uma pura e simplesreconstrução que se faz em segundamão a partir de um texto tido como ummaterial inerte. O texto traz sempreconsigo um certo número de signos que
“Um escritorcomo José
Saramago é tão
freqüentementeentrevistadoporque também
sua fala dáorigem a um
texto quedesperta, por
seus própriosatributos,
curiosidade eleitura.”
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
6/9
128
Estudos em Jornalismo e Mídia, Vol.II Nº 2 - 2º Semestre de 2005
reenviam para o autor” (ibidem:54). Nostextos em que a função autor não é reco-nhecida, esses dêiticos enviam para o lo-cutor real. E, novamente aqui, se instalaa sutileza da personagem do escritor em
entrevista, porque quando ele diz eu, re-mete a si locutor real, mas no teatro domundo, esse locutor é já reconhecido comoautor de outro discurso. Na entrevista,vida e obra andam de mãos dadas. E, “seo romance apresenta suas personagenscomo reais, a entrevista faz viver a quemapresenta como personagens” (Arfuch,1992:35).
Um dos lugares comuns de toda entre-
vista são as perguntas sobre eventos davida do entrevistado, suas recordações deinfância, sua relação com os pais, aspectosreferentes à formação educacional formal,as inuências dos amigos etc. Se, porém, abiograa pode ser tomada como um discur-so sobre uma existência, em que muitasvezes o biógrafo tenta apresentar como ab-soluta uma história de vida que é de fatoum discurso sobre o possível, a entrevista
se produz como clivagem. O biógrafo po-tencial existente no entrevistador não pos-sui domínio pleno do discurso que se formaacerca daquela existência, como tampoucoo entrevistado possui. A imagem que sepode formar de uma existência, a partir deentrevistas reproduzidas tais como acon-teceram (o que elimina da paisagem denossa leitura aquelas entrevistas que dãoorigem a posteriores textos biográcos,nos quais há um apagamento das vozesdo intercâmbio oral e uma nalização con-clusiva por parte de quem escreve), estãosempre imunizadas contra um total arre-dondamento. É uma imagem pontuada por
vácuos, formados entre a projeção de quempergunta e a expectativa de quem respon-de, que deixam entrever a impossibilidadede totalizar o indivíduo.
Quando o escritor escreve ocorre, no
próprio ato de escrever, um contato en-tre a “vida” e a “obra”. Nas entrevistas, oescritor fala, mas se os signos falados, damesma maneira que os escritos, só fun-cionam por um processo de diferenciaçãoe divisão, bem podem ser considerados“uma forma de escrita, tanto quanto sepode dizer que a escrita é uma fala alter-nativa” (EAGLETON, 1997: 180). Já seobservou, anteriormente, que a posição
do escritor entrevistado é dêitica e per-formativa, o “eu” que fala é captado emseu gesto, ao mesmo tempo sujeito e pre-dicado de seu dizer. Na entrevista assimse estabelece uma identidade temporal eespacial entre o autor, que é posterior aum texto, e o escritor na sua função deescrevente, deixando-se levar no imedia-
to. Ambos articulam seu discurso a par-tir da memória e da fala do outro, mas o
primeiro requer um distanciamento tem-poral da qual o segundo prescinde – elefunde sua ação com o instante.
Há, por isso, uma dupla escrita em ela-boração na entrevista. Se quando fala opersonagem entrevistado vive e escreve,em seu exato sentido, parte de sua biogra-a, é ao mesmo tempo sempre questiona-do acerca de outros eventos de sua vida,chamado a fazer os seus relatos pessoaise, no caso do escritor, falar de seus ritosde escrita. Assim, por um lado, é lugar co-mum que se pergunte acerca da infância,dos estudos, das relações com a família,dos brinquedos infantis, dos desejos da
“Se a biograapode ser
tomada como
um discursosobre umaexistência, aentrevista seproduz comoclivagem.”
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
7/9
129
adolescência, dos amigos, das aventurasamorosas, das predileções domésticas. Asentrevistas vêm pontuadas por relatos dememórias e reminiscências da vida pes-soal, da realidade do escritor, como nessa
resposta de Jorge Luis Borges:Los países son falsos, los individuos qui -zás no lo sean, si es que el individuo es elmismo al cabo de muchos años. Yo no sési soy el mismo que aquel niño que se crióen Palermo y vivió en Adrogué. Sin em -bargo, de algún modo lo soy; yo recuerdocosas que sólo aquel niño puede recordar.Habará un “yo” que persiste a todos loscambios. (In BRAVO & PAOLETTI, 1999:
102-3).
Não poucas vezes, essas memóriasse insinuam também através da obraanterior, apontando para coincidên-cias insuspeitas entre a vida e a obra. As entrev istas com Gabrie l GarcíaMárquez são especialmente ricas nes-se tipo de depoimento:
– E qual a imagem visual que serviu deponto de partida para Cem anos de soli-dão?
– Um velho que leva um menino para co-nhecer o gelo, exibido como curiosidadede circo.
– Era o seu avô, o coronel Márquez? – Sim. – O fato é tirado da realidade? – Não diretamente, mas está inspiradonela. Lembro que, sendo muito criança,
em Aracataca, onde vivíamos, meu avôme levou para conhecer um dromedáriono circo. Outro dia, quando lhe disse quenunca tinha visto gelo, levou-me ao acam-pamento da companhia bananeira, orde-nou que se abrisse uma caixa de pargos
congelados e me fez meter a mão lá den-tro. Dessa imagem parte Cem anos de so -lidão inteiro.
– Você associou, então, duas lembrançasna primeira frase do livro. Como diz exata-mente?
– “Muitos anos depois, diante do pelo-tão de fuzilamento, o Coronel AurelianoBuendía haveria de recordar aquela tarderemota em que seu pai o levou para conhe-cer o gelo.” (García Márquez, 1982: 29.)
Detalhes da biografia do escritorvêm à tona, entremeadas no relatoacerca do fazer literário. Neste segun -do fragmento, além de imbricar a vida
com a obra, o entrevistado propicia,pelo seu modo de relatar os fatos, umindubitável efeito estético:
– E Remedios, a Bela? Como ocorreu avocê enviá-la ao céu?
– Inicialmente tinha previsto que ela de-sapareceria quando estava bordando navaranda da casa com Rebeca e Amaranta.Mas esse recurso, quase cinematográco,não me parecia aceitável. Remedios ia -
car por ali de qualquer forma. Então meocorreu fazê-la subir ao céu em corpo ealma. O fato real? Uma senhora cuja netatinha fugido de madrugada e que para es-conder essa fuga decidiu fazer correr o bo-ato de que sua neta tinha ido para o céu.
– Você contou em algum lugar que não foi
fácil fazê-la voar.
– Não, não subia. Eu estava desespera-do porque não havia meio de fazê-la su-
bir. Um dia, pensando nesse problema,fui para o quintal da minha casa. Haviamuito vento. Uma negra muito grande emuito bonita que vinha lavar roupa es-tava tentando estender lençóis num va-ral. Não podia, o vento os levava. En-
“As entrevistasvêm pontuadaspor relatos dememórias e
reminiscênciasda vida pessoal,da realidade do
escritor...”
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
8/9
130
Estudos em Jornalismo e Mídia, Vol.II Nº 2 - 2º Semestre de 2005
tão, tive uma iluminação. “É isso”, pensei.Remedios, a Bela, precisava de lençóis parasubir ao céu. Nesse caso, os lençóis eram oelemento trazido pela realidade. Quandovoltei para a máquina de escrever, Reme-dios, a Bela, subiu, subiu e subiu sem di -culdade. E não teve Deus que a impedisse.(GARCÍA MÁRQUEZ, 1982: 29.)
Assim, quando nos relata como Re-medios, personagem de Cem anos desolidão, subiu, subiu e subiu sem di-culdade, García Márquez exercita, naentrevista, o seu pendor artístico, aomesmo tempo que expõe alguns dos seusprocedimentos de escrita. Neste outrofragmento, Jorge Amado fala a GenetonMoraes Neto de seu modo de composiçãoliterária:
– Como é que o senhor trabalha? – Antes de ir para a máquina, quandotenho a idéia de um livro, trato de ama -durecê-la na cabeça – mas não no sentidodo que seria a história do livro. Não seicontar uma história. Minha mulher senta
com os netos e conta uma história que eumesmo ouço com imenso prazer. Ela in-ventava. Sou incapaz disso! O enredo dosmeus livros decorre dos personagens, queconstroem a história, aos poucos. Nuncasei o que vai acontecer na página seguinte.Então, é uma coisa vivida, em vez de serinventada. Nunca penso em termos de his-tória. Penso sim, em guras, em ambientese em como será a arquitetura da narrati -
va. (In TRIGO, 1994: 20.)
O escritor também é perguntado sobreseus hábitos, seu trabalho sobre o texto,suas revisões. São os chamados ritos deescrita, “a zona de contato mais evidente
entre a ‘vida’ e a ‘obra’” (MAINGUENEAU,1995: 47 et al.), eles próprios parte dos ri-tos genéticos, os “comportamentos direta-mente mobilizados a serviço da criação”,tais como se refugiar num sótão solitário,
hábito de Montaigne, ou imiscuir-se naconfusão urbana, prática de Baudelaire. A narração dos ritos é, também ela, umabiograa do escritor. O escritor, em en-trevista, fala (logo, escreve) do seu ato deescrever, ou seja, da presença concreta daobra em sua vida, como nesse fragmentode uma entrevista de Sandra Cohen comJuan Carlos Onetti:
– Há muitos anos o senhor não sai dacama?
– Sim. Tomei umas injeções de vitaminae tive uma infecção na perna. Fui inter-nado e precisei ser operado. Às vezes melevantava, e havia uma moça que vinhaaqui para fazer sioterapia. Depois eladesapareceu, e eu quei na cama, ondeescrevo perfeitamente.
– Decidiu permanecer na cama por tédioem relação ao mundo?
–Pode ser que sim, que o tédio inua (airmã Rachel concorda com a cabeça). Masisso já é uma questão de psicanálise, quenão me interessa para nada. Eu não acre-dito. (In TRIGO, 1994: 207.)
Aqui, além de se ter uma visão concre-ta do posicionamento de Onetti diante domundo, e da importância que a literaturaassume nessa tomada de posição, um pe-queno registro de cena, que dá conta doaceno que Rachel faz com a cabeça, dámaior credibilidade à informação.
Se os ritos genéticos, como o relatadoacima, permitem entrever a presença daliteratura na vida cotidiana do homem
“O escritor,em entrevista,fala do seu ato
de escrever,ou seja, dapresença
concreta daobra em sua
vida...”
-
8/19/2019 VOGEL, Daisi I - Escritores Em Entrevista - Co Autoria e Disseminacao
9/9