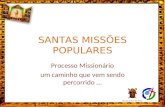repositorio.ufba.br · Web viewO caminho percorrido por mim só foi possível graças à ajuda de...
Transcript of repositorio.ufba.br · Web viewO caminho percorrido por mim só foi possível graças à ajuda de...

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIAFACULDADE DE ECONOMIA
CURSO DE GRADUACAO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CAIRO COSTA ANDRADE
ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA PARA OS TRABALHADORES DESEMPREGADOS?
SALVADOR
2018

CAIRO COSTA ANDRADE
ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES DESEMPREGADOS?
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Ciências
Econômicas da Universidade Federal de Bahia requisito parcial à
obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas.
Área de concentração: Economia Solidária e Cooperativismo
Orientador: Prof. Dr. Daniel Lemos Jeziorny.
SALVADOR
2018

Ficha catalográfica elaborada por Valdinea Veloso Conceição CRB5-1092
Andrade, Cairo CostaA553 Economia solidária: alternativa de geração de emprego e renda para os trabalhadores desempregados? / Cairo Costa Andrade. - Salvador: 2018 59p. il. fig. tab.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Universidade Federal da Bahia, 2018.
Orientador: : Prof. Dr. Daniel Lemos Jeziorny
1.Economia solidária 2. Cooperativismo 3. Organização do trabalho I. Jeziorny, Daniel Lemos II. Título III. Universidade Federal da Bahia CDD 334

AGRADECIMENTOS
O caminho percorrido por mim só foi possível graças à ajuda de várias pessoas que passaram
e ainda fazem parte de minha vida, por isso, dedico esse trabalho para todos e todas, que de
alguma maneira contribuiu para que me tornasse a primeira pessoa da família a concluir uma
universidade pública.
A minha mãe Maria Rita Costa, que sempre acreditou no meu potencial e que segurou várias
“barras” para que o meu objetivo pudesse ser alcançado. Agradeço por toda paciência que
teve comigo e pelas inúmeras vezes que se preocupou com minha saúde física e mental.
Aos meus amigos do (JACA) Juventude Ativista de Cajazeiras: Marivaldo, Marcos Paulo,
Leíse, Lucas, Pedro, Ângelo, Bethânia, Marcelle e Mirela. Por propiciar intensas discussões,
nas mais distintas áreas de conhecimento, nossos diálogos semanais contribuíram para o meu
desenvolvimento pessoal, acadêmico e que reflete cotidianamente nas minhas ações.
Ao curso de pré-vestibular popular quilombo do orobu, curso a qual fiz parte e que atuou
ativamente na minha construção étnica/racial. Em especial para aos meus amigos Geilson de
Andrade e Rogério Ramos.
Ao meu orientador Daniel Jeziorny, por aceitar a minha proposta, indicações bibliográficas e
demais ajudas ao longo do último ano. Desejo um grande obrigado a todos os meus colegas
do NEC (Núcleo de estudos Conjunturais), em especial para minha companheira de pasta,
Juliana e suas perspicazes propostas de tema. Aos professores: Paulo Balanco, Uallace
Moreira e Vitor Filgueiras, aos dois últimos considero como os principais responsáveis por
reavivar a minha paixão pelo curso de economia.
A toda a galera do “cacau” da FCE, pelos grandes encontros e amizades estabelecidas neste
local. Em especial para Rayane, Aloisio e Jadson, pois pegamos diversas disciplinas juntos e
sei que sem eles não teria chegado ao fim do curso.
E por fim, gostaria de agradecer de coração a todos os meus amigos e amigas que
demonstraram acreditar em mim nos meus momentos mais difíceis da minha trajetória. “Um
preto consciente é um preto descontente”.

RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de elucidar as principais concepções acerca da prática cooperativista autogestionária e sua interseção com a economia solidaria. Situando as categorias em torno das transformações acorridas no mercado de trabalho brasileiro a partir do processo de reestruturação produtiva, políticas neoliberais e globalização. As modificações afetaram diretamente a relação entre capital e trabalho a partir da década de 1980, conduzindo o mercado de trabalho atual para um elevado nível de desemprego e subemprego no país. Verificou-se a partir de então o crescimento no número de experiências em busca de geração de emprego e renda através de empreendimentos solidários, apontaremos os limites e potencialidades desta forma de organização do trabalho.
Palavras-chave: Organização do trabalho. Autogestão. Economia Solidária. Cooperativismo Popular.

ABSTRACT
This study has the objective of elucidating the main concepts about self-managed cooperative practices and its intersection with solidary economy. Placing the categories around the transformations in the Brazilian labor market suffered from the process of productive restructuring, neoliberal policies and globalization. The changes directly affect the relationship between capital and labor since the 1980s, leading the current labor market in the country to a high level of unemployment and underemployment. From that moment onwards, there was an increase in the number of experiences of employment and income through “autonomous solidary ventures”, here we will point out the limits and potentialities of this form of labor organization.
Palavras-chave: Organization of work. Self-management. Solidary economy. Popular Cooperativism.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Gráfico 1- Cor ou Raça Predominante...................................................................................37
Gráfico 2- Motivação a Criação do EES................................................................................38

LISTA DE QUADROS E TABELAS
Quadro 1- Evolução dos Princípios cooperativista.........................................................13
Quadro 2- Área de Atuação dos Empreendimentos por Região......................................36
Quadro 3- Formas de Organização Por Região...............................................................37
Quadro 4-Quantidades de Empreendimentos da Economia Solidaria............................42
Tabela 1- Balança Comercial Brasileira..........................................................................19

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ACI Aliança de Cooperativas Internacional
ABCOP Aliança Brasileira de Cooperativa
OCB Organização das Cooperativas do Brasil
UNASCO União Nacional das Associações de Cooperativas
BNDS Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CLT Consolidação da Lei do Trabalho
EES Empreendimento de Economia solidária
FMI Fundo Monetário Internacional
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
MST Movimento dos trabalhadores Sem Terra
MTD Movimento de Trabalhadores desempregados
PIB Produto Interno Bruto
PT Partido dos Trabalhadores
SENAES Secretária Nacional de Economia Solidária
SIES Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 9
2 COOPERATIVISMO POPULAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA 11
2.1 COOPERATIVISMO E SUAS FACETAS 11
2.2 COOPEGATOS 17
2.3 COOPERATIVA POPULAR 22
3 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E COOPERATIVISMO 24
3.1 A ECONOMIA SOLIDÁRIA 29
3.2 SENTIDO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 31
3.3 CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS 34
4 ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUAS LIMITAÇÕES TEÓRICAS 39
4.1 CRÍTICA A ECONOMIA SOLIDÁRIA 39
4.2 COOPERATIVISMO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E AUTOGESTÃO 43
4.3 CRÍTICA MARXISTA À AUTOGESTÃO 47
4.4 ECONOMIA SOLIDÁRIA UM MOVIMENTO EM DISPUTA 51
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 54
REFERÊNCIAS

9
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo está dividido em quatro partes e tem o objetivo apresentar os princípios do
trabalho cooperativado, aprofundando a discussão no âmbito das cooperativas populares e
empreendimentos de livre associação. Este tipo de organização de trabalho começou a ganhar
relevância no contexto mundial a partir do final do século XX, e no Brasil não foi diferente,
pois durante a década de 1990 o fenômeno passou a ser objeto de estudo de vários pensadores
no campo das ciências sociais, dando-se a expressão de Economia Solidária o movimento
político/social que vai abarcar o conjunto destas relações laborais.
O que me motivou a realizar um trabalho na área de empreendimentos populares foi a minha
experiência na organização de uma cooperativa de reciclagem a partir do ano de 2005. A
princípio, a ideia era organizar uma cooperativa que garantisse emprego e renda para os
jovens moradores do bairro de cajazeiras, no entanto, o processo de consolidação de uma
empresa aos moldes da autogestão se tornou um grande desafio para os envolvidos, e durante
o percurso vários associados desistiram do projeto. Alguns anos depois de criada, a
associação recebeu um convite para integrar-se a uma rede de empreendimentos com
características semelhantes, tal proposta nos foi apresentada com o nome de economia
solidária.
Como resultado, passei a conhecer diversas iniciativas populares dentro do território de
salvador e ampliei o meu horizonte sobre a prática do cooperativismo. Ao contrário do que
acreditava, apreendi a prática de forma bastante heterogênea, encontrando cooperativas bem
estruturadas e outras funcionando de maneira precarizada. Esta vivência produziu uma série
de dúvidas na minha cabeça como: o que era economia solidária? Quais as possibilidades de
conseguir gerar emprego e renda de maneira autônoma? Quais as venerabilidades? o
cooperativismo pode ser uma alternativa segura para os trabalhadores.
Logo, considero este trabalho como uma investigação em torno das dúvidas apresentadas
acima, apontando o desenvolvimento da prática cooperativista ao longo da história, como um
movimento autêntico da classe trabalhadora em busca melhores condições de vida. A
relevância do tema se faz presente, pois existe atualmente no Brasil um número considerável
de cooperativas, associações e outras formas de gestão do trabalho baseados na livre
associação.

10
Segundo alguns dos principais pesquisadores que se debruçam sobre o tema, a categoria
economia solidária se refere a organização de produtores, consumidores e poupadores que
busquem, através de relações de trabalho cooperativadas autogestionária e solidárias, bem
como na produção de bens e serviços, na sua comercialização e financiamento um
“desenvolvimento justo” e “sustentável” alternativo ao modelo capitalista neoliberal.
Na segunda parte do trabalho, abordaremos a discussão em torno das transformações
ocorridas no mercado de trabalho brasileiro a partir do processo de reestruturação produtiva,
políticas neoliberais e globalização. As modificações afetaram diretamente a relação entre
capital e trabalho a partir da década de 80, conduzindo o mercado de trabalho atual para um
elevado nível de desemprego e subemprego. O novo modelo produtivo, caracterizado pela
flexibilização e perda dos direitos trabalhista, é colocado com um dos fatores que colaborou
para o crescimento destas formas de empreendimentos solidários pelo mundo.
Segundo o último mapeamento nacional de economia solidária estima-se que exista cerca
19.708 empreendimentos organizados e distribuídos entre 2.713 municípios brasileiros, entre
2009 e 2013. A maior parte deles se encontra na região Nordeste, responsável por 40,8% do
total.
Em seguida serão levantadas algumas das fragilidades presentes na proposta de política
pública da Economia solidária bem como os limites e avanços existentes na categoria
autogestão.
Por fim, acreditamos que o movimento da economia solidaria é legitimo e deve ser entendido
como proposta de emancipação dos trabalhadores no atual contexto de precarização e
flexibilização do trabalho.
Nesse sentido, o trabalho cooperado de maneira autogestionária é importante não apenas para
suprir as necessidades mais urgentes e prosperidade econômica, mas também para contrapor o
padrão totalizante instaurado globalmente, que por natureza é excludente. Dentre outros
aspectos, portanto, a economia solidária é importante também pela tentativa de projetar uma
lógica de socialização que não tem como função primordial o lucro. Tais elementos devem ser
pensados como fomentadores de conscientização política da classe trabalhadora
Esses empreendimentos são caracterizados por uma forte heterogeneidade estrutural. E,
conforme analisaremos nesse trabalho, as diferenças estruturais entre eles são das mais

11
diversas ordens: econômica, social, cultural e territorial. Eles também são marcados por
distintas motivações para sua constituição.
2 COOPERATIVISMO POPULAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Este capítulo tem como objetivo realizar um apanhado histórico do surgimento teórico, bem
como das principais experiências em torno do cooperativismo e da economia solidária.
Demonstrando assim, como o movimento foi utilizado em várias partes do mundo e como
conseguiu se enraizar também no Brasil.
2.1 COOPERATIVISMO E SUAS FACETAS
Este apartado tem a intenção de apresentar as distintas facetas do que vem a ser uma
cooperativa. A temática não tem uma elaboração conceitual bem definida, existindo assim
diversas interpretações, dadas por correntes teóricas em conflito. A rigor, as interpretações
podem se distinguir em duas grandes correntes: integradas aos princípios do mercado
capitalista e/ou ligadas aos princípios autogestionários.
O tema do cooperativismo é complexo em virtude das diversas compreensões e diversidade de
experiências agrupadas sob o mesmo título, ou, sob o grande “guarda-chuva” de cooperativa.
Seu conceito, portanto, assimila sentidos distintos e até divergentes, podendo ser utilizado
para fins emancipatórios ou para a manutenção da desigualdade e exploração da força de
trabalho.
Segundo Namorado (2007), verifica-se como cooperativa uma “vasta rede de organizações
empresariais” espalhadas pelo mundo, que expressa:
Uma síntese de associação e de empresa; Base na cooperação e na entre ajuda dos seus membros; Assumida determinação na democracia interna e na participação; Fins não lucrativos; Respostas às necessidades e aspirações de seus participantes, quer econômicas, quer
sociais, quer culturais; Autonomia e independência, em face de quais quer focos de poder que se lhe
queiram impor de fora; Capital em composições variáveis; Personalidade jurídica.

12
Práticas muito distintas aparecem sob a denominação de ‘cooperativa’. De um lado verificam-
se grandes empreendimentos, alguns bastante rentáveis, inclusive apresentando cifras
milionárias em suas transações comerciais. Porém, que se constituem formalmente como uma
cooperativa com o fito de conseguir determinadas vantagens que essa forma de personalidade
jurídica proporciona. Haja vista que, em muitos casos, é possível ampliar mais facilmente a
empresa, à medida que se aproveita de uma figura formal (a pessoa jurídica ‘cooperativa’)
para operar essencialmente em busca de lucro, sem, contudo, arcar com determinados custos
operacionais, em especial no que toca aos direitos trabalhistas (férias, décimo terceiro salário,
previdência, horas extras remuneradas...). Por outro lado, temos pequenos e médios
empreendimentos de unidades domésticas ou familiares que trabalham, efetivamente, de
formas autogestionária, além de pouco acesso a crédito e financiamento.
As primeiras experiências cooperativistas passaram a se apresentar, de maneira mais objetiva,
na primeira metade do século XIX, quando o continente europeu experimentava um período
singular de sua história, passando por um cenário de divergência sócio-político-econômico
resultado da Revolução Industrial, a partir do último terço do século XVIII. Tal época é
considerada como um período de avanço tecnológico sem precedentes.
O avanço tecnológico abriu caminho em direção a produção em massa, gerando grandes
lucros para burguesia industrial, ao mesmo tempo em que provocou o desemprego de
milhares de trabalhadores. Estes, que já haviam sido desapropriados dos meios de produção
no processo de constituição do capitalismo, passaram a engrossar as fileiras do exército
industrial de reserva, à medida que a única mercadoria de que dispunham, a sua própria força
de trabalho, era substituída por máquinas.
O cooperativismo é compreendido, em diversas abordagens, como uma organização voltada
para fins econômicos através da comercialização de mercadorias nos setores industriais,
agropecuários e de serviços, como a aquisição de bens e fornecimento de crédito financeiro
aos cooperados. No entanto, distintamente das empresas convencionais capitalistas, apresenta
como características principais: a propriedade coletiva, gestão cooperativada e repartição
horizontal. Sua origem organizacional resulta da experiência dos trabalhadores de Rochdale
no Século XIX na Inglaterra1.1A associação de 28 operários, sendo 27 homens e uma mulher no bairro de Rochdale-Manchester deu início ao que viria a ser a primeira cooperativa. O empreendimento tinha como objetivo a criação de um armazém cooperativo de consumo. Posteriormente, o cooperativismo se espalhou, primeiro pela Europa, e depois pelo mundo.

13
O modelo organizacional criado pela cooperativa de consumo de Rochdale é utilizado até
hoje, como princípios fundamentais que guiam uma cooperativa. Segundo Singer (2002), o
cooperativismo, desde seus primórdios, é direcionado por princípios que diferenciam este tipo
de organização das demais sociedades empresariais. Desde sua primeira experiência em 1844,
em Rochdale, seu estatuto já previa diretrizes que explicitavam os valores sobre os quais a
organização cooperativa seria criada.
O êxito de Rochdale proporcionou uma grande expansão do cooperativismo, em sua forma
moderna, na Grã-Bretanha. Em 1881, o número de associados às cooperativas chegava a 547
mil e em 1900 já eram 1,707 milhão (SINGER, 2002).
Apesar de ser uma cooperativa de consumo, seus fundadores não desejavam apenas alimentos
saudáveis a preços justos. Entre seus objetivos estavam: a educação dos membros e
familiares, o acesso à moradia e ao trabalho (através da compra de terra e fábricas) para os
desempregados e os mal remunerados. Desejavam também o estabelecimento de uma colônia
cooperativa auto-suficiente (MAURER JR., 1966, apud BOCAYUVA, 2003).
O cooperativismo também se espalhou pelo resto da Europa, chegando à Suíça (1851), Itália (1864), Dinamarca (1866), Noruega (1885), Suécia (1899), etc. Em cada um destes países se desenvolveu e tomou grande importância econômica (MAURER JR., 1966, apud BOCAYUVA, 2003).
A difusão do cooperativismo criou a necessidade da elaboração de uma organização a nível
internacional responsável por definir os princípios que deveriam ser adotados na gestão das
cooperativas pelo globo. No ano de 1895 foi criada a Aliança de Cooperativas Internacional
(ACI) com o intuito de sistematizar as formas de atuação dos empreendimentos. Durante o
século XX sucederam-se várias assembléias da ACI, com a proposta de aprimorar os
princípios do cooperativismo. A tabela abaixo demonstra o local das reuniões e as alterações
realizadas pela instituição.
Quadro 1- Evolução dos Princípios cooperativista
PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS
Estatuto de 1844 Congresso S Da Aliança Cooperativa Internacional

14
(Rochale) 1937 (Paris) 1966 (Viena) 1995 (Manchester)
1. Adesão Livre
2.GestãoDemocrática
3. Retorno Pro Rata das Operações
4. Juro Limitado ao Capital Investido
5. Vendas a Dinheiro
6. Educação dos Membros
7. Cooperativização Global
a) Princípios Essenciais de Fidelidade aos Pioneiros
1. Adesão Aberta
2. Controle ou Gestão Democrática
3. Retorno Pro-rata das Operações
4. Juros Limitados ao Capital b) Métodos Essenciais de Ação e Organização
5. Compras e Vendas à Vista
6. Promoção da Educação
7. Neutralidade Política e Religiosa.
1. Adesão Livre (inclusive neutralidade política, religiosa, racial e social)
2. Gestão Democrática
3. Distribuição das Sobras: a) ao desenvolvimento da cooperativa; b) aos serviços comuns; c) aos associados pro-rata das operações
4. Taxa Limitada de Juros ao Capital Social
5. Constituição de um fundo para a educação dos associados e do público em geral
6. Ativa cooperação entre as cooperativas em âmbito local, nacional e internacional
1. Adesão Voluntária e Livre
2. Gestão Democrática
3. Participação Econômica dos Sócios
4. Autonomia e Independência
5. Educação, Formação e Informação
6. Intercooperação
7. Preocupação com a Comunidade
Fonte: Adaptado de Cançado (2004).
Percebe-se que as modificações realizadas ao longo do tempo nos princípios que orientam
uma cooperativa não alteraram os ideais originais criados pelos trabalhadores de Rochdale,
mantendo assim as características que diferenciam uma cooperativa de uma empresa típica
capitalista.

15
O princípio da autonomia e independência foi fixado pela Aliança Cooperativa Internacional
com a seguinte redação:
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se estas firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controlo democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia das cooperativas. (Aliança Cooperativa Internacional)
Em congressos internacionais que reuniam cooperativistas, teóricos e entusiastas, a questão
de definição de princípios norteadores da identificação de genuínas cooperativas gerava
debates. Rivalizavam interpretações quanto ao que era central no cooperativismo: o consumo
ou o trabalho, este na forma de cooperativa de produção. Tal discussão revela-se de extrema
importância, pois os posicionamentos políticos em disputa buscavam espaços de afirmação,
que, em última instancia, eram espaços de poder e acabaram de definir a hegemonia política
de determinada compreensão sobre o cooperativismo, notadamente o cooperativismo de
consumo. (ARAÚJO, 2014).
Pode-se definir uma cooperativa como sendo uma associação voluntária com fins econômicos, podendo nela ingressar os que exercem uma mesma atividade. A mesma é regulamentada democraticamente à base de “ um homem, um voto”, e cada membro contribui para a constituição do capital social, mas os benefícios não se distribuem em função do capital subscrito, mas na proporção do volume de negócios realizado por cada associado com a cooperativa. (RIOS, 2017, p. 16).
O cooperativismo, segundo Gawlak (2007), significa a cooperação mútua de pessoas, que
visam se ajudar e conseguir alcançar objetivos em comum, com a necessidade de troca de
informações, tecnologias e conhecimento entre seus membros, para que juntos consigam se
fortalecer e alcançar o sucesso.
Frente aos resultados excludentes inerentes ao capitalismo, as teorias socialistas como as de
Robert Owen na Inglaterra, as teorias associativistas de Charles Fourier e de Pierre Proudhon
na França, em busca de uma rota alternativa, contribuíram de forma intelectual e prática na
fundação das primeiras organizações cooperativas da Europa. No Brasil, o modelo de
implantação das primeiras cooperativas é interpretado de formas distintas, a depender do
autor, podendo inclusive ser considerado como movimento dos coronéis latifundiários,
desejosos em obter maiores taxas de lucros.
Finalmente, enquanto movimento social operário, o cooperativismo europeu é um movimento de expressão predominantemente urbana (cooperativas de consumo na Inglaterra e de produção industrial na França). No Brasil o cooperativismo, como movimento de elites, conservador, vai se localizar

16
sobretudo no meio rural. O aparente caráter reformista do movimento se esgota nas pretensões de modernização agrícola. Na troca, entretanto, no problema da propriedade da terra, dos trabalhadores rurais, questões que entrariam em conflito com os interesses das classes dominantes agrárias. É por isso que o cooperativismo agrícola brasileiro é, sobretudo, um cooperativismo de serviços, não propriamente um cooperativismo de produção. A cooperativa presta serviços aos associados em função de seus estabelecimentos individuais, de maneira isolada. Trata-se de um modelo bem adequado à concentração da propriedade fundiária (RIOS, 1997).
No Brasil, o cooperativismo pode ser observado sobre duas óticas. Primeiro, a de servir aos
interesses da classe dos latifundiários exportadores de produtos agrícolas (café, açúcar, cacau,
soja, algodão, etc.), contribuindo para a manutenção da concentração fundiária no país2.
No entanto, em segundo lugar, não se pode perder de vista que a introdução do
cooperativismo no Brasil aconteceu através das experiências trazidas por imigrantes alemães e
italianos no final do século XIX e início do século XX.
O cooperativismo foi originalmente introduzido no Brasil por imigrantes europeus, no final do século XIX, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, como estratégia para superar as situações de flagrante desamparo em que viviam. Nestes primórdios, surgiram as cooperativas de consumo, as primeiras registradas oficialmente, bem como as de crédito e as agropecuárias, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. As cooperativas de consumo expandiram-se nas décadas de 1950 e 1960. Na época, apenas 45% da população concentrava-se nas regiões urbanas, nas quais se projetaram as cooperativas de crédito e serviços, apresentando-se inicialmente mais dinâmicas que as do setor agropecuário (GAIGER, 2013).
No Brasil, portanto, o cooperativismo chega através dos imigrantes europeus em meados do
século XX. No início tomou a forma de cooperativas de consumo na cidade e de cooperativas
agropecuárias no campo (SINGER, 2002, p.122).
Diferentemente do cenário europeu onde as formas de atuação das cooperativas eram
diversificadas, havendo cooperativas de produção, comercialização e consumo e crédito, as
primeiras cooperativas implantadas no Brasil foram apenas de consumo, no setor agrícola,
revelando, assim, não um caráter revolucionário, mas reformista, pois as cooperativas de
2Historicamente a base da estrutura agrária brasileira é assentada no monopólio da terra, onde um número pequeno de proprietários é responsável pela administração de grandes extensões de terra. A relação entre propriedade de terra e poder político e econômico está presente desde o início da formação do Brasil, a princípio a lei que regulamentava a posse de terra no país era o sistema das sesmarias, onde o uso da terra era concedido para os amigos do rei. Em 1850, o sistema foi substituído pela Lei de Terras, que instituía o acesso à terra apenas aqueles que pudesse pagar por ela, tal lei tem como objetivo excluir acesso à terra aos ex escravos, imigrantes e pessoas sem poder aquisitivo. Sob outra perspectiva o cooperativismo é apresentado como organização econômica viável para pequenos produtores agrícolas, pescadores e de artesãos.

17
consumo não tocam tanto na questão da propriedade privada da terra como na organização do
trabalho – elementos essenciais à emancipação dos trabalhadores, rurais e urbanos, frente a
sua subsunção às forças do capital.
Segundo Rios (1997), as cooperativas de consumo são sociedades constituídas com a
finalidade de vender a seus aderentes objetos ou gêneros de primeira necessidade que os
mesmos adquirem em grosso. Trata-se de uma associação de consumidores que criam uma
empresa com a finalidade de lhes fornecer os produtos de que necessitam.
As cooperativas de produção têm como natureza da sua gestão a unidade entre trabalhadores e
patrão, ou seja, os associados do empreendimento são responsáveis não apenas pela execução
do trabalho, mas também pelo seu planejamento. Ademais, a remuneração final dos
cooperados depende do desempenho de cada associado, não necessitando, portanto, da figura
do patrão. Já nas cooperativas de consumo, os associados compram a mercadoria e
transformam-se em usuários proprietários, dispensando a função do comerciante
(intermediário).
Com o aumento do seu tamanho e da respectiva movimentação financeira, no final do século
XIX, as grandes cooperativas de consumo passaram a recusar a autogestão plena
(característica marcante das primeiras cooperativas) e passaram a contratar funcionários para
atividades menos qualificadas, reproduzindo, guardadas as devidas proporções, a lógica de
exploração do trabalho que as primeiras cooperativas combatiam. Posteriormente, esta prática
foi adotada nas grandes cooperativas agrícolas da Europa e América do Norte e, finalmente,
se torna uma prática comum (SCHNEIDER, 1999; SINGER, 2000, 2003c).
2.2 COOPEGATOS
As “coopegatos” são empresas que usam da forma jurídica de cooperativa e tem como
objetivo principal a obtenção de lucro e a eficiência econômica, sendo estes o motivador do
empreendimento. A sua organização interna é hierarquizada e os processos de decisão,
planejamento e produção são feitas de cima para baixo, ou seja, os trabalhadores não
participam das decisões, esses apenas executam as funções que foram incumbidas de realizar.
Essas cooperativas utilizam das vantagens de ser uma pessoa jurídica cooperativista para
adquirir ganhos de competitividade, através das isenções de impostos, linha de crédito e
financiamento.

18
Esta forma de cooperativismo ganha força no Brasil a partir da década de 60 e tem como
marco principal a fundação da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). A fusão da
Aliança Brasileira de Cooperativas – ABCOP com a União Nacional das Associações de
Cooperativas – UNASCO, realizada no IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, em 2 de
dezembro de 1969, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a qual deu origem à
Organização das Cooperativas Brasileiras –OCB, apresentava-se como uma importante ação
em defesa do cooperativismo nacional. A partir desta data foi fixado que a OCB seria
organização que representaria e defenderia cooperativismo nacional e que a sua base de
trabalho estaria voltada: à legislação cooperativa; ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo;
ao Regime Fiscal e Previdenciário; aos Serviços Oficiais de Cooperativismo; à Representação
Nacional do Cooperativismo.
Para melhor compreensão das razões que colaboraram para a regulação e consolidação do
cooperativismo no Brasil, devemos antes, realizar uma análise do governo no período vigente,
buscando assim apreender os interesses de classe que iriam compor a política de
desenvolvimento do campo e, consequentemente, revelar os fundamentos ideológicos da
aliança entre terra e capital na ditadura civil-militar.
Na interpretação da classe dominante da época, a grande força do cooperativismo estava no
campo e o governo viu nas cooperativas o apoio que precisava para implementar sua política
econômica para a área agrícola. Nesse contexto, em 1967, o então ministro da agricultura,
Luiz Fernando Lima, solicitou ao secretário da agricultura de São Paulo, Antônio José
Rodrigues Filho, já uma liderança cooperativista, que promovesse a união de todo o
movimento.3
Durante a primeira metade do século XX ocorre o surgimento das primeiras organizações
sociais do campo que tinham como pauta a demanda e urgência de uma reforma agrária no
país, dentre eles podemos destacar a liga campesina, o setor progressista da igreja católica e o
Partido Comunista Brasileiro. A constituição da nova entidade gerou grande ônus para as
organizações de trabalhadores rurais, estes passaram a ter como representação dos seus
direitos por uma organização liderada pela classe dominante do campo. As pressões sociais
decorrentes dos grupos organizados da sociedade civil, fez com que no ano de 1964 o governo
militar criasse o Estatuto da Terra, com objetivo reorganizar o uso, ocupação e as relações
3 O argumento acima foi retirado do site da organização das cooperativas brasileiras (OCB). https://www.ocb.org.br/

19
fundiárias no Brasil, constavam também a pauta da reforma agrária, porém nunca saiu do
papel.
O governo militar buscou através da OCB não só controlar e desestruturar a ação da massa de
trabalhadores rurais existente no período com centralização de suas demandas, mas iniciar
uma política de o desenvolvimento rural alicerçado na racionalização capitalista da agricultura
com o objetivo de modernização dos latifúndios e transformação dos minifúndios em
empresas capitalistas.
Trata-se de uma sociedade civil, de natureza privada, que exerce a representação sindical
patronal das cooperativas. No site da OCB temos algumas definições do que viria a ser um
empreendimento cooperativado, dentre as formulações apresentadas podemos destacar:
O cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo (OCB, 2018).
A OCB também define os sete princípios que devem estar presentes numa cooperativa, são
eles: adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica dos membros,
autonomia e independência, educação/formação e informação entre seus membros,
intercooperação e interesse pela comunidade.
A maior parte das cooperativas que fazem parte da OCB está ligada diretamente ao
agronegócio, produzindo carne bovina, frango, soja e milho para exportação. A balança
comercial do setor já registrou um saldo de mais de 3 bilhões de dólares no ano de 2017.

20
Tabela 1- Balança Comercial Brasileira
SALDO E CORRENTE DE COMÉRCIOJANEIRO / JULHO (US$ FOB)
SH0717
VARIAÇÃO RELATIVA SOBRE ANO ANTERIOR
ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO
2005 1,230,202,344 122,350,627 1,107,851,717 1,352,552,971 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2006 1,472,093,789 81,948,179 1,390,145,610 1,554,041,968 19.66% -33.02% 25.48% 14.90%
2007 1,739,943,842 147,079,478 1,592,864,364 1,887,023,320 18.20% 79.48% 14.58% 21.43%
2008 2,305,824,901 317,859,608 1,987,965,293 2,623,684,509 32.52% 116.11% 24.80% 39.04%
2009 2,047,207,068 167,847,083 1,879,359,985 2,215,054,151 -11.22% -47.19% -5.46% -15.57%
2010 2,451,735,268 144,087,417 2,307,647,851 2,595,822,685 19.76% -14.16% 22.79% 17.19%
2011 3,292,998,415 220,319,405 3,072,679,010 3,513,317,820 34.31% 52.91% 33.15% 35.35%
2012 3,338,186,689 173,323,052 3,164,863,637 3,511,509,741 1.37% -21.33% 3.00% -0.05%
CORRENTE DE COMÉRCIO
CORRENTE DE COMÉRCIO
Fonte: Secretária de comercio exterior
Analisando a tabela 1, tem-se que as cooperativas ligadas ao agronegócio, que possui como
objetivo principal a obtenção de lucro, conseguem através da exportação de produtos, saldos
bastante expressivos e crescentes desde 2005.Apesar de alguns decréscimos em anos
esporádicos, o setor mantém suas exportações elevadas na cifra de bilhões de dólares,
demonstrando também a importância que as cooperativas têm na balança comercial brasileira
e como é estratégico para o setor do agronegócio.
Segundo Singer (apud RAMOS, 2009, p.95)
O fato é que a maioria das cooperativas de consumo e agrícolas adotou a gestão capitalista em seus estabelecimentos. As cooperativas de consumo tiveram o seu auge na primeira metade do século XX; depois da Segunda Guerra Mundial sofreram a concorrência das grandes empresas varejistas de auto-serviço, que as superaram. A maioria das cooperativas de consumo foi fechando as portas em muitos países. Mas as cooperativas agrícolas se mantêm e crescem cada vez mais, organizando agroindústrias de processamento de cereais, produção de rações, de vacinas etc. Muitas se tornam grandes organizações, dirigidas por tecnocratas gerenciais de alto nível, que dominam os pequenos agricultores que são nominalmente os seus ‘donos’. Finalmente, no Brasil pelo menos, cooperativas agrícolas admitem como sócios grandes firmas capitalistas, que assalariam numerosos

21
trabalhadores. Nestas, não restam vestígios de solidariedade (SINGER,2003, p. 18).
O tipo de cooperativismo agrícola que desde então predomina no Brasil tem reproduzido o
domínio de uma elite conservadora, voltada a uma economia basicamente agroexportadora,
hoje, no agrobusiness. Esse quadro esteve amparado em uma política de controle social e de
intervenção estatal que não trouxe mudanças significativas para os trabalhadores
cooperativados no meio rural. Ao contrário, o modelo contribuiu para a concentração da
propriedade fundiária e para instilar a desconfiança entre os pequenos agricultores acerca do
cooperativismo (SCHNEIDER; LAUSCHNER, 1979, apud GAIGER, 2003).
As cooperativas agropecuárias são encontradas em todo território nacional, é o segmento de
maior expressão do cooperativismo, com os maiores números de cooperativas e cooperados.
O Governo federal, mediante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), oferece múltiplas linhas de crédito às cooperativas agropecuárias e de crédito
agropecuário. Essas linhas de recursos são disponibilizadas diretamente com o BNDES ou
através de outras instituições financeiras, credenciadas pelo Governo para o repasse das
verbas às cooperativas e seus cooperados.
Inseridos nesse contexto, as cooperativas tradicionais ganham cada vez mais expressão e ao
mesmo tempo perdem cada vez mais a sua autonomia frente ao mercado globalizado do
agronegócio, as suas decisões de empresas devem acompanhar as tendências do agronegócio
que se tornou um setor estratégico da economia brasileira, batendo recordes de exportações a
cada ano, as cooperativas também acompanham o crescimento do setor.
Para responder a conjuntura do mercado internacional e do agronegócio, as cooperativas
agropecuárias estabelecem uma relação de produção cada vez mais afastada dos ideais desse
tipo de organização. A solidariedade (coesão entre os cooperados e a cooperativa) encontra
barreiras cada vez mais difíceis de serem transpostas. A dificuldade dos novos grupos
cooperativos, que estão se formando, dificulta a participação dos cooperados, afastando-os
gradualmente das atividades e decisões estratégicas. À medida que o empreendimento cresce
o risco de se perder o contato com a base também cresce.
As cooperativas rurais nordestinas, em sua maioria, estão organizadas segundo uma estrutura
de classes. As posições chaves são ocupadas, no interior das mesmas, pelos proprietários de
alta renda, que assumem também as lideranças políticas locais e regionais. Essas camadas
superiores da população são as maiores beneficiárias dos serviços da cooperativa, em termos

22
de assistência técnica, empréstimos de equipamento e crédito. É comum nessas cooperativas a
figura do “dono da cooperativa”, isto é, a pessoa física que é identificada como se fora
proprietária da sociedade cooperativa, única a definir a política da mesma, manter contatos
com órgãos de assistência técnica, enfim, a clássica figura insubstituível. Os produtos mais
comercializados através das cooperativas nordestinas são aqueles ligados predominantemente
aos grandes proprietários: açúcar, algodão e cacau (RIOS, 1997 p 52.).
A respeito do crédito rural, um relatório da OXFAM (2016) revelou que os estabelecimentos
da região Norte recebem 3% do crédito rural do Brasil enquanto a região Sul recebe 30%. A
desigualdade também se dá na distribuição dos valores dentro das classes de área. Os
estabelecimentos de 1000 hectares ou mais concentraram, em 2006, 44,10% do crédito rural,
enquanto 80% dos menores estabelecimentos obtiveram entre 13,18% e 23,44%. A origem de
tal discrepância está no valor médio dos financiamentos obtidos. Enquanto o valor do
financiamento nas classes de áreas menores a 20 hectares não chega a R$ 10 mil, e na de 20 a
menos de 100 hectares não passe de R$ 20 mil, na classe de estabelecimentos a partir de 2500
hectares o valor médio chega a mais de R$ 1,9 milhões.
As coopegatos demonstram como os ideais construídos para se alcançar uma organização do
trabalho mais equânime pode ser diluída para fins nada cooperativos. Os princípios básicos
(de gestão participativa e propriedade coletiva) inerentes ao estatuto das cooperativas não são
verificáveis ao analisar-se uma cooperativa dessa natureza. Tal organização apresenta uma
dupla utilidade, de ordem econômica e política. Economicamente ela está voltada para
geração de lucro para um reduzido número de sócios e politicamente é o de enaltecer as
práticas cooperativadas apresentando-se como um modelo de gestão justo e eficaz na geração
de emprego e renda para a população de baixa renda, utilizando do corpo jurídico de
cooperativa para conseguir seus objetivos puramente econômicos.
2.3 COOPERATIVA POPULAR
O próximo modelo de cooperativa que será apresentado nesse trabalho tem características
distintas do cooperativismo hegemônico, a sua motivação organizacional tem um papel mais
social e a sua origem é um desdobramento das transformações ocorridas no mercado de
trabalho brasileiro pós implementações de políticas neoliberais, iniciadas no início dos anos
noventa. As cooperativas populares, muitas vezes informais, na sua grande maioria não fazem
parte do sistema de representação do cooperativismo no país.

23
A cooperativa popular tem como princípio a gestão participativa dos seus trabalhadores, a
propriedade do empreendimento é partilhada entre os cooperados e a produção deve ser
orientada em função da satisfação das necessidades humanas, diferente da empresa tradicional
onde o capital da empresa pertence a um número reduzido de pessoas. A distinção não é
apenas na forma como organizam o trabalho, mas também na forma que vai ser empregado o
lucro final das cooperativas. Segundo Singer (2002, p.18):
Uma das características fundamentais que diferencia uma empresa capitalista de um empreendimento solidário seria o modo como as empresas são administradas. Na empresa capitalista a forma de administração aplicada é a heterogestão, ou seja, administração hierárquica, formada por níveis sucessivos de autoridade, entre os quais as informações e consultas fluem de baixo para cima e as ordens e instruções de cima para baixo. Já o empreendimento solidário a administração se daria de forma democrática, ou seja, através da prática da autogestão, nela, as ordens e instruções devem fluir de baixo para cima e as demandas e informações de cima para baixo. Os níveis mais altos, na autogestão, são delegados pelos mais baixos e são responsáveis perante os mesmos.
Na gestão participativa os cooperados devem contribuir diretamente, organizados em
assembleia, nas quais irão argumentar e votar as políticas de interesse do empreendimento,
bem como objetivos e metas de trabalho que deverão ser alcançados. Nas reuniões de
assembleias, os associados devem, também, eleger e serem eleitos como representantes legais
que irão gerir a cooperativa, cada pessoa tendo direito a um voto independentemente da
quantidade de quotas-partes integralizadas.
O cooperativismo popular diz respeito as experiências formalizadas ou não em cooperativas
de pequeno porte com grande expressão nos centros urbanos, mais especificamente em áreas
como artesanato, material reciclado, confecção de roupas, alimentação e serviços. Há ainda as
cooperativas rurais vinculadas ao MST e/ ou a agricultura familiar, que também potencializam
as práticas de economia solidaria, seja pelas virtudes da sustentabilidade ecológica, seja pela
organização coletiva da produção da terra (BARBOSA, 2005, p. 238).
No último mapeamento nacional de economia solidária estima-se que exista cerca 19.708
empreendimentos organizados e distribuídos entre 2.713 municípios brasileiros, entre 2009 e
2013. A maior parte deles se encontra na região Nordeste, responsável por 40,8% do total.
Ao apresentar as diferentes facetas de um empreendimento cooperativado, destaca-se que o
presente trabalho tem a intenção de abordar apenas uma das facetas, que é das cooperativas
populares ou empreendimento solidário e como a mesma se relaciona com a política pública

24
da economia solidária. No entanto, revelar as diferentes formas de cooperativas presente no
mercado capitalista se faz necessário para se entender a complexidade dos discursos
existentes sobre a temática.
No próximo capítulo visa-se explanar o contexto histórico, político e social que vai da base
para o surgimento de um número crescente de cooperativas populares e como esse processo
vai culminar na elaboração de uma teoria com o objetivo de explicar o fenômeno, ou força
social que ficou conhecida como economia solidária.
3 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E COOPERATIVISMO
Para entendermos o contexto em que emerge as principais abordagens e práticas sobre a
economia solidária, pretende-se no capítulo presente elucidar a evolução das principais
tendências do mercado de trabalho no Brasil durante as últimas oito décadas. Tal exercício se
faz necessário no sentido de assimilar as motivações que levaram milhares de trabalhadores a
se associarem na busca de melhores condições de vida.
Em seguida, procura-se reconhecer com a maior exatidão possível o espaço de manifestação e
desenvolvimento da economia solidária afim de articular oportunidades, limites e passos
necessários nas políticas públicas voltadas a consolidação desse movimento social no Brasil.
O Brasil passou nas últimas décadas por dois momentos distintos em relação à natureza do
seu mercado de trabalho. Primeiro durante a década de 1930 a 1980, onde o Estado tinha um
papel mais atuante na economia e havia um projeto político de cunho nacionalista. Esse
período ficou marcado por conta da existência de um mercado de trabalho forte, impulsionado
pela indústria e pelo processo de urbanização. A consolidação das leis do trabalho (CLT) foi

25
fundamental na garantia dos direitos trabalhistas e melhoras na relação de trabalho, com a
ampliação dos empregos assalariados, principalmente daqueles com registros formais, da
redução relativa das ocupações por conta própria e sem remuneração e do desemprego.
Segundo Pochmann (2004), as ocupações por conta própria, dos trabalhadores sem
remuneração e dos empregadores representaram apenas 20% do total dos postos de trabalho
criados no mesmo período. Assim, a taxa de assalariamento no Brasil foi de 66% do total das
ocupações, enquanto na década de 1930 não ultrapassava os 20%. A comparação entre os
anos 1940 e 1980 permite observar que, para cada 10 ocupações geradas, 8 foram
assalariadas, sendo 7 com contrato formal e uma sem contrato.
As vicissitudes ocorridas no “mundo do trabalho”, a partir da década de oitenta, tiveram como
contrapartida com a desarticulação dos movimentos sociais, em especial os sindicatos dos
trabalhadores e a substituição dos vínculos empregatícios do trabalhador por vínculos cada
vez mais de curto prazo, chegando muitas vezes a não haver relação jurídica alguma entre
empregador e empregado. “Adicionada à redução na participação relativa de empregos
assalariados com registro no total dos assalariados, notou-se a elevação da participação das
ocupações nos segmentos não-organizados da economia urbana” (PORCHMANN,2004).
Essa nova fase do capitalismo é marcada pelo fim do modelo fordista de acumulação dando
espaço para um mercado cada vez flexível. Segundo Antunes:
O fordismo é a forma como a indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao longo ao longo deste século, cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho ; pela separação existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, do processo fabril, entre outras dimensões. Menos do que um modelo de organização societal, que abrangeria igualmente esferas ampliadas da sociedade, compreendemos o fordismo como o processo de trabalho que, junto com o taylorismo, predominou na grande indústria capitalista ao longo deste século (ANTUNES,1995, 25 p.).
A diminuição do assalariamento com carteira assinada é uma das características que marcam
o atual modelo de precarização do trabalho. Contexto marcado também pela elevação no
número de associações de livres trabalhadores. No mundo das políticas neoliberais, o
empregado torna-se aparentemente o patrão de si mesmo, mas o que está por detrás dessa

26
nova forma de gestão do trabalho é a intensificação da exploração do trabalho e do processo
subsunção do trabalhador frente ao capital.
A partir da década de 1980 presenciamos um período marcado por grandes avanços
tecnológicos, foram introduzidas no processo de produção industrial a automação, a robótica e
a microeletrônica, permeando as relações de trabalho e reconfigurando as formas de
acumulação do capital. A flexibilização do processo de trabalho, dos mercados de trabalho,
dos produtos e padrões de consumo pode viabilizar para o capital uma maior exploração e
controle sobre da força de trabalho.
Desta forma o capitalismo contemporâneo reduziu através do avanço tecnológico uma parcela
do valor-trabalho vivo, elevando nível produtividade por trabalhador, por outro lado
intensificou-se a exploração do trabalhador com o trabalho flexibilizado.
Sobre as características do mercado de trabalho no capitalismo contemporâneo, Antunes
(2005) afirma que neste quadro figura a nova morfologia do trabalho: além dos assalariados
urbanos e rurais que compreendem o operariado industrial rural e de serviço, a sociedade
capitalista moderna vem ampliando enormemente o contingente de homens e mulheres
terceirizados, subcontratados, part time, que exercem trabalhos temporários, entre tantas
outras formas assemelhadas de informalização do trabalho, que proliferam em todas as partes
do mundo. (ANTUNES, 2005, 17 p.).
O autor defende a tese de que a sociedade do capital e sua lei do valor necessitam cada vez
mais das diversificadas formas de trabalho parcial (part-time), terceirizando em escala
crescente parte constitutiva do processo de produção capitalista. (IBID. p. 10).
Analisar o processo de reestruturação do sistema produtivo se faz necessário no presente
trabalho, por entender que as motivações que originaram o surgimento de diversas
cooperativas populares têm relação com as transformações ocorridas no mercado de trabalho
global, assim como pela busca da manutenção das taxas de lucro do sistema capitalista.
No Brasil, a crise iniciada nos anos 1980 teve como consequências a elevação da taxa de
inflação, da dívida externa e congelamento dos salários. Seria o fim do modelo de substituição
de importações e o início do processo de acumulação flexível. No primeiro o Estado era o
responsável por desenvolver a indústria de ponta, o trabalhador especializava-se numa única
função e a produção era realizada em grande escala. O segundo momento vai ser marcado por

27
um Estado menos atuante na economia, privatizações das indústrias de base, mudanças na
organização industrial através do sistema just-in-time e desregulamentação do mercado
financeiro.
A nova onda de fragmentação desencadeada durante a década de 1980, quando as tarefas
foram transferidas entre países e as cadeias de abastecimento regionais e globais foram
estabelecidas, produziu a especialização vertical de empresas em cadeias de fornecimento
globais, terceirização de tarefas de produção intensivas em mão-de-obra, serviços de negócios
de back office e call centers,que vem explorando as vantagens (supostamente) comparativas
de diferentes locais em diferentes partes do mundo.
Enquanto as economias desenvolvidas se especializaram em tarefas altamente qualificadas,
tais como serviços de P & D, design, finanças e pós-venda, os países de economia periférica
atraíram muitos dos empregos de baixa remuneração e pouco qualificados. Esta tendência em
longo prazo de expandir e aprofundar a fragmentação dos sistemas de produção aumentou a
eficiência através de economias de especialização e aglomeração, mas tem o potencial de
deslocar empregos, de tal forma que acaba por contribuir, em muitos lugares, ao desemprego
estrutural.
Ao adotar as políticas neoliberais o Estado brasileiro passou a seguir uma agenda econômica
calcada nos interesses do mercado global, reduzindo gastos sociais com saúde, educação,
seguridade social e aumentando recursos com pagamento da dívida. Com isso, geram-se
perdas para a classe trabalhadora, que sofreu com o congelamento do seu salário real, ao
mesmo tempo em que perdeu uma série de benefícios conquistados por lutas passadas.
A partir de 1990 os efeitos da globalização vão gerar grandes impactos no mercado de
trabalho brasileiro. A utilização de novas tecnologias como a microeletrônica, tecnologias da
informação e a biotecnologia vão gerar ganhos de produtividade e o barateamento dos custos
de produção, gerando crescimento econômico, porém, com concentração de renda. O Estado
também vai perder sua soberania de realizar políticas fiscais de interesses nacionais, e passará
a priorizar uma série de metas fiscais, necessárias para manter a atratividade do capital
financeiro.
Não obstante, a inserção do país no mercado internacional através da produção e exportação
de bens primários (agronegócio e extração mineral) elevou o grau de subordinação e
dependência frente ao mercado globalizado. Os empregos gerados nesses setores não são

28
suficientes para absorver a massa de trabalhadores desempregados, em contrapartida, o setor
informal ganha cada vez mais espaço como alternativa de trabalho.
Diante da nova forma de gestão de trabalho, Paul Singer faz uma análise do processo de
reestruturação produtiva do capitalismo e sua relação com o aumento da taxa de desemprego e
de precarização do trabalho. No seu livro, intitulado Globalização e Desemprego
Diagnósticos e alternativas, o autor escreve:
A atual crise do desemprego resulta da atuação de fatores há muito conhecidos numa conjuntura em que os remédios já testados não funcionam mais. A demanda por trabalhadores está se contraindo em setores beneficiados por inovação tecnológicas, entre os quais se destaca a indústria, mas que incluem indubitavelmente boa parte do terciário. Os robôs, o computador e a comunicação por satélite estão eliminando milhões de empregos no mundo inteiro e de nada adianta lamentar-se por eles (SINGER, 1999, p.118).
Mas adiante o autor elabora uma alternativa para desemprego estrutural. Na visão de Paul
Singer a construção de pequenos empreendimentos de produção seria uma das alternativas
para o retorno do crescimento da economia e, consequentemente, à diminuição da taxa de
desemprego:
Para resolver o problema do desemprego é necessário oferecer à massa dos socialmente excluídos uma oportunidade real de se reinserir na economia por sua própria iniciativa. Esta oportunidade pode ser criada a partir de um novo setor econômico, formado por pequenos empregos e trabalhadores por conta própria, composto por ex-desempregados, que tenha um mercado protegido da competição externa para os seus produtos. Tal condição é indispensável porque os ex-desempregados, como se viu, necessitam de um período de aprendizagem para ganhar eficiência e angariar fregueses. Para garantir-lhes o período de aprendizagem, os próprios participantes do novo setor devem criar um mercado protegido para suas empresas (SINGER,1999, p.120).
Na concepção do autor, o desemprego estrutural seria solucionado com o fortalecimento
desses empreendimentos, cabendo ao Estado a elaboração de políticas públicas que tenham
como objetivo garantir a sobrevivência das cooperativas frente a um mercado de alta
competitividade. “Seria importante que a cooperativa de economia solidária contasse desde o
início com o apoio e o patrocínio do poder público municipal, dos sindicatos dos
trabalhadores, das entidades empresariais progressistas e dos movimentos populares“
(SINGER, 1999).
O processo de automação das empresas dos países centrais levou a uma redução do
trabalhador fabril, transferindo os empregos para o setor de serviços e, como consequência, o

29
desemprego estrutural toma lugar. Os efeitos da automação no mercado de trabalho não levam
a redução dos postos de trabalho; pelo contrário, o emprego só fez crescer nos últimos anos,
ficando o setor de serviços como principal responsável pela geração desses empregos nos
últimos anos.
A implicação da redução da participação da manufatura no emprego tem sido muito debatida,
tanto entre pesquisadores como entre formuladores de políticas econômicas. O emprego
industrial tem declinado relativamente há quase cinco décadas nas economias avançadas, e
parece estar chegando a baixas parcelas do total emprego entre os países de economias
periféricas, é o que demonstra o relatório de abril de 2018 do FMI intitulado,
StructuralChange.
O cenário onde máquinas substituem os trabalhadores é uma realidade; no entanto, a ameaça
aos empregos pela tecnologia seria exagerada. Os dados sobre os trabalhos globais de
manufatura não confirmam essas preocupações. Enquanto as economias avançadas
eliminaram alguns empregos industriais, a ascensão do setor industrial em países emergentes,
como a China, mais do que compensou essa perda.
Com o advento da reestruturação produtiva, não obstante os avanços tecnológicos instalados nas empresas capitalistas, manteve-se e ampliou-se, na maior parte dos empregos, uma estrutura de trabalho precária. No lugar de repercutir em melhorias para os trabalhadores, o desenvolvimento da tecnologia foi implementado pelos capitalistas para rebaixar as condições de trabalho e diminuir os gastos com a força de trabalho. As mudanças ocorridas no mercado capitalista nas últimas décadas foram marcadas pela ampliação da exploração do trabalhador, através das quais “os patrões tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão-de-obra excedente (desempregados Ou subempregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis” (HARVEY,2005, p. 143).
As consequências negativas das políticas neoliberais no mercado de trabalho brasileiro
implicam, dentre outras coisas, a elaboração de uma política pública que potencialize as
cooperativas populares. Esta será, justamente, a alternativa pensada por Paul Singer e outros
autores para combater as mazelas do neoliberalismo no Brasil. Essa proposta estará vinculada
a uma construção teórica que os próprios autores denominaram de Economia Solidária (EES).
3.1 A ECONOMIA SOLIDÁRIA
As recentes transformações ocorridas no mundo do trabalho resultaram em duros prejuízos
aos direitos dos trabalhadores, benefícios esses conquistados historicamente pelo meio de

30
grandes mobilizações da classe trabalhadora. Diante de um cenário de desemprego e
precarização do trabalho, começou a emergir da sociedade várias experiências sociais e
econômicas baseadas na coletividade e solidariedade, sobre tudo com intuito de gerar
emprego e renda para os trabalhadores que se encontrava excluídos das benesses do sistema.
A ascensão do desemprego e subempregos aliado às metamorfoses ocorridas no mercado de
trabalho global fomentam a ampliação de novos arranjos de geração de emprego e renda.
Nesse sentido, uma grande quantidade de experiências coletivas de trabalho e produção se
espalha por todo o país, através das cooperativas de produção, de serviços, de crédito e de
consumo, bem como de pequenas associações de produtores e de várias organizações
populares do meio rural e urbano, que integram, em seu conjunto, o que vem a ser a economia
solidária.
Vale à pena salientar que se trata de um fenômeno socioeconômico que recebe grande
notoriedade em vários países. Apesar de sua importância, no entanto, ainda é um campo de
estudo em construção e com muitas possibilidades de progresso em termos de agendas de
pesquisa, sobremaneira porque congrega distintas linhas de pensamento, por vezes com
muitas divergências teóricas no que se referem as suas motivações, por outras no que toca as
propostas para ações práticas. De todo modo, o tema economia solidária se populariza nos
anos de 1990, fomentada principalmente por entidades civis e governamentais orientada para
geração de emprego e renda.
O conceito foi construído ao longo do século XX na Europa, no interior da chamada
“economia social”. Tal expressão representa um debate sobre as possibilidades de cooperação
econômica e as formas de manifestação da solidariedade na sociedade, englobando atividades
econômicas, como aquelas desenvolvidas por cooperativas de trabalhadores nos mais diversos
setores produtivos, e não econômicas, como o trabalho voluntário em associações de
diferentes finalidades. Contudo, no contexto latino-americano, a expressão está mais próxima
de uma noção de “economia popular”, fortemente marcada pela informalidade das práticas
coletivas populares. (SILVA, 2018, p. 12)
Laville (2001) classificou tais atividades como “serviços de proximidade” (creches
associativas, lugares de expressão e de atividades artísticas, iniciativas de ajuda a domicílio,
de esporte ou de proteção do meio ambiente etc.), onde o laço social é valorizado por meio da
reciprocidade.

31
No Brasil o tema economia solidária assume um caráter diferente da perspectiva europeia,
pois a categoria está ligada a um conjunto de organizações populares com proposta de geração
de emprego e renda – e não apenas em “serviços de proximidade” calcados na reciprocidade.
Com as recentes crises do capital, associadas ao fim do Estado protetor do pleno emprego, o
tema de uma economia social ganha novo sentido dentro de espaços progressistas brasileiros.
A introdução do termo economia solidaria no Brasil é atribuído ao economista Paul Singer.
Segundo Lechat (2004), Singer usou a categoria economia solidária para nomear uma
proposta de política pública elaborada em 1996, no programa partidário do Partido dos
Trabalhadores (PT) para fazer frente ao desemprego de grande parte dos moradores da cidade
de São Paulo. Segundo Singer, precisava-se convocar os desempregados a se organizar em
massa, com vistas a sua inserção na economia, mas por sua própria iniciativa. O texto que
resume a proposta foi publicado em julho de 1996 no jornal Folha de São Paulo sob o título
Economia Solidária contra o desemprego.
Para Singer (2003), a Economia Solidária é um conjunto de atividades econômicas de
produção, distribuição e consumo, organizadas de forma autogestionária, ou seja, sem
distinção de classes: quem nela trabalha é dono, e quem é dono nela trabalha. A Economia
Solidária é uma resposta de parte da sociedade civil às crises das relações de trabalho e ao
aumento da exclusão social.
Gaiger (2003) descreve os empreendimentos solidários que se apresentam na forma de grupos
de produção, associações, cooperativas e empresas de autogestão e combinam suas atividades
econômicas com ações de cunho educativo e cultural, valorizando o sentido da comunidade e
o compromisso com coletividade social em que se inserem. Esses empreendimentos
apresentam uma diversidade de formas de economia alternativa, distintas da lógica mercantil
capitalista.
Nesse sentido, a economia solidária estabelece alguns arranjos organizacionais como o
trabalho associativo e autogestionário como possibilidade tanto de estruturar o exercício
laboral, alicerçado na associação econômica entre seus membros e na propriedade coletiva,
quanto à geração de emprego e renda, condição necessária para amenizar os efeitos
excludentes produzidos pela globalização e pela reestruturação produtiva do mundo
capitalista.

32
Alguns dos estudiosos da economia solidária no Brasil tomam o projeto como um herdeiro e
continuador das experiências derivadas da classe operária do século XIX e dos chamados
socialistas utópicos.
Segundo Gaiger (2009), tem sua origem em um novo capítulo da história da Economia Social,
cujas raízes mais distantes datam do século XIX. Ele explica que, naquela época, face às
turbulências sociais provocadas pela Revolução Industrial, o associativismo surgiu como uma
resposta de operários e camponeses que se caracterizava desde seus primórdios por formas de
gestão autônomas e democráticas.
As experiências de Economia Solidária denotam que no decorrer do capitalismo sempre
existiram movimentos sociais sujeitados ao processo de exclusão social que, de alguma
maneira, procuraram se organizar para sobreviver, em muitos casos, sob outra lógica.
Entretanto, estas experiências foram isoladas e tiveram pouca repercussão perante uma
economia que vem se tornando uma realidade ao desemprego e à exclusão social.
O fenômeno (da economia solidária) adquire cada vez mais espaço no cenário econômico
brasileiro por ser uma alternativa de enfrentamento à falta de emprego presente em todo o
território nacional. Como traços marcantes de tal crise destacam-se não apenas o aumento do
desemprego, mas também a precarização do trabalho e a exacerbada concentração da renda.
3.2 SENTIDO DA ECONOMIA SOLIDARIA
Diversas interpretações vão ser elaboradas em torno do sentido da economia solidária, não
cabendo neste trabalho a apresentação de todas. De todo modo, serão expostas algumas
concepções que divergem sobre certos pontos.
No entanto, antes de se adentrar na seara destas discussões, vale ressaltar que a convergência
existente entre os pensadores se refere a orientação dos empreendimentos solidários: todos
consideram fundamental a autogestão e a produção coletiva.
Desta maneira, os empreendimentos apresentam horizontes distintos das empresas
capitalistas. E as divergências que encontramos correspondem à natureza do que viria a ser
economia solidária para os distintos autores. Apontaremos, a seguir, três interpretações sobre
o sentido político/social do fenômeno estudado.

33
Dentro da concepção sobre a natureza da economia solidaria de Laville encontramos a ideia
de negação da interpretação da teoria neoclássica que apresenta as relações econômicas da
sociedade de maneira unidimensional, onde os indivíduos são seres racionais maximizadores
de satisfação. Para o referido autor, o capitalismo, por mais que seja o sistema econômico
hegemônico, não tem como restringir a permanência de outras formas de organizações. Desta
forma a economia solidária seria um modo alternativo de relações econômicas dentro do
capitalismo.
Não há um modo único de organização da economia que seria a expressão de ordem natural, mas um conjunto de formas de produção e repartição que coexistem” (Laville,2006 p.37); assim, existe espaço para que a pluralidade da democracia e da economia entrem em ressonância com uma economia fundada na pluralidade de princípios econômicos e das formas de propriedade (LAVILLE, 2006, p, 37 apud SCHMIDT 2013, p. 17).
De maneira mais ampla, a economia solidária pode ser definida como um conjunto de
atividades que contribui para a democratização da economia, a partir do engajamento dos
cidadãos (LAVILLE, 2007, p. 85).
A difusão economia solidária se daria com articulação dos cidadãos e da esfera pública num
projeto de democratização da economia.
A economia solidária, concebida como uma forma de democratização da economia e não como um ressurgimento da filantropia pode, portanto, articular as dimensões recíprocas e redistributivas da solidariedade para reforçar a capacidade de resistência da sociedade a automatização social, ela própria ressaltada pela monetarização e mercantilização da vida cotidiana (PERRET, 1999, apud LAVILLE 2007).
Encontramos em Calvo (2008) argumento semelhante:
Este processo implica, portanto, a combinação de políticas públicas adequadas as necessidades e potencialidades locais, juntamente com a participação ativa e solidária da sociedade na autogestão do seu desenvolvimento. Isso requer mudanças nas estruturas, reconhecimento legal necessário de que existem outras alternativas econômicas dentro do próprio sistema hegemônico que ajuda na construção de um projeto de sociedade e, por sua vez, implica transcender a democracia puramente representativa em uma democracia mais direta e participativa, onde a autogestão e até os processos de administração dos políticos devem ser públicos em sua totalidade. “ tradução própria”.
Os limites para a interpretação de uma economia plural é a negação de um sistema econômico
de classes sociais dispostas a diluir qualquer forma de ação.

34
Um segundo ponto de vista percebe a economia solidária com um movimento de reação às
contradições do sistema capitalista, os empreendimentos têm como objetivo superar a lógica
de acumulação do capital através da prática do trabalho autogestionário e coletividade da
produção. Paul Singer é considerado um dos estudiosos que entende a economia solidária
sobre essa ótica.
Nesse sentido, o referido autor admite o movimento como uma dinâmica própria, com
tendências a se ampliar de maneira autônoma, porém, não descarta o apoio do Estado como
fomentador das organizações. Para isto, procura estruturar alternativas para o
desenvolvimento dos empreendimentos econômico solidários (EES), a partir da elaboração de
políticas públicas com a finalidade de capacitá-los para competir com outras empresas
tradicionais dentro do mercado capitalista.
O programa economia solidária se fundamenta na tese de que as contradições do capitalismo criam oportunidades de desenvolvimento de organizações econômicas cuja lógica é oposta a do modo de produção dominante. O avanço da economia solidária não prescinde inteiramente do apoio do Estado e do fundo público, sobre tudo para o resgate de comunidades miseráveis destituídas do mínimo de recursos que permita encetar algum processo de auto-emancipação (SINGER, 2002, p. 112).
Sobre a relação dos empreendimentos com o livre mercado, Singer afirma que a forma mais
provável de crescimento da economia solidária será continuar integrando mercados em que
competem tanto com empresas capitalistas do próprio país e de outros países (SINGER, 2002,
p. 120).
Existem outras propostas, sobre economia solidária, divergentes da interpretação de Singer,
não de acordo que a competição direta no mercado capitalista seja um campo deliberativo e
impulsionador para a consolidação dos empreendimentos. Os que se aglutinam em torno dessa
percepção problematizam a concepção de autogestão no mercado monopolista e propõem
formas de se articular os diversos setores da economia solidária. A discussão está voltada para
“o planejamento socialista da produção pelos produtores associados com um dos pilares da
autogestão” (NOVAES, 2007).
Novaes (ibid.) parte da crítica totalizante de Marx para romper a ideia de autogestão e
concorrência, tal crítica revela o processo de acumulação do capital como um movimento, em
que o capital se fragmenta entre vários setores, sendo a produção uma das partes que integra o

35
todo, nesse sentido a apropriação isolada dos meios de produção pelos trabalhadores não seria
o suficiente para romper com as relações do capital.
A economia solidária teria como horizonte recuperar as discussões sobre a coordenação global da produção pelos produtores associados como principal alternativa de construção de um mundo melhor para os trabalhadores. Não pode haver uma teoria que se sustente apenas olhando para dentro das cooperativas, celebrando a nova forma de decisão democrática, parlamentarista, na qual os trabalhadores decidem coletivamente os rumos de cada empresa, sem se observar a permanência da perda do produto do trabalho (NOVAES, 2007).
Podemos então concluir que existem três posições distintas sobre a natureza da economia
solidária. A primeira percebe o projeto como um elemento de transformação social, que se
desenvolve na pluralidade dos modos de produção que é o sistema capitalista, e sua disputa
está situada na democratização das relações de produção da economia. O outro ponto de vista
encontra na economia solidária um solo fértil para a construção do socialismo, dando ao
fenômeno um sentido revolucionário, onde a autogestão e a competição de mercado
coexistem. E por fim, a interpretação que concebe a economia solidária como um movimento
emancipatório do trabalhador, porém, para desenvolverem-se, os empreendimentos devem
procurar romper com as relações de mercado do sistema capitalista através de um
planejamento de mercado focado na superação do capital. Para além destes, podemos também
conceber a economia solidária como uma política pública que tem a finalidade de regular e
ajustar o trabalho “informal”, para isto, os defensores deste ponto de vista mantém a proposta
fomentar e amparar o desenvolvimento de empreendimentos solidários através de projetos
governamentais.
3.3 CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS
Esta seção busca compreender a dinâmica dos EES. Para isto, foram levantadas algumas
características como: número de empreendimentos por região, cor/raça dos trabalhadores,
motivações que os fizeram entrar no negócio e formas de organização. Os dados foram
extraídos do site do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária da Secretaria
Nacional de Economia Solidária (SENAES). A secretaria pública criada em 2003 consolida o
Programa Economia Solidária em Desenvolvimento como um instrumento que tem como
plano de ação, dentre outros aspectos, regular o trabalho informal brasileiro através de
mapeamentos dos empreendimentos, formação técnica dos trabalhadores e acessórias jurídica.

36
Em resposta a essas crescentes experiências de trabalho organizado em torno dos EES o
governo brasileiro fundou a Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES – criada
no âmbito do Trabalho e Emprego com a publicação da lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003
e instituída pelo decreto n° 4. 764, de 24 de junho de 2003, fruto da proposição da sociedade
civil e da decisão do presidente Luis Inácio da Silva. Em consonância com a missão do
Ministério do Trabalho, tem o objetivo viabilizar e coordenar atividades de apoio à economia
solidária em todo o território nacional, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social
e a promoção do desenvolvimento justo e solidário.
A SENAES define economia solidária como “conjunto de atividades econômicas de
produção, distribuição, consumo, poupança e crédito organizadas sob a forma de autogestão”
(SENAES, 2004). São englobados dentro das políticas públicas de economia solidária todas
as práticas econômicas populares que não tenham relação de assalariamento, tais como:
pequenas oficinas, artesanato, serviços autônomos, comércio ambulante, etc. Tais exercícios
de trabalho têm em comum a ausência de direitos trabalhistas.
Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária tem a proposta de realização de um
levantamento amplo de informações e a criação de um banco de dados nacional sobre a
economia solidária. As informações coletadas pela SENAES através do SIES podem ajudar a
compreender de forma mais precisa o cenário atual em que se encontram os empreendimentos
econômicos solidários no Brasil.
Ao todo já foram feitas pelo SENAES três mapeamentos gerais, a informação mais atual
sobre o mapeamento de Economia Solidária foi realizada no ano de 2012, quando foram
registrados 19.708 empreendimentos de economia solidaria (EES) no Brasil.
Quadro 2- Área de Atuação dos Empreendimentos por Região
Local Rural Urbana Rural e Urbana Nº EES
Centro-oeste 1.082 670 269 2.021
Nordeste 5.804 1.554 682 8.040
Norte 1.566 1.270 290 3.127

37
Sudeste 959 1.970 299 3.228
Sul 1.382 1.392 518 3.292
Total 10.793 6.856 2.058 19.708Fonte: SENAES elaboração Própria4
De acordo com o quadro 2 os dados coletados no ano de 2012 revelam um total de 19.708
empreendimentos solidários, concentrando-se, a maior parte, na região nordeste com 8.040,
cerca de 40.8% dos registros, seguido da região sudeste com 3.228, com 16,4%
empreendimentos catalogados. A zona rural é responsável por abrigar 54,76% dos registros.
Podemos concluir a partir da análise do quadro acima o histórico descaso que se encontram os
trabalhadores nordestinos, estes, permanecem ocupando as vagas de emprego de menor
qualidade, vale ressaltar que é no nordeste onde encontramos a maior parte da população que
se considera pardos ou negros, segundo o IBGE. Nas pesquisas domiciliares do IBGE, a cor
dos moradores é definida por auto declaração, ou seja, o próprio entrevistado escolhe uma das
cinco opções do questionário: branco, pardo, preto, amarelo ou indígena.
Enquanto as formas como estão organizados os empreendimentos, constata-se que o modelo
de associação é a que tem maior expressão, com 60% do total, como mostra indicadores do
quadro 3. Seguido da categoria “grupo informal”, ou seja, modelos de empreendimentos sem
nenhum tipo de registro jurídico. Isto demonstra a fragilidade institucional que coexistem com
os trabalhadores do setor, pois a falta de um registro jurídico não permite que os associados
possam requisitar linhas de créditos, necessários para a ampliar ou até mesmo manter o
empreendimento “vivo”.
Quadro 3- Formas de Organização Por Região5
Local Grupo
Informal
Associação Cooperativa Sociedade
mercantil
Nº EES
Centro-oeste 524 1.307 175 15 2.021
Nordeste 1.675 5.969 368 28 8.040
4 Dados adquiridos no site do SENAES5 Dados adquiridos no site do SENAES

38
Norte 802 2.044 273 8 3.127
Sudeste 1.567 1.309 318 34 3.228
Sul 1.450 1.194 606 42 3.292
Total 6.018 11.823 1.740 127 19.708
Fonte: SENAES, Elaboração Própria
Quando perguntado aos entrevistados sobre qual raça e cor ele se identifica, notamos que a
maior parte dos trabalhadores se identifica como negros ou pardos, conforme mostra os dados
do gráfico 1. Ambos correspondem a um total de 53% do público.
Fonte: SENAES
Já quando questionado sobre o que motivou os trabalhadores a constituir um empreendimento
no modelo solidário, a informação do gráfico 2 mostram que a busca de uma fonte
complementar de renda junto com uma alternativa ao desemprego apresenta maiores
expressões.
Gráfico 2- Motivação a Criação do EES
21%
8%1%
45%
1%1%
23%
Cor ou raça predominante dos sócios
Branca Preta Amarela PardaIndigena Ignorado Não se aplica
Gráfico 1- Cor ou Raça Predominante dos Sócios

39
Uma alternativa ao desemprego
Uma fonte complementar de renda para os (as) associados (as)
Possibilidade de atuação profissional em atividade econômica específica
Recuperação de empresa privada que faliu ou em processo falimentar
Desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades
Incentivo de política pública (governo)
Fortalecimento de grupo étnico
0 2000 4000 6000 8000 1000012000
O que motivou a criação do EES
Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
Fonte: SENAES
O primeiro mapeamento foi realizado em 2005, registrando em sua primeira etapa
aproximadamente 18 mil empreendimentos. Em 2007, a base de dados foi ampliada com um
mapeamento complementar, chegando-se a quase 22 mil empreendimentos em todo o Brasil.
As pesquisas executadas pelo SENAES ao longo dos anos buscar explanar a realidade em que
se encontram as práticas do trabalho solidário pelo Brasil, demonstrando assim, a necessidade
de elaboração de políticas públicas que garantam a permanência dos empregos no setor
.
4 ECONOMIA SOLIDARIA E SUAS LIMITAÇÕES TEÓRICAS
O presente capitulo vai abordar as principais críticas em torno do trabalho cooperativado, tal
movimento se faz necessário, pois encontramos nos postulados apresentados pelos pensadores
mais notáveis da economia solidária, um discurso apaixonado em relação às pretensões e
alcances das práticas laborais alicerçadas na cooperação mútua. Muitos destes autores,

40
destinam a economia solidária, um papel revolucionário de superação da exploração e
precarização do trabalho. Pretendemos a partir das críticas colocadas no texto, elucidar as
limitações inerentes ao trabalho cooperativado, ao mesmo tempo, salientar que o movimento
cooperativista tem relevância no cenário atual, por se tratar de uma força política que tem
como prática refutar e questionar as relações de trabalho do mundo neoliberal.
4.1 CRÍTICA A ECONOMIA SOLIDÁRIA
Considerando a economia solidária como um projeto construído pelos trabalhadores, com o
intuito de apresentar ações diretas de enfrentamento às contradições da economia capitalista,
em tempos onde as relações de trabalho sem vínculos empregatícios se tornam a tônica, faz-se
necessário uma análise sobre os limites e retrocessos existentes na pauta da economia
solidária.
Isto porque, na concepção dos pensadores da economia solidária, ela é fruto das
transformações ocorridas dentro da estrutura produtiva do capitalismo, haja vista que a partir
dos anos 1990 os trabalhadores passam por um processo de precarização dos seus postos de
trabalho. Como resposta a tal situação a consolidação de empreendimentos solidários é uma
das estratégias adotadas pela classe trabalhadora, que aproveita das vicissitudes nas relações
de produção provocada pelo grande capital para construir as bases de novas formas de
organização da produção, a partir de uma lógica oposta àquela que orienta o mercado
capitalista.
Esse novo cenário do capitalismo brasileiro leva Paul Singer – e outros autores – a elaborar o
conceito de economia solidária a partir de uma justificativa emancipatória, ou melhor, da
atribuição de um certo caráter emancipatório aos empreendimentos solidários, como visto já
discutidos em capítulos anteriores. Estes empreendimentos, em sua grande parte, têm algum
tipo de apoio ou capacitação, como assistência técnica, qualificação profissional, assistência
jurídica, e assessoria.
No âmbito do debate sobre a economia solidária, muitas vezes, encontram-se, nos postulados
de alguns de seus estudiosos, um certo ideário positivo sobre as reais capacidades do
movimento de contrapor a ordem hegemônica do livre mercado. Nesse diapasão, a economia
solidária é sustentada como um projeto político da classe trabalhadora, em grande medida
destituída do processo de produção e dos direitos laborais, passando a se organizar
coletivamente em associações, cooperativas e de modo informal, com o objetivo de gerar

41
emprego e renda, além de ser uma atividade de enfretamento direto das relações de
exploração do mercado de trabalho capitalista.
As políticas públicas da economia solidária colocam nas cooperativas populares um papel de
enfrentamento da classe trabalhadora ao avanço da retirada de direitos dos mesmos. Ao fazer
um apanhado histórico das antigas fábricas gestadas por trabalhadores no século XIX, Singer
relaciona, por exemplo, a luta dos antigos operários com as dos trabalhadores
contemporâneos.
Pouco depois da Primeira Revolução Industrial e da Revolução Francesa, a situação de grande parte da população britânica era de empobrecimento e desemprego. Frente a tal situação Robert Owen, proprietário de um imenso complexo têxtil em New Lanark/Escócia apresentou um plano ao governo britânico em 1817, desejando que o fundo de sustento aos pobres fosse revertido para a compra de terras e construção de Aldeias Cooperativas, onde cerca de 1200 pessoas produziriam sua própria subsistência e trocariam seus excedentes entre as aldeias. (SINGER, 2002, p.26).
Tal interpretação não problematiza as fragilidades que os trabalhadores de cooperativas
populares vão passar a sofrer no – atual – modelo de gestão flexível do mercado de trabalho,
tendo que competir no mercado com outras empresas verticalizadas que flexibiliza os direitos
dos seus trabalhadores ao máximo possível, para cortar custos de produção e, assim, baratear
o preço final da mercadoria. SegundoWellen:
Como ambas as organizações são regulamentas por uma legislação que permite a existência dessas relações contratuais baseadas em precárias condições de trabalho, não apenas as cooperativas de trabalho, mas também os empreendimentos da “economia solidária” passam a ser alvos de interesse direto de empresas capitalista (2005, p.169).
Nessa linha, convém lembrar que as transformações do trabalho estão, ao mesmo tempo,
correlacionadas com a dinâmica do processo de acumulação do capital, portanto, é importante
a consideração dos elementos históricos e materiais, ou, das condições objetivas necessárias
para garantir tais mudanças. O desdobramento do neoliberalismo com o apoio do Estado
atribuiu caráter positivo ao progresso do emprego por conta própria, deste modo, a diluição do
trabalho assalariado tornou-se um elemento fundamental para assegurar a manutenção do
lucro capitalista, consequentemente elevando a exploração e subordinação do trabalho.
No contexto atual, o Estado passa a se distanciar cada vez mais do papel de assegurador da
qualidade das relações laborais via expansão do trabalho assalariado, com isso, os
empreendimentos solidários têm potencial em despontar como uma das saídas à recente
deterioração das relações de sociabilidade imposta pelo capital. Quando se desenvolve uma

42
política pública com a finalidade de regular e impulsionar a prática do emprego sem garantia
de direito, o Estado, ao contrário do que argumentam os pensadores da economia solidária,
pode fortalecer o processo de acumulação flexível, por meio da redução dos empregos com
carteira assinada e precarização do trabalho.
Cruz (2006, p. 1), aponta o surgimento dessas iniciativas no contexto latino-americano e
admite que:
O surgimento de milhares de iniciativas econômicas tipo associativo-cooperativas, associações, empresas recuperadas, instituições comunitárias de crédito clubes de troca etc. – no cone sul da América latina, a partir dos anos 90, representa a emergência de um fenômeno econômico e social que, embora guarde estreitas relações com eventos anteriores, tem características especificas que resultaram das transformações ocorridas nas últimas décadas, tanto da economia quanto da sociedade latino-americana.
Não obstante, é comum no debate sobre geração de emprego e renda a exaltação do “emprego
por conta própria” como o caminho a ser perseguido pelos trabalhadores contemporâneos. A
retórica costuma associar o sucesso financeiro do trabalhador a sua capacidade de gestão
empresarial. Para isto, um conjunto de instituições aparece com o discurso de criar as
condições necessárias de o empreendedor sobreviver às oscilações do mercado capitalista.
A lei do valor é avassaladora no sentido de impor a forma de exploração adequada, seja requisitando ou expulsando trabalhadores, seja impondo a precarização ou recriando a clandestinidade, tudo isso por meio de ideias como as do “espírito empreendedor” e de autonomia do trabalhador. No entanto, tratam-se de ideias que sucumbem à determinadas realidades, sobretudo àquelas em que se verifica altas taxas de mortalidade dos negócios. (MONTANO, 1999 apud BARBOSA, 2005).
No final capítulo anterior abordamos sobre as características dos empreendimentos solidários
catalogados pelo Sistema de Informação Nacional de Economia Solidária (SIES). E,
verificamos que cerca de 90,5% dos empreendimentos entrevistados (empresas informais e
associação), não possuíam registro jurídico, logo, constata-se que as empresas solidárias
enfrentam grandes dificuldades para se manter no mercado, além do mais, os trabalhadores
podem ficar excluídos de direitos relevantes para a sua sobrevivência. Isto acontece, por conta
das inúmeras restrições que uma empresa não legalizada está submetida: possibilidades de
participação em licitações; direito previdenciário; crédito disponível; comercio com mercado
exterior; proteção do patrimônio pessoal.

43
As condições precárias de trabalho e de inserção no mercado são inerentes às pequenas empresas, cooperativas e associações, e esse é o atrativo para que permaneçam na informalidade, pois daí decorre o interesse para a economia tradicional, já que representam uma diminuição dos custos. Com maior regulamentação prevista por alguns setores do governo, inclusive da economia solidária, elas perdem esse atrativo e a própria existência dessas ocupações enquanto tais é ameaçada (MALAGUTTI, 2000).
Quadro 4 - Quantidades de Empreendimentos da Economia Solidaria6
A
tabela 5apresenta o crescimento do número de empreendimentos solidários segundo a
SENAES. Nota-se que entre os anos 1980 até o ano de 2007 o número de empreendimentos
solidário sai de 264 para 10.653. Os dados expostos colaboram com o argumento de que a
partir da inserção de políticas neoliberais se dá a elevação do número de cooperativas, ou seja,
em vez das associações e cooperativas serem vistas como uma criação espontânea da classe
trabalhadora, aparecem como uma criatura – de sustentação – do capital.
Apesar de haver uma elevação do número de cooperativas populares, praticamente, suas
atuações podem se relacionar com as diretrizes de flexibilização e precarização do trabalho.
Essa conclusão, talvez um tanto paradigmática, se constata ao observar-se as relações de
trabalho nas chamadas “coopergatos” onde o atual modelo de contratação vigente preza cada
vez mais por vínculo de trabalho sob o regime de parcerias ou temporários.
Cabe, portanto, nesse momento, analisar até onde a economia solidária pode ser um agente
capaz de potencializar esses empreendimentos, ou, por outro lado, onde pode limitar a atuação
destes. Ademais, é claro, de averiguar o real poder transformador do cooperativismo enquanto
um modelo capaz de criar o estopim de processos de transformação social– verdadeiramente
progressistas.
A parir dos anos 2000, partidos políticos de posicionamento centro-esquerda passaram a
ganhar espaço no cenário político brasileiro, com o discurso de oposição aos governos
anteriores de cunho neoliberais. Porém, ao assumirem o poder, a partir de uma plataforma
política defendida como resposta aos problemas sociais conduzidos pelo neoliberalismo, esses
6 A figura foi retirada da Tese “Para a Crítica da economia solidaria”

44
governos manifestaram não dispor de uma política eficaz de real enfretamento a tais
contradições. E dessa forma passam a estruturar, como uma espécie de paliativo, uma série de
instituições públicas com o objetivo de proteger a população desempregada e os pequenos
produtores autônomos e informais.
Os governos de clivagem (supostamente) progressista, que subiram ao poder a partir do início
dos anos 2000, a rigor, deram continuidade a uma agenda de política macroeconômica de
natureza neoliberal. Por outro lado, no entanto, incentivaram a criação de “colchões
amortecedores”, isto é, mecanismos paliativos com o fito de absorver parte da força de
trabalho desamparada a partir dos efeitos dessas políticas sobre o mercado de trabalho.
A política pública em prol da economia solidaria só foi possível graças a um conjunto de
práticas voltadas para a geração de emprego, estas organizações passaram a ganhar expressão
no país a partir da década de 1990, mas só em 2002 foi criado uma secretária nacional pública
com intuito de fomentar e amparar os empreendimentos. Ainda assim, a “conquista” no
âmbito estatal não dissolve a problemática da classe trabalhadora dentro das contradições da
sociedade capitalista; apesar dos avanços, os trabalhadores de cooperativas populares ainda
permanecem com um futuro incerto, sem saber de maneira exata as suas perspectivas
salariais, de aposentadoria, férias ou décimo terceiro para o ano seguinte.
4.2 COOPERATIVISMO, ECONOMIA SOLIDARIA E AUTOGESTÃO
Como já discutido anteriormente, as mudanças realizadas no capitalismo a partir da segunda
metade do século XX, ampliou as desigualdades sociais e o desemprego crônico nos centros
urbanos; frutos da política neoliberal, intensificam a importância de se encontrar uma
possibilidade para a sobrevivência diária de milhares de trabalhadores excluídos do mercado
de trabalho. Neste cenário, as experiências autogestionária ganham relevância como ação de
enfrentamento ao desemprego.
A dificuldade de conciliar geração de empregos de “qualidade” e crescimento econômico é
inerente das práticas neoliberais, que sacrifica os direitos laborais em favor de uma pseudo
liberdade de mercado. A mundialização das grandes empresas a procura de menores custos de
produção teve como consequências a reconfiguração dos empregos no mercado de trabalho
global, tornando-os cada vez mais precarizados. Na esteira deste processo, percebe-se o
crescimento de formas alternativas de geração de empregos se espalhando pelo mundo como
afirma Vieitez (1997):
Estamos assistindo a um incremento na formação de empresas de autogestão não só no Brasil, mas principalmente na Europa. Este tipo de organização

45
pode ser identificado como “Terceiro Setor” em alguns países da Europa, sendo que na Itália é conhecido como autogestão e na França por economia social. No Brasil, frequentemente aparece na forma de associações ou cooperativas, tanto como cooperativas de produção, onde ocorre transformação de matéria-prima, como na de serviços. Junto com o aumento do número de empreendimentos, surgem também diferentes formas de constituição, objetivos e formas de estruturação interna (VIEITEZ 1997, apud MARTINS, 2002, 275 p.).
Singer (2002) também concorda que, a partir das transformações ocorridas no mercado de
trabalho, a economia solidária torna-se uma alternativa ao desemprego e ao sistema
capitalista, sendo a autogestão uma marca intrínseca ao processo:
Como resultado, ressurgiu com força cada vez maior a economia solidária na maioria dos países. Na realidade, ela foi reinventada. Há indícios da criação em número cada vez maior de novas cooperativas e formas análogas de produção associada em muitos países. O que distingue este “novo cooperativismo” é a volta aos princípios, o grande valor atribuído à democracia e a igualdade dentro dos empreendimentos, a insistência na autogestão e o repúdio ao assalariamento. Essa mudança em sintonia com outras transformações contextuais que atingiram de forma profunda os movimentos políticos de esquerda (SINGER, 2002, p.64).
Perante a necessidade de encontrar um trabalho para subsistir os excluídos do mercado de
trabalho criaram novas formas de ocupação. Segundo o autor supracitado, a autogestão
apresenta-se como possibilidade de geração de emprego e renda a partir de empreendimentos
populares que não necessitem de grande capitalização. Desta maneira, os associados começam
a se integrar numa categoria de assumir a propriedade dos meios de produção em resposta ao
desemprego.
Assim, trata-se de uma ação maior do que prover renda e trabalho, uma vez que os elementos solidariedade e gestão coletiva promovem o trabalhador à condição de sujeito nos processos econômicos e produtivos, tornando-o, a um só tempo, sócio, dono e trabalhador, súdito e soberano de seu modo de produzir e viver, negando a força de trabalho como mercadoria (BENINI, 2003).
Embora os autores apresentados nesta pesquisa passam divergir na conceituação e no
horizonte possível da economia solidária, até mesmo quanto aos termos utilizados, mas ambos
concordam ao afirmar que ela pratica uma forma de trabalho diferente da hegemônica no
capitalismo. Essa forma, fundamentada em valores de solidariedade, autogestão e propriedade
coletiva dos meios de produção é o que identifica economia solidária frente ao sistema
dominante. Sua particularidade está na propriedade coletiva dos meios de produção, na
associação livre e voluntária, bem como na autogestão.

46
Nesse sentido, convém destacar que “o poder de mando, na empresa capitalista, está
concentrado totalmente (ao menos em termos ideais) nas mãos dos capitalistas ou dos
gerentes por eles contratados” (SINGER, 2001). Em contraste, empreendimentos de economia
solidária, no que lhes concernem, são dos trabalhadores, e é a eles que pertencem as decisões
sobre o trajeto a ser tomado pelo negócio. Exatamente por causa da propriedade e gestão
coletiva dos meios de produção, não há, pelo menos de forma preponderante, o
assalariamento do trabalho, e, pelo menos em tese, a alienação do trabalhador – tanto no que
toca ao fruto de seu trabalho como ao processo de trabalho por ele executado.
Para o Paul Singer (ibid.) uma das características fundamentais que diferencia uma empresa
capitalista de um empreendimento solidário seria o modo como as empresas são
administradas. Na empresa capitalista a forma de administração aplicada é a heterogestão, ou
seja, administração hierárquica, formada por níveis sucessivos de autoridade, entre os quais as
informações e consultas fluem de baixo para cima e as ordens e instruções de cima para baixo.
Já no empreendimento solidário a administração se daria de forma democrática, ou seja,
através da prática da autogestão, nela, as ordens e instruções devem fluir de baixo para cima e
as demandas e informações de cima para baixo. Os níveis mais altos, na autogestão, são
delegados pelos mais baixos e são responsáveis perante os mesmos.
Para se distinguir do modelo de gestão das empresas capitalistas, a prática laboral dentro de
uma cooperativa popular não pode apresentar relações de trabalho convergentes com a
alienação da divisão social e hierárquica do trabalho hegemônico. Ao contrário, é necessário
fomentar vínculos de solidariedade, considerando os associados equânimes no processo de
decisão do empreendimento. A maneira de administrar a cooperativa designa a característica
de autogestão da organização.
No seu livro Globalização e Desemprego, Singer demonstra com clareza a sua concepção da
afirmativa de um distinto modo de produção capitalista existente nas relações de trabalho de
empreendimentos solidários: ”Se estas formas organizacionais forem encontradas e
certamente serão muito diferentes da empresa capitalista, haverá uma boa probabilidade de
que elas sejam semente de um novo modo de produção” (SINGER, 1998 a, p. 125).
Assim, segundo Singer, “o cooperativismo, em seu berço ainda, já se arvorava como modo de
produção alternativo ao capitalismo” (SINGER, 2002, p. 33). Ao apontar estas organizações
como um modo de produção distinto do capitalista, o autor também procura um sentido

47
especial para o conceito de autogestão, como outra forma de relação de trabalho a ser
compreendida.
O termo autogestão foi introduzido como conceito, na década de 1950, pelo partido comunista
iugoslavo, que esperava modernizar o sistema econômico do país, atraindo a participação dos
cidadãos depositários dos conhecimentos técnicos e profissionais nas empresas e nas muni-
cipalidades em que o aparelho do partido detinha o poder.
O conceito de autogestão aparece muitas vezes como uma organização de trabalho que tem
como objetivo a emancipação e o fim da exploração dos trabalhadores diante do mercado de
trabalho capitalista. Para Novaes (2007), por exemplo:
A palavra autogestão é polissêmica, o que exige que ao utilizar este conceito se observe o significado em uso. Mais do que isso, a autogestão é um conceito (e por isso, também uma prática) em disputa. Segundo este autor, é impossível pensar a autogestão fora do seu contexto, sendo que o principal desafio da economia solidária (assim como do movimento socialista) é o de tornar a autogestão uma prática para além da fábrica, inundando a sociedade com os seus princípios de ação e reflexão (NOVAES, 2007, apud ZAMORA, p.9, 2014).
Podemos também encontrar sentido semelhante na exposição de Markoviv (2001):
A autogestão refere-se à participação direta dos trabalhadores na tomada de decisões básicas nas empresas. Os meios de produção são socializados (de propriedade da comunidade dos trabalhadores ou da totalidade da sociedade). Diretamente nas comunidades menores, ou, nas maiores, por meio de delegados ao conselho de trabalhadores, estes decidem sobre as questões básicas de produção e distribuição da renda. A gestão técnica operativa fica a eles subordinada, sendo por eles controlada. Num sentido mais geral, a autogestão é uma forma democrática de organização de toda a economia, constituída de vários níveis de conselhos e assembleias (MARKOVIC, p. 38, 2001).
Outro autor destaca o termo como uma prática antiga do movimento dos trabalhadores
europeus, conectando o conceito aos ideais elaborados pelos pensadores socialistas utópicos
do século XIX. Para Nascimento (2007 apud ZAMORA, p.8, 2014), “autogestão é uma
palavra nova para uma ideia que é tão antiga como o movimento operário, remontando ao
início do século XIX”.
O sentindo de uma organização autogestionária não deve estar limitado apenas ao sucesso da
geração de renda e coletivização dos meios de produção:
Esta deve ser vista como um meio de organização dos trabalhadores para derrotar o capital e também como um objetivo a ser alcançado pela

48
sociedade dos livres produtores associados (NASCIMENTO, 2007, apud ZAMORA, p. 8, 2014).
As discussões sobre a eficácia das organizações autogestionária, no confronto da classe
trabalhadora contra as mazelas do mercado de trabalho, vão ser postas em xeque por alguns
pensadores marxistas. Para estes, a resposta para a superação da exploração do trabalho está
para além do controle operário sobre os meios de produção, revelando assim uma trama muito
mais complexa de compreensão do modus operandi do sistema capitalista.
4.3 CRÍTICA MARXISTA À AUTOGESTÃO
Procuramos desvendar, nesta parte do capítulo, a partir das impressões do campo de
pensamento marxista, elementos críticos que são debate sobre autogestão. A elaboração
teórica realizada sobre esta ótica põe a necessidade de construção histórica da coordenação
global da produção por parte dos trabalhadores associados. A abordagem também revela uma
crítica antiga feita por Rosa Luxemburgo ao movimento socialista de sua época, que via nas
cooperativas uma organização a serviço da superação do capital, tal argumento estava baseado
na gestão de algumas fábricas da época que estavam sendo exercidas pelos trabalhadores e
que acreditavam que a organização ganharia mais força dentro do mercado de concorrência
capitalista.
Procuramos demonstrar, em várias passagens do presente trabalho, a semelhança dos
postulados da Economia Solidária com as do antigo movimento socialista europeu, que
acreditava na concorrência como trajeto necessário para a consolidação do cooperativismo e
consequentemente a construção de uma sociedade socialista. Os argumentos utilizados por
Paul Singer refletem em boa medida tal proposta.
O que esperamos abordar, ao levantar esses pontos de vistas, é a viabilidade, ou não, de uma
transformação qualitativa dos empreendimentos solidários, já que a ‘autogestão”, elemento
fundamental na estrutura do nosso objeto de pesquisa viabilizaria, ao menos no plano teórico,
o domínio do processo de trabalho pelos associados, ou seja, apresenta-se como uma
organização de trabalho contrária a lógica de reprodução do capital– calcada na alienação do
processo de trabalho.
A discussão sobre autogestão vem ocupando cada vez mais destaque dentro das pautas
políticas dos movimentos de esquerda brasileiro, encontra-se, por exemplo, dentro do
Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), no Movimento de Trabalhadores

49
Desempregados (MTD), dentre outros movimentos sociais do campo e da cidade. Estas
organizações estão, assim, também conectadas pelas políticas públicas voltadas à economia
solidaria. O que a transformaria, portanto, num movimento capaz de funcionar como um
elemento aglutinador de distintas forças sociais contra restantes à força hegemônica do
capital.
Não obstante, e, em que pese a substituição da forma de propriedade jurídica dos meios de
produção, as cooperativas permanecem gerando mercadorias, ou seja, valores de troca que se
convertem em capital para, depois, retornar à produção, prosseguindo o ciclo de reprodução
ampliada. Desta forma, não existe alternativa aos trabalhadores, se não a subordinação à
lógica auto-reprodutiva do capital, a responsabilidade que antes pertencia ao capitalista, agora
é função do cooperado: intensificar o ritmo de trabalho e diminuir o custo de sua reprodução
quando for necessário.
A divisão social do trabalho atrelada à mecanização progressiva dos meios de produção transforma desde as formas mais elementares de produção até a indústria moderna em processos racionalmente operacionais, subdivididos e parciais. A racionalidade produtiva do capitalismo avançado promove a eliminação das propriedades qualitativas dos homens e destrói a mediação entre o trabalhador e o produto de seu próprio trabalho. Promove a perda da totalidade presente no objeto produzido, reduzindo o trabalho a um exercício mecânico repetitivo (LUKÁCS, 1989, p.102).
Na concepção marxista, o capitalismo caracteriza-se pela dominação do valor (de troca),
como dominação abstrata que as “coisas” exercem sobre os sujeitos. No ponto de vista de
Mèszáros, o controle dos meios de produção, de maneira isolada, não modifica as relações
que engendram a necessidade de exploração do trabalho no capitalismo, podendo até
colaborar com o processo em determinadas situações. Por exemplo:
A articulação hierárquica e contraditória do capital é o princípio geral de estruturação do sistema, não importa o tamanho de suas unidades constituintes. Isso se deve à natureza interna do processo de tomada de decisões no sistema. Dado o antagonismo estrutural inconciliável entre capital e trabalho, esse último está categoricamente excluído de todas as decisões significativas. Isso não se dá apenas no nível mais geral, mas até mesmo nos 'microcosmos' constituintes desse sistema, em cada unidade de produção. Pois o capital, como poder alienado de tomada de decisão, não pode funcionar sem tornar suas decisões absolutamente inquestionáveis (pela força de trabalho) em cada unidade produtiva, pelos complexos produtivos rivais do país, em nível intermediário ou, na escala mais abrangente, pelo pessoal de comando de outras estruturas internacionais concorrentes. É por isso que o modo de tomada de decisão do capital – em todas as variedades conhecidas ou viáveis do sistema do capital – há forçosamente de ser alguma

50
forma autoritária de administrar empresas do topo para a base (MÉSZÁROS, 2002, p. 27).
Por mais que os trabalhadores das cooperativas detenham o controle dos meios de produção,
eles não deixam de sentir os efeitos do mercado capitalista. E, ao contrário daquilo que
pregamos apoiadores do mercado, esse está muito distante de ser um ambiente democrático
ou libertador. Com o intenso movimento de acumulação e centralização do capital, o mercado
mundializado encontra-se coordenado por grandes corporações, ficando às empresas de
pequeno porte com poucos nichos de mercado. São as grandes empresas transnacionais que
possuem o poder de estabelecer o preço das mercadorias, o padrão de qualidade e a técnica de
produção mais eficaz.
De acordo com Mandel (1991), a própria ideia de mercado e competição pura deve ser
revisitada. Ele nos lembra que o grosso de bens intermediários não é alocado através do
mercado tradicional, pois são feitos sob encomenda. O mesmo argumento vale para licitações
públicas. Sendo assim, Mandel (1991) acredita que a maior parte da produção no capitalismo
atual atende a padrões estabelecidos de consumo e a técnicas predeterminadas de produção,
que são em grande medida – senão completamente – independente das leis do mercado
tradicional.
Na sua a crítica a Berstein, por pensar que alcançaria o socialismo por bases legais ou por
reformas sociais, sendo estas ilusórias no texto Reforma Social ou Revolução? Rosa
Luxemburgo (1986) já anunciava os problemas de sobrepujar a lógica do capital através da
organização da produção em cooperativas. Expondo a antítese inerente das relações de
produção do mercado capitalista a autora afirma:
Na economia capitalista a troca domina a produção; por causa da concorrência exige, para que a empresa possa sobreviver, uma impiedosa exploração da força do trabalho, quer dizer, a dominação completa do processo de produção pelos interesses capitalistas. Praticamente, isso traduz-se numa necessidade de intensificação do trabalho, de encurtar ou prolongar a sua duração conforme a conjuntura, de contratar ou dispensar a força do trabalho conforme as necessidades do mercado, numa palavra, praticar todos os métodos, sobejamente conhecidos, que permitam a uma empresa capitalista sustentar a concorrência das outras empresas. Daí uma cooperativa de produção ter a necessidade, contraditória para os operários, de se governar a si própria com toda a autoridade absoluta necessária e de os seus elementos desempenharem entre si o papel de empresários capitalistas. Dessa contradição morre a cooperativa de produção, na acepção em que se torna uma empresa capitalista ou, no caso em que os interesses dos operários são mais fortes, se dissolve (LUXEMBURGO, 1986, p.21).

51
É por isso que para Mèszáros (2002, p. 28) “toda conversa de dividir o poder com a força de
trabalho, ou de permitir a sua participação nos processos de tomada de decisão do capital, só
existe como ficção, ou como camuflagem cínica e de liberada da realidade”.
As explanações realizadas por Mèszáros e Rosa Luxemburgo abriram caminho para as
discussões em torno do trabalho livre associativo, cujas críticas estavam centradas em torno
do rompimento através da tomada efetiva dos meios de produção.
Nas palavras do “velho Marx”, emancipar os indivíduos da sua “subordinação escravizante à divisão do trabalho” equivale à reconstituição radical da dialética de produção, distribuição e consumo, na medida em que resulta do controle genuinamente social dos meios de produção, em vez do seu controle pelo capitalista ou pelas personificações pós-capitalistas do capital, em uma estrutura alienada de comando. Só desse modo é possível dar início à transformação criativa da produção, do consumo, além da distribuição autodeterminada dos indivíduos – cooperativamente associados e em desenvolvimento pleno – entre os diferentes ramos de atividade produtiva, de acordo com as suas inclinações e necessidades pessoais. O enfoque é absolutamente contrário ao tratamento dado pelo sistema do capital, sob o qual a “capacidade de trabalho” é abstrata e mero fator material de produção “eficientemente alocado” a partir de cima (MESZÁROS2002, p. 968).
As críticas realizadas no campo marxista revelam as fragilidades do termo autogestão
apresentados por pensadores da economia solidária, onde a compreensão da categoria está
associada ao controle da gestão dos meios de produção pelos trabalhadores, mas na prática o
domínio sobre as relações de trabalho ainda permanece sob a égide do capital. Por mais que
os trabalhadores sejam os donos dos meios de produção, a interpretação não permite uma
relação harmoniosa entre capital e trabalho, a ineficácia da proposta de autogestão na
economia solidaria consiste em que funcionando de forma isolada no processo de produção
capitalista a força de trabalho do associado continua sendo uma mercadoria que tem o seu
valor definido pela ótica mistificadora da troca.7
A avaliação exposta também não invalida a relevância do cooperativismo no embate contra a
exclusão social, o próprio Marx admitiu, nas resoluções do Congresso de Genebra, realizado
em 1866: “o movimento cooperativo como uma das forças transformadoras da sociedade
actual, baseada no antagonismo de classes”. (MARX apud NAMORADO, p. 19, 2007).
7Os objetivos produtivos da alternativa socialista não podem ser definidos, nem sequer realizados, sem combater o valor de troca autoexpansivo, adotando em seu lugar, como princípio orientador da reprodução da sociedade, o desenvolvimento positivo e a satisfação das necessidades humanas, incluindo, em um lugar proeminente, a necessidade do trabalho “como a primeira necessidade vital”. (Mèszáros 2002, p. 979)

52
Apontando a dicotomia entre propriedade privada e trabalho alienado como parte constituinte
do trabalho cooperativado, sendo esta a principal crítica esboçada pelos autores do campo
marxista.
4.4 ECONOMIA SOLIDARIA UM MOVIMENTO EM DISPUTA
A análise realizada sobre o cooperativismo demonstrou que a iniciativa pode assumir diversos
sentidos, podendo até não estar correspondendo com os fundamentos que a torna uma
organização diferenciada das empresas “padrão”, no entanto, o processo histórico de
organização da classe trabalhadora revela um papel estratégico da prática cooperativista na
luta contra o capital. Hoje em dia, o horizonte cooperativista permanece presente no
trabalhador do campo, à exemplo das cooperativas agrícolas do MST e também se faz atual
no movimento de trabalhadores da cidade. No passado, o cooperativismo também esteve
como estratégia dos operários europeus, nas lavadeiras de ganho do século XIX e outros
espaços.
No contexto atual, em decorrência da grave crise que influencia o sistema do capital em sua
totalidade, os últimos períodos foram registrados fortes mobilizações sociais e políticas que
ganharam a atenção em todo o planeta. A população passa a se contrapor as mazelas e causas
dessa crise e a indagar o fato de que as deliberações cruciais de natureza política, econômica e
social, que tocam decisivamente suas vidas, estão sendo orientadas, muitas vezes, contra as
suas vontades. No Brasil não é diferente, pois, há inúmeras vozes que, insatisfeitas com a
conjuntura política e econômica nacional, organizam-se em grupos de trabalho de cunho
autogestionário na perspectiva de alcançar em melhores condições de vida.
Ainda que contenha suas limitações a ideia do movimento da Economia Solidária converte-se
numa prática inegavelmente legítima e presente nas relações de trabalho contemporânea, seja
pela crescente necessidade de novas relações de trabalho, já que o trabalho informal é uma
das características do atual modelo de acumulação, ou, ainda, pela possibilidade de geração de
emprego e renda, mas também e principalmente pelo necessidade de proteger os grupos
sociais que se organizam pelo interesse econômico.
Nesse sentido, compreendemos que a atual força de trabalho brasileira é formada em sua
maioria, por uma massa de pessoas que estão aglomeradas nos bairros periféricos dos grandes
centros urbanos e que vive as margens do progresso capitalista, estes também, são os
responsáveis por ocupar os empregos mais precarizados. Nesta perspectiva, a função do

53
movimento da economia solidária não deve ser o de transformar a “exceção em regra”, ou
seja, cumprir o papel de regular e formalizar os trabalhadores “informais” inserindo-os numa
política pública adequada.
Chico de Oliveira (2013), reforça a crítica e afirma:
A progressão da relação salarial foi cortada no começo dos anos oitenta do século passado pela combinação da reestruturação produtiva com a globalização; isto forneceu as bases para um enorme avanço da produtividade do trabalho que jogou para as calendas a possibilidade e/ou necessidade da relação formal de trabalho: pelo contrário, o que se chamou no passado de “informalidade” tornou-se a regra. Pede-se ao trabalhador forma os atributos do “informal”: flexibilidade, polivalência, iniciativa. Tais atributos encontram-se nos camelôs dos centrões de nossas cidades. Aparece aí o primeiro elemento da exceção: o mercado de trabalho foi virado pelo avesso. (OLIVEIRA, 2013, p.72).
Ao mesmo tempo, isso não diminui a importância do movimento da economia solidária na
formação de uma consciência de classe crítica e dedicada a transformar as relações desiguais
do mundo do trabalho. Contudo, a articulação das iniciativas populares, as cooperativas, as
associações, dentre outros que se organizam em torno de geração de emprego e renda, tem
grande potencial de modificar a estrutura social dominante, para isto, a perspectiva das
organizações deve superar o controle dos meios de produção de maneira isolada e ampliar o
horizonte em direção ao domínio completo da produção global.
Segue na mesma direção a perspectiva de Mèszáros ao afirmar:
A plena realização do projeto socialista é inconcebível sem um bem-sucedido tratamento consciente, integrado e “totalizante” (embora, é claro, mediado) de seus problemas pelos produtores associados, em um ambiente globalmente interligado que é “inconscientemente” criado, antes de tudo, pelo próprio desenvolvimento do capitalismo (MÈSZÁROS, 2002, p. 1062).
No final do século XIX, o pensador anarquista Piotr Kropotkin escreveu no seu livro
intitulado: “ajuda mutua um fator de evolução” uma crítica ao pensamento darwinista8 da
época. Segundo o autor anarquista, foi à cooperação e ajuda mutua entre as espécies que
colaborou para o processo de evolução da espécie humana:
8 . A crítica do autor estava centrada nos autores darwinista, deste modo, kropotkin tenta isentar o Darwin da concepção equivocada sobre a evolução das espécies, porem: O sentido lato da “luta pela sobrevivência” em Darwin é bem compreendida pelo termo competição, que é um elemento característico da sociabilidade capitalista que Darwin transfere para o mundo animal e vegetal (MARCO, 1987; VIANA, 2001; VIANA, 2003; VIANA, 2009). Logo, o sentido fornecido por Darwin é o mesmo fornecido pelos darwinistas e, neste sentido, a interpretação de Kropotkin é equivocada (Viana, 2015,p, 36).

54
Em A origem do homem, Darwin escreveu algumas páginas memoráveis para ilustrar seu sentido próprio, o sentido amplo. Observou que, em inúmeras sociedades animais, a luta entre indivíduos pelos meios de subsistência desaparece, que essa luta é substituída pela cooperação e que essa substituição resulta no desenvolvimento de faculdades intelectuais e morais que assegura à espécie as melhores condições de sobrevivência. Ele sugeriu que, nesses casos, os mais aptos não são os mais fortes fisicamente, nem os mais astuciosos, e sim aqueles que aprendem a se associar de modo a se apoiarem mutuamente, fossem fortes ou fracos, pelo bem-estar da comunidade. (KROPOTKIN, 2009, p. 20).
O movimento procura em seus princípios ideológicos semear lutas por melhor qualidade de
vida para a sociedade brasileira. Propagando ideais em busca de uma vida digna para os
trabalhadores subempregados e desempregados, que almejam conseguir meios de subsistência
via sua emancipação das relações de trabalho hierarquizadas.
Portanto, a cooperação entre trabalhadores pode se estabelecer como ferramenta de
elaboração de uma democracia mais sólida, de trabalho íntegro e emancipador, sustentado por
ideais igualitários e solidários, ainda que isolados frente as injustiças sociais. É necessidade
vital para os trabalhadores a construção de espaços que possibilitem a inserção do diálogo e
prática acerca da autogestão, sobretudo por contribuir para o discernimento das leis
predatórias da economia de mercado. Por isso, a experiência gerada por essas organizações
singulares só tem a agregar para conquista por melhores condições de trabalho.
Nesse sentido, o trabalho cooperado de maneira autogestionária é importante não apenas para
suprir as necessidades mais urgentes e prosperidade econômica, mas também para contrapor o
padrão totalizante instaurado globalmente, que por natureza é excludente. Dentre outros
aspectos, portanto, a economia solidária é importante também pela tentativa de projetar uma
lógica de socialização que não tem como função primordial o lucro. Tais elementos devem ser
pensados como fomentadores de conscientização política da classe trabalhadora.

55
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresentou como objetivo elucidar os sentidos e as diversas abordagens
em torno da temática do cooperativismo e economia solidaria, encontrando na categoria
autogestão a interseção que conduz os conceitos para um horizonte de superação do trabalho
subordinado. Constatamos assim, esta forma de organização de trabalho como um movimento
legitimo da classe trabalhadora, através de iniciativas de cooperação mutua, estes buscam
meios de sobreviver cotidianamente as incontingências de uma sociedade segregada em
classe, raça e gênero.
Neste caso, acreditamos que a discussão no âmbito da gestão trabalho é central para
elaboração de um mundo mais igualitário, reconhecendo a formação de iniciativas populares
em busca de emprego e renda como produtos da inquietante desigualdade social
historicamente vigente no Brasil, cujos consecutivos governos, ao não exercerem a sua função
de extinguir a pobreza no país, deixam somente duas alternativas a seu povo: viver na
marginalidade ou se organizar para reivindicar e garantir seus direitos.
No pós-guerra, o Estado de Bem-Estar Social ficou conhecido por desenvolver uma serie de
políticas sociais que se converteu numa melhor qualidade de vida da classe trabalhadora dos
países centrais, através da geração de empregos com carteira assinada, férias, décimo terceiro
e outros benefícios que só foi possível graças às condições históricas especificas do período.
O cenário era composto por fortes organizações operárias e no plano econômico as políticas
keynesianas passou a despontar como pensamento hegemônico, possibilitando um breve
consenso entre as classes sociais antagônicas, cabendo ao Estado capitalista o papel de ser o
fio condutor deste processo.
Enquanto nos países periféricos, o desenvolvimento de políticas sociais baseados no Welfare
State não perdurou muito tempo, no Brasil, por exemplo, o processo de industrialização
culminou na ascensão de empregos com carteira assinada e garantias de benefícios para os
trabalhadores brasileiros, no entanto, a crise econômica iniciada nos países centrais no final da
década de 70, acabou orientando a execução de um novo modelo de gestão do trabalho, dando
lugar a geração de empregos terceirizados ou sem vínculos empregatícios.
Logo, também devemos considerar o movimento da economia solidária como uma ação dos
trabalhadores despossuídos de empregos estáveis, com o objetivo de questionar as instituições

56
responsáveis por garantir um ambiente de trabalho saudável. Já que uma das principais pautas
do movimento é a geração de emprego e renda sob a ótica da cooperação horizontalizada.
A edificação de relações de trabalho pautados na cooperação mútua e na solidariedade entre
os trabalhadores é um instrumento histórico, eficaz e necessário para sobrevivência da
população excluída do mercado de trabalho. Assim, o texto buscou trazer diversas
interpretações sobre as potencialidades e limitações desta forma de organização do trabalho e
concluímos que o movimento da economia solidária tem um sentido utópico de transformação
social, porém acreditamos que as utopias devem ser fomentadas, perseguidas e tem papel
fundamental para a formação de uma sociedade igualitária.

57
REFERÊNCIAS
APPADURAI, Arjun. La vida social de las cosas: Perspectiva cultural de lasmercancías. [S.L.]: Editorial Grijalbo, 1991. 406 p.
ARAÚJO, L. Cooperativismo autogestionário e filosofia latino americana: possibilidades de libertação?.2014. 305f. Trabalho de Conclusão de Curso curso de Pós Graduação Direito, Universidade Federal do Paraná – UFP, 2014.
ARRUDA, Marcos. Situando a Economia Solidária. Cadernos da Fundação Luís Eduardo Magalhães. Salvador, n.5, 132 p., p.19, 2003.
BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho et al. A economia solidária como política pública: uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. São Paulo: Cortez, 2005. 317 p.
BENINI, Edi Augusto; BENINI, Elcio Gustavo. As contradições do processo de autogestão no capitalismo: funcionalidade, resistência e emancipação pela economia solidária. Organizações & Sociedade, v. 17, n. 55, 2010.
BRASIL. Ministério Da Industria, Comercio Exterior E Serviços. Balança comercial brasileira cooperativa. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-cooperativas>. Acesso em: 08 set. 2017.
BRASIL. Secretaria Nacional de Economia Solidária. Os Novos Dados Do Mapeamento De Economia Solidária No Brasil: Apontamentos Iniciais Para O Debate. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7410/1/RP_Os%20Novos%20dados%20do%20mapeamento%20de%20economia%20solid%C3%A1ria%20no%20Brasil_2016.pdf> Acesso em: 20 ago, 2018.
CALVO, V. G. Acercamiento a las prácticas de la economía social, la economía solidaria y la economia del común, ¿qué nos ofrecen? Barataria: Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, n. 15, 2013.
CANÇADO, Airton Cardoso. Autogestão em cooperativas populares: os desafios da prática. 2004.Dissertação (Mestrado em Administração) - Escola de Administração – UFBA, Salvador,2004.
CARITAS BRASILEIRA. Sobrevivência e cidadania; avaliação qualitativa dos projetos alternativos comunitários da caritas Brasileira: Brasília: UNB, 1995. 232 p.
CATTANI, A. D. et al. Dicionário internacional da outra economia: outra economia. São Paulo: Almedina, 2009. 345 p.
FERREIRA, Elenar. A cooperação no MST: da luta pela terra à gestão coletiva dos meios de produção. In: SINGER, Paul; SOUZA, André Ricardo de (Orgs), A economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego. São Paulo: Contexto,2000. p. 81-92.
GAIGER, L. I. Empreendimentos econômicos solidários. In: CATTANI, A. (Org.). A outra economia. Porto Alegre: Veraz, 2003. 135-143 p.
GAIGER, L. I. Antecedentes e expressões atuais da economia solidária. Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 84, p. 81-99, março 2009.

58
GAIGER, L. I. G. A economia solidária diante do modo de produção capitalista. Disponível em:<http://www.ecosol.org.br>. Acesso 10 ago, 2018.
GAIGER, L. Sobrevivência e utopia. Os projetos alternativos comunitários no Rs. Cadernos CEDOPE- serie Movimentos Sociais e Cultura, n. 10,1994
GAWLAK, F. R. A. Cooperativismo: primeiras lições. 3. ed. Brasília: Sescoop, 2007. Disponível em: <http://www.ocbmt.coop.br/TNX/storage/webdisco/2009/12/28/outros/f2acdd6df5f27518fd2c908db92a1275.pdf. > Acesso 12 set, 2018.
GUIMARÃES, Gonçalo. Subvertendo e construindo o imprevisível In: GUIMARÃES, G. (org.). Sindicalismo & Cooperativismo – A Economia Solidária em Debate. São Paulo: Unitrabalho.
KROPOTKIN, Piotr. Ajuda Mútua: Um Fator de Evolução. São Sebastião: A Senhora Editora, 2009. 271 p.
LECHAT, N. Trajetórias intelectuais e o campo da Economia Solidária no Brasil. 2004. Tese (Doutorado em Antropologia). Unicamp – IFCH, Campinas, 2004.
LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe: estudos de dialética marxista. Rio de Janeiro: Elfos. 1974. 519 p.
LUXEMBURGO, R. Reforma ou Revolução1900.Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1900/ref_rev/index.htm. Acesso 10 dez, 2018
MALAGUTI, M. L. Crítica a razão informal: imaterialidade do salariado. São Paulo: Boitempo: Vitória: EDUFES, 2000.
MARKOVIC, M. Autogestão. In: BOTTOMORE, T. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: J. Zahar Ed., 2001.
MARTINS, Angela Maria. Autonomia e educação: a trajetória de um conceito. Cadernos de pesquisa, n. 115, p. 207-223, 2002.
MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015. 1102 p.
MONTANO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção social. 4 ed. São paulo: Cortez, 2007.
MOREIRA, Martin Andrés. Autogestão e emancipação dos trabalhadores: limites das cooperativas na produção capitalista. Rebela, v. 4, n. 1, 2014.
NASCIMENTO, Cláudio. Autogestão e economia solidária. Revista Praga, [S.L], n. 4, mar. 2014.
NAMORADO, Rui. Cooperativismo-história e horizontes. 2007. In: GEDIEL, José (org.). Estudos de direito cooperativo e cidadania. Paraná: UFPA, 2007. p. 9-36.
NOVAES, H. T. Qual autogestão? Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política. São Paulo: n. 22, maio de 2008.

59
OLIVEIRA, Francisco de; RIZEK, Cibele Saliba. Cidades e conflito: o urbano na produção do Brasil contemporâneo. Caderno de Debates, 2013.
ORTEGA, Filho; Niermeyer Almeida. Desenvolvimento territorial: segurança alimentar e economia solidária. 1 ed. Capinas sp: Alínea, 2007. 253 p.
OS CAMINHOS. In: SINGER, Paul; SOUZA, André Ricardo de (Orgs). A economia solidaria no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego. São Paulo: contexto, 200c p. 267-286
OXFAM, BRASIL. Terrenos da desigualdade: terra, agricultura e desigualdades no Brasil rural. Informe Novembro, 2016. 32 p. Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/publicacoes/terrenos-da-desigualdade-terra-agricultura-e-desigualdade-no-brasil-rural>. Acesso 10 de set, 2018.
PETRUCCELLI, José Luis; SABOIA, Ana Lucia. Características étnico-raciais da população: classificações e identidades. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística—IBGE, 2013.
POCHMANN, Márcio. Reestruturação produtiva: Perspectiva de desenvolvimento local com inclusão social. Petrópolis RJ: Editora vozes, 2004. 329 p.
RANGEL, R. R.; MANOLESCU, F. M. K. Economia solidária pela perspectiva histórico-teórica: Educação, Gestão e Sociedade: revista da Faculdade Eça de Queirós, Ano 2, n. 8, dez. 2012.
RIOS, Gilvando Sá Leitão. O que é Cooperativismo. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. SCHOLZ, Trebor. Cooperativismo de plataforma: contestando a economia do compartilhamento corporativa. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016. 92 p.
SINGER, P. I. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. 127 p.
SINGER, Paul; SOUZA, Ricardo André. A Economia Solidária no Brasil. São Paulo: Contexto, 2001.
SINGER.P.I. Globalização e Desemprego Diagnóstico e Alternativas . São Paulo; Editora Contexto, 1999. 139 p.
SINGER, P. A economia solidária. Revista Teoria e Debate. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, nº 47, fev/mar/abr 2001. Disponível em: <https://teoriaedebate.org.br/2001/03/25/economia-solidaria/>acesso em novembro de 2018>
SISTEMA OCB. Sistema ocb. Disponível em: <http://www.ocb.org.br/o-que-e-cooperativismo>. Acesso em: 08 set. 2017.
VERONESE, Marília Veríssimo. Tramas Conceituais: uma análise do conceito de autogestão em Rosanvallon, Bourdet e Guillerm. Revista de Ciências Sociais, Rio grande do sul, n.36, p.267-290, abr. 2012.
VIANA, Nildo. Democracia e autogestão. Disponível em: Http://www.espacoacademico.com.br/048/48 cviana.htm, [S.L], fev. 2011.
VIANA, Nildo. Kropotkin e o Darwinismo. Élisée-Revista de Geografia da UEG v. 3, n. 2, p. 33-42, 2015.

60
VIEITEZ, Cândido Giraldez; DAL RI, Neuza Maria. Trabalho associado e mudança social. In: DAL RI, Neuza Maria (Org.). Trabalho Associado, Economia Solidária e Mudança Social na América Latina. Marília: Cultura Acadêmica, 2010. p. 67-94.
WELLEN, H. Para a Crítica da “Economia Solidária”. 2009. 319f.Trabalho de Conclusão de Curso (Tese) Curso de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, 2009.
ZAMORA, Martín. Uma Análise Crítica da Autogestão na Produção. 2014. Disponível em:< http://www.redpilares.net/sobre-la-red/Documents/ZAMORA_an%C3%A1lise%20critica%20da%20autogest%C3%A3o%20na%20producao.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2018.